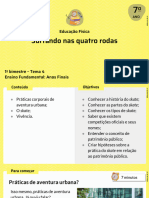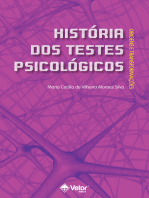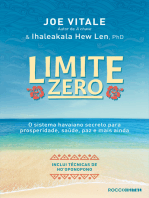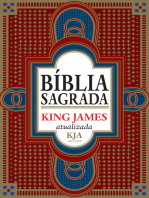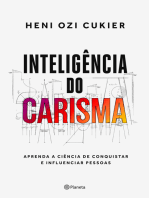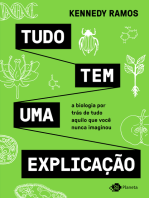Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Kofes, S Manica, D. Vidas e Grafias
Enviado por
Clara PossebomTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Kofes, S Manica, D. Vidas e Grafias
Enviado por
Clara PossebomDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Vida & grafias
Vida e grafias - miolo.indd 1 3/9/15 7:37 PM
Vida e grafias - miolo.indd 2 3/9/15 7:37 PM
Vida & grafias
Narrativas antropológicas,
entre biografia e etnografia
Suely Kofes
Daniela Manica
(organização)
Vida e grafias - miolo.indd 3 3/9/15 7:37 PM
Vida & grafias: narrativas antropológicas entre biografia e etnografia
Suely Kofes & Daniela Manica (organização)
© Lamparina editora
Revisão
Mariana Bard & Vinícius Melo
Projeto gráfico
Fernando Rodrigues
Proibida a reprodução, total ou parcial, por qualquer meio ou processo, seja repro-
gráfico, fotográfico, gráfico, microfilmagem etc. Estas proibições aplicam-se também
às características gráficas e/ou editoriais.
Catalogação na fonte do Sindicato Nacional dos Editores de Livros
Lamparina editora
Rua Joaquim Silva 98 sala 201 Lapa
cep 20241-110 Rio de Janeiro rj Brasil
Tel/fax 21 2252 0247 21 2232 1768
www.lamparina.com.br lamparina@lamparina.com.br
Vida e grafias - miolo.indd 4 3/9/15 7:37 PM
Sumário
Vida e grafias - miolo.indd 5 3/9/15 7:37 PM
Vida e grafias - miolo.indd 6 3/9/15 7:37 PM
“Nunca se saberá como isto deve ser contado, se na primeira ou na
segunda pessoa, usando a terceira do plural ou inventando constan-
temente formas que não servirão para nada. Se fosse possível dizer:
eu viram subir a lua, ou: em mim nos dói o fundo dos olhos, e prin-
cipalmente assim: tu mulher louca eram as nuvens que continuam
correndo diante de meus, teus seus nossos vossos seus rostos.”
(Julio Cortázar, “As babas do diabo”, As armas secretas, Rio de Janeiro:
José Olympio, 2009, p.60)
Vida e grafias - miolo.indd 7 3/9/15 7:37 PM
Vida e grafias - miolo.indd 8 3/9/15 7:37 PM
Prefácio
Skatografias – o caso do “pico”
Pedro Peixoto Ferreira
“Como quase tudo na vida, eles vêm e vão. Muitas vezes a busca os
afasta, e o momento menos esperado é o propício para seu surgi-
mento. Em lugares improváveis, através de informação obtida com
pessoas desconhecidas, graças a uma decisão errada de caminho.
Enfim, o meio não importa aqui, e sim o fim, o objetivo, a desco-
berta. Você precisa de um lugar pra andar de skate, que seja novo, que
renove as energias, que te dê motivo para chamar seus amigos. Você
precisa de um pico e, mesmo que ele exista há anos, ele passa a ser ca-
rinhosamente chamado de ‘novo’ a partir da descoberta.”
(Prieto, 2011, p.22)
Em uma descrição sumária, um skate é uma prancha montada sobre
dois eixos com duas rodas cada. Segundo uma das narrativas mais
conhecidas da origem deste objeto, ele foi criado por surfistas na
Califórnia, Estados Unidos, nos anos 1960, a partir de patins desmon-
tados. Reforçando sua origem norte-americana, no Brasil boa parte
do vocabulário ligado ao skate é composto por palavras em inglês, in-
clusive os nomes dados à prancha do skate, chamada de “shape”, e aos
eixos das rodas, chamados de “trucks”. A prática do skate consiste basi-
camente em manter-se equilibrado em pé sobre o shape, de preferência
realizando diferentes tipos de manobras, enquanto o skate estiver em
movimento sobre o chão ou sobre obstáculos. O skatista pode ser en-
tendido como um híbrido pessoa-skate, uma modificação do esquema
corporal do skatista pela assimilação de um objeto que altera a sua
relação com o ambiente. Pessoas se tornam skatistas ao alterarem sua
relação com o ambiente por meio do skate. A ideia de uma alteração
das relações entre um agente e seu meio pela introdução de uma nova
Vida e grafias - miolo.indd 9 3/9/15 7:37 PM
Vida & grafias
mediação entre eles se inspira em proposições etnograficamente fun-
damentadas em Bateson (1975) e Gell (1980) a respeito do transe.
Diante da proposta de explorar diversas possibilidades gráficas
incluídas nas relações entre etnografia e biografia, expressa no grupo
de trabalho cujas discussões resultaram neste livro, nasceu o desejo
de aproveitar a oportunidade para jogar luz sobre uma grafia ainda
praticamente inexplorada nas ciências sociais, apesar de já bastante
desenvolvida entre seus praticantes. Trata-se da “skatografia”, ou
escrita do skate, que envolve tanto a dimensão indicial das marcas
trocadas entre o skate, o corpo do skatista e os obstáculos, quanto a
produção fotográfica, videográfica e textual de skatistas sobre skate.
Atento à mídia impressa nacional de skate desde o final da década de
1980, pude acompanhar algumas transformações do campo, assim
como o amadurecimento de algumas imagens e discursos com-
partilhados. Entre essas imagens e discursos,¹ gostaria de explorar
rapidamente aquilo que já chamei de “picologia”, a ciência dos picos
(Ferreira, 2011), por considerá-la um valioso caso de conceito nativo
complexo, elaborado e intrinsecamente ligado a práticas correspon-
dentes. Uma skatografia em pleno direito.
Picologia
Para um skatista, um “pico” é um lugar propício para a prática do
skate, ou um lugar “skatável”. Nem todo lugar é propício para a
prática do skate. Skates convencionais² não andam na maior parte
das superfícies naturais (grama, areia, lama, água etc)³ e, mesmo nas
construídas, as opções são limitadas por irregularidades dos pró-
prios materiais ou de sua montagem. Skateparks são picos artificiais,
no sentido de terem sido construídos desde o início para a prática do
skate. Assim sendo, no skatepark, quando uma rampa não tem a incli-
nação ideal ou o piso é irregular, isso indica falhas no projeto ou em
sua execução e o skatista tem motivos para reclamar. Fora dos skate-
parks, no entanto, o skatista não encontra um ambiente construído
1 Um caso de skatografia imagética pode ser encontrado na entrevista que fiz com o
skatógrafo Renato Custódio (Ferreira, 2009).
2 Aqui, refiro-me àquilo que revistas e sites de skate chamam de “skates modernos”,
surgidos nos anos 1990 e caracterizados por shape simétrico, sem distinção entre
a parte da frente e a parte de trás, com dimensões próximas a 22 por 76 centíme-
tros e rodas de diâmetro próximas a 52 milímetros. Existem muitos outros tipos de
skate menos utilizados do que os convencionais, voltados para terrenos específicos
(skate para grama ou para terra) ou com dimensões muito diferentes (de miniskates a
longboards).
3 Como bem expressou o skatógrafo Prieto: “Somos avessos a mato, grama, areia,
água. Lidamos bem com o concreto, granito, mármore.” (2011, p.22)
Vida e grafias - miolo.indd 10 3/9/15 7:37 PM
Prefácio
para a prática do skate, mas sim um ambiente que ele precisa tornar
“skatável”, seja pela criatividade e habilidade nas manobras, seja por
modificações na própria estrutura física do espaço (untando bordas e
superfícies com cera de vela, por exemplo, ou mesmo suavizando des-
níveis e transições com massas plásticas ou cimento).
Fora dos skateparks, quando o skatista encontra um piso irregular
ou uma rampa muito íngreme, ele não está diante de defeitos de
projeto (pelo menos não no que se refere à prática do skate), mas, sim,
de desafios a serem superados. Na rua, o skatista precisa subverter,
desviar as funções dos objetos (Kasper, 2005), explorando a sua
margem de indeterminação. Encontrei um bom exemplo de criati-
vidade e habilidade nas manobras na adequação ao pico na legenda
para um “360 flip to fakie numa capela abandonada em Suzano
(SP)”:
“O que define o lugar para andar de skate? Se o mundo real oferece
o mínimo de condições, é no campo da sua imaginação que os cami-
nhos se desenham, absorve-se o impacto das imperfeições, criam-se
condições para fazer a manobra acontecer. Exercite sua mente. Se
você acorda todo dia pensando em granilite, em breve o skate, pra
você, será um pesadelo.”
(Vianna, 2009, p.43)
Um bom exemplo para a adequação do pico por modificações na
própria estrutura física do espaço é a seguinte passagem do skatógrafo
André Ferrer:
“Claro que nem todos os picos são perfeitos, por isso saíamos com
um verdadeiro arsenal de pedreiro (cimento, chapas de aço, pá, vas-
soura, madeiras, velas, massa plástica e afins), para corrigir as diversas
imperfeições que dificultavam – e até impossibilitavam – a vida dos
skatistas.”
(Ferrer, 2009, p.111)
As soluções são tão engenhosas que a argumentação da seguinte
legenda de fotos de um skatista descendo a pedra inclinada de uma
cachoeira se torna plausível: “Algumas superfícies parecem ásperas
demais. Outras, escorregadias demais. A inclinação pode apresentar-
-se demasiadamente íngreme. Nada que signifique terreno impróprio
para skate.” (Vianna, 2009, p.38)
Além dessas restrições espaciais, devemos elencar também impor-
tantes restrições de tipo temporal, ligadas a momentos mais ou menos
propícios à prática do skate. Fábricas, centros comerciais, parques de
Vida e grafias - miolo.indd 11 3/9/15 7:37 PM
Vida & grafias
diversão ou outros espaços amplos e de circulação podem se tornar
picos privilegiados quando fechados e abandonados, apesar de serem
proibidos ao skate quando em pleno funcionamento (e mesmo que não
fossem proibidos, o volume de pessoas e atividades conflitantes com o
skate dificultaria muito a sua prática). Um exemplo disso são as diversas
fotos, publicadas em 2011, de manobras nos restos do Best Shopping
em São Bernardo do Campo: “Quem nunca quis andar de skate dentro
de um shopping center que atire a primeira pedra. Após a falência do
Best Shopping, … os corredores foram palco de sessões memoráveis.”
(Prieto, 2011, p.22) Espaços públicos (praças, calçadas, ruas, estaciona-
mentos, monumentos etc) são geralmente mais “skatáveis” de noite ou
de madrugada, ou nos feriados e fins de semana, quando o volume de
pessoas circulando é menor e o tipo de circulação é diferente. Ferrer
expressou isso muito bem quando escreveu: “Um feriado … é um
prato cheio para nós skatistas: cidades vazias, comércio fechado, se-
guranças de folga, pessoas à procura de descanso e nós à procura dos
lugares!” (2009, p.111) Em países de inverno rigoroso, o frio pode ser
uma restrição temporal ao skate noturno, e o inverso vale para países
tropicais, onde o calor pode ser uma restrição para o skate durante o
dia. Isso para não falar de como chuva, neve, vento e outros eventos es-
peciais podem transformar picos privilegiados em locais muito difíceis
ou até impossíveis para a prática do skate.
Por fim e sobretudo, as predisposições e preferências do skatista
são parte fundamental da transformação de um espaço-tempo em um
pico. Existem picos exclusivos, que só são acessíveis a poucos skatistas
capazes de manobrar neles. Existem picos ocultos, que passam des-
percebidos pela maior parte dos skatistas. Existem picos concorridos,
por motivos como localização e qualidade, e picos abandonados, por
concorrência com atividades incompatíveis (comércio ambulante,
criminalidade etc) ou por proibição pura e simples. Assim, diferente-
mente dos skateparks, que são picos by design, propícios por princípio
à prática do skate, em todo o seu espaço e em todo o seu horário de
funcionamento, os picos urbanos têm geralmente restrições espaço-
temporais ligadas à circulação de carros e a diversos outros tipos de
veículos, transeuntes e moradores de rua, e à presença de objetos va-
riados, como mercadorias e lixo.
Sarjetas, escadas, muretas, paredes, bloqueios, rampas e tudo
7 Em carta publicada na revista Cemporcento Skate, um skatista solicita a compreensão
dos arquitetos: “Os arquitetos que não briguem comigo, pois sei que os objetivos pelos
quais eles criam tantos monumentos, prédios, corrimãos, escadarias, marquises, can-
teiros, chafarizes e outras coisas fantásticas nas nossas ruas, casas, praças e empresas
não é para que nós, skatistas, os pulemos, deslizemos ou façamos outras coisas com
nossos skates. Mas é inevitável.” (Martins, 2011, p.108)
Vida e grafias - miolo.indd 12 3/9/15 7:37 PM
Prefácio
mais que o skatista encontra em seu caminho não foram construídos
para a prática do skate,⁷ mas são transformados, pragmaticamente
e em acordo com um certo Umwelt-skatista (conforme Uexküll,
2001), em obstáculos. Para skatistas, obstáculos não são objetos que
impedem a passagem, mas objetos que motivam e estimulam uma
espécie de “ultra”passagem: “Life is fool [sic] of obstacles. Overpass.”
(Black Sheep, 2011, p.5) Muito longe de buscar minimizar o dispêndio
de energia, optando por caminhos que ofereçam menor resistência,
o skatista busca o teste da resistência, busca uma espécie de mais-
-valia energética a partir do seu dispêndio desejante. O skatista não
evita obstáculos, ele os busca ativamente, chega a construí-los, não
por querer superá-los, subjugá-los, derrotá-los, mas porque quer ma-
nobrá-los, experimentar uma coreografia transumana na qual skatista
e obstáculo trocam propriedades, inscrições e disposições, alternando
atividade e passividade em um contraponto tão delicado quanto forte
e necessário. Nada além das leis da física, mas transformadas enge-
nhosamente nas regras de um jogo que se quer jogar.
Isso fica particularmente claro no seguinte caso, contado pelo
skatógrafo Ivan Cruz: “Em um dia como todos os outros, os skatistas
… circulavam pela cidade à procura de picos. Neste dia comum,
algo incomum chamou a atenção dos dois amigos … Eles avistaram
um galpão, um imenso galpão.” Após relatar as sessões de skate que
ocorreram no galpão, ele conclui com a expressão que deu título
à reportagem: “Tinha um galpão na beira da estrada, na beira da
estrada tinha um galpão.” (Cruz, 2011, p.61) Se a pedra “no meio do
caminho” de Drummond era um obstáculo, o galpão também o é,
mas no sentido propriamente skatista de estímulo ativamente buscado.
“Esse é o desafio das pessoas. Usar os obstáculos para evoluir como
indivíduos, para fortalecer o coletivo.” (Prieto, 2008, p.110)
Um obstáculo pode ser entendido como um conjunto de bordas
e superfícies. Um banco de praça, uma mureta ou uma fachada se
tornam composições de bordas e superfícies que convidam à in-
teração, que propõem desafios, que atraem skatistas. A bordas e
superfícies correspondem atitudes corporais do skatista, sendo elas
variáveis norteadoras de suas relações com o meio. Nas bordas, o
skatista pode deslizar ou bater os eixos dos trucks (isto é, executar um
grind) ou alguma parte do shape (tail, nose⁹ ou a parte entre os eixos). Ele
também pode “dropar” (do inglês, “to drop”), isto é, despencar a partir
9 O nose [nariz] do shape é a sua extremidade dianteira e o tail [rabo] é sua parte tra-
seira. Atualmente, nos skates convencionais, mesmo quando essa diferença não é mais
objetivada em formas ou dimensões diferentes das partes dianteira e traseira do shape
(como era mais comum nos anos 1980), a distinção ainda importa na classificação de
manobras, em suas variações nose e tail (por exemplo, tailslide e noseslide).
Vida e grafias - miolo.indd 13 3/9/15 7:37 PM
Vida & grafias
da borda, ou utilizar a borda como apoio em manobras de transição,
como handplants e footplants, que envolvem apoiar o corpo sobre um pé
ou as mãos durante uma fração de segundos. Nas superfícies, o ska-
tista se desloca e manobra livremente, tendo de lidar com apenas duas
variáveis: textura e inclinação. Quanto à textura, o ideal é que seja
lisa o suficiente para eliminar a trepidação e o bloqueio das rodas ou
do truck, mas áspera o bastante para garantir a aderência das rodas,
necessária ao controle de direção e velocidade. Quanto à inclinação,
o skatista naturalmente acelera quando desce um plano inclinado,
sendo tal aceleração proporcional à inclinação.
Assim, podemos dizer, em uma proposição causal de base
comportamental, que o pico é um conjunto de obstáculos (bordas
e superfícies) que atrai skatistas (pessoas com skates). Mas também
podemos dizer, em uma proposição mais reticular e intuitiva, que o
pico é a produção local e contingente de skatistas e obstáculos a partir
de encontros felizes entre as capacidades, desejos e predisposições
de seus elementos constituintes (rodas, trucks, shapes, pessoas, bordas,
superfícies, relevos, mas também seguranças, transeuntes, policiais,
proprietários de imóveis, crianças, mendigos, drogados, pedras por-
tuguesas, pedrinhas pequenas, buracos, mármore, cimento, degraus,
corrimãos, bancos, sarjetas, automóveis, terra, chuva, água, frio,
calor, sol etc). Em um caso, o pico é o efeito do encontro de skatistas
e obstáculos; no outro, skatistas e obstáculos são o resultado de um
encontro de seus elementos constitutivos na forma de um pico. Em
ambos os casos (e em tantos outros possíveis), o que se diz é que o pico
é uma ocasião privilegiada para o skatista manobrar seu skate e, assim,
tornar-se mais uma vez skatista: transformar obstáculos em motivos
e motivações para sair de seu estado atual, transformar-se, devir. Em
tempos de esvaziamento do espaço-tempo público, a picologia bem
poderia inspirar estratégias de ocupação criativa e desejante, positi-
vando obstáculos e liberando potências.
Vida e grafias - miolo.indd 14 3/9/15 7:37 PM
Prefácio
Referências
Gregory Bateson, “Some components of socialization for trance”, Ethos, v.3, n.2,
p.143–55, 1975
Black Sheep, “Anúncio”, Tribo Skate, n.189, p.4–5, 2011
Ivan Cruz, “Tinha um galpão na beira da estrada… na beira da estrada tinha um
galpão”, Cemporcento Skate, n.160, p.58–67, 2011
Pedro Peixoto Ferreira, “Conversa com o skatógrafo Renato Custódio”, 2009,
disponível em http://pedropeixotoferreira.wordpress.com/2009/06/15/
conversa-com-o-skatografo-renato-custodio/
–, “Picologia: pensando a reticulação do meio urbano pelo skate”, palestra pro-
ferida na mesa Corpo e Técnica na Teoria Social, 3 Reunião de Antropologia da
Ciência e da Tecnologia, Brasília: dan/unb, 2011
André Ferrer, “Um pico nunca dantes visitado”, Cemporcento Skate, n.135, p.110–111,
2009
Alfred Gell, “The gods at play: vertigo and possession in Muria religion”, Man, v.15,
n.2, p.219–248, 1980
Guto Jimenez, “Skateboarding militant: Um mundo sem skate?!”, Tribo Skate, n.190,
p.108, 2011
Christian P Kasper, “Desviando funções”, Nada, n.5, p.72–77, 2005
Carlos S Martins, “Caixa de entrada: Goethe, arquitetura e skate”, Cemporcento Skate,
n.162, p.108, 2011
Douglas Prieto, “O desafio das pessoas”, Cemporcento Skate, n.121, p.110, 2008
–, “Calçada: a busca”, Cemporcento Skate, n.162, p.22, 2011
Jakob V Uexküll, “An introduction to Umwelt”, Semiotica, n.134, p.107–110, 2001
Alexandre Vianna, Renato Custódio, Eduardo Braz, Atila Choppa & André Ferrer,
“Ande de skate aqui”, Cemporcento Skate, n.135, p.36–47, 2009
Pedro Peixoto Ferreira é professor do Departamento de Sociologia do ifch-Uni-
camp, coordenador do Grupo de Pesquisa cteme e do Laboratório de Sociologia
dos Processos de Associação, desenvolvendo pesquisas na área da socioantropologia da
ciência e da tecnologia.
Vida e grafias - miolo.indd 15 3/9/15 7:37 PM
Apresentação
Suely Kofes & Daniela Manica
Durante alguns anos, enfrentamos o desafio de compreender o es-
tatuto das narrativas biográficas na antropologia, insatisfeitas com
algumas dicotomias (indivíduo/sociedade, subjetivo/objetivo, entre
outras), com algumas resoluções (campo/trajetória, por exemplo) e
com o uso apenas instrumental das histórias de vida nas etnografias
antropológicas. Parecia-nos ainda que muitas das discussões sobre et-
nografia eram análogas a muitas outras que fazíamos sobre biografia.
Em publicações anteriores, uma de nós já havia proposto o uso de
etnografia de uma experiência (Kofes, 2001) e de etnobiografia como pala-
vras valises para sugerir que uma narrativa biográfica poderia ser, ela
própria, uma narrativa etnográfica (Kofes, 2004; esse tema também é
discutido em Gonçalves, Marques & Cardoso, 2012) – ambas noções
parciais. A outra de nós, assim como muitos dos autores cujos artigos
compõem este livro, experimentou em sua tese de doutorado uma
abordagem etnográfica a partir de diversas narrativas de cunho bio-
gráfico, isto é, das várias escritas que tomavam como foco a vida
profissional de uma pessoa, esta anunciada como cientista: autobio-
grafia, memorial, curriculum vitae, dossiê (Manica, 2009).
Foi o interesse pela riqueza das relações entre experiências,
grafias e a escrita antropológica que nos levou a organizar, durante a
28ª Reunião da Associação Brasileira de Antropologia, um grupo de
trabalho sobre o tema “Etnografia e biografia na antropologia: expe-
riências com as diversas ‘grafias’ sobre a vida social”. A chamada para
resumos propunha as seguintes questões:
“Sobre a não tão nova – aliás, recorrente – discussão sobre a relação
entre antropologia e etnografia, Tim Ingold (2008) diz que antro-
pologia deve ser uma indagação sobre as condições e possibilidades
da vida humana no mundo (que, como antropólogos, também habi-
tamos), não um estudo autocentrado sobre como se escreve etnografia
ou sobre o problema reflexivo de como se passa da observação à des-
crição. Essa ‘experiência de habitação’, tal como proposta pelo autor,
Vida e grafias - miolo.indd 16 3/9/15 7:37 PM
Apresentação
não resolve, contudo, os desafios de como lidar com a questão da
escrita no ofício antropológico. Propomos este grupo de trabalho para
estimular a apresentação de reflexões sobre a experiência de pesquisa
e os desafios da ‘grafia’ em antropologia. Menos do que uma questão
de método, trata-se de submeter a imaginação antropológica à dis-
cussão sobre as dificuldades conceituais e práticas envolvidas no uso
de narrativas biográficas e/ou etnográficas. Serão acolhidas propostas
que procurem refletir sobre esse uso e seus efeitos na antropologia
contemporânea, seja pelos meios mais convencionais, como os textos
(auto)biográficos, seja quando incorporamos em sua ‘grafia’ objetos
como agentes sociais, passíveis de serem localizados a partir de nar-
rativas que levem em conta sua existência social. Assim, pretendemos
sobretudo promover discussões sobre a perspectiva antropológica
acerca de imagens e sons (foto[bio]grafias, vídeos, músicas), artefatos e
objetos sociotécnicos.”
A proposta fundamentava-se na ideia de pensar coletivamente sobre
os desafios relacionados à questão da escrita no ofício antropológico,
sobretudo quando envolvendo as relações com “bio”grafias. Tratava-
-se, então, de trazer para o debate algumas das principais questões
que trabalhamos em experiências anteriores e diversas de pesquisa,
esperando, contudo, explorar e amplificar desdobramentos possíveis
da ideia de “grafia”.
Pensamos ser importante contribuir para um enfrentamento das
questões que surgem da tentativa de relacionar criticamente essas
duas modalidades de grafia, “etno” e “bio”, e seus pressupostos.
E, mais do que isso, abarcar a multiplicidade gráfica possibilitada
por combinações diversas entre radicais que antecedem a grafia
(“etno”/“bio”, “foto”/“bio”, “carto”, “antropo” etc). Ou seja,
pensar também outros registros e formas de inscrição – como as
imagens, os sons, as coisas, seus rastros e (re)composições, sobretudo
(mas não apenas) quando articulados às questões de alteridade e
individuação, e à escrita antropológica. Em certo sentido, nosso pres-
suposto e horizonte era também de que as próprias noções de vida,
“indivíduo”/“pessoa”, anthropos/ethnos, podem ser ampliadas e tensio-
nadas ao se pensar vidas e grafias na antropologia.
A qualidade e a heterogeneidade das pesquisas dos textos que
selecionamos para o grupo de trabalho bem como as contribuições
trazidas por seus debatedores alimentaram nosso desejo de dar visibi-
lidade às questões ali colocadas. Assim, este livro reúne um conjunto
bastante diverso de trabalhos em termos de temática e perspectiva,
trabalhos que vão do enfoque biográfico sobre autores relevantes para
as humanidades (como Nimuendaju, Roy Wagner, Michel Leiris e
Vida e grafias - miolo.indd 17 3/9/15 7:37 PM
Vida & grafias
Boris Fausto) a temáticas talvez menos óbvias (trabalho doméstico,
música, laudos jurídicos, carreiras artísticas e científicas, neona-
zismo, cidades e lugares), explorando também a dimensão narrativa
das grafias sobre a vida em suas diversas derivações (fotobiografias,
autobiografias, cartografias).
Com esse gesto, nossa intenção é compartilhar a experiência
dos três dias de discussão intensa e estimulante tratando do tema
sugerido. O primeiro texto, “Narrativas biográficas: que tipo de
antropologia isso pode ser?”, pretende-se uma introdução, convida
a uma mudança do valor usualmente atribuído às narrativas de
vida na antropologia, em extensão e positividade. As contribuições
que se seguem, com seus experimentos variados, contribuem para
assinalar positivamente essa mudança de valor, conceitualmente e
etnograficamente.
Convidamos o leitor a testar esta nossa afirmação.
Referências
Marco Antonio Gonçalves, Roberto Marques & Vânia Z Cardoso (organização), Et-
nobiografia: subjetivação e etnografia, Rio de Janeiro: 7Letras, 2012
Suely Kofes, Uma trajetória, em narrativas, Campinas: Mercado de Letras, 2001
–, “Apresentação”, Cadernos do ifch, n.31, p.5–16, Campinas: ifch/unicamp,
2004
Daniela Manica, “Contracepção, natureza e cultura: embates e sentidos na et-
nografia de uma trajetória”, tese de doutorado em Antropologia Social,
Campinas: ifch/unicamp, 2009
Timothy Ingold, “Anthropology is not ethnography”, British Academy Review, n.11,
p.21–23, julho de 2008, disponível em http://www.britac.ac.uk/events/2007/
Anthropology_is_-not_-Ethnography.cfm, acesso em 15 de janeiro de 2015
Vida e grafias - miolo.indd 18 3/9/15 7:37 PM
Apresentação
Suely Kofes é antropóloga, professora titular no Departamento de Antropologia do
ifch/unicamp, como professora e pesquisadora. Suas pesquisas antropológicas
preocupam-se com a experimentação etnográfica, com pesquisas sobre temas distintos
e em campos etnográficos distintos. Atua nas seguintes linhas de pesquisa: etnografia
e a perspectiva biográfica; experiência e narrativa; antropologia, processos de diferen-
ciação e reconhecimentos identitários (diferença e identidade); temas concernentes ao
campo dos estudos sobre raça e gênero; ritual, cosmologia, associativismo e política.
É uma das coordenadoras do la’grima (Laboratório Antropológico de Grafia e
Imagem), recém-criado no Departamento de Antropologia do ifch/unicamp.
Daniela Tonelli Manica é professora no Departamento de Antropologia Cultural do
Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da ufrj. Mestre e doutora em Antropologia
Social pelo ifch/unicamp, participa do Grupo de Estudos em Antropologia da
Ciência e Tecnologia (geact) e cocoordena o Laboratório de Etnografias e Inter-
faces do Conhecimento (leic), do ifcs/ufrj.
Vida e grafias - miolo.indd 19 3/9/15 7:37 PM
Narrativas biográficas:
que tipo de antropologia
isso pode ser?
Suely Kofes
É com alegria e certo temor que nos reunimos para discutir o lugar da
biografia na antropologia, pois é também disso que trata o título deste
livro e deste capítulo de abertura.
Se história de vida é uma técnica de pesquisa antropológica
já consagrada e que, inclusive, tem existência reconhecida como
método, como “documentos de vida” (uma variação dos chamados
“métodos qualitativos”), biografia e autobiografia parecem tensionar
os supostos antropológicos. Isso se deve, em primeiro lugar, ao fato
de que tais supostos estariam ancorados em conceitos como socie-
dade, cultura, estrutura – totalidades, mais concretas ou abstratas – e no
compromisso com o horizonte da comparação, da generalização ou
do universalismo, embora esse horizonte seja mais um tema de con-
trovérsia do que um objetivo compartilhado. A particularidade – em
uma de suas formas, a etnografia – também é reconhecida ora como
um fim em si mesma, ora apenas como parte do objetivo compara-
tivo. Em segundo lugar, ligado ao primeiro, a resistência à biografia
deve-se ainda a uma confusão semântica e conceitual. Biografia e
autobiografia teriam como referência a vida – parte constitutiva da
etimologia dessas palavras, ou seja, grafia da vida, grafia da minha
vida –, mas um malabarismo semântico terminou por conotar o
termo “vida” com o significado de indivíduo. Esse me parece um nó
conceitual que precisaríamos analisar. Assim, embora muito breve e
provisoriamente, pretendo formular algumas reflexões sobre isso.
Essa discussão não pode ignorar que, no âmbito da antropologia
estadunidense, biografia, autobiografia e história de vida foram (ainda
o são?) mais reconhecidas. Isso apesar das restrições boasianas:
“Um dos métodos utilizados para superar essas dificuldades é induzir
Vida e grafias - miolo.indd 20 3/9/15 7:37 PM
Narrativas biográficas
os nativos a escreverem ou narrarem autobiografias. Os melhores re-
sultados desse método nos dão valiosas informações a respeito das
lutas de todos os dias, da vida e das alegrias e tristezas do povo, mas
a sua confiabilidade, fora alguns pontos muito elementares, é duvi-
dosa. Eles não são fatos, mas memórias, e memórias distorcidas pelos
desejos e pensamentos do momento.”
(Boas, 1943, p.334, tradução livre)
Para Boas, quando o antropólogo quer compreender as reações indi-
viduais às normas culturais, a observação do que fazem e dizem é o
método adequado. A distinção entre observar e ouvir narrativas, no
trecho acima citado, aparece como a distinção entre memória e fato.
Ora, essa distinção problematiza a importância dada ao relato indí-
gena quando é o próprio antropólogo que o torna fato. Isto é, parece
dizer que o relato de alguém pode ser considerado como fato, uma
vez que esse alguém seja categorizado como informante. Entretanto,
esse mesmo relato desse alguém, se referenciado como uma narrativa
sobre si mesmo, torna-se memória.
Eu mesma, ao etnografar a relação entre patroa e empregada
doméstica, usei falas cortadas de pessoas distintas para compor um
discurso geral, mas tomei algumas delas em sua sequência narrativa
singular como narrativa de vida. Assim, trechos de uma narrativa
compunham um discurso geral (como fato, informação, portanto),
mas, quando recolocados em sua integralidade narrativa, compu-
nham uma evocação, reflexão – embora seja preciso ressaltar que eu
as considerei como contendo “fato” e “memória”, tomando-as simul-
taneamente enquanto discurso e narrativa, ou enquanto discurso e
estória, evocação e informação.
A biografia não é (ou ainda não é) uma prática antropológica do
mesmo estatuto que a etnografia, por exemplo. Ocasional e experi-
mental, encontramos a sua “defesa”, digamos assim, até onde menos
poderíamos pensar encontrá-la. Pois (e, talvez, por isso) não é isso o
que parece querer dizer Lévi-Strauss em seu prefácio à edição fran-
cesa de Soleil Hopi?
“A narrativa que ele nos oferece contém em si mesma um valor psico-
lógico e romântico. Ao etnólogo, ele traz uma riqueza de informações
sobre uma sociedade ainda pouco conhecida. Mas, acima de tudo,
a história de Talayesva realiza, com facilidade e graça, o que o et-
nólogo sonha durante toda a sua vida obter sem nunca o conseguir
plenamente: a restituição de uma cultura ‘de dentro’, tal como vivida
quando criança e depois como adulto. Um pouco como se, arqueó-
logos do presente, nós desenterrássemos as disjuntas pérolas de um
Vida e grafias - miolo.indd 21 3/9/15 7:37 PM
Vida & grafias
colar para, de repente, percebermos as contas atadas em sua primitiva
disposição, em torno do jovem pescoço ao qual foram um dia desti-
nadas a adornar.”
(Lévi-Strauss, 1982, tradução livre)
Talvez eu não devesse dizer que seria onde menos se esperava encon-
trar uma “defesa” do biográfico, afinal, o que diz Lévi-Strauss é mais
um exemplo do seu pensamento analítico. Tomemos literalmente,
embora o autor esteja falando metaforicamente: reconhecer a pessoa
particular, concreta, literalmente a que usa o colar, não seria incompa-
tível; pelo contrário, seria necessário ao conhecimento de um sistema
de ornamentos, se fosse o caso de empreendê-lo. Mas, de outro ponto
de vista, também não seria surpreendente encontrar Lévi-Strauss
ressaltando como importante na narrativa de Talayesva a “cultura
enunciada de dentro”.
Dumont, que não abre mão da totalidade (considerada mais en-
quanto conjunto, enquanto uma configuração passível de comparação
com distinta configuração, e não enquanto uma sociedade como um
todo), faz distinção entre o “indivíduo empírico” e o “indivíduo como
valor”. Mas, na convenção que atribui consubstancialidade entre
biografia e indivíduo, a perspectiva biográfica não iria ao encontro da
noção de indivíduo como valor: considera-se que a biografia focaliza
um indivíduo empírico, embora o próprio suposto da biografia como
a escrita de um indivíduo seja ela própria efeito da ideologia do indi-
víduo como valor.
Contribuições antropológicas mais recentes têm contestado a efi-
cácia conceitual da dicotomia indivíduo e sociedade, criticam a sociedade
concebida como totalidade inter-relacionada, como todo ou como
soma das partes, e, principalmente, o que essa concepção engendra: o
indivíduo como entidade natural, anterior, moldável à imagem de um
ideal coletivo. Strathern (1996 e 2014) sugere, inclusive, um vocabu-
lário alternativo à dicotomia entre sociedade e indivíduo ou todo e partes:
os conceitos de socialidade e dividual, um vocabulário que permitiria ex-
pressar pessoas particulares que são constituídas de relacionamentos e
ao mesmo tempo os engendram.
Se levarmos em conta essas contribuições, em um exercício de
justapor aparentes antinomias, talvez possamos abrir sem embaraço
um lugar para biografia e autobiografia no campo antropológico. Mas
quais seriam os efeitos de se atribuir à biografia um lugar e um status
equivalente ao da etnografia na antropologia?
Se na relação da etnografia com a antropologia ainda encon-
tramos um campo de discussão que opera a clássica distinção entre
o particular e o geral, nomotético e ideográfico, pesquisa e teoria, a
Vida e grafias - miolo.indd 22 3/9/15 7:37 PM
Narrativas biográficas
controvérsia só é possível porque a etnografia já tem o seu lugar le-
gitimado na antropologia. Lugar sujeito à discussão, como mostra a
recente proposição de Tim Ingold, que, ao afirmar que a etnografia
não é antropologia, parece estender à segunda algumas das quali-
dades da primeira.
No caso das narrativas biográficas, o terreno é mais arredio,
pois, retomando uma afirmação do início, é como se houvesse uma
antinomia insuperável entre a ordem do antropológico e a ordem do
biográfico, na medida em que a escrita de uma experiência, de uma
vida, é compreendida como o que ela não é ou não precisa ser: a
escrita sobre um indivíduo.
Ao resenhar algumas histórias de vida, Crapanzano já comentava
o desconforto da antropologia acadêmica com narrativas biográficas,
desconforto que, acrescentemos, expressaria a oscilação da antropo-
logia com a dimensão da narrativa e a oscilação de si mesma como
literatura ou ciência. Talvez porque essa dimensão narrativa seja ine-
rente à historiografia, esta parece ter resolvido melhor a sua relação
com a biografia.
Ao discutir os conceitos de estrutura e função, vale lembrar o
suposto de Radcliffe-Brown:
“No estudo da estrutura social, a realidade concreta de que estamos
tratando é uma série de relações realmente existentes, em dado espaço
de tempo, que agrupa certos seres humanos. É nisto que podemos
fazer observações diretas. Mas, não é isto que pretendo descrever
em sua particularidade. A ciência diferentemente da história (ou da
biografia) não se interessa pelo particular, peculiar, mas apenas pelo
geral, pelas espécies, pelos fatos que se repetem. As relações concretas
de Antonio, João e Pedro, ou a conduta de Manuel e José, podem ser
lançadas em nossos apontamentos e servir de exemplificação para
uma descrição geral. Mas o que precisamos para fins científicos é um
balanço da forma da estrutura.”
(Radcliffe-Brown, 1952, p.192, tradução livre)
No argumento de Radcliffe-Brown, aparecem como equivalentes a
noção de generalização e a de constante. Assim, as particularidades, en-
quanto variantes que se deveriam levar em conta, mas das quais se
deveria abstrair, seriam da ordem do geral e do que é constante – isto
é, para Radcliffe-Brown, regulares.
Nesse mesmo autor, relacionada a essa concepção de estrutura
social, estaria a de personalidade social. Ao considerar que todo ser
humano é indivíduo e pessoa, seria preciso distinguir indivíduo
(organismo biológico) de pessoa (complexo de relacionamentos pes-
Vida e grafias - miolo.indd 23 3/9/15 7:37 PM
Vida & grafias
soais). Para Radcliffe-Brown, o primeiro é assunto da psicologia, e o
segundo, da antropologia, porque é no segundo que podemos abstrair
o conjunto dos relacionamentos sociais. Mas é no seu exemplo que
compreendemos melhor como se complica o argumento de que, se
Deus são três pessoas, seria heresia considerá-lo como três indivíduos.
Radcliffe-Brown não leva em conta um procedimento analítico ne-
cessário para compreender a noção cristã de Deus, procedimento,
aliás, operado pela própria concepção que lhe serve de exemplo. Pois
a razão analítica não é aquela que não recorta o real em partes, mas a
que o apreende como um conjunto de totalidades decomponíveis.
Mesmo quando se faz a equivalência entre biografia e o indi-
víduo, nota-se que o que as narrativas biográficas fazem é constituí-lo
ou não. Mas não há uma correlação natural entre biografia e indi-
víduo, e nem sequer há consenso sobre a natureza do segundo.
Portanto, torna-se necessário distinguir pelo menos duas ma-
neiras de incluir as narrativas biográficas e autobiográficas no campo
antropológico: uma, tomando as biografias e autobiografias conven-
cionais como objeto; outra, inventando um conceito que dê conta
do que, em um trabalho anterior, considerei partir de uma intenção
biográfica para fazer dela uma narrativa etnográfica (Kofes, 2001).
Desse último ponto de vista, explorar as narrativas biográficas que
tensamente ocupam o campo da antropologia é um trabalho con-
ceitual necessário. É essa a intenção deste capítulo, em que focalizo
narrativas biográficas escritas por dois antropólogos.
Contraponto:
duas experiências de dois antropólogos,
material heteróclito para uma
reflexão antropológica sobre biografias
(ou “histórias de vida”)
“Você é o primeiro Navaho que eu conheço. Muito do que eu aprendi
com os Navaho foi com você. Agora sou professor. Meu trabalho
é contar para as pessoas lá no leste sobre os índios daqui do Novo
México e do Arizona, especialmente os Navaho. Eu quero contar
para elas coisas verdadeiras, não mentiras. Eu preciso da sua ajuda.
Quero contar a elas sobre como os Navaho vivem. Você viveu muito,
viu muitas coisas. Aqui, você foi chefe por muitos anos e eu sei que
os Navaho acreditam que o que você diz é o certo. Assim, eu gostaria
que você me falasse sobre sua vida, desde o começo. Eu quero ouvir
tudo de que você se lembra e do jeito que vier à sua cabeça. Eu sei
que isso será um trabalho duro para você e que você tem outras coisas
para fazer. Então, para cada dia em que você trabalhar me contando
Vida e grafias - miolo.indd 24 3/9/15 7:37 PM
Narrativas biográficas
sobre sua vida, eu vou lhe pagar dois dólares. Você pode fazer isso
para mim?”
(Kluckhohn, 1945, tradução livre)
Foi assim, conforme relata Clyde Kluckhohn, que ele pediu ao mr
Moustache – por meio de um intérprete,¹ e em seu primeiro encontro
como etnólogo entre os Navaho, embora já se conhecessem há alguns
anos² – para lhe contar a sua vida.³ Na fala do antropólogo, vemos a
ênfase posta na verdade dos fatos narrados e o suposto de que a his-
tória de vida de mr Moustache – contada desde o começo, como foi
pedido – diria sobre como os Navaho vivem. Ou seja, vemos aqui
explicitada a concepção da narrativa da história de vida como um
documento etnográfico. Ao pedir ao narrador que ele contasse a sua
vida desde o começo e que ele a contasse conforme o fluxo de suas
lembranças, Kluckhohn inaugura um uso da história de vida na pes-
quisa antropológica com um jogo de alteridade bastante sutil: a vida
teria um começo (conforme a concepção cultural do antropólogo),
mas esse começo variaria (conforme as concepções culturais distintas).
O pressuposto que orienta Kluckhohn na análise da narrativa de
mr Moustache indica uma importante disjunção entre uma tradição
antropológica no uso de histórias de vida (a mesma crítica ao que
ele designa como “ilusão biográfica”). Talvez eu possa ser criticada
pela imprecisão ao referir-me a uma “tradição antropológica” de
uso das narrativas biográficas e/ou das histórias de vida. Pois, que
tradição seria esta se falta vigor e persistência deste uso mesmo na
antropologia estadinudense? Além de que boa parte dos antropólogos,
estadunidenses ou não, seja ambivalente sobre o seu uso, quando
não diretamente crítica. Ainda que – um paradoxo? – a pesquisa
antropológica dependa dos “documentos pessoais” – expressão con-
vencionada pelos metodólogos estadunidenses e à qual Kluckhohn
adere – para comporem etnografias e formularem generalizações.
Distintas interpretações (ou mal-entendidos) são constituintes da
pesquisa etnográfica. Nesse caso específico, Kluckhohn considerou
1 “Frank Pino, o intérprete. Ele tinha cerca de 40 anos de idade e era um sobrinho
sororal de mr Moustache. Ele estudara até a oitava série na escola indígena em Albu-
querque e era um dos três índios desta comunidade que tinha conhecimento suficiente
de inglês para poder atuar como intérprete. Apesar de ter trabalhado durante vários
anos na loja de comércio local, sua capacidade como tradutor era bastante limitada.”
(Kluckhohn, 1945, p.266, tradução livre)
2 “Minha abordagem com o pedido de que ele me contasse sobre sua vida não foi
apenas a primeira vez em que eu falei com ele como etnólogo, mas também o primeiro
dia em que eu fiz trabalho de campo etnológico formal entre os Navaho.” (Kluckhohn,
1945, p.265, tradução livre)
3 “Mr Moustache é a tradução literal do nome pelo qual os Navaho dessa região fre-
quentemente o chamam.” (Kluckhohn, 1945, p.263, tradução livre)
Vida e grafias - miolo.indd 25 3/9/15 7:37 PM
Vida & grafias
a entrevista como trabalho a ser remunerado e, na resposta de mr
Moustache, encontramos outra interpretação ou um mal-entendido:
“Você está certo no que diz. Somos amigos desde que você era apenas
um menino. Você sempre foi bom para Navajos e fez o que é certo.
Eu quero ajudá-lo, mas eu tenho que ter certeza de que estará tudo
bem para o povo se eu falar com você. Ultimamente, como nós
temos esse novo comissário indígena, o governo tem enviado algumas
pessoas brancas aqui para nos fazer perguntas. Em seguida, eles co-
meçaram a tomar as nossas ovelhas e cabras. As pessoas não gostam
disso. Você vai dizer a Washington tudo o que eu lhe disser?”
(Kluckhohn, 1945, p.265, tradução livre)
O que o antropólogo interpretava como trabalho a ser remunerado
(tempo investido), mr Moustache considerava como política (a relação
entre os Navaho, os “brancos” e Washington, isto é, o governo dos
Estados Unidos). O diálogo continuou (Kluckhohn, 1945, p.266, tra-
dução livre):
Kluckhohn: “Eu lhe asseguro que eu não tenho qualquer ligação com
‘Washington’.”
Mr Moustache: “Eu não sei exatamente por que você quer saber essas
coisas. Algumas coisas são para os índios e algumas coisas são para os
brancos.”
Kluckhohn: “Nas escolas que construímos para os seus filhos, ten-
tamos ensinar-lhes o que nós descobrimos sobre como conviver.
Alguns de nós pensam que, talvez, vocês índios tenham aprendido
coisas que também nos ajudariam. É por isso que eu vim.”
Mr Moustache: “Tudo bem. O que você quer que eu lhe diga
primeiro?”
Kluckhohn: “As primeiras coisas que você lembra de sua vida, comece
aí e continue até o presente momento. Eu não lhe farei mais per-
guntas depois que você começar. O que eu quero é que, por conta
própria, você vá contando exatamente como as coisas vêm à sua
mente.”
Talvez, mesmo perguntando ao antropólogo o que ele queria que ele
falasse primeiro, mr Moustache tenha mantido a sua intenção original
e o seu relato de vida seja uma narrativa política da tradição navaho.
Mr Moustache não começa o seu relato pelo seu nascimento, mas as-
sinalando que nunca viajara quando criança e que permanecera em
sua terra, trabalhando, ao contrário do que aconteceria atualmente
com as crianças, que hoje vão onde querem:
Vida e grafias - miolo.indd 26 3/9/15 7:37 PM
Narrativas biográficas
“Eu nunca fui a lugar nenhum quando eu era menino. Meus pais não
me deixavam sair por aí. Fizeram-me trabalhar, buscando madeira e
coisas assim. Eu sempre ficava em casa. Agora as crianças vão aonde
querem. Esses jovens Navajos daqui não sabem de nada. Eu sou o
único velho Navajo que restou. Logo estarei morto.”
(Kluckhohn, 1945, p.267, tradução livre)
Na análise do relato, primeiramente, Kluckhohn chama a atenção
para a dificuldade de considerá-lo como uma autobiografia⁴ (mas
por que é preciso uma definição e a procura de sua correspondência
em um real?) pelos poucos eventos e pessoas mencionados. Só o pai
foi mencionado (aliás, o foi muitas vezes). O que mr Moustache falou
estaria mais para “um tipo de homilia filosófica do que propriamente
para uma história de vida” (Kluckhohn, 1945, p.273, tradução livre),
comentaria o antropólogo, ressaltando que possivelmente essa carac-
terística estaria no próprio contexto do entrevistado, que era um chefe
e, portanto, estava acostumado a ser procurado para dar conselhos.
Ora, isso teria se dado, principalmente, porque o antropólogo não
interrompera a narrativa de mr Moustache nem lhe dera esquemas
cronológicos. Assim, o que foi escolhido pelo narrador foi o que ele
considerou significativo em sua vida para a resposta ao que o antro-
pólogo havia lhe pedido. Estaria exatamente aí o valor do relato como
documento significativo. É como Kluckhohn vai analisá-lo, como um
relato singular e como um documento cultural, isto é, as relevâncias
foram aquelas da perspectiva Navaho e não a que teria lhe dado o an-
tropólogo. O que eu entendo como um documento etnográfico ou,
como talvez dissesse Ingold (2007), um documento antropológico, do-
cumento etnográfico/antropológico que, notemos, se caracteriza pela
cronologia e sequência de eventos, e com referência a pessoas con-
textualizadas, seja por relações mais imediatas, seja por linhas mais
significativas. No caso do Navaho, tratou-se da referência ancestral ao
seu pai. Um ponto de vista Navaho diante de um estrangeiro também
explicaria algumas omissões de conteúdo. Comparando a narrativa de
mr Moustache com a de outros Navaho, Kluckhohn sugere que as es-
colhas de conteúdo e ênfase são mais compartilhadas culturalmente do
que se pode prever. Haveria uma espécie de repetição dos valores cul-
turais nas narrativas de pessoas distintas.
A meu ver, Kluckhohn nos diz que as lacunas informativas devem
ser de fato compreendidas como valor cultural expressivo. Se é isso que
4 Neste texto, ao dizer “ato biográfico” ou “narrativa autobiográfica”, estarei me re-
ferindo a narrativas de vida que possam ser consideradas para se traçar biografias,
autobiografias, histórias de vida ou trajetórias.
Vida e grafias - miolo.indd 27 3/9/15 7:37 PM
Vida & grafias
ele está dizendo, compartilho de sua afirmação. Entretanto, a análise
de Kluckhohn naturaliza os valores culturais e o estrangeiro, torna
absolutas essas categorias. Assim, o sentido do que fala mr Moustache
– e o que ele contou de si – não foi compreendido na relação entre o
antropólogo e o Navaho, nem foi considerado o que antropólogo sig-
nificava para mr Moustache e para os Navaho. Kluckhohn considera
um esquema cultural objetivado, exteriorizado, não se tratando exata-
mente do que, mais tarde, se chamaria de “encontro etnográfico”.
A postura de Kluckhohn é exatamente o inverso do que seria feito
por Crapanzano (1980) anos depois. Nesse último caso, a alteridade
(no encontro) explicaria a expressão narrativa, acionaria a presença
do outro abstrato, imaginariamente recriando os personagens da inte-
ração concreta e a narrativa como a ficção produzida no encontro.
Tuhami, marroquino, oleiro, casado com A’isha Qandisha, um
demônio feminino [she-demon], dedicava-se aos santuários, romarias
e sonhos. Crapanzano fez a sua pesquisa no Marrocos, na década de
1960, interessado no estudo de A’isha Qandisha desde a sua pesquisa
sobre uma irmandade especializada em rituais de cura dos possu-
ídos, a irmandade Hamadsha; à qual ela pertencia. Tuhami não era
membro da Hamadsha, a sua relação com A’isha Qandisha era de
esposo, e não de possuído, o que lhe dava ou o que justificava um
status de outsider. Crapanzano oferece um quadro da cultura e rela-
ções sociais marroquinas, o significado da romaria, a relação entre
humanos, santos e demônios e o uso que Tuhami faz de símbolos
culturais e rituais. A história de vida de Tuhami remete a uma et-
nografia de concepções e relações religiosas. Com uma introdução,
uma conclusão e cinco capítulos, o livro contém os diálogos das en-
trevistas feitas por Crapanzano e as respostas de Tuhami, permeadas
pelos sonhos e narrativas em forma de recitações. Conforme diz
Crapanzano:
“Eu levo em conta a maneira com que Tuhami faz uso da linguagem
particular disponível para articular sua própria experiência, incluindo
a sua história pessoal em nossas negociações da realidade. Talvez
com uma visão mais estreita e certamente com maior resistência, eu
levo em conta o uso que eu faço do meu próprio idioma em nossas
negociações.”
(Crapanzano, 1980, p.xi–xii, tradução livre)
Tuhami é um narrador, a história de vida escrita por Crapanzano
baseou-se no que Tuhami lhe contou, e não no que outros lhe contam
sobre ele. É assim quanto à própria noção de realidade, de realidade etno-
gráfica e de invenção que Crapanzano discute. As histórias contadas por
Vida e grafias - miolo.indd 28 3/9/15 7:37 PM
Narrativas biográficas
Tuhami e a narrativa de vida de Tuhami aproximam autobiografia,
etnografia, narrativas míticas e contos de fada. Segundo Crapanzano,
“… o real era uma metáfora para a verdade – e não idêntico a ela.
Tuhami falava a verdade desde o início, … mas eu estava ouvindo
apenas o real, que eu confundia com o verdadeiro.”
(Crapanzano, 1980, p.130, tradução livre)
O modo como Tuhami configura a sua narrativa é problematizado
antropologicamente por Crapanzano, mas a narrativa não é consi-
derada como ilusão, e sim como linguagem, expressando também
o choque entre idiomas culturais distintos. Levando em conta que
a narrativa de Tuhami precisaria ser compreendida tendo em vista
o que a palavra significa na cultura marroquina, no jogo compe-
titivo que ela contém, ganha quem detém a palavra. Conforme
Crapanzano:
“O conteúdo da narrativa de Tuhami é ontologicamente diferente
daquele com que nós estamos familiarizados no Ocidente. Diferenças
genéricas não são simplesmente diferenças formais. Elas são cons-
truções culturais e refletem as premissas mais fundamentais sobre a
natureza da realidade, incluindo a natureza da pessoa e a natureza da
linguagem, consideradas, se forem inteiramente consideradas, auto-
evidentes pelos membros de qualquer tradição cultural particular. O
reconhecimento dessas diferenças, da possibilidade de um outro modo
mais ou menos bem-sucedido de se constituir a realidade, é sempre
ameaçador, pode produzir uma espécie de vertigem epistemológica
e exigir uma posição de relativismo cultural extremo … No entanto,
intencionalmente ou não, o antropólogo ou o leitor faz, muitas vezes,
com que as diferenças desapareçam no ato da tradução. Essa tra-
dução pode tornar bizarro, exótico ou simplesmente irracional o que
pode ser comum em seu próprio contexto. Então, a etnografia passa a
representar uma espécie de antimundo alegórico semelhante aos anti-
mundos do louco e da criança.”
(Crapanzano, 1980, p.8, tradução livre)
Nessas duas experiências distintas temporalmente (a de Kluckhohn
com mr Moustache e a de Crapanzano com Tuhami), o relato biográ-
fico ancora-se na experiência etnográfica: uma criaria um documento
etnográfico; outra, uma ficção etnográfica. O contraponto aqui esbo-
çado delineia polos exagerados visando a constituir um contraponto
e, em seguida, uma mediação que permita esboçar um campo de
discussões.
Vida e grafias - miolo.indd 29 3/9/15 7:37 PM
Vida & grafias
Entre os atos: “a California morality tale”?
Ou, uma biografia “boa para pensar” inclusive a antropologia?
“Uma pequena história explicará bem isso: a de um índio que
escapou sozinho, milagrosamente, do extermínio das tribos cali[for]-
nianas ainda selvagens, e que, durante anos, viveu ignorado por todos
nos arredores das grandes cidades, talhando as pontas de pedra de
suas flechas que lhe permitiam caçar. Entretanto, pouco a pouco a
caça desapareceu; um dia descobriu-se esse índio nu e morrendo de
fome às portas de um subúrbio. Terminou sua vida sossegadamente
como porteiro da Universidade da Califórnia.”
(Lévi-Strauss, 1996, p.57–58, tradução livre)
Há quem considere a história de Ishi um dos capítulos mais assom-
brosos da história americana (Rockafellar & Starn, 1999). Se a vida de
Ishi nos perturba e nos faz evocar a violência de muitos dos eufemis-
ticamente chamados “encontros culturais”, a biografia de Ishi escrita
por Theodora Kroeber (1961) nos incomoda também por outros
motivos. Como um fragmento da história de seu povo e da pré-his-
tória da Califórnia, a biografia de Ishi, “o último dos Yahi”, parece
escrita para contar a história de seu povo como se fosse uma vida cujo
sentido estaria na extinção de um povo.
No prólogo do livro, Theodora (1961) conta que foi em 29 de
agosto de 1911 que Ishi “entrou em nossa vida” – por “nossa vida”,
não se deve entender o envolvimento pessoal de Theodora: ela não
conheceu Ishi neste momento, aliás, nem ainda conhecera Kroeber,
o antropólogo com quem viria a se casar bem depois. Ishi entrou na
vida de Oroville, cidade onde ele foi encontrado em um matadouro,
capturado pelo xerife e, sem entender ou falar inglês, levado à prisão.
A captura do selvagem despertou intensa curiosidade. A notícia, os
comentários sobre Ishi, inclusive a sua foto, chegaram aos jornais de
São Francisco. Lendo os jornais, Kroeber e Waterman, professores
da Universidade de Califórnia, se inteiraram do acontecido. Com a
quase certeza de que se tratava de um Yahi, Waterman foi para Oro-
ville e conseguiu com esforço que Ishi reconhecesse a fonética de uma
palavra de sua língua. Mais palavras, frases e os dois se comunicaram.
Após várias iniciativas envolvendo o xerife, Kroeber, Waterman,
o Museu de Antropologia da Universidade da Califórnia e Wa-
shington, Ishi foi levado para São Francisco, onde viveu quatro anos e
sete meses, até morrer em 1916, vitimado por doenças pulmonares.
O nome Ishi Homem [Man], na linguagem Yahi, lhe foi atribuído
pelos antropólogos. Quando começou a corrida pelo ouro, em 1849,
havia aproximadamente 400 Yahi na Califórnia. O massacre do povo
Vida e grafias - miolo.indd 30 3/9/15 7:37 PM
Narrativas biográficas
Yahi se iniciou em 1865 e se prolongou até 1870, no meio do qual, em
1860, se teria dado o nascimento de Ishi. Entre 1870 e 1911, um grupo
de cinco a vinte Yahi em fuga perambulava por Mill Creek. Em 1908,
o grupo de sobreviventes no qual estava Ishi, e que vivia se escon-
dendo e fugindo, estava reduzido a quatro.
Com as notícias de seus aparecimentos esparsos, Waterman
foi com uma expedição a Mill Creek, em 1810, tentando encontrar
o bando de indígenas em “estado selvagem”, mas não conseguiu
nenhum contato. Contudo, em 1911, Ishi foi encontrado em Oroville
e, em 4 de setembro, levado para São Francisco. Durante seis meses, o
Museu de Antropologia recebeu 24 mil pessoas que visitaram o museu
e viram Ishi demonstrar, entre outras habilidades manuais, como
fazer setas (flechas?) e fogo. Em 25 de março de 1916, Ishi morreu no
hospital da Universidade da Califórnia. O seu cérebro foi removido,
pesado, examinado e preservado. Em 27 de março, Waterman, Pope,
Loud Warburton e Gilford acompanharam o corpo ao cemitério onde
ocorreu a cremação. Em 31 de março, as cinzas de Ishi foram colo-
cadas em um jarro Pueblo. Kroeber não foi à cerimônia, pois estava
em Nova Iorque, em seu período sabático, do qual retornou em 27 de
outubro de 1916.
Theodora Kroeber estava com 60 anos quando escreveu a sua
primeira biografia, sobre Ishi – Ishi in two worlds –, publicada em 1961.
Segundo Karl Kroeber, filho de Theodora e de Alfred Kroeber, relata
na introdução à reedição de 2004, o título teve um forte impacto no
contexto de sua edição original. Ainda conforme Karl, fora Heizer –
arqueólogo e antropólogo especialista em instrumentos de pedra, que
atribuiu ingenuidade à consideração de que Ishi era um “puro” Yahi,
pois ele seria também Yana – quem conseguira convencer Theodora
a escrever a biografia, projeto recusado por Alfred Kroeber. Karl
Kroeber conta como Heizer convencera Theodora a escrever o livro e
como trabalharam juntos no projeto.
O livro teve uma enorme popularidade, transformando-se em
filme, vídeos e peça – Ishi: the last of the Yahi, drama teatral escrito por
John Fisher (Theatre Rhino, UC Berkeley Production). Foi reeditado
várias vezes, popularizando, segundo Karl Kroeber, também a defesa
intelectual da antropologia boasiana contra o extermínio indígena e
tendo sido um testemunho de defesas das populações indígenas da
Califórnia em sua luta legal pelo reconhecimento de seu direito à
terra. A biografia não apenas foi muito lida e criticada, como rendeu
outras pesquisas sobre a vida de Ishi – uma delas, a pesquisa de M
Steven Shackley (2003).
Aliás, a reedição de 2004 é particularmente significativa, bem
como a sua introdução, tendo em vista o desdobramento de uma
Vida e grafias - miolo.indd 31 3/9/15 7:37 PM
Vida & grafias
dessas controvérsias, que desencadeou um evento – reinventando
e estendendo a narrativa Ishi – envolvendo nativos americanos e
antropólogos. Em 1997, o Butte Country Native American Cultural
Committee iniciou uma campanha pelo retorno dos restos de Ishi à
terra dos Yahi, ao norte da Califórnia. Embora fosse conhecido que
as suas cinzas estavam em um nicho no Olivet Cemitery, ao sul de São
Francisco, os nativos americanos se inteiraram que o seu cérebro tinha
sido extraído na autópsia e que fora guardado em outro lugar.
O trabalho de pesquisar onde estava o cérebro de Ishi foi contado
por Nancy Rockafellar & Orin Starn (1999; ver também Starn,
2004). Em 1999, o Smithsonian acertou o envio do cérebro para o
grupo nativo que o reivindicava, o que foi feito em 2000 em um lugar
desconhecido, para evitar invasão de curiosos e turistas (Kroeber &
Kroeber, 2003). Kroeber não estava em São Francisco quando Ishi
faleceu e, contra a sua vontade – manifestada enfaticamente em cartas
–, foi realizada a autopsia e a retirada do crânio de Ishi para análise,
o que pode ser melhor conhecido na troca de correspondências entre
Kroeber e Gifford em março de 1916, já no final da vida de Ishi, que
no dia 18 de março fazia a sua última entrada no hospital da Universi-
dade da Califórnia.
Em torno desse evento, alguns membros do Departamento de
Antropologia da Universidade da Califórnia, em Berkeley, iniciaram
um movimento para que o Departamento de Antropologia – ao qual
Kroeber estivera ligado de 1901, sendo um dos seus fundadores, a
1947, quando se aposentou – se desculpasse publicamente pelo in-
defensável comportamento de Kroeber em relação a Ishi, sugerindo
também que o prédio que aloja o departamento tivesse o seu nome,
Kroeber’s Hall, mudado. Embora lamentando que o cérebro de Ishi
tivesse sido enviado ao Smithsonian e defendendo a sua entrega,
junto às cinzas de Ishi, para os nativos que os reivindicavam, outros
membros do Departamento consideravam injustificável a condenação
de Kroeber (Kroeber & Kroeber, 2003). Esse evento provocou a publi-
cação de um livro organizado por Karl Kroeber e Clifton B Kroeber
(2003), cujos artigos revisitam a vida de Ishi e a sua biografia, bem
como a controvérsia no Departamento de Antropologia de Berkeley
em torno da condenação ou não de Kroeber.
Esse livro e Ishi’s brain: in search of America’s last “wild” indian, de
Orin Starn (2004), foram resenhados conjuntamente por Geertz no
The New York Review of Books. A resenha começa assim:
“Um conto moral da Califórnia, a história de Ishi é, em si mesma,
como parábolas em geral, muito simples. São os narradores, cada um
com envolvimento e intenções distintos, que a complicam.”
(Geertz, 2004, tradução livre)
Vida e grafias - miolo.indd 32 3/9/15 7:37 PM
Narrativas biográficas
Onde começaria e terminaria a narrativa biográfica de Ishi? Nos
quatro anos e sete meses em que Ishi foi encontrado e viveu na Uni-
versidade da Califórnia? Em 1860, quando teria nascido, e em 2000,
quando foi definitivamente enterrado? Entre 1860 e 1916? O que eu
gostaria de sugerir para a presente discussão e para análises futuras
é que, seja qual for a escolha, essa biografia conteria o mesmo con-
texto de relações e teria o mesmo sentido – não o da vida ou o de
uma história, mas o sentido do encadeamento de relações e desdo-
bramentos narrativos. Eis o que torna essa biografia particularmente
relevante para contestar algumas das dicotomias que cercam o debate
sobre biografia e autobiografia na antropologia, por exemplo, como
levantei no início, entre fato e memória (e, supostamente, entre obje-
tivo e subjetivo), ciência e literatura, narrativa e estrutura, indivíduo,
rede de relações ou indivíduo e sociedade. Esses temas são, aliás, caros
à antropologia e o tema biografia e autobiografia contribuiu para que a
discussão fosse menos marcada pelo fantasma do ideográfico e no-
motético. Isso permitiria ainda estender a discussão sobre como os
conjuntos normativos são interpretados e diferentemente acionados,
tendo em vista as experiências de pessoas-indivíduos – ou, ainda, a
teoria ator-rede de Bruno Latour (2005).
De qualquer maneira, há ainda um trabalho a fazer e um grande
desafio: o de incluir as narrativas biográficas no fazer antropológico
com o mesmo estatuto das narrativas etnográficas. Um bom desafio,
para o qual seria preciso considerar que, onde há um nome, há um
conjunto de relações. Poderíamos, então, parafrasear Lévi-Strauss no
prefácio do livro Le Soleil Hopi:
“… um pouco como se, arqueólogos do presente, nós desenterrás-
semos as disjuntas pérolas de um colar para percebermos de repente
as contas atadas em sua disposição primitiva, em torno do jovem
pescoço ao qual foram um dia destinadas a adornar...”
(Lévi-Strauss, 1982, tradução livre)
Que antropologia fazemos
quando focalizamos narrativas biográficas?
“Alguns conceitos na teoria antropológica são fundacionais. Porque
são conceitos que fornecem o terreno sobre o qual antropólogos
podem construir seus edifícios teóricos, eles frequentemente são
tomados como óbvios e tendem a permanecer não questionados. Um
desses conceitos é o de experiência. Experiência é um conceito chave
ao longo da história da disciplina, mas tem, até recentemente, per-
manecido sem um exame crítico. Mesmo assim, a sua proliferação
Vida e grafias - miolo.indd 33 3/9/15 7:37 PM
Vida & grafias
nos escritos antropológicos contemporâneos é verdadeiramente
notável. Com efeito, experiência se tornou um construto central para
um número de perspectivas divergentes na antropologia, incluindo
a teoria feminista, antropologia fenomenológica, antropologia psi-
cológica, antropologia médica e etnografia crítica. Em todas essas
abordagens, enquanto a importância e a centralidade da experiência
é evidente, a definição e propriedades operacionais do construto
permanecem evasivas. Essa falta de clareza conceitual parece sur-
preendente dado que essas perspectivas teóricas frequentemente
consideram a experiência não somente como uma área central de pes-
quisa, mas também como uma base para que especulação, descrição e
explicação posteriores sejam construídas.”
(Throop, 2003, p.219, tradução livre)
Muitas das críticas à noção de experiência referem-se a que o seu uso
estaria ligado aos supostos de visibilidade, transparência, individu-
alidade, autenticidade, a instâncias pré-discursivas, pré-narrativas,
pré-conceituais, também existindo críticas ao vínculo da noção de ex-
periência com a subjetividade e consciência individual. Muitas dessas
críticas partem da importância que precisaria ser dada às estruturas e
processos (socioeconômicos, históricos, linguísticos etc), onde estariam
assentadas as condições para experiência, o que significa que a experi-
ência seria resultante de estruturas e processos.
A discussão é evidentemente marcada por distintos pressupostos
teóricos e também, como bem sugere Troop, pelos escorregadios
sentidos do termo e de seu uso. Não se trata aqui de adiantar uma
exegese da noção de experiência nem de sugerir uma redução de seus
sentidos, mas de procurar um sentido mais adequado ao argumento
com o qual pretendo finalizar este texto.
Lévi-Bruhl (1938, p.8–19), em seu último artigo, publicado
postumamente, usa a noção de experiência para dar conta do afetivo
enquanto uma diferença na ordem racional, diferença que uma con-
ceituação estreita de realidade desprezaria como um não real, como
um não racional. Posteriormente, Turner usaria também a noção de
experiência sem confundi-la com o imediatamente observado e vivido.
Em Turner, a experiência é intrinsecamente relacionada à narrativa,
revelando-se como estrutura (conectando momentos distintos: per-
cepções, evocações do passado, associações de eventos e sentimentos
vividos, emergência de significações e valores) em sua expressão. Para
ele, a expressão da experiência seria a unidade estrutural da expe-
riência (Turner, 1982, p.15), o que não é o mesmo que a experiência
como empiricamente observável ou pré-narrativa. A expressão da
experiência (a experiência narrada) conectaria eventos e afecções,
Vida e grafias - miolo.indd 34 3/9/15 7:37 PM
Narrativas biográficas
incorporando e germinando significações e valores. Tomando esse
último sentido, se o biográfico constitui narrativamente uma experi-
ência, como, aliás, pode fazer o etnográfico, as narrativas biográficas
se prestam não a serem depoimentos orais ou apenas documentos
para a antropologia. Assim, poder-se-ia dizer que Bourdieu (1986) tem
razão sobre o que atribui à biografia, sendo necessário ressaltar que,
como narrativa, a sua illusio é parte importante da sua significação: ela
é o dito no ato de contar, compõe a expressão da experiência e, como a
etnografia, amplia as possibilidades de inflexão do social.
Sugiro que a relação entre experiência narrada biograficamente
e estrutura da experiência permite retirar a narrativa biográfica da
oposição entre indivíduo e sociedade, subjetivo e objetivo. A expressão
da experiência conteria relações, conexões, movimentos da vida, ex-
periência social e reflexão dos próprios sujeitos, conteria a expressão
da experiência que não prescinde da sua expressão narrativa. A estru-
tura da experiência conectaria experiência vivida e os sentidos dados
e criados pelos sujeitos. De certa maneira, com Turner, escapamos
tanto da crítica de Joan Scott (1999) ao conceito de experiência de
Thompson (1978) como da crítica do próprio Thompson (1978), sem
descartar a noção de experiência.
É enquanto experimentação de não opor a estrutura e o vivido, o
observável e o concebido, de abrir-se a expressões diferenciadas (por-
tanto, não opondo individual ao social ou coletivo), que experiência
está sendo considerada. Pois, considerada como estrutura de experi-
ência, ela supõe a agency e um movimento com melhores rendimentos
conceituais e metodológicos que os conceitos de campo e trajetória
(Bourdieu, 1998 e 1986) ou a teoria ator-rede (Latour, 2005), porque
leva em conta nas experiências narradas a ação e o agente, e cria uma
relação entre quem narra e quem é afetado pela narrativa.
Encontro no argumento de Turner um ponto médio entre a
experiência e a narrativa, pois a expressão de experiências supõe
uma dimensão narrativa, e não uma redução à linguagem: ela dra-
matiza um vivido. Como meio de expressão, a narrativa daria forma
e temporalidade à experiência, sem a dicotomia entre a percepção e
a conceituação do mundo, sem partir de uma totalidade pré-fixada –
como na dicotomia indivíduo e sociedade, por exemplo.
Assim, não me parece que a discussão sobre narrativas biográficas
deva continuar nos termos da oposição entre indivíduo e sociedade,⁵
5 Lembremos de uma das mais conhecidas. Sartre insiste sobre a situação particular
na qual uma pessoa se forma: na pertinência ao meio como um acontecimento sin-
gular. Pode-se resumir a sua argumentação com a seguinte frase, onde dialoga com o
marxismo: “Valéry é um intelectual pequeno burguês; quanto a isso não há dúvida.
Mas nem todo intelectual burguês é Valery.” (Sartre, 1967, p.80)
Vida e grafias - miolo.indd 35 3/9/15 7:37 PM
Vida & grafias
subjetividade e objetividade, ou da oposição entre estrutura, con-
cepção e ação social, apesar de as biografias serem fontes preciosas
para tais discussões. As biografias podem ser dispositivos para criar
pessoas, personalidades, santos, heróis e fracassados ou, ainda, incor-
porar ideias e valores – ideologias e moralidades – em vidas concretas,
considerando-as como passíveis de serem expandidas, supondo a vida
como modelo passível de imitação.
Lucien Febvre (2012) nos dá um exemplo instigante – porque
problematiza também a possibilidade de expansão do ato narrativo
à imagem – do que poderia ser a estrutura da experiência, embora o
autor não use esse conceito. Ele não inicia a biografia de Lutero – ou,
como ele prefere designar o seu trabalho, “um juízo sobre Lutero”,
juízo ao qual também se presta o ato biográfico – com o nascimento
ou a sua vida em família: começa nos contando que, em julho de
1505, aos 22 anos, o jovem Martin inicia uma vida monástica, contra-
riando as expectativas de uma carreira mais lucrativa. Nessa biografia
– vou chamá-la assim, apesar do que diz o seu o autor –, a vida como
narrativa contraria o naturalismo, contraria também algumas das
convenções da narrativa biográfica, começa com Lutero cruzando o
portão do convento agostiniano de Erfurt, iniciando uma vida mo-
nástica que duraria 15 anos, desviando-se das expectativas de uma
carreira mais lucrativa.
O esforço solitário, que dá nome ao primeiro capítulo do livro,
estaria ocultado no retrato de Lutero, de 1532, retrato que Febvre
problematiza em seu livro. Esse conhecido retrato congela um
momento da vida e oculta outros momentos, congelando também
a temporalidade e os seus efeitos, muitas vezes imprevisíveis, muitas
vezes irônicos, de rumos tomados pelos sujeitos. O Martinho Lutero
quinquagenário, no retrato pintado (ou gravado) por volta de 1532,
expressaria a sua liderança política e a doutrina que fundou. Mas, se
considerarmos o retrato como também narrativo, poderíamos dizer,
contra Febvre, que ele narra e, assim, conforma uma experiência, a de
sua liderança política. O desafio é o das conexões dessas expressões –
a estrutura da experiência, para referir-me ao conceito de Turner.
Mas, a pergunta de Febvre é outra. Sua pergunta é se aquele
retrato revelaria as escolhas que Lutero fez antes, entre as que lhe
estavam disponíveis. Então, Febvre começa a sua narrativa biográfica
com o jovem Lutero cruzando o portão do convento agostiniano em
Erfurt e iniciando a vida monástica. Segundo o autor, esse ato – não
revelado pelo retrato mencionado – conteria o germe da Reforma
Luterana.
Ora, pode-se narrar a vida de alguém de muitas maneiras,
embora, conforme Denzin (1989, p.17), dentro de certas convenções
Vida e grafias - miolo.indd 36 3/9/15 7:37 PM
Narrativas biográficas
que estruturariam como as vidas são contadas. Cheterston (1978,
p.5–14), ao escrever sobre São Francisco de Assis, elenca algumas das
convenções: celebrizar as virtudes sociais incorporadas no biografado,
dizer que ele antecipou épocas, tornando-o um herói; falar do mundo
do personagem como se fosse parte dele, escrevendo, por exemplo,
piedosamente sobre a vida de um santo, como se fosse você mesmo
um santo; como um observador simpatizante, equilibrar as qualidades
e virtudes do personagem, salientando a distância e a proximidade
entre mundos distintos, o mundo descrito, o mundo de quem escreve
e o mundo de seus leitores – como simpatizante e como cético, o
biógrafo criaria um conjunto coerente e compreensivo. Cheterston,
por fim, escolhe uma variante dessa última convenção, sem o suposto
de que só uma totalidade tornaria compreensível a santidade de São
Francisco aos que prescindem de santidade, evocando admiração.
Muitas biografias são escritas com o objetivo de criar essa admi-
ração ou uma aversão, ou mesmo com o objetivo de fazer da distância
a escrita objetiva de uma vida. O que é fascinante notar nas narrações
biográficas é como iniciam-se de maneira distinta, como configuram
temas distintos: memória, migração, família, trabalho rural e urbano,
produções de gênero, de falas, de maneiras particulares do uso da lin-
guagem e formas narrativas, de crenças, religiosidade e personagens
míticas, de atribuição de nomes e constituição de pessoas, de arte
e de ciência. Essa relação entre biografia e narração, o nexo entre
oralidade, escrita e visualidade, as interconexões do ato biográfico,
retendo evocações e informações entre real (pessoa) e ficção (perso-
nagem), remetem ao estatuto ambíguo do fazer biográfico nas ciências
humanas.
Se a narrativa biográfica encontra-se com a etnografia ao mar-
carem para a antropologia a experiência da alteridade, permito-me
terminar este capítulo reafirmando o nexo entre certa concepção de
etnografia e uma possível perspectiva biográfica, ambas orientadas
em sua atenção aos contextos de relações, às concepções, por uma
atitude que não procura encaixar o objeto em categorias externas,
mas extrair as construções com as quais operam os agentes em seus
campos semânticos próprios. Eis porque muitas das discussões sobre
o ato de biografar são também a do ato de etnografar. Essa formu-
lação lembra alguns dos impasses da etnografia, pela homologia da
relação (singular-geral), pelos impasses sobre a representação, porque
expõe os limites de um modo de ser e as limitações de um modo de
pensar. Ou seja, são registros de alteridade. Biografia e etnografia são
respostas às (mesmas) aflições: o problema de ambas e também o seu
mérito é que são muitas e diversas as aflições às quais são chamadas a
responder.
Vida e grafias - miolo.indd 37 3/9/15 7:37 PM
Vida & grafias
Referências
Franz Boas, “Recent anthropology”, Science, n.2.546, v.98, p.334–335, 8 de outubro de
1943
Pierre Bourdieu, “L’illusion biographique”, Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n.62–
63, p.69–72, junho de 1986
–, Les règles de l’art, Paris: Points, 1998
Gilbert K Cheterston, San Francisco de Asís, Barcelona: Editorial Juventud, 1978
V Crapanzano, Tuhami: portrait of a morocann, Chicago: The University of Chicago
Press, 1980
Norman K Denzin, Interpretive biography, Newbury Park: Sage Publications, 1989
Lucien Febvre, Martinho Lutero, um destino, São Paulo: Editora Três Estrelas, 2012
Clifford Geertz, “Morality tale”, The New York Review of Books, v.51, n.15, 7 de outubro
de 2004
Suely Kofes, Uma trajetória, em narrativas, Campinas: Mercado de Letras, 2001
Clyde Kluckhohn, “A Navaho personal document with a brief paretian analysis”, Sou-
thwestern Journal of Anthropology, v.1, n.2, p.260–283, 1945, disponível em http://
www.jstor.org/stable/3628762
Theodora Kroeber, Ishi in two worlds: a biography of the last wild indian in North America,
Berkeley: University of California Press, 1961
Tim Ingold, “Anthropology is not ethnography”, Proceedings of the British Academy, n.154,
p.69–92, 2008
Bruno Latour, Reassembling the social: an introduction to actor-network-theory, Nova Iorque:
Oxford University Press, 2005
Claude Lévi-Strauss, “Préface”, in: Don C Talayvesa, Soleil Hopi, Paris: Plon, 1982
–, Tristes trópicos, São Paulo: Companhia das Letras, 1996
L Lévy-Bhrul, “L’expérience mystique et les symboles chez les primitifs”, 1938, dispo-
nível em http://classiques.uqac.ca/classiques/levy_bruhl/experience_mystique/
experience_mystique.html
A R Radcliffe-Brown, Structure and function in primitive society, Illinois: The Free Press,
1952
P Ricoeur, Tempo e narrativa, Campinas: Papirus Editora, 1994
Nancy Rockafellar & Orin Starn, “Ishi’s brain”, Current Anthropology, v.40, n.4, p.413–
416, agosto–outubro de 1999
Jean-Paul Sartre, Questions de méthode, Paris: Gallimard, 1967
Steven Shackley, “The stone tool technology of Ishi and the Yana”, in: K Kroeber &
B Clifton Kroeber (edição), Ishi in three centuries, Lincoln: University of Nebraska
Press, 2003
Joan Scott, “Experiência”, in: Alcione Leite da Silva, Mara Coelho de Souza Lago &
Tânia Regina Oliveira Ramos, Falas de gênero, Florianópolis: Editora Mulheres,
1999, p.21–55
Orin Starn, Ishi’s brain: search of America’s last “wild” indian, Londres / Nova Iorque: W
W Norton & Company, 2004
M Strathern, “The concept of society is theoretically obsolete”, in: Tim Ingold (orga-
nização), Key debates in anthropology, Londres / Nova Iorque: Routledge, 1996
–, “O conceito de sociedade está teoricamente obsoleto?”, O efeito etnográfico, São
Paulo: Cosac Naify, 2014
Edward P Thompson, The poverty of theory, Londres: The Merli Press, 1978
Jason Throop, “Articulating experience”, Anthropological Theory, v.3, p.219–241, 2003
Vida e grafias - miolo.indd 38 3/9/15 7:37 PM
Narrativas biográficas
Suely Kofes é antropóloga, professora titular no Departamento de Antropologia do
ifch/unicamp, como professora e pesquisadora. Suas pesquisas antropológicas
preocupam-se com a experimentação etnográfica, com pesquisas sobre temas distintos
e em campos etnográficos distintos. Atua nas seguintes linhas de pesquisa: etnografia
e a perspectiva biográfica; experiência e narrativa; antropologia, processos de diferen-
ciação e reconhecimentos identitários (diferença e identidade); temas concernentes ao
campo dos estudos sobre raça e gênero; ritual, cosmologia, associativismo e política.
É uma das coordenadoras do la’grima (Laboratório Antropológico de Grafia e
Imagem), recém-criado no Departamento de Antropologia do ifch/unicamp.
Vida e grafias - miolo.indd 39 3/9/15 7:37 PM
Autobiografias, memoriais
e a narrativa biográfica
de um cientista
Daniela Manica
“Elsimar Metzker Coutinho é um dos maiores expoentes na endocri-
nologia da reprodução humana e no planejamento familiar. Médico
formado pela Universidade Federal da Bahia, realizou cursos de
especialização na Sorbonne, Universidade de Paris e fundação Ro-
ckefeller, em Nova Iorque. Foi um dos fundadores do International
Committee for Contraceptive Research – iccr, do The Population
Council, órgão especializado no desenvolvimento de métodos contra-
ceptivos modernos, e atuou como membro do Steering Committee
of the Expanded Program in Human Reproduction, da Organi-
zação Mundial da Saúde. Professor e chefe do Departamento de
Saúde Materna e Infantil da Faculdade de Medicina da Universidade
Federal da Bahia, é diretor-presidente de uma clínica-modelo em pla-
nejamento familiar e saúde reprodutiva em Salvador, o ceparh
(Centro de Pesquisas e Assistência em Reprodução Humana).
Também preside a Organização Internacional de Pesquisa em Saúde
Reprodutiva, o South-to-South Cooperation in Reproductive Health. O pro-
fessor Elsimar é fundador e membro participante de várias sociedades
médico-científicas e vem realizando conferências e eventos em todo
o Brasil e exterior, sendo frequentemente requisitado para entrevistas
em jornais, revistas e programas de televisão.”
Inicialmente interessada nas discussões sobre a supressão da mens-
truação e no que elas permitiam repensar acerca do clássico debate
natureza/cultura (Manica, 2003), me vi inevitavelmente obrigada a
prestar maior atenção em um dos principais protagonistas do debate,
dr Elsimar Coutinho. Esse resumo biográfico da epígrafe, extraído da
orelha do livro Menstruação, a sangria inútil (Coutinho, 1996), concentra
alguns dos principais episódios da carreira profissional do médico
Vida e grafias - miolo.indd 40 3/9/15 7:37 PM
Autobiografias, memoriais e a narrativa biográfica de um cientista
baiano, frequentemente narrados por ele em suas diversas falas aos
meios de comunicação. A trajetória profissional do polêmico defensor
da inutilidade dos sangramentos mensais para as mulheres contempo-
râneas compunha, com efeito, o elenco de questões necessárias para
compreender a forma como a “inovadora” discussão surgia no Brasil.
E, além disso, revelava também uma série de outros aspectos interes-
santes sobre a inserção da contracepção no Brasil, e as interações entre
o campo médico, os laboratórios farmacêuticos e os meios de comuni-
cação. Assim, a trajetória de Coutinho concentra questões pertinentes
para a compreensão de diversos processos, eventos, contextos e jogos de
força, e sua própria intenção ao narrá-la – em suas duas autobiografias
não publicadas e em alguns textos e falas nos meios de comunicação
– reitera a importância de considerar a abordagem biográfica como
uma metodologia antropológica interessante. Seguindo a sugestão de
George Marcus ao falar sobre etnografias multissituadas, seguir uma
vida ou biografia pode revelar justamente as justaposições de contextos
sociais que ficam invisíveis nos estudos mais estruturais dos processos:
“Histórias de vida revelam justaposições de contextos sociais, através
de uma sucessão de experiências individuais narradas que podem
estar obscurecidas nos estudos estruturais de tais processos. Elas são
guias potenciais para o delineamento de espaços etnográficos dentro
de sistemas moldados pelas distinções categóricas que poderiam, de
outra forma, tornar esses espaços invisíveis. Esses espaços não são ne-
cessariamente subalternos (embora eles possam ser mais claramente
revelados em histórias de vida subalternas), mas são moldados por
associações novas ou inesperadas entre lugares e contextos sociais su-
geridos por histórias de vida.”
(Marcus, 1995, p.110, tradução livre)
Essa mesma multiplicidade de lugares e questões que constituem os
objetos de estudo e a sua respectiva abordagem etnográfica está pre-
sente, conforme indica Marcus, nos trabalhos de Donna Haraway
e Bruno Latour. Para Marcus, a figura do ciborgue (Haraway, 2000)
configura uma construção especialmente influente para estimular os
pesquisadores a pensar de forma menos convencional sobre os lugares
e perspectivas de pesquisa.¹
1 Dentro dessa proposta, eu apontaria um movimento mais amplo de autocrítica
conceitual às oposições entre indivíduo versus sociedade e natureza versus cultura, desta-
cando, nesse sentido, a tentativa de incorporar à semiótica a questão da materialidade
– fundamento do recurso ao ciborgue como figura central para o feminismo (desenvol-
vida em Haraway, 2000), presente também na defesa de uma (re)composição do social
e do potencial de seguir associações (Latour, 2005).
Vida e grafias - miolo.indd 41 3/9/15 7:37 PM
Vida & grafias
Com a etnografia de um percurso, uma trajetória profissional a
partir de diversas narrativas (auto)biográficas, publicações, pesquisa de
campo e algumas entrevistas, não pretendo falar apenas de um itine-
rário intelectual, mas também de um conjunto de relações, interações
entre pessoas, instituições, políticas e substâncias muito reveladores de
questões sobre as quais nos deparamos no contexto contemporâneo
de produção de ciência e biotecnologia. O que se pretende seguir, no
sentido proposto por Marcus, é uma trajetória profissional, mas tomar
essa trajetória como fio condutor não implica, simplesmente, um
enfoque privilegiado sobre a singularidade de um indivíduo. A pro-
blematização da oposição entre indivíduo e sociedade, como aponta
Suely Kofes (2004), é fundamental para enfrentar os desafios que se
colocam nos entrelaçamentos entre biografia e etnografia:
“Nas ciências sociais, a referência ao método biográfico, quando se
desloca da resistente oposição indivíduo/sociedade, costuma apontar
a sua importância para o registro da ação, e como um dos meios para
a crítica à estabilidade do agente e à identidade supostamente fixa,
estável e unitária do ego, problematizando-o com a multiplicidade do
sujeito e de suas situações. Assim, o foco em trajetórias, em biografias,
tanto pode questionar um modo habitual de categorização da prática,
considerada apenas do ponto de vista de agrupamentos sociológicos,
como problematizar o indivíduo como uma totalidade coerente. Re-
velaria ou permitiria revelar que a superposição de vários mundos nas
experiências e interpretações de sujeitos singulares são constituidores
da socialidade, e não incoerências sociológicas.”
(Kofes, 2004, p.9)
Suely Kofes procura discutir as principais questões que se colocam
para as pesquisas antropológicas que tomam como objeto ou como
ponto de partida (auto)biografias, histórias de vida, trajetórias. Há,
com efeito, uma série de autores e escolas que se dedicaram a discutir
essas questões, tanto do ponto de vista metodológico como conceitual.
A noção de trajetória, por exemplo, pode ser localizada na crítica feita
pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu à ilusão biográfica ou à con-
cepção da vida como uma história coerente, com um sentido.
Bourdieu prefere buscar, ao estudar um autor ou uma obra lite-
rária, os processos e estruturas sociais subjacentes a ele ou ela. Em As
regras da arte: gênese e estrutura do campo literário (Bourdieu, 1996), o autor
procura explicar a figura do romancista francês Gustave Flaubert
em relação ao campo literário francês, e o faz partindo da análise de
um de seus livros, L’éducation sentimentale [A educação sentimental]. Bour-
dieu enfatiza aquilo que há de estrutural e sociológico na trajetória
Vida e grafias - miolo.indd 42 3/9/15 7:37 PM
Autobiografias, memoriais e a narrativa biográfica de um cientista
e atuação de Flaubert, estruturas essas que estariam, segundo ele,
explicitadas na obra do próprio escritor. A maneira como Flaubert
construiu a trajetória do protagonista Frédéric e como o colocou para
interagir com os outros personagens no jogo de forças interno ao
campo artístico francês do século xix seriam reveladores das regras
e estruturas internas ao campo da arte, como a dinâmica dos jogos
de força e poder que o compõem, protagonizadas pelos diferentes
agentes em interação.
As regras da arte configura-se como a ilustração mais completa da
teoria do campo de Bourdieu, composta por um extenso arcabouço
conceitual. Sob mesma perspectiva analítica, poderia ser pensado o
campo literário francês ou qualquer outro campo afim (como o cientí-
fico, por exemplo). A teoria do campo de Bourdieu pode ser pensada
como uma das respostas possíveis às questões que se colocam para
um projeto que leva em conta uma biografia, seja dos escritores ou
mesmo de seus personagens.
O método, aliado a todo o conjunto teórico desenvolvido por
Bourdieu, envolve uma perspectiva diferente daquela delineada
pelo sociólogo francês Bertaux (1980) sobre a abordagem biográfica
ou mesmo de outros autores da Escola de Chicago, como Howard
Becker (1986), por exemplo. Bourdieu resolve a equação particular/
geral ou indivíduo/sociedade enfatizando a necessidade de se pensar
relacionalmente. Para o autor, é necessário entender Flaubert em
função do microcosmo literário em que ele está inserido, isto é, pensar
a sua produção e atuação em relação ao campo literário francês em
que escreveu, considerando, assim, os outros escritores, as regras, os
jogos de força. Para tanto, a pesquisa sociológica deve tentar entender
os microcosmos sociais como campos com “suas próprias estruturas e
suas próprias leis” (Bourdieu, 1997, p.60).
Se tomarmos a sugestão teórica de Bourdieu para pensar sua
posição em relação a Jean-Paul Sartre – mais do que isso, em oposição
a Sartre, principalmente no que se refere à leitura sartriana sobre
Flaubert –, a solução dada pelo primeiro à questão biográfica fica
mais clara. Bourdieu critica a busca explicativa de Sartre, fundamen-
tada na singularidade do indivíduo, contrapondo-a à sua teoria do
campo (Bourdieu, 1997, p.58).
A escolha de Bourdieu por desenvolver a teoria do campo a partir
de um livro de Flaubert pode ser pensada como um diálogo com a
análise de Sartre em L’idiot de la famille [O idiota da família] ou mesmo
com a obra sartriana como um todo. Diferentemente da forma
como Sartre teria estudado Flaubert, ao procurar levantar “tudo o
que podemos saber sobre um homem hoje” (Doubrovsky, 1991), e
criticando a noção sartriana do projeto original ou das explicações
Vida e grafias - miolo.indd 43 3/9/15 7:37 PM
Vida & grafias
biográficas fundamentadas em histórias de vida coerentes, Bourdieu
chama a atenção para o caráter ilusório das narrativas biográficas.
Em uma das autobiografias de Sartre (1964), podemos de fato
perceber a intenção do autor em construir a narrativa de forma a
estabelecer relações entre a sua infância, as pessoas que a marcaram
(particularmente, sua mãe e seu avô materno) e a sua formação como
escritor. Sua iniciação com as palavras dentro da biblioteca do avô
e a visão desta como um templo sagrado, que guardava os santos e
profetas, parece-nos determinante para seu destino de escritor. Sartre
procura, assim, relatar os eventos da infância que explicariam o seu
destino e o faz, evidentemente, da perspectiva de quem já o conhece.
Nesse sentido, a sua história de vida ou autobiografia se torna,
como aponta Doubrovsky, uma demonstração:
“Aquilo que, na autobiografia tradicional, era história de vida, em
Sartre torna-se sutilmente demonstração. Os dois registros se con-
fundem em uma unidade indissolúvel.”
(Doubrovsky, 1991, p.19, tradução livre)
Uma demonstração que pode, inclusive, apresentar-se de formas di-
ferentes, dependendo do contexto. É o caso de duas interpretações
diversas dadas por Sartre em textos distintos (As palavras e Les carnets) a
um mesmo evento: aquele em que ele descreve a sua perda da fé em
Deus. Para Doubrovsky, essas explicações diversas, contraditórias in-
clusive, evidenciam que, muito mais do que a busca pelo verdadeiro
ou falso nas narrativas, é preciso perceber o valor alegórico e demons-
trativo das histórias e eventos narrados, seu contexto de enunciação, o
que se está querendo dizer. Assim, segundo ele, mais adequado do que
falar em autobiografias seria falar em autoficção:
“… ao olhar a escrita dessa cena da morte de Deus, nós vemos o
romance penetrar a autobiografia ou, ainda, na terminologia que
propus anteriormente, a autobiografia se transformar, aos nossos
olhos, em autoficção.”
(Doubrovsky, 1991, p.23, tradução livre)
Desse modo, introduzir ou admitir a dimensão ficcional nas narra-
tivas biográficas permite-nos escapar das armadilhas do certo ou
errado, verdadeiro ou falso, subjetivo ou objetivo. Mas isso ainda não
resolve a questão da generalização ou do que esse tipo de explicação
autoficcional revela sobre abstrações conceituais como, por exemplo,
estruturas e processos sociais ou culturais.
Bourdieu critica as explicações dadas por Sartre sobre Flaubert (e
Vida e grafias - miolo.indd 44 3/9/15 7:37 PM
Autobiografias, memoriais e a narrativa biográfica de um cientista
também sobre si mesmo – poderíamos pensar nas suas autobiografias)
como fundamentadas em uma ilusão biográfica. Mas, ao transferir a
explicação de um plano mais psicanalítico, subjetivo, para o da obje-
tividade das estruturas sociais – o que procura ao desenvolver a teoria
do campo e delinear seus vários aspectos, agentes, jogos de força etc –,
teria Bourdieu se livrado de qualquer tipo possível de ilusão?
Ao enfatizar o estudo dos agentes e instituições sociais, as estru-
turas e regras dos jogos de poder, o autor procura, assim como no
caso de Sartre, tecer explicações sobre o mundo. Mas como seria essa
objetividade almejada por Bourdieu ao substituir a ilusão biográfica
pela multiplicidade de aspectos sociológicos em jogo em uma traje-
tória? É evidente que uma análise relacional, que leva em conta os
campos onde se desenrolam as tramas e trajetórias, revela uma série
de processos. As abstrações e conceitos ajudam a entender algumas
das relações e interações entre os agentes envolvidos. No entanto, as
metáforas da física empregadas por Bourdieu (disposições, trajetória,
jogos de forças etc) nos lembram também o quanto essa perspectiva
analítica supõe a existência de uma “autoridade científica”, no sentido
mais tradicional da expressão, e a ausência proposital do pesquisador
no texto escrito, o que nos remete a outras discussões, como, por
exemplo, as existentes sobre a “autoridade etnográfica” (Clifford,
1998). Quem pode falar, sobre o que e de que lugar?
Ao caracterizar a construção de sentido na narrativa autobiográ-
fica como “artificial”, Bourdieu (1997, p.76) parece querer dizer que
haveria uma forma – mais legítima ou verdadeira – de encontrar um
sentido mais “natural”. Talvez a teoria do campo seja, justamente,
a tentativa de desvendar, cientificamente, essa “natureza”. Assim,
mesmo no plano da construção teórica da abordagem adotada no
estudo etnográfico de uma trajetória, cabe uma crítica à oposição
dicotômica e aos conceitos de natureza e cultura tal como apresentados
por autores como Bourdieu.
O desafio que se pode depreender dessa discussão está em reter o
que há de interessante, do ponto de vista analítico, tanto nas análises
biográficas de Sartre quanto na teoria do campo de Bourdieu, incor-
porando, entretanto, uma localização do antropólogo e dos sujeitos
em questão (no sentido dado por Haraway, 1995). Assim, trata-se
de evidenciar as dimensões (inter)subjetiva e política da narrativa
antropológica. Nesse sentido, Suely Kofes propõe uma perspectiva
metodológica e analítica interessante: realizar “na intenção biográfica
um procedimento etnográfico” (2001, p.23).
A trajetória da qual falo neste texto não corresponde à trajetória
no sentido em que Bourdieu a emprega, como conceito analítico
relacionado à sua teoria do campo subjacente. Minha escolha por
Vida e grafias - miolo.indd 45 3/9/15 7:37 PM
Vida & grafias
“trajetória” e não “história de vida” ou “biografia” deve-se mais à
tentativa de articulá-la ao procedimento etnográfico, que permitiu a
sua composição ou reapresentação a partir deste texto, do que à teoria
de Bourdieu.
Penso na tentativa de estabelecer uma relação entre o individual
e o social menos como a reificação da dicotomia indivíduo/sociedade
e mais como uma forma de perceber que a trajetória de uma pessoa
como Elsimar Coutinho – ao permitir pensar relações, contextos e es-
truturas sociais, jogos de poder ou a criação de artefatos e argumentos
científicos que circulam por várias esferas sociais – demonstra que
todas essas dimensões e relações também compõem a própria pessoa.
Se, por um lado, o enfoque sobre uma trajetória envolvida em ques-
tões polêmicas como a da contracepção – seus embates e empreitadas
científicas – traz à tona uma série de impasses, por outro permite
também perceber os diversos aspectos em jogo na constituição de
um campo científico, um mercado farmacêutico ou uma narrativa
biográfica.
A análise de sua trajetória permite translações em torno de
vários temas e discussões: sobre as dicotomias natureza/cultura e
indivíduo/sociedade; discussões sobre gênero, sexualidade e saúde
reprodutiva; antropologia, sociologia e mesmo história das ciências;
sobre biopolítica, a partir de suas inflexões com as questões popula-
cionais; a possibilidade da supressão da menstruação em mulheres
durante a fase fértil, com o uso de contraceptivos hormonais; os
processos de desenvolvimento, pesquisa, negociação, legitimação e
produção desses contraceptivos – isto é, interações entre a medicina, a
indústria farmacêutica e a mídia, esta como espaço onde se encenam
alguns embates.
Neste capítulo, pretendo entrecruzar trechos da narrativa au-
tobiográfica de Elsimar Coutinho sobre os primeiros anos de sua
trajetória profissional e informações sobre o contexto institucional e
pessoas com quem o jovem médico e farmacêutico interagiu nessa
fase inicial da sua carreira. As ideias e concepções de Elsimar Cou-
tinho nunca são colocadas sem antes situar a sua trajetória, e essa é
sempre apresentada tendo como referência sua carreira acadêmica
(professor e pesquisador da ufba), a passagem por instituições in-
ternacionais (na França e nos Estados Unidos) e a participação em
conselhos mundiais e internacionais – o International Committee on
Contraceptive Research (iccr) e a Organização Mundial da Saúde
(oms). As imagens veiculadas a esses textos mostram um cientista em
várias épocas e contextos distintos. Os temas principais de sua traje-
tória, controle da natalidade e planejamento familiar, contracepção
e supressão da menstruação, envolvem frequentemente polêmicas
Vida e grafias - miolo.indd 46 3/9/15 7:37 PM
Autobiografias, memoriais e a narrativa biográfica de um cientista
acirradas que, por sua vez, evidenciam dinâmicas interessantes para
pensar o conjunto de questões que me interessava.
Optei por trabalhar a partir de seu texto autobiográfico, conside-
rando-o como um fio condutor para pensar as diversas questões que
a trajetória de Coutinho permite acessar. A partir dessa trajetória,
fui procurando compor um conjunto de eventos e questões para a
pesquisa, e a maior dificuldade talvez tenha sido selecioná-los e deter-
minar a amplitude da pesquisa subsequente a essa seleção (até onde ir
buscar outras fontes sobre os eventos narrados, em que medida outros
materiais permitiriam mapear interlocutores, opositores e aliados).
Procurei, então, organizar um texto a partir da sua narrativa au-
tobiográfica “profissional” – em contraposição à outra, “afetiva”, que
ele também havia escrito e não publicado, conforme soube durante
a pesquisa de campo –, considerando que, para o próprio autor, ela
representava o esforço de contar com alguns detalhes a sua versão
sobre a sua trajetória. Isso foi uma opção metodológica, não sei se
a melhor possível, mas a que me pareceu mais adequada frente ao
material que me havia sido disponibilizado. Sendo essa narrativa o
meu fio condutor e tendo sido organizada pelo autor da forma mais
tradicional – a cronológica –, o texto começa do começo, isto é, dos
primeiros anos de vida de Elsimar Coutinho. Aliás, como se trata
de um material não terminado, revisto ou publicado, esse é o único
título de toda a autobiografia, apresentado na primeira página: “O
começo”. Apresenta-se, assim, a intenção do autor de passar a limpo
sua trajetória, narrando os eventos que o constituíram como a pessoa
que, através do texto, anuncia ser.
A narrativa, desde “O começo”
Elsimar Coutinho começa sua narrativa tentando buscar suas pri-
meiras lembranças e memórias de infância. Procura, portanto, o
começo clássico de uma biografia para anunciar a sucessão de eventos
que comporiam os aspectos que pretende ressaltar sobre a sua vida:
“Tenho poucas recordações da infância. Foram dez anos da minha
vida que passaram como se não tivessem existido. Creio que esta
sensação de que tudo não passou de um sonho com imagens pouco
nítidas e fugidias dos locais onde vivi e das pessoas com as quais
convivi na infância reflete na realidade um período feliz, livre de
eventos marcantes ou emocionantes que imprimissem na memória
imagens inesquecíveis. Segundo filho do doutor Elsior, único farma-
cêutico, único médico e, ainda por cima, prefeito de Pojuca, pacata
cidadezinha do recôncavo baiano onde todos se conheciam, só
Vida e grafias - miolo.indd 47 3/9/15 7:37 PM
Vida & grafias
poderia mesmo levar uma vidinha tranquila sem acidentes de per-
curso dos quais pudesse guardar lembrança.”
(Coutinho, s.d., p.1)²
O percurso narrativo configura claramente a tentativa de uma de-
monstração, no sentido conferido por Doubrovsky (1991), da sua
capacidade para ser um grande cientista. Assim, como veremos, Cou-
tinho narra desde o despertar de uma curiosidade científica quando
ainda era jovem, passando pela seu bom desempenho escolar e o re-
conhecimento de seu potencial, o que lhe permitiu complementar sua
formação no exterior (França e Estados Unidos) e conviver, de acordo
com a sua avaliação, com os melhores pesquisadores e cientistas do
mundo. Parte da saga envolve também, como era de se esperar, as
dificuldades que se colocaram para a realização dessa empreitada, re-
sultantes da sua localização em uma região menos favorecida de um
país que, segundo ele, não proporcionava meios adequados para a re-
alização de pesquisas.
Salvador e a Bahia são referências constantes em sua trajetória:
seja, justamente, para justificar algumas das dificuldades enfrentadas
pelo pesquisador, por ser um lugar desfavorável e marginal ao circuito
acadêmico-científico, seja, ao contrário, para anunciar suas memórias
de infância e adolescência, seus gostos e hábitos, sua origem baiana.
Essa referência identitária é utilizada por Coutinho em diversas situa-
ções, como veremos ao longo do texto.
Coutinho apresenta um breve relato sobre o período vivido entre
duas cidades baianas: Pojuca, onde nasceu, e Salvador – retratando
não somente a trajetória de sua família nuclear, como também a sua
genealogia de uma forma mais ampla (pais, irmãos, tios, primos).
Indica a origem judaica da família de sua mãe (os Metzker) e a
influência do pai – também médico, farmacêutico e professor na
Universidade Federal da Bahia – como significativa para a sua futura
escolha profissional. Ressalta sua formação escolar e universitária,
assim como sua vida cultural em Salvador, apontando sempre lem-
branças que justificariam sua posterior opção profissional:
“Creio que a minha vida profissional podia ser pressentida desde a
adolescência pela atração que eu sentia então pela medicina. Não
foi por acaso que aos 15 anos incompletos arrumei o meu primeiro
emprego de visitador médico, aquele anônimo educador (o detail man)
2 Reproduzo aqui os trechos da autobiografia de Elsimar Coutinho, não finalizada
nem publicada, mas gentilmente cedida pelo autor para utilização na minha pesquisa
de doutorado.
Vida e grafias - miolo.indd 48 3/9/15 7:37 PM
Autobiografias, memoriais e a narrativa biográfica de um cientista
que leva aos consultórios e hospitais amostras e literatura sobre pro-
dutos que a indústria farmacêutica comercializava. Acostumado a
vê-los na sala de espera do consultório do meu pai na rua Chile com
grandes pastas e a observá-los durante a visita, entregando amostras e
citando sem muita convicção as virtudes dos remédios, concluí que o
que faziam estava perfeitamente ao meu alcance.”
(Coutinho, s.d., p.11)
Seguindo os passos do pai, Coutinho graduou-se inicialmente em
Farmácia e Bioquímica, em 1951, e posteriormente em Medicina,
em 1956. O interesse pela (bio)química, assunto predominante nas
suas pesquisas posteriores sobre contraceptivos hormonais, é anun-
ciado por ele quando menciona a atuação do pai na Faculdade de
Medicina:
“Apesar do meu interesse naquela época já encontrar-se concentrado
em aprender tudo que podia de química, fascinado com a extensão
do assunto, não podia deixar de ficar maravilhado com as aulas do
meu pai nas quais descrevia os poderes daquelas plantas que, apesar
da aparência tão comum e inocente, podiam matar ou salvar vidas.
Os seus venenos poderosos, adequadamente administrados, se trans-
formavam nos medicamentos que o farmacêutico preparava para os
médicos tratarem seus pacientes. Os nomes científicos das plantas,
sonoros e sugestivos, passavam a constar dos nossos vocabulários e
eram citados para os nossos amigos e namoradas com certo ar de su-
perioridade, como se aqueles conhecimentos tivessem sido criados por
nós.”
(Coutinho, s.d., p.16)
Da profissão de farmacêutico resultaria seu primeiro empreendi-
mento: um laboratório de análises clínicas. Entretanto, Coutinho
investia também na carreira de médico – contexto em que encontrou
seu primeiro orientador, professor Jorge Novis, que à época pesqui-
sava a composição proteica das sementes da jaca e do cacau.
“Formei-me em Farmácia em dezembro de 1951 e, um mês depois,
submeti-me ao vestibular de Medicina, um curso que fiz com fa-
cilidade em virtude das matérias que eu já tinha cursado no curso
de farmácia e que eram comuns aos dois cursos. Logo que registrei
o diploma de farmacêutico, fui à luta. Associei-me ao meu colega
Carlos Alberto da Fonseca (que viria mais tarde a casar-se com minha
irmã Aladia) e juntos abrimos um laboratório de análises clínicas no
terceiro andar do edifício Bahia, Rua da Ajuda, um prédio onde man-
Vida e grafias - miolo.indd 49 3/9/15 7:37 PM
Vida & grafias
tinham consultório proeminentes médicos clínicos da época … Assim,
durante os três primeiros anos do curso médico, dividi-me entre as
aulas no Terreiro de Jesus e o laboratório que era alcançado na Ajuda
a pé em dez minutos. Foi nesse período (1951 a 1953) que comecei a
fazer pesquisas, ajudando Jorge Novis, que preparava sua tese para
o concurso de fisiologia, cátedra vaga com o afastamento do seu pai,
Aristides Novis. A tese de Jorge versava sobre a farmacologia do útero,
um tema que passou a ser objeto das minhas pesquisas por mais de
vinte anos. Foi também nessa fase que confrontei-me pela primeira
vez com a falta de apoio financeiro por parte da faculdade à pesquisa
científica. Não havia verbas para equipamentos, reagentes ou animais
de laboratório. Para obter recursos para qualquer projeto, tínhamos
que conseguir um patrocinador cujos interesses coincidissem com os
nossos. Foi assim que depois de muita insistência e persuasão con-
segui uma doação do Instituto do Cacau para financiar os primeiros
estudos, realizados em uma pequena sala no subsolo da faculdade,
e que se destinavam a encontrar uma fonte de proteína vegetal para
socorrer os nordestinos em fases de seca. Dois tipos de sementes abun-
dantes na flora baiana foram escolhidos para a pesquisa, a semente da
jaca (artrocarpus integrifolia) e a semente do cacau (theobroma cacau).”
(Coutinho, s.d., p.17–18)
Se, por um lado, essa pesquisa sobre o cacau e a jaca renderia a
Coutinho sua primeira publicação, em 1952 e em coautoria com o
orientador, nos Anais da Faculdade de Medicina, por outro, o tema
da farmacologia do útero teria desdobramentos mais profícuos, uma
vez que condensava uma série de outros interesses, materializados na
disponibilização de verbas para a pesquisa, ampliação de laboratórios
e criação de cobaias, e na convergência de um grupo importante de
pesquisadores e instituições.
A definição do interesse de Coutinho pela área de pesquisas em
questão, que o teria transformado em um cientista bem-sucedido,
vinha ao mesmo tempo que apareciam oportunidades de experiên-
cias internacionais. Antes de contar sobre a bolsa de especialização
concedida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (capes) que o levou à França pela primeira vez e à equipe
de pesquisas do professor Claude Fromageot, Coutinho narra o epi-
sódio em que teria recusado outra bolsa de estudos que o levaria aos
Estados Unidos. Nesse relato, Coutinho procura reforçar como desde
cedo se mostrava um jovem promissor. Além de ter conseguido vencer
o concurso que lhe ofereceria a bolsa para os Estados Unidos, teve a
sorte de receber a intervenção de um deputado a favor da concessão
da sua bolsa para estudar na França. Coutinho acabou por encontrar
Vida e grafias - miolo.indd 50 3/9/15 7:37 PM
Autobiografias, memoriais e a narrativa biográfica de um cientista
em Paris um local interessante para começar a conhecer alguns dos
circuitos internacionais de pesquisas, sobretudo, nessa área da fisio-
logia reprodutiva.
A fundação Rockefeller
e a Universidade Federal da Bahia
Ao falar sobre a formação médica no Brasil e a influência de institui-
ções de fomento à pesquisa como a Rockefeller, Marcos Cueto (1990)
enfatiza uma distinção entre as tradições de pesquisa científica das
academias francesa e estadunidense. Particularmente no campo da fi-
siologia no Brasil a partir da década de 1940, era comum aos médicos
brasileiros a complementação de sua formação com estágios nas
universidades francesas. Coutinho não escapou desse hábito. Essa pas-
sagem em que narrou a troca do curso de inglês nos Estados Unidos
pelo estágio de aperfeiçoamento na França (no qual, coincidente-
mente ou não, foi acompanhado pelo seu irmão, o artista plástico
Riolan Coutinho) mostra como ele seguia, desde então, parte do per-
curso esperado para os médicos da época.
Distinções e disputas entre o campo acadêmico francês e estadu-
nidense na área médica – questões indicadas por Cueto (1990) – ficam
evidentes na descrição feita por Coutinho sobre as pesquisas com a
ocitocina, conduzidas pela equipe de Fromageot.
“No laboratório de Claude Fromageot, vivi, mais como espectador
do que ator, as emoções de uma corrida pelo prêmio Nobel. Determi-
nado a identificar os aminoácidos componentes da ocitocina, proeza
que certamente seria merecedora daquele prêmio, Fromageot e sua
equipe sabiam que não eram únicos naquela busca. Um outro grupo,
liderado por Du Viguenaud, que trabalhava em Nova Iorque, dispu-
tava palmo a palmo a corrida para ser o primeiro a revelar a estrutura
do hormônio. A cada novo aminoácido (dos oito que entram na com-
posição do hormônio) identificado, comemorava-se no laboratório
com uma festa. Era como uma partida ganha ao longo de um campe-
onato. Infelizmente para o nosso grupo, e sobretudo para Fromageot,
os americanos chegaram na frente e foi Du Viguenaud que foi pre-
miado com o Nobel.”
(Coutinho, s.d., p.23)
A partir da Segunda Guerra Mundial, uma nova dinâmica começava
a acontecer no campo da fisiologia, uma vez que instituições esta-
dunidenses de fomento à pesquisa – como a fundação Rockefeller
– passaram a se interessar por pesquisas e pesquisadores de países
Vida e grafias - miolo.indd 51 3/9/15 7:37 PM
Vida & grafias
não europeus, tais como da América do Sul. A formação médica na
América Latina passou a ser, então, uma das preocupações da Ro-
ckefeller. Segundo Cueto, para esta instituição, os maiores problemas
nas faculdades médicas latino-americanas eram o excessivo número
de alunos em relação às condições de ensino, o problema dos cargos
de docência de meio período, o fraco desenvolvimento das ciências
básicas e a falta de trabalho de laboratório. Todas essas características
eram vistas como sintomas de atraso e resultantes da influência fran-
cesa no século anterior (Cueto, 1990, p.234).
Ao analisar os programas de incentivo à América Latina, o autor
defende que a particularidade encontrada no Brasil era a dificuldade
de consolidação de uma carreira médica científica, uma vez que a
grande maioria dos médicos fazia questão de atuar em tempo parcial
como clínicos particulares, reclamando dos baixos salários pagos pelas
faculdades de medicina. Cueto usa o caso do médico baiano Jorge
Novis para ilustrar esse problema.
Segundo ele, entre 1953 e 1959, a fundação Rockefeller doou
US$36.350 para o Departamento de Fisiologia da Universidade da
Bahia. Essa iniciativa era parte de uma política de desenvolvimento
de centros provinciais que pudessem competir com faculdades de
medicina tradicionais – embora a Faculdade de Medicina da Bahia
tenha sido uma das primeiras faculdades brasileiras, a instituição
encontrava-se em relativa decadência. Na Bahia, Jorge Novis estudava
a composição química e nutritiva do cacau – uma pesquisa de grande
interesse regional, dada a importância econômica do produto para o
estado da Bahia. Mas, mesmo quando se tornou professor pleno em
1954, Novis não teria deixado sua prática privada.³
Cueto recupera uma carta de Novis, endereçada ao diretor
associado da Rockefeller no Rio de Janeiro, Harry Miller, em que jus-
tifica não ter condições de se sustentar com o salário de professor em
tempo integral, preferindo, assim, a posição em tempo parcial, que
lhe possibilitava complementar a renda com o atendimento clínico.
José Simões, também professor da universidade, teria, anos depois, se
justificado da mesma maneira, dizendo que queria o tempo integral,
3 No obituário escrito por Elsimar Coutinho para Jorge Novis, publicado no jornal
A tarde em 19 de novembro de 1987, ele confirmava a dedicação do último à atividade
clínica, ao mesmo tempo que procurava se distinguir do professor, justamente por
ter, ao contrário dele, optado pela pesquisa: “Mas Jorge não era um homem de la-
boratório. Vivia para a medicina. Respirava medicina e sonhava medicina. Desejava
exercê-la em toda sua plenitude e por isso dedicou-se à clínica. Perdeu com isso a pes-
quisa que exigia tempo, do qual ele já não dispunha porque não era mais seu. Durante
alguns anos o acompanhei na clínica, mas, pouco a pouco, a irresistível atração que a
pesquisa exercia sobre mim levou-me para outros caminhos. Ainda tive o privilégio de
tê-lo como examinador em três concursos.” (Coutinho, 1999, p.152–153)
Vida e grafias - miolo.indd 52 3/9/15 7:37 PM
Autobiografias, memoriais e a narrativa biográfica de um cientista
mas não um “salário de fome” (Cueto, 1990). Os oficiais da fundação
Rockefeller, como Miller, desaprovavam essa postura, argumentando
que, para os padrões nacionais, essa demanda de aumento de salário
parecia absurda e que “Novis sempre encontraria uma desculpa para
não aceitar uma posição de tempo integral” (Cueto, 1990, p.241).
O caso de Novis demonstra, segundo Cueto, uma resistência à
política da fundação Rockefeller no Brasil, que, no entanto, não era
representativa da relação da instituição com a medicina brasileira
no geral. A fisiologia era, até então, uma disciplina marginal no
campo das ciências biomédicas brasileiras, tendo recebido poucos
investimentos. A ênfase da atuação da fundação Rockefeller a partir
de 1954 foi auxiliar ao desenvolvimento das ciências básicas para me-
lhorar a qualidade da pesquisa e ensino no país. Entre 1954 e 1958,
a Rockefeller teria gasto mais de um milhão e meio de dólares no
desenvolvimento de hospitais, faculdades e institutos de pesquisa de
medicina no Brasil. O convênio com a Universidade da Bahia, através
da figura de Jorge Novis, embora com todas as suas particularidades,
estava inserido nesse projeto mais amplo.
Sabendo desse convênio e da importância da Rockefeller para a
trajetória de Coutinho e da contracepção no Brasil, parte da minha
pesquisa consistiu no estudo dos arquivos da fundação Rockefeller,
no Rockefeller Archive Center, em Tarrytown, Nova Iorque. Neles
tive acesso à boa parte da documentação sobre os financiamentos da
fundação a diversos programas e universidades brasileiras, entre elas
a Universidade Federal da Bahia (ufba). Entrecruzo esse material,
a seguir, com a narrativa de Elsimar Coutinho, a fim de entender
melhor o contexto acadêmico-institucional encontrado por ele no
início de sua carreira.
A fundação Rockefeller conhecia Jorge Novis desde a partici-
pação da ufba em um programa de financiamentos para a área
das ciências naturais e agricultura. Em 1953, a fundação concedeu
à universidade a quantia de nove mil dólares para a obtenção de
equipamentos e suprimentos para pesquisa no Departamento de
Fisiologia, sobre a direção do professor doutor Jorge Novis. Na justi-
ficativa desse pedido de financiamento, consta que a Universidade da
Bahia, uma das mais antigas do Brasil, carecia de investimentos para
o desenvolvimento de ensino e pesquisa. A Faculdade de Medicina,
particularmente, andava com tantas dificuldades que um grande
grupo de médicos locais teria chegado a criar uma faculdade privada,
concorrente.
O diretor da Faculdade de Medicina da Universidade da Bahia,
doutor Hosannah de Oliveira, dedicou-se a desenvolver atividades
de pesquisa para alguns médicos da equipe e, com a federalização,
Vida e grafias - miolo.indd 53 3/9/15 7:37 PM
Vida & grafias
contava com uma ajuda do Ministério da Educação. Jorge Novis teria
sido escolhido como o primeiro professor a trabalhar no regime de
dedicação exclusiva, em função de sua iniciativa de juntar um grupo
de jovens assistentes e tentar desenvolver pesquisas, mesmo em con-
dições precárias. Como a fundação Rockefeller estava interessada em
financiar a dedicação integral à pesquisa e à docência, e outras uni-
versidades brasileiras já haviam recebido essas assistências, o diretor
teria solicitado investimentos para o Departamento de Fisiologia.
Na época, Novis e sua equipe trabalhavam com pesquisas sobre
vários assuntos, como o efeito da pancreatomia parcial em ratos,
valores nutricionais de alimentos da região (como a jaca e o cacau),
efeitos da destruição da linfa no coração de sapos e, finalmente, a ana-
tomia básica e fisiologia de um pequeno macaco nativo que, segundo
o pedido de financiamento feito à Rockefeller, prometia ser um “mate-
rial excelente para o trabalho experimental” (RAC, RF, RG 1.2, series
305a, box 9, folder 85).⁴ De fato, as cobaias primatas seriam uma das
principais moedas de troca entre a equipe de Novis e a Rockefeller.
Em 1957, Jorge Novis solicitou à Rockefeller uma bolsa para o
financiamento de sua viagem aos Estados Unidos, para participar
de um workshop sobre fisiologia na Universidade de Baylor e realizar
outras atividades acadêmicas em universidades dos Estados Unidos
e do Canadá. Respondendo a uma demanda da instituição, Novis
enviou, no meio do processo de pedido de bolsa, um plano de viagem
que não foi aceito integralmente por Harry Miller. Miller já havia
passado pelo Brasil como diretor associado da fundação Rockefeller
no Rio de Janeiro e estava responsável pelas articulações com as
equipes médicas brasileiras. Uma das razões da discordância seria
o desejo de Novis de visitar a Universidade do México durante o
workshop que aconteceria em Houston. Para isso, Miller exigia uma au-
torização expressa do diretor do curso na Baylor, uma vez que a bolsa
não financiaria viagens para fora dos Estados Unidos ou Canadá.
Esse episódio, além de demonstrar algumas das relações inerentes
ao que já vinha sendo e ainda viria a ser uma rede prolífica de fomento
a pesquisas na área da fisiologia da reprodução (contexto que Elsimar
Coutinho encontra ao se formar na Faculdade de Medicina), ilustra
muitas das correlações de força em jogo neste cenário. A documen-
tação trocada entre o pesquisador brasileiro e a equipe da fundação
de fomento revela aspectos interessantes dessas relações: as exigências
e expectativas em relação aos pesquisadores latino-americanos; o
itinerário esperado para o estágio no exterior e os limites de sua mani-
4 Trata-se de referência ao Rockefeller Archive Center, Rockefeller Foundation, fonte
muito utilizada na pesquisa.
Vida e grafias - miolo.indd 54 3/9/15 7:37 PM
Autobiografias, memoriais e a narrativa biográfica de um cientista
pulação de acordo com os interesses dos pesquisadores; e, até mesmo,
as hierarquias entre financiadores e financiados. No caso de Novis,
por exemplo, um erro ou engano na grafia de uma palavra no formu-
lário resultou em comentários sarcásticos e repreensivos por parte do
diretor estadunidense (RAC, RF, RG 1.2, series 305a, box 9, folder 85).
A participação de Novis no desenvolvimento do Departamento
de Fisiologia foi considerada um dos fatores principais para a reco-
mendação da ajuda de custo para a viagem por ele pleiteada. Assim,
em abril de 1957, Jorge Novis recebeu a confirmação de um auxílio
financeiro para a participação no workshop em Houston e para poste-
rior visita a diversos departamentos de fisiologia nos Estados Unidos
e Canadá, entre os quais o de Woods Hole, onde se encontraria com
o professor Szent-Gyorgyi – prestigiado pesquisador e fisiologista
húngaro, ganhador do prêmio Nobel de medicina em 1937, por ter
descoberto a vitamina C. Szent-Gyorgyi havia apresentado o fisiolo-
gista Arpad Csapo às fundações Rockefeller e Carnegie. Especialista
em fisiologia uterina e radicado nos Estados Unidos após a Segunda
Guerra, o húngaro Csapo trabalhou na equipe do reconhecido pes-
quisador George Corner, estudioso da progesterona. Posteriormente,
Csapo viria a ser um dos parceiros de Jorge Novis e Elsimar Coutinho
na Universidade da Bahia.⁵
No seu relatório sobre esse estágio na Universidade de Baylor,
escrito em julho de 1957 e endereçado a Robert Briggs Watson, Novis
relatou as novidades com as quais estava tendo contato. O fisiógrafo,
instrumento para a pesquisa em laboratórios de fisiologia, havia
sido desenvolvido pela equipe daquela universidade e estava sendo
apresentado a Novis e a outros pesquisadores durante o workshop.
Ao reportar-se a Harry Miller, posteriormente, Novis comentou os
experimentos feitos com o fisiógrafo que lhe fora disponibilizado:
trabalhara com o comportamento uterino de ratos, o que já era tema
5 Em dezembro de 1948, o diretor médico associado da fundação Rockefeller, Wade
Oliver, recebera uma carta do fisiologista da Instituição Carnegie de Washington,
Sam Reynolds, comunicando a tentativa de George Corner para conseguir uma bolsa
da Carnegie para Arpad Csapo, a fim de este trabalhar em um tema de interesse do
laboratório em questão. Avisava na carta que voltaria a contatar Oliver caso não con-
seguisse resolver a situação no âmbito da Carnegie, passando a ele mais informações
sobre o pesquisador húngaro. Em novembro desse mesmo ano, Reynolds havia consul-
tado Oliver sobre a possibilidade de uma ajuda financeira da Rockefeller Foundation
para a colocação do pesquisador húngaro, refugiado da Segunda Guerra. Ele havia
conhecido Arpad Csapo durante uma conferência de Szent-Gyorgyi, radicado nos
Estados Unidos. Na ocasião, conhecera os estudos de Csapo sobre acto-miosina no
músculo uterino e sobre os efeitos de hormônios, e esperava encaixá-lo em alguma
posição nos Estados Unidos depois de o pesquisador húngaro ter deixado Budapeste.
Entretanto, àquela altura, Wade Oliver teria desencorajado a possibilidade de uma
ajuda por parte da Rockefeller Foundation (RAC, RF, RG 2, 1948, box 429, folder
2890, series 750: Hungary [A–Z]).
Vida e grafias - miolo.indd 55 3/9/15 7:37 PM
Vida & grafias
de sua última publicação. Para concluir essa pesquisa, solicitou a
Miller permissão para estender sua passagem por Houston em mais
alguns dias. Junto ao seu pedido, foi encaminhada uma carta de seu
supervisor em Houston, Hebbel E Hoff, reforçando a importância de
suas pesquisas e a necessidade de adiar a continuidade de sua viagem,
o que implicaria diminuir o tempo passado em Woods Hole. Outra
sugestão feita por Hoff era aumentar o tempo em Baltimore “para
permitir discussões mais completas com doutor Csapo”.
O relatório final desse estágio de Novis nos Estados Unidos, re-
cebido pela fundação em janeiro de 1958, sintetiza essas atividades e
aponta seus desdobramentos futuros. Novis ressaltou a oportunidade
de trabalhar com esse novo instrumento de pesquisa e ensino na área
da fisiologia, destacando seu interesse em trabalhar particularmente
com a fisiologia do útero. As publicações resultantes das pesquisas
iniciais, em parceria com o pesquisador de Iowa L C Payne, foram
citadas por Novis no relatório. Outra atividade descrita pelo professor
brasileiro foi uma série de visitas a departamentos de fisiologia de uni-
versidades estadunidenses. Considerando o interesse da Universidade
da Bahia em reformular a estruturação do seu sistema de ensino na
área da medicina, a circulação de Novis por uma série de instituições
representava a possibilidade de apreender novas informações para
auxiliar essa estruturação. Em seu relatório, ele lista mais de dez
universidades por onde passou nos Estados Unidos e no Canadá,
contatando professores universitários de sua área e conversando sobre
assuntos variados, desde equipamentos utilizados nas aulas, passando
por instalações de animais utilizados em pesquisas, até atividades
burocráticas, curriculares e de pesquisa na área médica. Como conse-
quência, Novis se via mais habilitado para melhorar o departamento
pelo qual era responsável na Bahia. Além disso, seu interesse pela
fisiologia do útero o havia levado a conhecer Arpad Csapo, encontro
do qual resultaria um projeto conjunto de pesquisas nessa área
anexado por Novis ao relatório. Novis se dizia grato pela oportuni-
dade, que o permitiria certamente colaborar para o melhoramento
dos programas de pesquisa e ensino na Universidade da Bahia. Ao
mesmo tempo, Novis se transformava em um grande entusiasta da de-
mocracia americana, entusiasmo certamente bem-vindo no contexto
geopolítico em questão.
O projeto de pesquisa em parceria com Arpad Csapo conjugaria
muitos elementos que tinham correspondência direta com a passagem
de Novis pelos Estados Unidos: o interesse pelo campo da fisiologia
(particularmente, pela fisiologia uterina); a disponibilidade de novos
instrumentos de pesquisa; o interesse da Faculdade de Medicina por
investir em pesquisa e melhorar o seu sistema de ensino; a montagem
Vida e grafias - miolo.indd 56 3/9/15 7:37 PM
Autobiografias, memoriais e a narrativa biográfica de um cientista
de um laboratório com animais para serem usados nessas pesquisas.
Havendo iniciado, tanto em Salvador como em Houston, suas ativi-
dades de pesquisa sobre a fisiologia uterina com ratas de laboratório,
Novis agora intencionava montar um laboratório no Departamento
de Fisiologia com saguis. Alguns estudos nesse sentido já vinham
sendo patrocinados pela fundação Rockefeller. Em sua conversa com
Csapo, Novis teria ficado convencido da importância de um trabalho
conjunto e da necessidade de transferir para as fêmeas de saguis os
resultados obtidos com ratas e coelhas, e “antes de qualquer transfe-
rência para entender a fisiologia do útero da mulher” (RAC, RF, RG
1.2, series 200d, box 215, folder 2048). Objetivavam, então, fazer alguns
experimentos básicos aplicados aos úteros das saguis, com o propósito
principal de entender a função da placenta na manutenção da gra-
videz. No programa de pesquisa, Novis sugere que seja feito um convite
a Csapo para liderar o início dessas pesquisas em Salvador, solicita a
obtenção de um instrumento como o fisiógrafo para a realização dessas
atividades de pesquisa e recursos para a ampliação do laboratório que
abrigaria as saguis, para adquirir medicamentos e, ainda, para outras
providências futuras que seriam elencadas juntamente com Csapo.⁶
Assim como George Washington Corner, seu supervisor no
instituto Rockefeller para pesquisa médica, Arpad Csapo estava in-
teressado no desenvolvimento do campo da fisiologia reprodutiva e
obstétrica. Parte da demanda dos pesquisadores à fundação Rocke-
feller envolvia a submissão de pedidos de bolsa para pesquisadores
estrangeiros visitantes. Nesta época, Csapo atuava também em nome
de alguns pesquisadores húngaros interessados em imigrar para os
Estados Unidos por causa da Revolução Húngara de 1956.⁷ O contato
com a equipe brasileira seria, portanto, uma oportunidade para de-
senvolver esse campo de pesquisas em construção na América do Sul.
Em setembro de 1957, Harry Miller informou a Csapo que ele
6 As anotações, feitas provavelmente por Harry Miller, nas margens desse relatório,
indicam que o fisiógrafo somente seria disponibilizado após a visita de Csapo e sua
avaliação pessoal sobre a situação da universidade.
7 A Revolução Húngara de 1956 foi uma tentativa de resistência ao regime soviético
implantado com o final da Segunda Guerra; um levante iniciado com uma mani-
festação de estudantes em Budapeste, que exigia a implantação de um “socialismo
verdadeiro”. A União Soviética reagiu, prendendo e executando o primeiro-ministro
Imre Nagy. Mais de vinte mil pessoas morreram nos confrontos. Csapo, antecipando
a disponibilidade da Rockefeller por proteger pesquisadores refugiados, ofereceu-se
para traduzir trabalhos e currículos de seus conterrâneos, a fim de auxiliar a insti-
tuição na seleção de eventuais bolsistas. Entretanto, apesar do esforço de Csapo, os
registros indicam que a Rockefeller foi bastante cautelosa e econômica na seleção e
incorporação dessas pessoas nas universidades estadunidenses. Além disso, os registros
indicam que Csapo não era uma pessoa muito conhecida entre a equipe que selecio-
naria esses pesquisadores (RAC, RF, RG 2, 1956, series 200, box 34, folder 221, US
Rockefeller [I–Z]).
Vida e grafias - miolo.indd 57 3/9/15 7:37 PM
Vida & grafias
era um possível candidato a uma bolsa de viagem que objetivasse
pesquisar a fisiologia molecular do útero das macacas. Com o anda-
mento das articulações com a Universidade da Bahia, em novembro
desse ano, Csapo telefonou para a Rockefeller para saber se Novis
havia mandado alguma informação sobre a possibilidade de ele uti-
lizar “fêmeas grávidas da colônia de Novis em experimentos que não
podem ser efetuados no instituto Rockefeller” (RAC, RF, RG 1.2,
series 200d, box 215, folder 2048).
O presidente do instituto Rockefeller, Detlev W Bronk, recebeu,
em 8 de janeiro de 1958, uma carta do médico Robert Morison ex-
plicando o histórico da relação entre a Rockefeller e a Universidade
da Bahia, representada por Jorge Novis, e indicando o rendimento da
cooperação com Csapo para pesquisas com o material tão especial
e disponível na Bahia (as fêmeas grávidas de saguis), que permitiria
também estreitar planos de uma colaboração futura. Morison pedia
o apoio e a aprovação do presidente para que Csapo se ausentasse,
nesse período de seis a oito semanas, do instituto Rockefeller, onde
trabalhava. Informava que, além de Salvador, Csapo passaria por
São Paulo, Rio de Janeiro, Montevideo e Buenos Aires, em algumas
semanas de visita a investigadores locais.
A principal justificativa da ida de Csapo a Salvador – a dispo-
nibilidade do “material” exclusivo para pesquisa – rendeu alguns
momentos de tensão ao processo. No dia 22 de janeiro de 1958, Harry
Miller mandou para Jorge Novis o seguinte telegrama: “Csapo pre-
tende partir por volta de 16 de fevereiro, mas não pode agir até que
você informe sobre a disponibilidade de macacas grávidas.” Quase
uma semana depois, a resposta de Novis: “Duas macacas grávidas
até agora, esperando-se mais.” Enquanto essa resposta não chegava,
no entanto, Csapo chegou a pedir à Rockefeller para telefonar para
Novis. A ligação foi completada, mas, de acordo com os registros,
tudo que Csapo pôde compreender foi a palavra “monkeys”.⁸
A pequena e preocupante amostragem acionou uma nova rede de
pesquisadores. Harry Miller contatou um professor do Instituto Bio-
lógico da Bahia, que se encarregou de solicitar a todos os veterinários
e assistentes da região que enviassem urgentemente qualquer macaca
grávida que tivessem para o laboratório de Novis. Além disso, o itine-
rário de Csapo foi reformulado para que pudesse passar por Belém do
Pará, onde negociaria com o diretor do Laboratório Regional de Vírus,
Ottis Causey, a captura de mais macacas para a pesquisa. Tudo indica
que Causey era conhecido de pesquisadores da Rockefeller e já havia
8 Todas essas citações se referem ao material reunido em RAC, RF, RG 1.2, series
200d, box 215, folder 2048 (traduções livres).
Vida e grafias - miolo.indd 58 3/9/15 7:37 PM
Autobiografias, memoriais e a narrativa biográfica de um cientista
participado de atividades de pesquisa que requeriam a captura de
macacos na região amazônica. O telegrama, enviado às pressas para
Causey solicitando seu auxílio, e uma carta posteriormente encami-
nhada por Robert Watson, da Rockefeller, anunciam essa rede, da qual
participaria também o professor auxiliar de Novis em Salvador, José
Simões, também ele ex-bolsista da Rockefeller. De acordo com Watson:
“Simões estava muito aflito pelo fato de que ele tinha apenas duas
macacas grávidas em mãos e, embora eles tenham tentado capturar
outras macacas, não tiveram sorte. Lembrando-me da sua sorte na
captura de macacos, eu naturalmente pensei em você e mandei o te-
legrama. A universidade estava preparada para mandar um homem
a Belém e arcar com todos os custos da captura e envio. Na hora, eu
sabia que o pedido era grande, mas pensei que você pudesse ter uma
ideia que os ajudasse.”
(RAC, RF, RG 1.2, series 200d, box 215, folder 2048, tradução livre)
Finalmente, em 5 de fevereiro de 1958, a fundação Rockefeller aprovou
um financiamento de US$1.600 para a viagem de Arpad Csapo a Sal-
vador, em continuidade com o histórico de financiamentos dados a
Novis e à Faculdade de Medicina. O principal objetivo dessa coope-
ração seriam os experimentos nas “pequenas macacas do gênero sagui,
que são obtidas no Estado da Bahia e nas quais Novis e seus associados
já desenvolviam alguns estudos morfológicos e fisiológicos” (RAC,
RF, RG 1.2, series 200d, box 215, folder 2048). Csapo estava particu-
larmente ansioso para ter acesso a esse material experimental, porque
seria uma passagem fundamental entre o trabalho feito com roedores
nos laboratórios e a fisiologia feminina humana.
No reencontro entre Harry Miller, Arpad Csapo e Robert
Morison – após o retorno do pesquisador húngaro da viagem a Sal-
vador –, ficou claro para seus parceiros da Rockefeller o entusiasmo
de Csapo com essa parceria. Jorge Novis lhe parecera bastante coo-
perativo, embora não totalmente familiarizado com alguns princípios
fisiológicos básicos. Csapo considerava a Faculdade de Medicina da
Bahia um espaço favorável para o desenvolvimento de trabalhos na
área da fisiologia muscular, a ponto de sugerir o envio de um pes-
quisador americano bem treinado para acompanhar o processo de
pesquisa por pelo menos dois anos.
Uma tentativa malsucedida de continuidade dessa rede foi a de
levar para Salvador um dos técnicos em eletrônica que Novis conhe-
cera em Houston, Fred Vogt. Vogt trabalhava no departamento de
biofísica, e contribuiria trazendo equipamentos e formando técnicos
para operá-los e para auxiliar na manutenção. Houve a tentativa de
Vida e grafias - miolo.indd 59 3/9/15 7:37 PM
Vida & grafias
buscar financiamento junto à Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (capes), mas o pedido teria sido enviado
fora do prazo. A instituição se comprometia, no entanto, em financiar
a ida de quatro técnicos de várias regiões brasileiras para o curso a
ser dado por Vogt em Salvador. Harry Miller, da Rockefeller, propôs
disponibilizar uma ajuda de US$2.500, exigindo que Vogt ficasse em
Salvador por três meses completos. Vogt, porém, não pôde assumir esse
compromisso, diante de outros que tinha na Universidade de Baylor.
Irritado com a falta de planejamento de Novis nessa questão,
Miller declinou, de forma um tanto indelicada, a solicitação feita por
Vogt de levar consigo sua esposa. Houve, então, uma animosa troca
de correspondências entre Miller e a equipe da universidade texana
e, ao que tudo indica, o curso em Salvador foi cancelado. Ao se des-
culpar pelo mal-entendido perante Hebbel Hoff, antigo supervisor do
curso, Harry Miller justificava sua atitude dizendo que pretendera,
com a carta endereçada a Vogt, “explicar ao professor Novis a natu-
reza e as limitações dos auxílios da fundação”. Afirmava, ainda, que
as informações enviadas por Novis indicavam a estadia de Vogt por
três meses, e não por um período de dois meses, tempo efetivamente
proposto por Vogt devido a compromissos previamente assumidos nos
Estados Unidos. Miller enfatizava, com isso, a escassez e a imprecisão
das informações fornecidas pelo professor brasileiro.
Elsimar Coutinho e a rede Rockefeller / ufba
Outro desdobramento dessa cooperação entre Csapo, a Rockefeller
e a Faculdade de Medicina da Bahia foi a possibilidade de pesqui-
sadores baianos estagiarem no instituto Rockefeller. Logo após o
desfecho infeliz da tentativa do curso no Departamento de Biofísica,
Novis encaminhou a Harry Miller uma solicitação para o financia-
mento da estadia de dois membros do Departamento de Fisiologia da
Faculdade de Medicina – Elsimar Coutinho e Luiz Fernando Seixas
de Macedo Costa – nos Estados Unidos.⁹ Csapo teria conseguido um
convite para que dividissem um ano de estágio em seus laboratórios
no instituto Rockefeller. Coutinho ficaria os oito primeiros meses e
Macedo Costa os quatro restantes. Por não terem vínculo em tempo
integral com a universidade brasileira, exigência da Rockefeller,
Coutinho e Costa não podiam pleitear a bolsa de professor visitante
9 Na época, Coutinho era professor da Faculdade de Farmácia e atuava apenas
como voluntário assistente nos laboratórios de Novis. Embora a Rockefeller fizesse,
como vimos, exigências a respeito da incorporação integral de pesquisadores da área
médica nas faculdades brasileiras, foram feitos rearranjos que permitissem a ida de
Coutinho e Macedo Costa aos laboratórios de Csapo e da Rockefeller nos Estados
Unidos.
Vida e grafias - miolo.indd 60 3/9/15 7:37 PM
Autobiografias, memoriais e a narrativa biográfica de um cientista
[fellowship]. A eles seria concedida outra modalidade de auxílio: a
universidade brasileira arcaria com as despesas aéreas de viagem e,
então, eles apresentariam à Rockefeller um pedido de financiamento
para a estadia dos pesquisadores e suas famílias. Esse auxílio foi apro-
vado em 22 de maio de 1958, porém, não sem alguma tensão.
A maneira como esse estágio foi proposto parece ter sido um
tanto desastrada, revelando a crescente impaciência de Harry Miller
em relação a Jorge Novis. Em 25 de abril de 1958, Novis enviou a
Miller o seguinte telegrama:
“Para assegurar a continuidade e progresso do programa de pesquisa
de Csapo aqui, eu andei pensando se Coutinho e Macedo não pode-
riam ser financiados para pesquisar no laboratório de Csapo por um
ano começando em junho nós pagamos viagem Novis.”
(RAC, RF, RG 1.2, series 305a, box 9, folder 84, GA BMR 5870, tra-
dução livre)
Em carta de 1º de maio de 1958, Harry Miller respondeu a Novis
que, caso tivesse outro futuro pedido de financiamento, o fizesse for-
malmente, uma vez que toda e qualquer solicitação, em seu formato
final, deveria ser acompanhada por um visto do reitor da faculdade.
Finalmente, Miller sugeria que Novis não abusasse da amizade e da
generosidade de Csapo, o que acontecia quado Novis pedia para
que este assumisse a responsabilidade de negociar por ele os pedidos
feitos à Rockefeller. Dado o recado, anexou à carta os formulários que
ambos os pesquisadores deveriam preencher para dar prosseguimento
ao pedido. A carta do reitor da Universidade da Bahia chegaria aos
cuidados de Harry Miller alguns dias depois, bem como os devidos
formulários de Coutinho e Macedo Costa.
Elsimar Coutinho já vinha trabalhando com o professor Jorge
Novis desde os tempos em que era estudante de medicina. Participou
tanto das pesquisas com as sementes de jaca e cacau como, em um
segundo momento, do projeto sobre a fisiologia do útero, cujo desen-
volvimento dependeu, em grande parte, da colaboração e supervisão
de Csapo e do financiamento da Rockefeller. Ao voltar do estágio com
Fromageot, na França, onde acompanhara algumas de suas pesquisas
sobre a ocitocina, Coutinho encontrou o professor e pesquisador
húngaro, como narra a seguir:
“De volta ao Brasil, reassumi o meu lugar de aluno no curso de Medi-
cina e no laboratório de análises. Nos próximos dois anos, eu deveria
cursar os dois últimos anos do curso de Medicina e trabalhar muito
para tornar o laboratório de análises lucrativo, porque casei-me em
Vida e grafias - miolo.indd 61 3/9/15 7:37 PM
Vida & grafias
setembro do ano seguinte e era com o laboratório que eu contava
para sustentar a família. O que eu mais desejava, entretanto, era
voltar a fazer pesquisa nos laboratórios de fisiologia e de bioquímica
da Faculdade de Medicina, onde eu atuava antes de viajar para a
Europa. Consegui mais espaço e passei a dedicar mais tempo à pes-
quisa. Foi nesse período que o laboratório de fisiologia recebeu como
convidado especial o doutor Arpad Csapo, que a convite de Jorge
Novis veio dar um curso sobre a bioquímica e a fisiologia da con-
tração muscular. Como eu era o único dos seus colaboradores a ter
uma formação de bioquímica, fui designado por Novis a ajudar o
doutor Csapo. Trabalhamos juntos algumas semanas extraindo ac-
tomiosina, a proteína contrátil, do útero de coelhas. Tornamo-nos
amigos e dali até sermos convidados a continuar nos Estados Unidos
o que havíamos começado em Salvador foi um pulo.”
(Coutinho, s.d., p.25–26)
Dessa ampla rede de colaboração que reunia vários personagens, ins-
tituições e condições favoráveis (como a disponibilidade das cobaias e
proteínas uterinas) desdobrar-se-ia um dos episódios reivindicados por
Coutinho como mais marcantes ao falar de sua trajetória: o estágio de
pesquisa em Woods Hole, sob orientação de Csapo e com o financia-
mento da Rockefeller.
“No verão baiano (inverno americano) de 1958 fui para os Estados
Unidos como fellow da fundação Rockefeller, para trabalhar como
pesquisador [guest investigator] no Rockefeller Institute for Medical
Research (hoje, Rockefeller University) … O laboratório de endocri-
nologia do Rockefeller Institute mantinha algumas unidades no mbl
(Marine Biological Laboratory) e um deles era dirigido por Csapo,
que se dedicava ao estudo da endocrinologia da gravidez. Csapo
estava subordinado à George Corner, um dos dois descobridores da
progesterona (o outro foi Willard Allen), hormônio responsável pela
manutenção da gravidez em diversas espécies animais, inclusive na
mulher. Assumi imediatamente um dos projetos propostos por Csapo
e que consistia em estudar os efeitos dos diversos ocitocicos no útero
deficiente em cálcio. O estudo devia ser feito em útero de coelhas,
animais dóceis e com um ciclo gravídico curto, o que permitia fazer
avaliações seguras da ação dos agentes farmacológicos em cada fase
da gravidez. Na coelha, a progesterona exerce um efeito mantenedor
da gravidez de maneira absoluta. Privada da progesterona, a coelha
grávida aborta imediatamente. Tratamento com progesterona no fim
da gravidez provoca o adiantamento do parto indefinidamente. O
útero da coelha representava, portanto, um orgão de comportamento
Vida e grafias - miolo.indd 62 3/9/15 7:37 PM
Autobiografias, memoriais e a narrativa biográfica de um cientista
previsível, no qual era possível analisar efeitos endócrinos e farmaco-
lógicos de forma metódica e reprodutível.”
(Coutinho, s.d., p.26–27)
Coutinho estagiou no Marine Biological Laboratory entre 10 de junho de
1958 e 7 de fevereiro de 1959. Da pesquisa feita nos laboratórios de
Woods Hole resultou sua primeira publicação internacional (Cou-
tinho & Csapo, 1958). O final desse período de pesquisas foi cumprido
no instituto Rockefeller, em Nova Iorque. Ainda que, pelos registros,
o instituto reconhecesse seu empenho nas pesquisas que lhe foram
propostas, o pedido de Coutinho de um auxílio financeiro extra para
levar equipamentos para o laboratório de fisiologia de Salvador foi
recusado, porque ele era ainda professor assistente, em regime de tra-
balho parcial – uma insistência da Rockefeller, como vimos, e que
Cueto (1990) entendeu como um dos entraves para a parceira entre
a instituição e as universidades latino-americanas. Embora Coutinho
tivesse se dedicado bastante às pesquisas nos Estados Unidos e objeti-
vasse prosseguir com elas em Salvador, no julgamento de Miller, seria
pouco provável que o conseguisse com a estrutura da universidade
brasileira (RAC, RF, RG 1.2, series 305a, box 9, folder 84).
Um dos resultados mais marcantes dessa viagem, assinalado por
Coutinho em sua autobiografia, não consta, no entanto, nos relatórios
e correspondências da Rockefeller. Coutinho recorre a uma identi-
dade e interesses comuns àqueles da equipe da qual participara como
pesquisador visitante. Sua inclusão no grupo é afirmada, no texto,
com uma constante recorrência a “nós” quando se refere ao percurso
para a obtenção de um material para a pesquisa, a medroxiprogeste-
rona, um progestínico:
“No mês de novembro, acompanhei Csapo em uma viagem à Uni-
versidade de Chicago e à cidade de Kalamazoo, em Michigan, para
participar de um simpósio sobre novos progestínicos, patrocinado pela
companhia Upjohn. Membros do grupo de George Corner, o desco-
bridor da progesterona, o nosso interesse no assunto era óbvio … O
nosso interesse era maior ainda porque esperávamos conseguir o novo
progestinico desenvolvido pela Upjohn (a medroxyprogesterona) e em-
pregá-lo para sustar o parto prematuro, uma das causas mais frequentes
de óbito fetal. Conseguir uma progesterona que fosse tão eficiente na
mulher como a progesterona natural nas coelhas tornou-se a mais
urgente aspiração do grupo liderado por Csapo e Corner. Segundo a
concepção que defendíamos, a ocorrência de abortos espontâneos e
partos prematuros devia-se a uma deficiência de progesterona.”
(Coutinho, s.d., p.28–29)
Vida e grafias - miolo.indd 63 3/9/15 7:37 PM
Vida & grafias
“Voltamos de Kalamazoo com ampolas do acetato de medroxy-
progesterona (Depo Provera) suficientes para conduzir os estudos
preliminares. Uma parte daquelas ampolas veio comigo para o Brasil.
Cheguei com a corda toda. Armado com a Depo Provera, designado
pela Upjohn como um dos pesquisadores responsáveis pelo estudo
clínico, autorizado pelo fda (Food and Drug Administration), orga-
nismo do Departamento de Saúde dos eeuu, estava convencido de
que conseguiria impedir partos prematuros.”
(Coutinho, s.d., p.30)
A partir do contato entre a equipe de George Corner em Nova Iorque
(e a parceria com Arpad Csapo), a Rockefeller (que financiava o estágio
de Coutinho) e a Upjohn Company (empresa que viria a se associar
a outros grandes laboratórios e formar uma das maiores indústrias
farmacêuticas da atualidade, a Pfizer), Coutinho trouxe para a Univer-
sidade da Bahia, em Salvador, o acetato de medroxiprogesterona. Esse
material possibilitou a realização de suas primeiras pesquisas clínicas no
Brasil, consolidando sua posição no jogo da produção de conhecimento
científico e uma interação com a indústria farmacêutica, que come-
çava, então, a produzir hormônios para o mercado consumidor:
“Em 1960, já tínhamos começado a trabalhar com o acetato de me-
droxyprogesterona (mpa) na Maternidade Climério de Oliveira com
a ajuda inestimável do professor Adeodato Filho e dos seus assistentes,
todos competentes parteiros interessados em participar daquela experi-
ência que prometia resolver o problema do parto prematuro. O drama
da perda do filho em consequência da prematuridade acabava de
tornar-se conhecido do grande público em virtude da morte do último
filho de Jacqueline Kennedy, esposa do então presidente John Kennedy
… Para conseguir um número grande de casos, informamos aos obs-
tétras da cidade, em conferência de Csapo sobre a prematuridade no
Hospital das Clínicas, da oportunidade que se oferecia àqueles cujas
pacientes desenvolvessem trabalho de parto prematuro de tratá-las com
a nova progesterona. Abrimos duas frentes: uma no hospital materni-
dade universitário, a Climério de Oliveira, e outro na maternidade do
estado, a Tsylla Balbino.”
(Coutinho, s.d., p.34)¹⁰
10 O lugar para a realização da pesquisa, a Maternidade Climério de Oliveira, lhe
seria garantido pela ajuda do obstetra professor Adeodato Filho, a quem Coutinho
agradece especialmente no artigo “Adeodato” (Coutinho, 1984), reproduzido no ca-
pítulo “Aliados e protetores” do livro O sexo do ciúme (Coutinho 1998a, p.155–157).
Posteriormente, essa parceria traria consequências para a sua carreira acadêmica e fi-
liações departamentais.
Vida e grafias - miolo.indd 64 3/9/15 7:37 PM
Autobiografias, memoriais e a narrativa biográfica de um cientista
Segundo Coutinho, o objetivo dessas primeiras pesquisas era encon-
trar ou desenvolver um medicamento que interrompesse o trabalho de
parto prematuro. Esse argumento também seria acionado por Csapo
nos diversos pedidos de financiamento que fez à Rockefeller para que
tivesse condições estruturais para a realização de pesquisas. O pres-
suposto dessa pesquisa, como explica Coutinho, estava na teoria do
bloqueio progesterônico. Em analogia aos estudos feitos com útero de
coelhas, em que se havia observado uma relação direta entre a proges-
terona e o trabalho de parto – a indução hormonal sustava eficazmente
o trabalho de parto nas cobaias –, a equipe de Corner e Csapo pres-
supunha que a aplicação da medroxiprogesterona em mulheres com
trabalho de parto prematuro funcionasse da mesma forma.¹¹ Coutinho
voltou a Salvador com o propósito de realizar essa pesquisa.
Como desconfiava o fisiologista da Universidade de Montevideo,
Caldeyro-Barcia, também dedicado ao estudo do parto prematuro, os
resultados encontrados em pesquisas feitas com coelhas não poderiam
ser aplicados a mulheres. No final do seu primeiro estágio na América
Latina, em 1958, Arpad Csapo passou pela universidade uruguaia e
encontrou-se com Caldeyro-Barcia. O fisiologista uruguaio relatou a
Harry Miller, por carta, que procurara demonstrar a Csapo, através
de um experimento realizado em seus laboratórios, que as mulheres
grávidas se comportavam de forma diferente das coelhas. Caldeyro-
-Barcia advertia Harry Miller, nessa ocasião, que embora seus
argumentos fossem fortes, Csapo não teria lhe parecido muito conven-
cido (RAC, RF, RG 1.2, series 200d, box 215, folder 2048).
Coutinho também relata, em sua autobiografia, a oposição de
Caldeyro-Barcia à tese do bloqueio progesterônico e a afinidade do
uruguaio com o estudo dos efeitos da ocitocina no trabalho de parto.
Mais tarde, essas duas teses opostas seriam fundamentais para a
definição da especificidade de Coutinho nesse campo de pesquisas.
Segundo o pesquisador baiano, desde o estágio na França, ele já se
encontrava entre essas duas vertentes:
“Essa tese, que o grupo que trabalhava no laboratório de George
Corner, liderada por Arpad Csapo, defendia literalmente com unhas
e dentes, se opunha à tese proposta por Roberto Caldeyro-Barcia, o
grande cientista uruguaio, que comandava de Montevideo um grupo
11 Não encontrei no material pesquisado nenhuma referência às pesquisas tão es-
peciais que seriam feitas por Csapo com as macacas nos laboratórios de fisiologia
da Faculdade de Medicina da Universidade da Bahia. O relato final da sua pesquisa
ocorreu durante um almoço com diretores da divisão médica da Rockefeller e não
está documentado, mas, pelo que parece, as pesquisas com primatas em Salvador não
teriam sido tão eficientes como propunha de início o projeto.
Vida e grafias - miolo.indd 65 3/9/15 7:37 PM
Vida & grafias
de pesquisadores convencidos de que o trabalho de parto se iniciava
pelo aumento da ocitocina, aquele hormônio peptidico estimulador
das contrações uterinas cuja estrutura fora pesquisada tão intensa-
mente pelo mestre Claude Fromageot, em Paris, cinco anos atrás.
Encontrava-me assim involuntariamente no campo inimigo. Logo eu
que tinha começado a minha formação trabalhando com a ocitocina
e era fascinado pela molécula. De qualquer modo, as duas hipóteses
eram plausíveis e o que me interessava, como de resto a todos que
trabalhavam naquela área, era descobrir o verdadeiro mecanismo
que mantinha o útero imobilizado durante a gravidez e o que, no
momento certo, iniciava as contrações que levavam ao parto.”
(Coutinho, s.d., p.29–30)
As doses iniciais de medroxiprogesterona, com cem miligramas, não
deram resultado. Os pesquisadores optaram então por aumentar a
dose e chegaram a ser administrados mais de mil miligramas (um
grama) por paciente. Além disso, passaram a adotar a técnica de ad-
ministração local do progestínico (Coutinho, s.d., p.35). Mas nada
disso teria dado resultado – ao menos, não para os propósitos iniciais
da pesquisa em questão:
“Os estudos com mpa tomaram um rumo inesperado e preocupante
quando as pacientes tratadas em trabalho de parto prematuro com
o progestínico começaram a queixar-se de não conseguir engravidar
mais. As queixas faziam apenas aquelas que tomaram as doses mais
altas, de 400 miligramas ou mais. A maior parte dessas mulheres que
tinham partos prematuros ou abortamento habitual engravidava nor-
malmente logo após a perda, o que não estava acontecendo após o
tratamento com mpa.
Transmiti minhas preocupações imediatamente aos meus colegas
que trabalharam com o produto. Será que a mpa provocava esteri-
lização das pacientes tratadas durante o trabalho de parto? Foram
algumas semanas de preocupação, que foram seguidas por outras
semanas de comemoração quando apareceram as primeiras grávidas.
Sem querer, tínhamos descoberto o primeiro anticoncepcional inje-
tável de efeito prolongado. Só faltava desenvolvê-lo, isto é, estabelecer
as doses mínimas necessárias para impedir a concepção. Meti mãos
à obra imediatamente. Obtive autorização da Upjohn Co, fabricante
do progestínico, e a aprovação do hospital, e iniciamos o estudo que
tornaria a mpa conhecida no mundo inteiro com o nome comercial
de Depo Provera, como anticoncepcional, e que nos levaria às man-
chetes com consequências que eu não tinha antecipado. Os estudos
iniciados em fins de 1963, realizados em 1964 com a colaboração
Vida e grafias - miolo.indd 66 3/9/15 7:37 PM
Autobiografias, memoriais e a narrativa biográfica de um cientista
de José Carlos de Souza, revelavam que a duração da ação anticon-
cepcional da mpa era proporcional à dose. Com 50 miligramas, o
efeito durava um mês, 100 miligramas, durava três meses; e com 400
miligramas, o efeito se estendia por seis meses. Como relacionar a
dose com a duração e não à intensidade ou à magnitude do efeito
era algo novo em farmacologia, os meus primeiros relatos foram
recebidos com ceticismo. As observações prolongadas das pacientes
tratadas se estenderam até o começo de 1965, quando finalmente
escrevi o primeiro trabalho no qual propunha o uso de Depo Provera
como anticoncepcional. Publicado no início de 1966 na revista Fertility
and Sterility, o artigo proporcionou-me notoriedade instantânea. De
repente, repórteres de toda parte desembarcaram na Maternidade
Climério de Oliveira atrás da novidade que interessava a todo mundo.
A revista Life mandou uma equipe que realizou uma completa repor-
tagem sobre o local e as pessoas ligadas à grande novidade.”
(Coutinho, s.d., p.37–38)
A alegada descoberta acidental dos efeitos contraceptivos da medro-
xiprogesterona, resultante do insucesso de uma pesquisa voltada para
outros objetivos, compõe diversas narrativas de Coutinho sobre o
início da sua carreira de pesquisador na área da reprodução humana:
“Nossa primeira incursão na área da contracepção foi puramente
casual, ou serendiptosa, para usar o anglicismo apropriado.” (Cou-
tinho, 1998b, p.227) Essa descoberta compõe, inclusive, parte do
discurso de Csapo para pedidos futuros que foram feitos à Rockefeller
para ampliação dos trabalhos na Faculdade de Medicina de Salvador.
No resumo de um desses pedidos de auxílio, apresentado por
Arpad Csapo em 1963, consta que a Faculdade de Medicina da Uni-
versidade da Bahia teria estabelecido um laboratório de fisiologia da
reprodução sob a sua supervisão, e que esse laboratório vinha fazendo
estudos clínicos com altas doses de progestínicos, na tentativa de
retardar as contrações uterinas durante o trabalho de parto. Desse
trabalho teria surgido, na América do Sul, “um interesse no estudo
de progestínicos para a indução temporária da esterilidade”. De
acordo com o pedido de Csapo, esse seria o único estudo do tipo na
América do Sul. O investigador sênior, Elsimar Coutinho, havia sido
pesquisador visitante no instituto Rockefeller e se tornado membro de
dedicação exclusiva na Universidade da Bahia. O comitê consultivo
médico recomendou, então, a aprovação do auxílio (RAC, Population
Council, accession I, box 55, folder 882).
De fato, entre 1959 e 1963, Coutinho passara por uma série de
concursos e cadeiras nas faculdades de Farmácia e Medicina. Os
financiamentos da Rockefeller e pesquisas clínicas com hormônios
Vida e grafias - miolo.indd 67 3/9/15 7:37 PM
Vida & grafias
sintéticos conferiam ao jovem professor uma notoriedade que, ao que
tudo indica, era aproveitada por uns e malvista (ou “invejada”, como
prefere dizer Coutinho) por outros. Os aliados poderosos a quem
Coutinho se refere (obviamente, Csapo, a Rockefeller e o Population
Council, mas também Novis, o professor J Adeodato, diretor da ma-
ternidade, entre outros) foram fundamentais para a consolidação de
suas sucessivas posições de prestígio na carreira acadêmica e para a
alimentação daquilo que Bruno Latour chamou de “ciclo de investi-
mento em credibilidade” (1997, p.220).
Vê-se, então, como o investimento em pesquisa básica – uma
das principais frentes da Rockefeller na América Latina (Cueto,
1990) – poderia se desdobrar em resultados interessantes para um dos
problemas considerados de extrema importância naquele momento:
a questão populacional. Segundo Csapo, nesse pedido, a despeito do
potencial contraceptivo da progesterona, inicialmente o que estava
em questão era o conhecimento científico dos mecanismos fisiológicos
do trabalho de parto, ou seja, se o mesmo poderia ou não ser atrasado
ou suspenso através de hormônios progestacionais como já havia sido
demonstrado em animais de laboratório. Para Csapo, os fisiologistas
da reprodução de então acabaram quase involuntariamente se depa-
rando com dois problemas fundamentais: assegurar que as gravidezes
e partos desejados ocorressem normalmente e, por outro lado, evitar
as gravidezes indesejadas. Seriam dois aspectos diferentes de um
mesmo problema – o controle regulatório das funções reprodutivas.
E vinham sendo tratados, na época, com o mesmo medicamento – os
injetáveis de progestagênios.¹²
Após 15 anos trabalhando nessa área, o fisiologista húngaro se
considerava em condições de dizer que os problemas em questão
eram de grande complexidade, de maneira que não se encaixariam
em um projeto simples de pesquisa: deveriam ser analisados por
um time de pesquisa bem organizado, com esforços conjuntos de
cientistas e clínicos. Isso somente seria possível em instituições espe-
cificamente criadas para o estudo das funções reprodutivas e para a
regulação dessas funções. A proposta de Csapo era de que esse espaço
fosse criado em Salvador.
De acordo com Csapo, algumas coincidências felizes o levavam
a propor a criação de um instituto de reprodução na Bahia com um
investimento moderado. O sucesso do projeto de um ano criado em
Salvador rendeu bastante publicidade e, segundo ele, uma atmosfera
12 É interessante que, embora os resultados das pesquisas sobre o bloqueio progeste-
rônico se provassem negativos desde as primeiras pesquisas, por volta de 1960, Csapo
ainda insistia nessa relação e a acionava como justificativa para a continuidade das
pesquisas.
Vida e grafias - miolo.indd 68 3/9/15 7:38 PM
Autobiografias, memoriais e a narrativa biográfica de um cientista
favorável na universidade e na cidade. Ao apresentarem o trabalho
em um congresso em Porto Alegre, os obstetras brasileiros sentiram-
-se na obrigação de reconhecer a importância do trabalho realizado
pela equipe de Salvador. Para Csapo, isso assegurava o interesse e o
apoio nacional a essas pesquisas. Apoio que também viria, segundo
ele, do reitor da Universidade da Bahia, do diretor das faculdades
de Farmácia e de Medicina, dos membros da faculdade e da equipe
da Maternidade Climério de Oliveira. Desse apoio teria resultado,
por exemplo, a criação do laboratório de fisiologia da reprodução na
universidade, sob a direção de Elsimar Coutinho (na época, professor
de bioquímica), J Adeodato Filho (professor de obstetrícia) e Csapo.
A equipe consistia nos três diretores, em seis ginecologistas e obstetras
que trabalhavam em tempo integral, um patologista, 12 enfermeiras
e auxiliares de enfermagem, uma secretária e um artista ilustrador.
Outros pesquisadores também estariam interessados na estrutura de
trabalho disponível, o que asseguraria, segundo Csapo, uma equipe
de trabalho adequada para qualquer problema relacionado à repro-
dução humana.
Assim, seria necessária uma ampliação das clínicas e laboratórios
e a garantia de suporte financeiro de longo prazo. A estrutura física do
instituto teve uma oferta inesperada, feita pela Sociedade do Cuidado
à Criança da Bahia. Em dificuldades financeiras e percebendo o in-
teresse do grupo de pesquisa, a sociedade teria oferecido a estrutura
do hospital que possuía (150 leitos para maternidade e pediatria), para
uso durante um período determinado pela própria equipe. O custo
de reconstrução do hospital seria de US$30 mil. O auxílio solicitado
por Csapo colaboraria com a estruturação do hospital para o único
propósito de estudo dos problemas da reprodução humana, podendo
funcionar ainda como instituição filantrópica, oferecendo serviço
obstétrico e ginecológico para pessoas desfavorecidas das vizinhanças.
O hospital poderia ser prontamente reconstruído, porque, sendo um
instituto da universidade, as conexões com a instituição poderiam
ser acionadas para a sua reconstrução e administração. O auxílio de
US$50 mil cobriria os gastos com pessoal e de operação, e somente
pacientes que participassem das pesquisas seriam admitidas de graça.
Csapo se dizia autorizado pelos seus colegas do Laboratório de
Fisiologia da Reprodução da Universidade da Bahia a requisitar um
auxílio no valor de US$50 mil anuais para um período de cinco anos,
sugerindo que fosse garantida essa continuidade e renovado o auxílio
a cada ano, conforme fossem comprovadas as atividades realizadas.
Segundo Csapo, o maior problema a ser pesquisado era a contra-
cepção, ou “a esterilidade reversível por indução hormonal” (RAC,
Population Council, accession 1, box 55, folder 882). Tanto os aspectos
Vida e grafias - miolo.indd 69 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
práticos como os teóricos seriam enfatizados. O trabalho teórico
deveria atrair pessoal acadêmico com experiência de pesquisa. Os
problemas a serem trabalhados, a equipe, a localização do hospital,
a beleza incomum de Salvador, o suporte caloroso da universidade e
do governo do estado da Bahia, e o custo de vida relativamente baixo
atrairiam cientistas estrangeiros de diferentes disciplinas. O instituto
tinha, assim, potencial para se tornar um espaço de treinamento e
um centro de operações em fisiologia da reprodução. Era apenas
uma questão de financiamento. Uma justificativa final usada pelo
fisiologista é de que esse auxílio ainda facilitaria a pesquisa básica em
biologia e medicina em Salvador, no Brasil e na América Latina. Por-
tanto, deveria estreitar as relações entre países bem mais eficazmente
do que qualquer programa de auxílio similar, tal como vinha sendo
a política de instituições interessadas na expansão da pesquisa básica
nestes países, caso da Rockefeller.
As sucessivas aprovações de pedidos de auxílio à pesquisa con-
cedidas a Csapo para o laboratório de Fisiologia da Universidade
da Bahia comporiam, assim, os primeiros passos de uma longa e
permanente parceria no campo das pesquisas com contraceptivos no
estado. Não encontrei, nos arquivos do Population Council, a ata da
reunião em que o pedido de Csapo para a estruturação do centro de
pesquisas foi discutido. No entanto, esse projeto se assemelhou muito
com a instituição que seria, duas décadas depois, construída por
Elsimar Coutinho em Salvador: o Centro de Pesquisas e Assistência
em Reprodução Humana (ceparh ) – do qual tratei mais pormeno-
rizadamente em Manica, 2009.
O financiamento da Rockefeller às atividades do laboratório
de fisiologia da Faculdade de Medicina da Bahia se concretizou
por, pelo menos, mais dois anos: em 1964, para os estudos sobre a
esterilidade induzida pelos gestagênios, e em 1965, já incorporando
parte importante da estratégia de pesquisa e produção do Population
Council, com uma pesquisa sobre os efeitos dos dispositivos intrau-
terinos. Csapo investigava a atividade do miométrio com a presença
de dius, enquanto Coutinho prosseguia com sua pesquisa sobre o
contraceptivo injetável. A pesquisa de Coutinho, segundo Csapo,
vinha progredindo satisfatoriamente e, naquele momento, incluía 260
mulheres. Nenhuma gravidez teria ocorrido e a reversibilidade da
esterilidade teria ocorrido até mesmo com as maiores doses de proges-
tínicos utilizadas.
O pedido de Csapo para estruturação do centro de pesquisas
em Salvador ilustrou, todavia, o envolvimento e o interesse da uni-
versidade baiana e da instituição estadunidense em estudos sobre a
questão da contracepção. Entretanto, o momento de passagem das
Vida e grafias - miolo.indd 70 3/9/15 7:38 PM
Autobiografias, memoriais e a narrativa biográfica de um cientista
pesquisas sobre a manutenção e término da gravidez para os estudos
sobre a esterilidade induzida por gestagênios e sobre mecanismos de
ação de dispositivos contraceptivos coincide com o período de conso-
lidação de uma instituição dedicada exclusivamente a essa questão.
Nascida da própria fundação Rockefeller, criada por um de seus
herdeiros, John Rockefeller iii, e composta por pessoas que tinham
trabalhado no instituto Rockefeller, o Population Council passou pau-
latinamente a concentrar os pedidos e financiamentos relacionados
à contracepção e a questões populacionais, com fundos que vinham
não somente da Rockefeller, mas também de outras fundações, como
a Ford.¹³ Acompanhando a trajetória de Coutinho, percebemos
que a consolidação do Population Council e das discussões sobre
crescimento demográfico – mais precisamente sobre a preocupante
explosão demográfica – foi contemporânea à ascensão de Elsimar
Coutinho como pesquisador.
Como procurei descrever neste capítulo, ao tentar rastrear as
passagens que permitiram ao pesquisador tornar-se um conhecido
cientista, somos levados a conhecer uma série de “outros”: insti-
tuições, nações, carreiras, linhas de financiamento de pesquisas,
substâncias, políticas internacionais etc que desenvolvem, caso
desejemos, temáticas ligadas à população, ao desenvolvimento e
a um lugar possível para a reprodução humana nesse universo de
problemas – ou seja, aos contornos da biopolítica, principalmente
centrada em intervenções médico-farmacológicas em corpos de
mulheres. A trajetória de Elsimar Coutinho, que inclui a sua narra-
tiva autobiográfica “profissional” (uma espécie de memorial, bem
próximo dos moldes acadêmicos), fornece um acesso privilegiado a
um procedimento de pesquisa etnográfica que pretende, a partir desse
foco específico, conhecer e pensar sobre algumas dessas questões.
13 Um exemplo de como os financiamentos passaram a se distribuir entre as agên-
cias pode ser visto em RAC, Population Council, accession 1, box 62, folder 1068.
Em julho de 1965, com o esgotamento dos recursos destinados a essas duas pesquisas
e o atraso ou demora da chegada dos recursos concedidos pela fundação Ford,
Csapo pediu a Sheldon Segal, por carta, um auxílio complementar de US$5 mil
para evitar a interrupção das pesquisas até o final daquele ano. Segal respondeu que
embora tivessem considerado muito seriamente o seu pedido, estavam impedidos
de fornecer essa suplementação, mas que esperava que as pesquisas prosseguissem
normalmente.
Vida e grafias - miolo.indd 71 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
Referências
Howard Becker, “Biographie et mosaïque scientifique”, Actes de la Recherche en Sciences
Sociales, n.62–63, junho, p.105–110, 1986
Pierre Bourdieu, As regras da arte: gênese e estrutura do campo literário, São Paulo: Compa-
nhia das Letras, 1996
–, “Por uma ciência das obras”, Razões práticas: sobre a teoria da ação, Campinas: Papirus,
1997
James Clifford, A experiência etnográfica: antropologia e literatura no século xx, Rio de Janeiro:
Editora ufrj, 1998
Elsimar Coutinho, “Adeodato”, A tarde, Salvador, 4 de setembro de 1984
–, Menstruação, a sangria inútil, São Paulo: Editora Gente, 1996
–, O sexo do ciúme, Salvador: Memorial das Letras, 1998a
–, O descontrole da natalidade no Brasil, Salvador: Memorial das Letras, 1998b
–, “Autobiografia”, manuscrito não publicado, s.d.
Elsimar Coutinho & Arpad Csapo, “Calcium, oxytocin and the regulation of the myo-
metrium”, Biological Bulletin, Lancaster, v.115, n.2, agosto–dezembro, p.334, 1958
Elsimar Coutinho & Sheldon Segal, “Is menstruation obsolete?”, Nova Iorque /
Oxford: Oxford University Press, 1999
Marcos Cueto, “The Rockefeller Foundation’s medical policy and scientific research
in Latin America: the case of physiology”, Social Studies of Science, v.20, n.2, maio,
p.229–254, 1990
Serge Doubrovsky, “autobiographie/autofiction”, rsh (Revue des Sciences Humaines),
n.224, 1991
Donna Haraway, “Saberes localizados: a questão da ciência para o feminismo e o pri-
vilégio da perspectiva parcial”, Cadernos Pagu, v.5, 1995, p.7–41
–, “Manifesto ciborgue: ciência, tecnologia e feminismo-socialista no final do século
xx”, in: Tomaz Tadeu da Silva, Antropologia do ciborgue: as vertigens do pós-humano,
Belo Horizonte: Autêntica, 2000
Suely Kofes, Uma trajetória, em narrativas, Campinas: Mercado de Letras, 2001
–, “Os papéis de Aspern: anotações para um debate”, Cadernos do ifch, Campinas,
n.31, p.5–16, 2004
Bruno Latour, Ciência em ação: como seguir cientistas e engenheiros sociedade afora, São Paulo:
Editora unesp, 1997
–, Reassembling the social: an introduction to actor-network-theory, Nova Iorque: Oxford
University Press, 2005
Daniela Tonelli Manica, “Supressão da menstruação: ginecologistas e laboratórios
farmacêuticos reapresentando natureza e cultura”, dissertação de mestrado em
Antropologia Social, Campinas: ifch / unicamp, 2003
–, “Contracepção, natureza e cultura: embates e sentidos na etnografia de uma
trajetória”, tese de doutorado em Antropologia Social, Campinas: ifch /
unicamp, 2009
George E Marcus, “Ethnography in/of the world system: the emergence of multi-
-sited ethnography”, Annual Review of Anthropology, v.24, p.95–117, 1995
Rockefeller Archive Center, Rockefeller Foundation
Jean-Paul Sartre, As palavras, Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1964
Daniela Tonelli Manica é professora no Departamento de Antropologia Cultural do
Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da ufrj. Mestre e doutora em Antropologia
Social pelo ifch/unicamp, participa do, Grupo de Estudos em Antropologia da
Ciência e Tecnologia (geact) e cocoordena o Laboratório de Etnografias e Inter-
faces do Conhecimento (leic), do ifcs/ufrj.
Vida e grafias - miolo.indd 72 3/9/15 7:38 PM
“Ninguém canta para ninguém”:
papel da canção,
canção de papel
Carolina Cantarino Rodrigues
Há um documentário esquecido de Leon Hirszman, intitulado Nelson
Cavaquinho (1968). Uma biografia? Nele, escutamos um depoimento
do compositor que é pura divagação, delírio, depressão e embriaguez.
As imagens e outros personagens do filme também parecem bêbados,
dispersos, alheios, descontextualizados em um pátio repleto de gente,
em uma casa quase sem móveis, vazia, em um pobre bar qualquer,
noturno, em que o compositor toca e canta rodeado de pessoas des-
conhecidas. Dessa miséria, nasce uma estranha força que vem de
encontro aos olhos já cansados pelos documentários que têm sido
produzidos sobre o samba¹ e a canção popular brasileira. Olhos que
cegam diante da força da indeterminação que marca esse documen-
tário. Com ele, pode-se escutar a tristeza, obra de Nelson Cavaquinho.
Mas como registrar a tristeza que nasce de uma obra? Essa per-
gunta só se torna possível quando se pensa no registro a partir de
uma outra duração, conservação, em uma outra forma de captura
do tempo, da vida, que procura escutar o samba pela via da sua ina-
tualidade, via bastante incomum: o samba tem sido capturado pelo
fenômeno do arquivismo, que aposta em um engajamento no tempo
imediato em que ora o samba é descrito, através da história, como
síntese e emblema nacional de uma brasilidade mestiça (Vianna,
1995), ora como legado de uma cultura africana e negra no Brasil
(Sodré, 1998). Samba como tempo de histórias e de identidades, privi-
legiando-se sua inscrição no espaço, no tempo e nos sujeitos.
Tem-se, então, uma luta que se apropria da música para fincar
territórios, que extrai a força de repetição do ritornelo (ladainha,
refrão, melodia), aquela capaz de enclausurar e fazer da música
1 Ver a filmografia ao final deste capítulo.
Vida e grafias - miolo.indd 73 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
uma força de muro, de chão, de parede, de identidade (Deleuze &
Guattari, 1997). Seria possível pensar o samba, a canção, de outro
modo? Escutar seu lado b, lado 2, aquele em que a canção procede
como uma peneira, uma extração das forças terrestres, forças futuras,
cósmicas, forças do caos? Escutar as linhas de errâncias também can-
taroladas na canção?
“Bate essa cabeça contra o muro e vai
Do outro lado tem um dia
Feito de beleza e de alegria mas
Nunca será semana inteira
Bota na peneira, quero ver passar
A malha dela é muito fina
Mas a luz do dia ela deixa entrar
Só deixa entrar a luz do dia
Um dia desses não se esquece mais…
Quem chama, quem me chama, tem um dia da besteira
Se tem preguiça na ladeira, na ladeira, uó
Só faço samba, só faço samba…”
(“Muro”, Romulo Fróes & Clima)
Em vez de extrair forças do muro, do chão criado pela canção,
caminho já assentado por muitos estudos e pesquisas, essa escrita
deixa-se contaminar pela luz do dia, pela nuvem de poeira dos ruídos
e sons que se imiscuem na canção popular contemporânea, pelas pa-
lavras sem sentido que se espalham em letras nebulosas, esfumaçadas,
por ensaios críticos e documentários sobre o samba que, contagiados
pela música, atentam para outros tempos (que não os da história) e
outras biografias (que não as dos sujeitos, compositores e ouvintes).
Buscar estar no chão sem o chão e fazer, com o papel, uma experi-
mentação que deseja abandonar a lógica da exclusão a marcar as
preocupações com o papel da canção, desenhando, em vez disso,
uma canção no papel que permite à escrita devir música, na criação
de uma máquina de expressão (Ferraz, 2008). Por isso, aqui, tendo-se
como horizonte a necessidade de se proceder uma passagem – como
escrever sobre música? –, a escrita abrigará também a crítica musical,
livros, documentários e entrevistas.
Para tanto e paradoxalmente, será preciso tomar a música
enquanto pensamento que existe em e por si mesma (Deleuze &
Guattari, 1992), independentemente tanto do seu criador quanto das
circunstâncias de sua criação, fazendo-a prevalecer em relação ao
artista, ao crítico, ao mercado, ao público, devolvendo-a a si mesma.
Aposta-se nessa autonomia das obras musicais (Grosz, 2008) para que
Vida e grafias - miolo.indd 74 3/9/15 7:38 PM
“Ninguém canta para ninguém”
se possa pensá-las não a partir das suas propriedades extensivas, mas
como intensidades e sensações. A música enquanto “ser de sensação”
(Deleuze & Guattari, 1992), desconectada da vida orgânica e, por isso,
conectada com o real, com o fora, com a natureza, com o caos, com
as multiplicidades.²
Como a escrita pode encontrar esses seres de sensação? Em vez
de aprisioná-los e submeter a canção à historiografia, às biografias
dos compositores, à sociologia da indústria musical, à pedagogia polí-
tica que toma a música como instrumento de conscientização social,
às expressões musicais tornadas monumentos pelas políticas estatais
de preservação cultural, permitir-se efetivamente afetar por ela – a
canção – e operar uma subversão política nesse movimento, fazendo
com que a escrita, a historiografia, a biografia, a sociologia, a polí-
tica e o patrimônio, em vez de submeterem o movimento da canção,
sejam arrastados por ela. Mas, para operar essa subversão, é preciso
problematizar esse movimento, movimento que não está dado e, por-
tanto, precisa ser criado pela escrita.
Uma escrita contagiada pela música enquanto Rhythm Science
(Miller, 2004), e por seu poder de romper e quebrar com as equivalên-
cias e correspondências com o real. Freestyles, samples, scratches. Mixing.
“DJ-ing is writing, writing is DJ-ing”, escreve DJ Spooky em seu livro.
“DJ que faz falar outros através de si, colando fragmentos de músicas
de outras músicas de outros músicos de outros tempos e outros lugares
e textos de outros escritores e …”
“Reinventou, releu, remodernizou
Reesumou, reviu, rerroeu, remoeu
Reincompreendeu, redesconstruiu
Rearranjou, refez, repisou, rebuçou
Recapeou, remanejou e riu
Redespencou, resacudiu e riu
E remandou refutar, repariu
2 Do encontro com a teoria das multiplicidades de Gilles Deleuze & Félix Guattari
(1992 e 1997) é que nasce este capítulo e seu esforço em experimentar com as potências
da canção popular brasileira. Teoria das multiplicidades que não é nem uma filosofia
do sujeito, nem uma filosofia da história. Há uma recusa da linguagem como modelo
para o pensamento e, principalmente, da representação, em uma multiplicidade que
prescinde de um fundamento, de um princípio transcendente: “As multiplicidades são a
própria realidade e não supõe nenhuma unidade, não entram em nenhuma totalidade
e tampouco remetem a um sujeito. As subjetivações, as totalizações, as unificações são,
ao contrário, processos que se produzem e aparecem nas multiplicidades.” (Deleuze
& Guattari, 1996, p.8) As multiplicidades são planas: “O ideal de um livro seria expor
toda coisa sobre um tal plano de exterioridade, sobre uma única página, sobre uma
mesma paragem: acontecimentos vividos, determinações históricas, conceitos pensados,
indivíduos, grupos e formações sociais.” (Deleuze & Guattari, 1996, p.18)
Vida e grafias - miolo.indd 75 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
Redesgastou e refluiu
Recrudesceu, refocilou, rerriu
Revisionou pra renque ressoar
Pois revolucionar requer refém
E o rosto roto refletido é quem?”
(“Ré”, Douglas Germano)
E o rosto roto refletido é quem? Criar o novo nessas encruzilhadas do
“re”, como os músicos de blues e de jazz, reunidos em suas jam sessions
para criar algo que será de todos e de ninguém. Ruir, quebrar, des-
truir a própria autoria como nas rodas de samba, como no freestyle do
hip-hop, como no freestyle da escritora Toni Morrison e seu Jazz (2009),
romance em que nos perdemos com seus inúmeros personagens,
lemos e relemos, vamos e voltamos. Nele não há enredo único a inte-
grar e unificar os eventos em uma narrativa linear: seu desejo não é o
de versar sobre, mas soar como o jazz, como improvisação e invenção,
como a promessa de liberdade que circulava nas ruas do Harlem, nos
anos 1920, quando o jazz nasceu (Rodrigues, 2011):
“Meu esforço para entrar nesse mundo era constantemente frustrado.
Eu não conseguia localizar a voz ou a posição do olhar. A história co-
meçava com a esposa traída tentando matar sua rival. ‘Ela ficou ali,
lambendo os flocos de neve do lábio superior …’ Tudo bem, talvez.
Talvez. Mas nada que pudesse extrair do material ou das pessoas o
drama composicional da época, sua imprevisibilidade … Eu tinha
escrito romances em que a estrutura tinha por finalidade enfatizar o
sentido; aqui a estrutura se igualava ao sentido. O desafio era expor
e enterrar o artifício e levar a prática além das regras. Eu não queria
simplesmente um fundo musical ou referências decorativas a ele.
Queria que a obra fosse uma manifestação do intelecto, da sensu-
alidade, da anarquia da música; sua história, sua abrangência, sua
modernidade.”
(Morrison, 2009, p.12–13)
Em Morrison, em vez de uma escrita que é representação, imagem
indireta do tempo que resulta do movimento, temos uma criação,
imagem direta do tempo da qual nasce o movimento (Deleuze, 2007).
Para criar movimento, sua literatura é afetada por um procedimento
musical e cinematográfico marcado pela montagem.
Montagem, enquanto criação de movimento, que inspira esta
escrita, advinda do encontro com as canções de Romulo Fróes e
Domenico Lancellotti: as composições de Fróes convocam certo ar
de tradição do samba; as de Domenico soam mais contemporâneas.
Vida e grafias - miolo.indd 76 3/9/15 7:38 PM
“Ninguém canta para ninguém”
Ambas brincam com os tempos da canção e cada trabalho é, a seu
modo, experimental, entendendo-se a experimentação enquanto
criação pela canção de um pensamento ainda não pensado. Trata-se
de experimentações marcadas por investimentos na voz e na sono-
ridade, ou seja, experimentos que transformam as duas faces que
compõem o rosto da canção, seu corpo visível – letra e música –, para
fazer esse corpo desaparecer e dar lugar ao aparecimento de um outro
corpo-canção, do qual emerge a força da música: criação de canais
de passagens para intensidades e sensações, em vez de reprodução ou
representação do mundo. Uma verdadeira política da diferença.
“Canção expandida” (Wisnik & Nestroviski, 2010) e “estética do
longe” (Skylab, 2011) são as expressões que já foram utilizadas para se
referir ao investimento nas palavras e nas sonoridades que marcariam
a canção popular contemporânea – de Los Hermanos a Radiohed,
segundo os exemplos de Wisnik & Nestroviski (2010) para apresentar a
“canção expandida”: lagoas sonoras que funcionam como interlúdios
entre as estrofes da canção, estas marcadas por temas ou assuntos
difusos, imprecisos, muitas vezes indecifráveis. Na passagem para o
século xxi, uma força de esgarçamento atinge a canção, puxando-a
em duas direções opostas: fortalecimento da letra, através da conta-
minação pelo rap; e fortalecimento da sonoridade, através da música
eletrônica. Forças de contaminação da matéria-forma da canção e
que a colocam à deriva, levando a territórios desconhecidos e inespe-
rados em que habita a canção-matéria-força.
Mas o samba sempre foi um território marcado pela experimen-
tação. Talvez, por isso, sua morte seja cantada em tantas canções. O
fim do samba, o fim da canção. Samba que agoniza mas não morre.
Samba que se diz que acabou – só se for quando o dia clareou. Uma
morte distinta do choro da perda da tradição, da perda da cultura.
Uma outra morte, necessária à vida, para que nasça outra
canção: “Quando ela morre é que ela vive.” (“Ditado”, Romulo
Fróes & Nuno Ramos) Uma morte que pode subtrair da música o
seu caráter representativo, a reiteração de identidades, as lembranças
passadas. Uma morte que subtrai os sujeitos, que torna as canções
irredutíveis a eles. Essas canções podem ser pensadas enquanto uma
biografia impessoal, porque suas forças são capazes de desencadear
devires sensíveis que fazem o ouvinte tornar-se outro, abandonando
suas condições pessoais (os sentimentos e as lembranças vividas) para
ingressar em um outro mundo, em outras potências de vida. Força
amnésica da canção, distinta das canções-memória que apostam na
evocação de uma experiência vivida, na repetição de emoções e dores
passadas, como as do documentário As canções (2011), de Eduardo
Coutinho, em que alguém sempre canta para alguém. Trata-se, então,
Vida e grafias - miolo.indd 77 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
de apostar no avesso dessa expressão: “Ninguém canta para ninguém”
(“Olhos da cara”, Nuno Ramos), verso que abre o disco de Fróes
(2010), Um labirinto em cada pé.
No chão sem o chão, com um labirinto em cada pé
Há uma teoria da canção no Brasil que a define enquanto um jogo
entre texto e melodia. O gesto do cantor, sua dicção, sua entoação são
entendidos como uma forma de conciliação, de compatibilização da
tensão entre letra e música.
“A grandeza do gesto oral do cancionista está em criar uma obra
perene com os mesmos recursos utilizados para a produção efêmera
da fala cotidiana. As tendências opostas de articulação linguística e
continuidade melódica são neutralizadas pelo gesto oral do cancio-
nista que traduz as diferenças em compatibilidade. Num lance óbvio
de aproveitamento dos recursos coloquiais, faz das duas tendências
uma só dicção. E tudo soa natural, pois a maleabilidade do texto
depende do tratamento entoativo. Um texto bem tratado é sempre
um bom texto. A melodia entoativa é o tesouro óbvio e secreto do
cancionista.”
(Tatit, 1996, p.11)
Mas que gesto seria esse? Segundo Wisnik (apud Tatit, 1996), o gesto
de cantar seria o nascimento de uma outra voz dentro da voz: da voz
que fala, nasce uma voz, que canta. A voz que fala interessa-se pelo
que é dito; a voz que canta interessa-se pela maneira de dizer. A voz
falada deseja a inteligibilidade da letra; a voz cantada deseja a intensi-
dade que pode emergir da materialidade da palavra e do som.
A voz que fala faz com que as significações se mantenham no
interior da canção. Essa voz propõe figuras a serem reconhecidas pelo
ouvinte. Através delas é que se capta a voz que fala no interior da voz
que canta: comunica-se, compreende-se o que é dito, sabe-se de que
assunto trata uma determinada canção.
“A figurativização permite compreender as primeiras criações lúdicas
do samba, as anedotas que se transformam em marcha carnavalesca,
as palavras de ordem das brincadeiras repetidas em estribrilhos, o nas-
cimento do samba de breque, as polêmicas através de canções (Noel
Rosa versus Wilson Batista), as canções-cartas (‘Cordiais saudações’,
‘Antonico’), as canções-diálogos (‘Eu dei’, ‘Teresa da praia’, ‘Sinal
fechado’, ‘Ele me deu um beijo na boca’), a presença de dicções re-
gionais (composições de Adoniran Barbosa ou de Dorival Caymmi), a
Vida e grafias - miolo.indd 78 3/9/15 7:38 PM
“Ninguém canta para ninguém”
música de protesto, as canções-resposta (‘Argumento’, ‘Diz que fui por
aí’), o intimismo romântico (‘Da maior importância’, ‘Sonhos’, ‘Tá
combinado’) e até a perversão da melodia em função dos acentos das
palavras, como ocorre na fala (toda a obra de Jorge Ben Jor).”
(Tatit, 1996, p.22)
A voz que fala presentifica o tempo e o espaço da voz que canta. É a
voz do compositor. As palavras ganham uma operacionalidade com
relação ao mundo, entendida enquanto narrativa ou comentário
social: fala-se do mundo, a partir de uma determinada posição – o
lugar em que se inscreve o compositor, lugar com o qual o ouvinte
pode se identificar. Os sambas tornam-se crônicas da cidade, narra-
tivas da vida vivida pelo compositor. Tornam-se Noel Rosa e Wilson
Batista cantando os tipos e temas populares da cena urbana do Rio de
Janeiro dos anos 1930 e 1940 (malandros, prostitutas, condutores de
bonde, doutores, pedreiros), canções cheias de personagens, em nar-
rativas, canções grudadas ao chão, ao contexto imediato, às disputas
entre os compositores, à venda de composições necessária à sobrevi-
vência. Por essa via é que o samba torna-se um discurso transitivo:
“A transitividade se afirma na capacidade da canção negra de cele-
brar os sentimentos vividos, as convicções, as emoções, os sofrimentos
reais de amplos setores do povo, sem qualquer distanciamento intelec-
tualista. Nesse tipo de letra, não há categorização nem análise.”
(Sodré, 1998, p.45–46)
Mas se há, na canção, essa voz que fala, comenta e narra, que faz do
mundo um objeto a ser contado por um sujeito, onde está a outra
voz, a voz que canta? Essa voz pode dizer que sabe cantar uma
canção, mas que não se lembra da letra. Seria ela que faz com que
os cantos dos pássaros sejam chamados de canções? Seria ela a voz
do “monstro”, nome dado à letra provisória (uma composição me-
ramente silábica, “lá lá lá”), marcada pela demissão linguística? “O
que é o que é que pode ser esquecido (ou não entendido) mas que está
lá, elemento absolutamente indispensável [da canção]?” (Menezes
Bastos, 1996)
O encontro com o trabalho do músico e compositor Romulo
Fróes permitiria explorar as potências dessa voz que canta. Ao escrever
uma apresentação crítica do disco Um labirinto em cada pé (Fróes, 2011),
Francisco Bosco nomeia a força do trabalho de Fróes justamente en-
quanto um jogo com a intransitividade da linguagem. Letras opacas,
distantes do senso comum, das referências concretas e reconhecíveis,
dos temas habituais, das emoções já identificadas, dos sentimentos no-
Vida e grafias - miolo.indd 79 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
meados, da suposta transparência das palavras em relação ao mundo
(Bosco, 2011). Ou seja, nas canções de Fróes, a voz que fala se cala.
“Escuta o meu ditado, eu peço música e faço música e digo música
e canto música, mas estou calado”, cantam os versos de “Ditado”,
música de Romulo Fróes & Nuno Ramos. Será por isso que a canção
que nomeia seu disco de 2004, Calado, é apenas instrumental, sem
letra? Talvez seja preciso silenciar, fazer o samba ficar quieto:
“Saiba ficar quieto
Saiba não compor
Não fale do deserto nem metrifique a flor
Saiba não dizer que o sol te dá calor
Saiba nunca achar bonita a minha dor
Não queira ser poeta
Não queira ser cantor
Pegar o violão como se fosse o amor
Não faça melodias, melhor o próprio dia
Azul irradiante levando adiante a minha dor
A dor não vê e nem quer
A dor é cega e vem dos olhos da mulher”
(“Saiba Ficar Quieto”, Romulo Fróes)
Através do silenciamento da voz que fala, Romulo faz o ser da canção
devir uma voz que canta. É essa transformação da canção popular –
do samba, especialmente – que sua experimentação artística almeja.
O trabalho de Fróes se diferencia do samba-crônica, samba-narrativo,
samba-transitivo. Em suas canções, desabaladas não se sabe direito
do que se está falando: “Quem vem desabalada, alô, desabalada eu
sou, não quer saber de nada além, saber de nada é bom.” (“Ditado”,
Romulo Fróes & Nuno Ramos)
“Saindo pela porta entrei pelo cano
Morria de um cachorro que me conduzia
Por onde não quero, onde não queria
Tinha um cheiro, parecia um lírio
Era só meu faro farejando um pano
Sei que me esfregaram logo que nasci
Parecia um osso, digo, sem a carne
Bem no meu focinho, bem no meu nariz
Liguei no plug pra enxergar melhor
a máquina de fumaça
E liguei a luz pra me ligar no facho
Fiz a coisa andar
Vida e grafias - miolo.indd 80 3/9/15 7:38 PM
“Ninguém canta para ninguém”
Morria de um cachorro que me conduzia
Que me atordoava como a luz do dia
Pra não ver o dia, virei pro outro lado
Costurei um olho longe do meu rosto
Tinha um gosto estranho, parecia a vida
A desconhecida, essa que não era
Quem sabe de chumbo, mesma cor da espuma
Digo a mesma coisa, uma, qualquer uma”
(“Máquina de Fumaça”, Romulo Fróes & Clima)
Letras nebulosas, uma verdadeira máquina de fumaça. Se há figuras,
elas encontram-se apagadas, deformadas, desfiguradas como um olho
costurado longe do rosto. Desfiguração que não é apenas a trans-
formação plástica das letras: provocam um atordoamento, um gosto
estranho, alguma coisa, algo qualquer. Desabaladas, esfumaçadas,
canções que impossibilitam responder ao “o quê-quem-onde” da
transitividade que marcaria a tradição da canção. Canções-neblina.
A estranheza de suas canções também não resulta do fato de
serem cerebrais, mas de atingirem diretamente, com suas sensações, o
sistema nervoso. Para definir a experimentação de seu trabalho, Fróes
faz questão de evocar a pulsação do próprio samba (Nelson Cava-
quinho) e de se distanciar da chamada Lira ou Vanguarda Paulistana:³
“… eu fico tentando esgarçar a canção, mas quero esgarçá-la até dar
a volta, entende? Até virar canção de novo. Não quero que ela deixe
de ser canção, não quero que ela vire fala. Pode ser meio incoerente,
mas tem o Nelson Cavaquinho, né? Eu quero que aquilo permaneça,
que aquele pulso, que aquela coisa por mais tensa que exista, que você
se apegue àquilo. Eu quero que o ouvinte se apegue à canção pela
tensão que ela te causa, não por ela ser fácil, não por ela ser ‘cantaro-
lável’. Quero que você se sinta atraído pela canção, pela estranheza
que ela tem, mas essa estranheza para mim não pode ser hermética.”
(“Romulo Fróes e a nova canção brasileira”, 2011)
Será que, no trabalho de Fróes, a voz que canta torna-se a voz da
própria canção, e não de seu compositor? Adviriam daí acusações de
“hermetismo” por parte daqueles que ficam presos ao território da
canção-voz-que-fala, buscando por ela? Talvez por isso Fróes reclame
tanto de que é muito mais conhecido e reconhecido pelo que fala
3 Composições de Arrigo Barnabé, Tom Zé e Itamar Assumpção são os trabalhos
mencionados por Romulo Fróes como aqueles que nunca lhe tocaram, com os quais
tem dificuldade.
Vida e grafias - miolo.indd 81 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
em entrevistas – já foi chamado de “arauto da nova música” (Skylab,
2011) – do que pelas suas canções, de que poucos prestam atenção ao
seu trabalho.
Para escutar a voz que canta as canções de Romulo Fróes, não se
pode prescindir da contaminação que essas canções sofreram pelas
artes plásticas e pela literatura. O trabalho de Fróes é uma criação
coletiva: boa parte da autoria de suas composições é compartilhada
com o artista plástico Clima e com o escritor e também artista plástico
Nuno Ramos, com o qual Fróes trabalha há anos como assistente.
Tomar diferentes materiais (vidro, espelho, metal, tecido, óleo) em sua
irredutibilidade e juntar o que aparentemente não estava destinado
a estar junto é o procedimento que marca a criação de Nuno Ramos
(Doctors, 2008). Também nas canções, sons e palavras são pensados
enquanto materiais distintos a serem trabalhados e reunidos, reunião
que faz suas diferenças saltarem aos ouvidos.
Nas canções de Fróes, as palavras não se anulam em nome da
música, diferentemente das canções que desejam se deslocar da
tradição, jogando com o nonsense: “Açaí, guardiã, zum de bezouro,
um imã, branca é a tez da manhã” (“Açaí”, Djavan); “Abacateiro,
acataremos teu ato, nós também somos do mato, como o pato e o
leão” (“Refazenda”, Gilberto Gil). Nesses casos, o nonsense das letras
responde a um imperativo da melodia: as palavras submetem-se a ela,
que vem antes. Nas composições de Romulo Fróes, a letra se afirma
como uma série própria, independente da música, embora entrela-
çada com ela: um labirinto em cada pé.
Poderíamos, então, em vez de sublinhar sua intransitividade
(pensada em relação à linguagem, tanto quanto a transitividade da
canção), atentar para um outro tipo de transitividade, que remete a
algo fora da canção:
“Se não quero das palavras seu sentido, mas aquilo que carregam
realmente, e do incêndio quero o fogo e não a rima, da sombra o
escuro e não a posição gramatical, se do amor não quero nada, por
querer dizer coisas demais, então devo me chamar, como o náufrago,
Ninguém, sem querer dizer de ninguém o seu sentido, mas aquilo
que vem antes, ainda sem ter estado lá; se da terra quero o que brota
e afunda, mas antes que houvesse tempo, e habilidade, para chamar
aos frutos, frutos e aos mortos, mortos, então seria melhor apagá-las
todas, às palavras, uma a uma, às negras, pequenas aranhas, livrando
o dicionário dessa mácula, e beber o que foi tinta até a boca ficar
preta, e transformar a tinta em chuva, em tigre.”
(Ramos, 2010, p.55)
Vida e grafias - miolo.indd 82 3/9/15 7:38 PM
“Ninguém canta para ninguém”
Sincerely hot, Cine privê
Ritmo, organização do tempo, do som através do compasso, que volta
repetidamente:
“… o ritmo não é meramente uma sucessão linear e progressiva de
tempos longos e breves, mas a oscilação de diferentes valores de tempo
em torno de um centro que se afirma pela repetição regular e que se
desloca pela sobreposição assimétrica dos pulsos e pela interferência
de irregularidades, um centro que se manifesta e se ausenta como se
estivesse fora do tempo – um tempo virtual, um tempo outro.”
(Wisnik, 2011, p.68)
É desse fora do tempo que nasce a chamada “síncopa”, uma mudança
no acento métrico, que adianta a batida, interferindo no compasso da
música entre o tempo e o contratempo. A síncopa é tida como o ter-
ritório rítmico-melódico do samba (Sodré, 1998), tempo do pandeiro,
do tamborim e do cavaquinho.
Mas que samba demoníaco escutaremos se, em vez de criada por
esses instrumentos, a síncopa for sampleada e tivermos uma síncopa
interferindo em outra síncopa, sobrepostas? E samplers de outros sons
(indecifráveis), ritmos e instrumentos sendo ainda adicionados nesse
samba subtraído – por que esvaziado, ressecado de suas formas e
conteúdos? Certamente, aquela baiana que dança na roda perderá
a cabeça, como em “Samba de pacto”, de Os Ritmistas, projeto de
que participa Domenico Lancellotti.⁴ Conexões com sons, ruídos e
texturas extraídas de sintetizadores e programações tencionam os
terrenos sincopados da canção. Mesmo a voz da fala torna-se ruído,
como em “Te convidei pro samba” (Pedro Sá, Maurício Pacheco &
Domenico Lancellotti), música em que os versos da composição são
gritados, interferindo violentamente na melodia. Conversas banais
também são enxertadas. Em “Telepata” (Kassin, Moreno Veloso &
Domenico Lancellotti), a canção é aberta com instruções de medi-
tação de um professor de ioga.
Ao longo dos dois discos de Domenico Lancellotti, Sincerely hot
(2003) e Cine privê (2011), a todo o momento, podemos escutar essas
fissuras rachando as canções: sons que penetram na matéria musical
formada – pela síncopa, pelas letras, pelas referências históricas ou
culturais – para fazer emergir forças sonoras ainda não formadas
(Ferraz, 2010). Um outro samba nasce em território ainda futuro.
4 Seu trabalho ganhou evidência com o grupo +2, formado com Moreno Veloso
e Kassin. Juntos, produziram os seguintes discos: Moreno+2 – máquina de escrever
música (2001); Domenico+2 – sincerely hot (2003); Kassin+2 – futurismo (2006).
Vida e grafias - miolo.indd 83 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
Síncopa, referências históricas e culturais que o trabalho de
Lancellotti não deixa de evocar para deslocar. Assim como nas
composições de Fróes, a experimentação se faz desde dentro das
convenções do samba. Delas, extraem-se forças, como as da malan-
dragem (no primeiro disco) e do mar (no segundo trabalho), assuntos
recorrentes nas histórias e narrativas do samba.
Se no trabalho de Romulo Fróes, em contraste com a malan-
dragem, temos a circunspecção, a gravidade, a sobriedade – a tristeza
– extraídas de Nelson Cavaquinho, com Domenico Lancellotti, no
disco Sincerely hot (2003), fica-se com a alegria, o riso, a malícia, brin-
calhona, meio criança, meio idiota, meio boba: “Não queria você me
levando a sério, só queria você me tirando do sério.” (“Alegria, vai
lá”, Kassin & Domenico Lancellotti) Para Romulo Fróes (2009), que,
escrevendo, escuta atentamente as produções de seus contemporâ-
neos, o humor das letras de Domenico funciona como uma espécie
de contrapeso, conferindo leveza às experimentações sonoras que
tendem para o hermetismo. Humor que desbloqueia, que faz fluir. Da
malandragem extrai-se uma ginga que faz com que o chão da canção
não seja totalmente retirado: ele se abre. “Te convidei pro samba e
você não veio, você me deixou no samba, eu vou te esquecer, mulher.”
(“Te convidei pro samba”, Pedro Sá, Maurício Pacheco & Domenico
Lancellotti) Às vezes, o inusitado é tanto que beira o constrangimento,
sentimos o riso nervoso da voz que canta pronunciando frases que
parecem nem fazer parte da canção: “Eu vou tocar nos seus peitos, eu
vou chupar suas mãos, eu vou ranger o seu dente, eu vou comer essas
garotas.” (“Sincerely hot”, Domenico Lancellotti)
Com Cine privê (2011), somos mergulhados em paisagens. As
canções desse disco oscilam entre o cinema e o mar, entre sons e
imagens: a canção vira filme. Não se tratam dos clichês muito usados
nos arranjos da mpb – com sons, simular na música o que se diz
na letra –, mas de letras que são quase narrativas por fazerem ver
imagens, mas imagens que não são ilustrações de uma realidade dada
de antemão.
Em “Fortaleza” (Domenico Lancellotti), chovia. Alguém dormiu
demais e não notou. Lá fora, um barco e uma praia vazia. A canção,
então, é bruscamente suspensa por um interlúdio de ruídos. Seria um
barco esforçando-se para manter-se atado ao cais em uma tempes-
tade? Por conta desse intermezzo, a canção é levada ao limite, quase
se desfaz e, assim, mostra toda sua potência. Em “Zona portuária”
(Domenico Lancellotti & Kassin), vemos o caos da movimentação
de uma gente qualquer em um porto abandonado, caos que emerge
da voz que pronuncia aceleradamente as palavras da canção. Escu-
tamos o apito de um navio? Não há nitidez nessas imagens: palavras
Vida e grafias - miolo.indd 84 3/9/15 7:38 PM
“Ninguém canta para ninguém”
e sons criam sensações, as paisagens que vemos com essas canções
se parecem mais com miragens: “Dentro da paisagem, daquela
miragem, de intensa emoção de quem pensa, na quarta dimensão.”
(“Receita”, Domenico Lancellotti & Jorge Mautner).
“As grandes paisagens têm, todas elas, um caráter visionário. A visão
é o que do invisível se torna visível… a paisagem é invisível porque
quanto mais a conquistamos, mais nela nos perdemos. Para chegar
à paisagem, devemos sacrificar tanto quanto possível toda determi-
nação temporal, espacial, objetiva; mas este abandono não atinge
somente o objetivo, ele afeta a nós mesmos na mesma medida. Na
paisagem, deixamos de ser seres históricos, isto é, seres eles mesmo
objetiváveis. Não temos memória para a paisagem, não temos
memória, nem mesmo para nós na paisagem. Sonhamos em pleno
dia e com os olhos abertos. Somos furtados ao mundo objetivo mas
também a nós mesmos. É o sentir.”
(Cézanne apud Deleuze & Guattari, 1998, p.220)
Miragem que a canção “Pedra e areia” (Domenico Lancellotti, Pedro
Sá, Alberto Continentino, Moreno Veloso & Adriana Calcanhotto)
suscita através de um “mantra absurdo” (Fróes, 2011) composto pelas
palavras “pedra” e “areia”, pronunciadas repetida e secamente. Essa
secura é reforçada pela força da percussão, rítmica. Vem então a inun-
dação da melodia que traz o verso, “pedra vira areia, ah, nas ondas
do mar”, na voz de Adriana Calcanhoto. O mar leva o mantra e traz
de volta a canção, a resgata.
Mar que tudo arrasta e, se traz de volta, traz diferente. Mar tantas
vezes evocado pelo samba, por Dorival Caymmi, Paulinho da Viola
e tantos outros. Mar, força de deriva, que faz a canção singrar entre
calmarias e tempestades. Com ele, com sua força, pode-se tecer outra
malha de forças – sons, imagens, letras, sonoridades – que podem
empurrar o sujeito-ouvinte para fora de seus limites perceptivos
(Ferraz, 2010, p.225). “Não sou eu quem me navega, quem me navega
é o mar…” (“Timoneiro”, Paulinho da Viola & Hermínio Bello de
Carvalho) A canção faz do sujeito-ouvinte, um náufrago, Ninguém.
Nas experimentações de Domenico Lancellotti com a canção, mar,
miragens e mantras funcionam como um canto de sereia invertido, ao
provocar um desenfeitiçamento da disciplina da audição. É quando se
começa, efetivamente, a escutar:
“Começar aqui é liberar o sonoro do domínio do audível, liberar a
escuta do domínio exclusivo do sonoro e do musical. Talvez seja esse
o tipo de ato que não só testemunha a mobilidade vital que atravessa
Vida e grafias - miolo.indd 85 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
todas as coisas – cuja atividade eminentemente criadora a escuta
prolonga –, mas aquele que desfaz em nós a ideia de que o mundo
informa, desfaz em nós precisamente aquilo em nome do que vivemos
sob controle. Talvez para essa escuta, como para o pensamento, o que
irá contar ‘não é mais o enunciado do vento, é o vento’.”
(Godoy, 2011, p.10)
O que pode a canção?
Em tempos de políticas de identidade, de multiculturalismo e de ar-
quivismo, políticas que arrastam o samba nas suas apostas em um
corpo extensivo, orgânico, visível, vivido – da cultura, da história, dos
sujeitos individuais ou coletivos –, a canção, de papel, pode permitir
um vislumbre precário, débil, de uma política da diferença que deixa
de ser a ativação desse corpo dado para tornar-se a transformação
desse corpo, o desaparecimento desse corpo para o aparecimento de
um outro corpo – inorgânico, intensivo – da canção. Política da di-
ferença que pode fugir das ciladas das identidades colocadas pelas
categorizações e determinações (espaciais, temporais, culturais,
sociais), interessando-se por aquilo que faz com que haja a explosão
do controle das diferenças e a sua proliferação, e não naquilo que as
aprisiona em formas específicas de dominação, minguando as potên-
cias dos corpos.
Em tempos de uma sociedade excitada, uma sociedade da
sensação (Türcke, 2010) em que somos contínua e violentamente
inundados por impressões audiovisuais que desejam modular corpos
e afetos, é preciso resistir e lutar por uma nova partilha do sensível
(Rancière, 2005), por novos modos de ver, de dizer, de sentir, de
escutar, de habitar o mundo, de existir. Assim, a arte pode intervir
no real, nas formas dadas, para extrair novas forças de vida. Novas
maneiras que multiplicam o mundo, criam universos e não pontos de
vista sobre o mesmo mundo:
“Arte não é política devido às mensagens e sentimentos que ela trans-
mite em relação à situação social e às questões políticas. Nem é
política devido ao modo como ela representa estruturas sociais, con-
flitos ou identidades. Ela é política em virtude da distância que ela
toma em relação a essas funções. Ela é política na medida em que cria
não apenas trabalhos e monumentos, mas também um específico es-
paço-tempo sensível, e esse sensível define modos de ser e estar juntos
ou separados, estar dentro ou fora, em frente ou no meio de etc. Ela é
política assim como suas próprias práticas modelam formas de visibili-
dade e recriam o modo pelos quais práticas, maneiras de ser e modos
Vida e grafias - miolo.indd 86 3/9/15 7:38 PM
“Ninguém canta para ninguém”
de sentir e dizer vão se entrelaçar num senso comum, ou seja, um
‘senso do comum’ incorporado num sensível comum.”
(Rancière, 2006)
O mundo se multiplica, o compositor se multiplica, o ouvinte se mul-
tiplica, quando a arte transborda a matéria vivida em potências de
vida. Arte que permite, então, pensar em uma resistência que se faz
fora da lógica da identificação dos corpos, do preenchimento do
tempo e da fixação dos sujeitos. Arte que permite perguntar: como
podemos nos reunir, nos movimentar coletivamente, criar vínculos,
sem comprometer aquilo que nos faz diferir de nós mesmos? Como
aglutinar diferenças sem que elas sejam submetidas a uma identi-
dade? Como potencializar um comum, um impessoal, sem que ele
seja reduzido ou enquadrado em categorias prévias, em categorias
dadas (brasileiros, negros, mulheres, pobres…), ou melhor, de forma que ele
escape a essas categorizações? Como potencializar as multiplicidades
intensivas para que elas possam corroer, desde dentro, as hierarquias
extensivas?
Arte que pode propiciar o surgimento de agenciamentos cole-
tivos de enunciação – não sujeitos coletivos ou identidades – inéditos,
ímpares. Agenciamento que não é o ajuntamento de corpos, so-
matórias de sujeitos, mas o que acontece aos corpos quando eles
se encontram: afetar e ser afetado pelo corpo da canção, corpo do
ouvinte, corpo do compositor, corpo da escrita, corpo da escritora.
Aquilo que os excede, que os inunda, que os faz submergir na neblina,
na fumaça, no labirinto, composições nervosas de Romulo Fróes. Nas
paisagens, tempestades, mar, miragens, composições sensoriais de Do-
menico Lancellotti. Composições – lembranças de uma hecceidade:
“Há um modo de individuação muito diferente daquele de uma
pessoa, um sujeito, uma coisa, uma substância. Nós lhe reservamos o
nome de hecceidade. Uma estação, um inverno, um verão, uma hora,
uma data têm uma individualidade perfeita, à qual não falta nada,
embora ela não se confunda com a individualidade de uma coisa ou
de um sujeito. São hecceidades, no sentido de que tudo aí é relação de
movimento e repouso entre moléculas ou partículas, poder de afetar e
ser afetado.”
(Deleuze & Guattari, 1997, p.47)
Canções-hecceidades que afetam e são afetadas por essa escrita
fazendo com que ela se torne uma biografia impessoal. Impessoal
porque a “individuação de uma vida não é a mesma que a individu-
ação de um sujeito que a leva ou suporta” (Deleuze & Guattari, 1997,
Vida e grafias - miolo.indd 87 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
p.48). Biografia porque o que se almeja não é uma escrita sobre a
vida, mas uma escrita-vida: uma escrita que não repita a vida, mas
que crie vida, torne-se vida, fazendo-a proliferar na luta com o papel.
Referências
Francisco Bosco, “Ninguém canta para ninguém”, texto de apresentação do disco Um
labirinto em cada pé, 2011
Gilles Deleuze, A imagem-tempo, São Paulo: Brasiliense, 2005
Gilles Deleuze & Felix Guattari, “Percepto, afecto e conceito”, O que é a filosofia?, Rio de
Janeiro: Editora 34, 1992
–, “Introdução: rizoma”, Mil platôs – capitalismo e esquizofrenia, v.1, Rio de Janeiro:
Editora 34, 1996
–, “1730: devir-intenso, devir-animal, devir imperceptível”, Mil platôs – capitalismo e
esquizofrenia, v.6, São Paulo: Editora 34, 1997
Marcio Doctors, “Nudez e mudez”, Projeto Respiração, n.8, disponível em www.artepatri-
monio.org.br/arqs/Nuno_Ramos_-_Pergunte_ao.pdf, acesso em 1 de março de 2012
Silvio Ferraz, “Pássaros de papel”, in: Daniel Lins & José Gil (organização), Nietzsche/
Deleuze: jogo e música, Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008
–, “Músicas e territórios”, Polêmica, v.9, n.4., outubro–dezembro de 2010
Romulo Fróes, “Te convidei pro samba e você não veio”, Novos Estudos cebrap, São
Paulo, n.83, março de 2009
–, “Pedra. Areia.”, texto de apresentação do disco Cine privê, 2011
Ana Godoy, “Paisagens sonoras: quando a escuta recorta o invisível”, Alegrar, n.8, de-
zembro de 2011
Elizabeth Grosz, Chaos, territory, art, Nova Iorque: Columbia University Press, 2008
Rafael Menezes Bastos, “A origem do samba como invenção do Brasil (por que as
canções têm música?)”, Revista Brasileira de Ciências Sociais, v.31, 1996, disponível
em http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_31/rbcs31_09.htm,
acesso em 9 de fevereiro de 2015
Paul D Miller (DJ Spooky That Subliminal Kid), Rhythm Science, Cambridge / Londres:
The mit Press, 2004
Toni Morrison, Jazz, São Paulo: Companhia das Letras, 2009
Nuno Ramos, O mau vidraceiro, São Paulo: Globo, 2010
Jacques Rancière, A partilha do sensível – estética e política, São Paulo: Editora 34, 2005
–, “The politics of aesthetics”, 2006, disponível em www.16beavergroup.org/mtarchive/
archives/001877.php, acesso em 10 de janeiro de 2012
Carolina Cantarino Rodrigues, “Entre corpos, tempos e sujeitos: ciência, arte e
política improvisando identidades”, tese de doutorado em Ciências Sociais, Cam-
pinas: unicamp, 2011
“Romulo Fróes e a nova canção brasileira”, 2011, disponível em http://www.factmag.
com/pt/2011/06/21/romulo-froes-e-a-nova-cancao-brasileira/3/; acesso em
maio de 2012
Rogério Skylab, “Em novo álbum, Romulo Fróes se distancia dos ícones da mpb”,
Folha de S.Paulo, São Paulo, 13 de junho de 2011, disponível em http://www1.
folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1306201112.htm, acesso em 12 de janeiro de 2015
Muniz Sodré, Samba, o dono do corpo, Rio de Janeiro: Mauad, 1998
Luiz Tatit, O cancionista, São Paulo: Editora da usp, 1996
Christoph Türcke, Sociedade excitada – filosofia da sensação, Campinas: Editora da
unicamp, 2010
Hermano Vianna, O mistério do samba, Rio de Janeiro: Jorge Zahar & Editora ufrj,
1995
Vida e grafias - miolo.indd 88 3/9/15 7:38 PM
“Ninguém canta para ninguém”
José Miguel Wisnik, O som e o sentido – uma outra história das músicas, São Paulo: Compa-
nhia das Letras, 2011
José Miguel Wisnik & Artur Nestroviski, programa “O fim da canção”, Rádio batuta,
29 de abril de 2010, disponível em http://www.radiobatuta.com.br/Episodes/
view/196, acesso em 12 de janeiro de 2015
Discografia
Domenico+2, Sincerely Hot, 2003
Domenico Lancellotti, Cine Privê, 2011
Duo Moviola (Kiko Dinucci & Douglas Germano), O retrato do artista quando pede, 2008
Os Ritmistas, Os Ritmistas, 2008
Romulo Fróes, Calado, 2004
–, Cão, 2006
–, No chão sem o chão, 2009
–, Um labirinto em cada pé, 2011
Filmografia
As canções, Eduardo Coutinho (direção), 2011
Cartola: música para os olhos, Lírio Ferreira & Hilton Lacerda (direção), 2006
Nelson Cavaquinho, Leon Hirszman (direção), 1968
O mistério do samba, Carolina Jabour & Lula Buarque de Holanda (direção), 2008
Palavra (en)cantada, Helena Solberg (direção), 2008
Partido alto, Leon Hirszman (direção), 1975
Paulinho da Viola: meu tempo é hoje, Isabel Jaguaribe (direção), 2003
Carolina Cantarino Rodrigues é professora da Faculdade de Ciências Aplicadas
(fca-Unicamp) e do Mestrado em Divulgação Científica e Cultural (iel-
-Labjor-Unicamp). A relação entre política, escrita e vida é um de seus temas de
pesquisa.
Vida e grafias - miolo.indd 89 3/9/15 7:38 PM
Etnografia,
cartografia e devir:
potencialidades da escritura
nas pesquisas antropológicas
contemporâneas
Rafael Estrada Mejía
“Eu escrevo com o corpo. Poesia não é para compreender, mas para
incorporar. Entender é parede; procure ser árvore.”
(Manoel de Barros, 1998, p.37)
Escritura e devir
Manoel de Barros tem a rara virtude de nos conduzir aos seres da sen-
sação, à fabulação. O poeta supera as passagens afetivas do vivido e
os estados perceptivos, constitui uma espécie de vidente, alguém que
devém (Deleuze & Guattari, 1994a, p.172). Ele é capaz de adentrar
o terreno da experimentação por meio da escritura. Assim, escrever
com o corpo significa cantar às simpatias, tornar-se outro, apreender
o corpo, a alteridade, como campo de forças, atingir sua dimensão in-
tensiva, invisível e imperceptível (face recalcada) em contraste com sua
dimensão extensiva, visível, perceptível (face hegemônica). Manoel de
Barros evidencia que “escrever é um processo, isto é, uma passagem
de Vida que atravessa o vivível e o vivido” (Deleuze, 1993, p.11).
Etnografia não é antropologia, tampouco um gênero literário.
Provavelmente, isso não resolve o fato de como lidar com o uso de
narrativas e etnografias no fazer antropológico. Entretanto, minha
intenção é a de suspender qualquer juízo em relação ao “ser” da
antropologia. Certamente, interessa-me problematizar o suposto de
entender essa prática (discursiva e não discursiva para parafrasear a
Foucault) como um assunto essencialmente textual. Suspender essa
Vida e grafias - miolo.indd 90 3/9/15 7:38 PM
Etnografia, cartografia e devir
proposição talvez nos remeta àquilo que inauguraria a antropologia
moderna, mas que a crítica pós-moderna deixaria de lado: o trabalho
de campo.
Qual é, por conseguinte, a relevância da pesquisa de campo e
sua relação com os métodos etnográfico e cartográfico? A etnografia
e a cartografia lidam com processos, do mesmo modo que escrever.
Esses processos são experimentados pelo cartógrafo ou pelo etnógrafo
a cada vez que se entra em campo. Nessa dimensão, é requerido que
se habite um território que, de início, não se habita. Etnógrafo e car-
tógrafo permanecem em contato direto com seus sujeitos de pesquisa
e seus territórios existenciais. É nesse âmbito que a cartografia se avi-
zinha da etnografia, uma vez que se vale da observação participante,
mas, ao mesmo tempo, do diário de campo, que funciona como uma
espécie de hypomnemata (Passos, Kastrup & Escóssia, 2009, p.69–70).¹
Nesse caso, para a cartografia, o diário de campo constitui uma
ferramenta na produção de dados, pois transforma observações
captadas na experiência de campo em modos de fazer e em co-
nhecimento. Trata-se de uma transformação de conhecimento em
experiência e vice-versa, na qual é requerida a coprodução. Em suma,
as notas de campo são um material para se ter à mão, sempre pronto
para ser utilizado.
A cartografia se aproxima igualmente da etnografia quando
retoma a forma problemática como o pesquisador se inclui na investi-
gação. Isso implica, além do grau de convívio, o problema da relação
que ele cria com os participantes bem como o tipo de posição que
toma (Passos, Kastrup & Escóssia, 2009, p.56–57). Lembremos que o
etnógrafo busca experimentar um estranhamento quando se afasta do
meio familiar. Essa experimentação (desfamiliarização) se materializa
no trabalho de campo.
O verdadeiro desafio do etnógrafo e do cartógrafo consiste, por-
tanto, em aumentar seu coeficiente de transversalidade e produção de
diferença,² isto é, sua vulnerabilidade à alteridade, sem perder de vista
1 Tal como salienta Carneiro (2009, p.302–311), hypomnemata deriva do grego hypo, que
significa “menos”, “menor”, e do grego mnemata, que significa “memória”. “Os hypom-
nematas ‘armazenam menos memória’? Ou são como memórias anteriores?” Deve-se
ressaltar que o conceito de hypomnemata reformulado por Foucault configuraria um
caderno de anotações sobre o fazer ou a ação, afastando-se da escrita de um diário
ou “de uma narrativa de si”. A noção de hypomnemata que se opõe à de “arquivo” está
ligada a um sistema de anotações fragmentado que funciona como um material que
capta o já dito e retorna o presente com a mesma intensidade do passado, não como
um texto auxiliar da memória.
2 Coeficiente de transversalidade é um conceito criado por Félix Guattari na década de
1960, no campo da análise institucional e da psicoterapia. Essa noção se relacionaria
com o grau de cegueira ou de reconhecimento associado à alteridade que prevalece
no âmbito que se deseja intervir, o grau com que a subjetividade, nesse entorno, con-
Vida e grafias - miolo.indd 91 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
que as fricções e os embates que acontecem no campo instigam o pen-
samento que porta o novo. O grau de abertura à novidade, ao outro,
constrói-se, não é preestabelecido, do mesmo modo que o estranha-
mento constitui um processo que se consegue no trabalho de campo,
não um pensamento a priori. Além disso, essa relação deve ser de uma
composição de heterogêneos, de agenciamento, como destaca Caiafa
(2007, p.151–158).
Em suma, tanto na pesquisa de campo quanto na escritura,
trata-se de discorrer junto e não acima, aproximar-se, arriscar-se,
experimentar, não de interpretar. Nem identificação nem de distan-
ciamento, visto que em ambos os casos estaremos condenados ao
reconhecimento.
Já no que tange à escritura, deparamos-nos com uma sorte de ex-
periência iniciática, uma experimentação xamânica, uma capacidade
de invocar as potências da natureza para devir-outro,³ voz livre do
grafismo: geo-grafismo, geo-grafia, que não se orienta por ela nem se
subordina a ela, mas que lhe é acoplado, coordenado, em uma espécie
de organização brilhante e multidimensional. Ninguém melhor que o
poeta, fabulador por excelência, para atingir a potência da escritura:
devir, árvore, vegetal, imperceptível. Não se trata de entender (en-
tender é parede), mas de experimentar, ou seja, encontrar, no sentido
do occursus – palavra latina usada por Espinosa para referir-se ao en-
sentiria ser atravessada pela singularidade de universos diversos do seu bem como
reconfiguraria ela própria e o mundo a partir daí. Guattari ilustra o conceito da se-
guinte maneira: “Coloquemos em um campo fechado cavalos com viseiras reguláveis
e digamos que o ‘coeficiente de transversalidade’ será justamente o grau de regulagem
das viseiras. Imaginemos que a partir do momento que os cavalos estiverem completa-
mente cegos, certo tipo de encontro traumático vai se produzir. À medida que formos
abrindo as viseiras, pode-se imaginar que a circulação se realizará de maneira mais
harmoniosa.” Coeficientes de transversalidade determinam políticas de subjetivação,
nas quais, de acordo com Guattari, é factível intervir: “Nossa hipótese é a seguinte: é
possível modificar os diferentes coeficientes de transversalidade inconsciente nos di-
ferentes níveis de uma instituição.” (Guattari, 1972, p.80) Quanto maior o grau de
transversalidade, mais vital está sendo aquilo. “Nunca a gente vai ter nem na cidade,
nem no museu, nem na escola, nem em canto nenhum, nem na nossa família, um
puro paraíso de forças ativas e de altas vontades de potência, o que a gente vive é uma
guerra entre os distintos graus de vontade de potência … Quanto maior o grau de
transversalidade mais vital está sendo aquilo.” (Rolnik, 2010) Para uma ampliação do
uso desta noção, sugiro ao leitor consultar Rolnik (2003).
3 Devir não significa imitar alguém ou algo, nem muito menos proporcionar rela-
ções formais. A imitação de um sujeito e a proporcionalidade da forma não são em
absoluto analogias adequadas ao devir. Quando um encontro ocorre, “não é que um
termo devenha o outro, mas que cada um encontra o outro, um único devir que não
é comum para os dois, mas que está entre os dois, que tem sua própria direção, um
bloco de devir, uma evolução a-paralela. Isso é precisamente a dupla captura, a abelha
e a orquídea: nada que esteja nem em uma nem em outra, embora possa chegar a se
intercambiar, a se misturar, mas algo que está entre as duas, fora das duas, e que corre
em outra direção.” (Deleuze & Parnet, 1980, p.11)
Vida e grafias - miolo.indd 92 3/9/15 7:38 PM
Etnografia, cartografia e devir
contro, às ideias-afecções. Um encontro é uma mescla, o efeito de um
corpo sobre o outro. Meu corpo não deixa de encontrar corpos. Os
corpos que encontra têm ora relações que se compõem (mesclas boas),
ora relações que se descompõem (mesclas nocivas). Na medida em que
temos ideias-afecções, vivemos ao acaso dos encontros (Spinoza, 1990).
O poeta, o escritor, fabula, inventa uma sintaxe própria para
atingir o ser puro das sensações, devém outro, torna-se estrangeiro na
sua própria língua. A etnografia entendida como processo de escritura
ativa a fabulação. Quando escreve, o etnógrafo usa palavras e elas
constituem o seu material. A fabulação é acionada quando se sabe
manusear as palavras de maneira a inventar uma sintaxe própria que
atinja a sensação e faça gaguejar a língua maior.
Em breve, tornar-se outro (encontrar), diz respeito ao embate
de corpos que extraem partículas, as mais próximas do que se está
devindo e em virtude das quais se devém, isso a partir das formas que
possuímos, do sujeito que compomos, dos órgãos que temos ou das
funções que efetuamos. Assim, aproximamo-nos daquilo que Deleuze
& Guattari (1985) chamam de “corpo sem órgãos” ou Suely Rolnik
(2011) nomeia como “corpo vibrátil”, isto é, o corpo apreendido como
um campo de forças, de afetos, de intensidades. Entre essas partículas,
estabelecem-se relações de movimento e de repouso, de velocidade e
de lentidão.
“Encontrar é achar, capturar, roubar, mas não há método, tão só uma
longa preparação. Roubar é o contrário de plagiar, de copiar, de imitar
ou de fazer como. A captura é sempre uma dupla-captura, o roubo,
um duplo-roubo; assim é como se cria um bloco assimétrico e não algo
mútuo, uma evolução aparalela, bodas sempre ‘fora’ e ‘entre’.”
(Deleuze & Parnet, 1980, p.11)
A esse respeito, em que consiste a diferença entre esse encontro (oc-
cursus) e o encontro antropológico? Suely Kofes (2010) nos dá algumas
pistas quando estabelece um paralelo entre a noção de encontro antropo-
lógico e o conceito de encontro aludido por Deleuze em seu “abecedário”
(L’abécédaire de Gilles Deleuze, série de entrevistas filmadas entre 1988 e
1984; e Boutang, 1997). Kofes (2010) nos diz que algumas tentativas
de traduzir o conceito de encontro em muitas narrativas etnográficas
seriam a convivência duradoura, a proximidade e a imersão, a in-
teração e a observação, a distância para a análise/interpretação e a
escrita, mesmo que nisso tudo não haja consenso. Por outro lado e no
que refere a Deleuze, a autora acrescenta que, para o encontro acon-
tecer, não haveria necessidade de um encontro vis-à-vis nem de uma
pessoalidade ou experiência biográfica.
Vida e grafias - miolo.indd 93 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
A noção de encontro em Deleuze situa-se na linhagem de Espi-
nosa. Na verdade, parece-me que Deleuze não faz outra coisa senão
devorar Espinosa. Evidentemente, o conceito de encontro nos conduz
à alteridade (do mundo) e, aqui, “alteridade” consiste na “presença
viva com a qual construímos nossos territórios existenciais”, e não em
um mero “objeto de projeção de imagens preestabelecidas”. Portanto,
é indispensável apreendê-la “em sua condição de campo de forças
vivas que nos afetam e se fazem presentes em nosso corpo sob a forma
de sensações” (Rolnik, 2011, p.12). Além disso, na acepção de potentia
(Spinoza, 1990), o conceito deleuziano de encontro se torna potente
porque logra captar o movimento, o acontecimento.
Occursus e devir estão atrelados a uma concepção singular do
corpo e do desejo, e um corpo não se restringe a um organismo. Da
mesma forma, o espírito de um corpo tampouco se reduz à alma do
mesmo. O espírito não é melhor, mas é volátil enquanto a alma é gra-
vífica, centro de gravidade (Deleuze & Guattari, 1994, p.372). Não se
4 Com Espinosa, tal como afirma Deleuze (2011, p.162–163), sabemos que “um corpo
qualquer, por pequeno que seja, comporta sempre uma infinidade de partículas”.
As relações de movimento e de repouso, de velocidade e lentidão entre partículas,
definem um corpo, definem sua individualidade. Além disso, um corpo afeta outros
corpos ou é afetado por outros corpos: esse é o poder de afetar ou de ser afetado, que
define também um corpo na sua individualidade. Aparentemente, essas duas propo-
sições, uma cinética e outra dinâmica, são muito simples. A primeira quer dizer que
um corpo não se define por sua forma ou funções. A forma global, a forma específica
e as funções orgânicas dependerão das relações de velocidade e lentidão. Mesmo o
desenvolvimento de uma forma, o curso de desenvolvimento de uma forma, depende
dessas relações, não o inverso. O importante é conceber a vida, cada individualidade
de vida, não como uma forma, mas como uma relação complexa entre velocidades di-
ferenciais, entre freadas e acelerações de partículas. Uma composição de velocidades
e lentidões em um plano de imanência. Assim, uma forma musical, por exemplo,
depende de uma relação complexa entre velocidades e lentidões de partículas sonoras.
Não se trata apenas de um assunto musical, mas de uma maneira de viver. A segunda
proposição (a dinâmica) concerne ao corpo na sua capacidade de afetar e ser afetado.
Um corpo ou uma alma não se define nunca por sua forma nem por seus órgãos e
funções, e também não se define como uma substância ou um sujeito. Cada leitor de
Spinoza sabe que os corpos e as almas não são para ele substâncias nem sujeitos, mas
modos. Concretamente, um modo é uma relação complexa de velocidade e lentidão
em um corpo e também no pensamento, bem como é um poder do corpo e do pensa-
mento de afetarem e de serem afetados. Concretamente, quando um corpo é definido
desse modo, várias coisas mudam. Um animal ou um homem é definido não por sua
forma, seus órgãos e suas funções, e tampouco como um sujeito. Ao contrário, é defi-
nido pelos afetos dos quais ele é capaz. Capacidade de afetos com um máximo é um
mínimo. Essa é uma noção fundamental em Espinosa. “Tome um animal qualquer e
faça uma lista de afetos, não importa a ordem. As crianças sabem disso muito bem. O
pequeno Hans e o cavalo de raça que puxa um carro em uma cidade: ser orgulhoso,
ir rápido, puxar uma carga pesada, tombar-se, ser fustigado, fazer barulho com suas
pernas (trotar, galopar) etc. Há mais diferenças entre um cavalo de trabalho e um
cavalo de corridas que entre um boi e um cavalo de trabalho. Isso porque o cavalo
de corridas e o de trabalho não têm os mesmos afetos nem o mesmo poder de serem
afetado; o cavalo de trabalho tem mais afetos em comum com o boi.” (Tradução livre)
Vida e grafias - miolo.indd 94 3/9/15 7:38 PM
Etnografia, cartografia e devir
trata em absoluto do corpo da medicina ou do fitness,⁴ mas do corpo
apreendido na sua capacidade de afetar e ser afetado, na sua dupla
dimensão de atração e repulsão. Por outro lado, trata-se de um corpo
entendido como uma relação entre forças ativas e reativas. Qualquer
relação de forças é o que define um corpo: químico, biológico, social,
político. Já o desejo deve ser entendido na dupla dimensão de pro-
cesso de produção e poder. Por um lado, processo de produção de
subjetividades (universos psicossociais), ou seja, o movimento mesmo
de produção, o desejo como movimento de atualização de novos
discursos e práticas bem como de desatualização de outros, arcaicos.
Por outro, como dimensão de poder, potestas (Spinoza, 1990), diferente,
mas tão importante como dimensão de relações de dominação. Esta
última dimensão consiste concretamente nas técnicas de subjetivação,
isto é, nas diferentes estratégias do movimento de atualização e de-
satualização de subjetividades, diferentes técnicas de subjetivação
– micropolítica, cartografia.
É de salientar que, como método de pesquisa, a cartografia
liga-se à inseparabilidade entre o conhecimento e a transformação,
tanto da realidade quanto do pesquisador. A cartografia consiste em
acompanhar processos, não em representar objetos – isto é, ao lado
dos contornos estáveis do que denominamos como formas, objetos
ou sujeitos, coexiste o plano coletivo das forças que os produzem. A
cartografia tem a ver com a prática de construção desse plano e a
sua importância concerniria na dissolução do ponto de vista do ob-
servador: ela implicaria na imersão do cartógrafo no território e seus
signos, aludindo à mudança nas práticas de narrar e insinuando uma
política da narratividade (Passos, Kastrup & Escóssia, 2009).
Não obstante, na noção de “encontro antropológico” convergem
várias questões problemáticas. Uma dessas questões: seria possível
afirmar que o encontro antropológico não existiria antes da instau-
ração do trabalho de campo? Sir James George Frazer, por exemplo,
não teria experimentado, a rigor, esse tipo de encontro? Para que o
encontro antropológico acontecesse, os antropólogos tiveram que
abandonar seus gabinetes e escritórios, ou armchair, como diz reitera-
damente Ingold (2008)? Seria possível o encontro antropológico antes
das experiências de Boas e Malinowski? Ou melhor, seriam eles seus
precursores? Pode alguém ser considerado como precursor de algum
encontro ou é o acaso que governa os encontros? Qual seria o papel
do leitor nisso tudo? Experimentaria o leitor algum tipo de encontro?
Enfim, para que(m) escrevemos? Quais são os efeitos de escrevermos?
Por fim, não há consenso?
Penso que o verdadeiro desafio concerne à impotência da an-
tropologia hegemônica na assunção do sentido pleno da alteridade.
Vida e grafias - miolo.indd 95 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
É possível que o mainstream antropológico tenha institucionalizado
o encontro com o outro na versão face a face e na dimensão exclu-
sivamente humana: o antropólogo e o outro (denominado como
“selvagem”, “nativo”, “informante” etc). Exotizar e folclorizar.
Até pouco tempo atrás, os antropólogos eram relacionados com
determinadas populações e lugares em particular. Uma viagem
ao mundo institucional da antropologia nos desvela que a pratica
antropológica estava interpelada por certas alteridades culturais en-
carnadas paradigmaticamente por exóticas e distantes “sociedades
primitivas”. Mesmo nas antropologias periféricas que se consolidavam
por volta da primeira metade do século xx, os antropólogos se di-
rigiam a uma alteridade imersa nas fronteiras dos Estados nacionais
que no contexto americano era ocupado por populações indígenas
[natives]. Assim, em geral, os antropólogos brasileiros, mexicanos e co-
lombianos arremeteriam principalmente contra os outros presentes no
interior de seus países, diferentemente de seus pares ingleses, estadu-
nidenses ou franceses que procurariam outrem além de seus espaços
nacionais de origem, mesmo que muitos deles fossem encontrados nos
seus domínios coloniais.
Daí não ser surpreendente que, no imaginário acadêmico e
social, o antropólogo apareça reiteradamente como especialista de
certa alteridade cultural, e, de uma forma ainda mais restrita, que
a associação entre a antropologia e o estudo das culturas indígenas,
atuais ou passadas, seja a imagem mais emblemática e a que circule,
em muitos casos, nos diferentes manuais de introdução às ciências
sociais ou em representações populares. Contudo, essa associação
e imaginário são anacrônicos quando comparados com as práticas
antropológicas vigentes. Deslocamentos (forçados, sobretudo), comu-
nidades transnacionais, dinâmicas urbanas, sexualidade, identidades
juvenis e movimentos sociais constituem algumas das problemáticas
que interpelam os antropólogos, acadêmicos, consultores e funcioná-
rios de organizações não governamentais. Nas duas últimas décadas,
o fazer antropológico tem experimentado grandes mudanças, mesmo
entre aqueles que continuam se focando nesse outro, interno ou dis-
tante, atualmente mais escorregadio. Nesse universo de mudanças, a
pergunta pelas relações entre antropologia e colonialidade se torna
importante.
É sabido que a viragem descolonial consistiria em evidenciar os
múltiplos efeitos da operação da colonialidade, em toda sua profun-
didade e extensão, para se ter claros as fendas e os limites em que se
abririam novas condições de diálogo, condições que empurrariam a
seus extremos os constrangimentos epistêmicos, institucionais e sub-
jetivos em jogo na prática antropológica. Alguns autores distinguem
Vida e grafias - miolo.indd 96 3/9/15 7:38 PM
Etnografia, cartografia e devir
colonialismo de colonialidade, baseados em uma formulação mais
detalhada e relacionada especificamente à experiência da América
Latina. Colonialidade é apreendida como um fenômeno histórico
bem mais complexo que o colonialismo, estendendo-se até hoje.
Referir-se-ia a um padrão de poder que operaria por meio da
naturalização de hierarquias raciais, estas possibilitando a reprodução
de relações de dominação territoriais e epistêmicas que não apenas
garantiriam, em nível mundial e pelo capital, a exploração de uns
seres humanos por outros como também subalternizariam e oblitera-
riam os conhecimentos, experiências e formas de vida dos dominados
e explorados. Esse padrão de poder teria sido articulado pela primeira
vez na conquista da América. Nesse momento, segundo Quijano
(apud Restrepo, 2007), os dois eixos fundamentais desse padrão de
poder teriam sido a codificação das diferenças entre conquistadores
e conquistados na ideia de raça, ou seja, uma suposta estrutura bio-
lógica que localizaria certos seres humanos em situação natural de
inferioridade quanto a outros. Por outro lado, haveria a articulação
de todas as formas históricas de controle de trabalho, de recursos e de
produtos em torno do capital e do mercado mundial. Daí que, além
da noção de colonialidade do poder, fale-se em colonialidade do ser e
colonialidade do saber.⁵
Antropologia e etnografia:
além da viragem textual
Franz Boas e Bronislaw Malinowski têm sido considerados, nos
Estados Unidos e na Grã Bretanha, respectivamente, como os fun-
dadores da antropologia moderna e, consequentemente, da pesquisa
de campo (Guber, 2001). Contudo, foi a Malinowski que se vinculou
a invenção da autoridade etnográfica científica (Clifford, 1983; e
Rabinow, 1986), autoridade que se tornaria um dos principais alvos da
crítica pós-moderna, isto é, das práticas epistemológicas e textuais que
apareceriam em meados da década de 1980 no interior da antropo-
logia estadunidense.
A crítica pós-moderna operaria um deslocamento das culturas
apreendidas como textos (viragem hermenêutica) para os textos
sobre a cultura (as políticas da representação ou viragem textual),
seguida por uma antropologia apreendida como crítica cultural ou
construtivismo cultural crítico. As críticas textuais e epistemológicas
se enfocariam principalmente nos modos de autoria e autorização,
inscritos de maneira sutil nas figuras retóricas, bem como na proble-
5 Para ampliações sobre esse enfoque, consultar Restrepo (2007).
Vida e grafias - miolo.indd 97 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
mática da representação da alteridade cultural. Esse tipo de práticas
se tornaria um dos principais objetivos dessa corrente, que se pro-
poria a possibilitar experimentações com a escritura mais sensíveis à
incompletude dos dados antropológicos, à natureza necessariamente
dialógica e carregada de poder do trabalho de campo, às vozes polifô-
nicas que configuram a representação das culturas e o lugar do autor.
Nesse momento, teria sido reforçada uma tendência crítica à cultura
apreendida na versão essencialista, reificada, normativa e objeti-
vista, em contraste com uma concepção que assumiria qualquer fato
cultural como histórico, localizado, polifônico, discursivo e político.
Evidentemente, a viragem textual abriria importantes possibilidades
para a etnografia pós-antropológica e considerações pós-episte-
mológicas da cultura, ocultando, contudo, as práticas acadêmicas
antropológicas e, em linhas gerais, silenciando quanto às antropolo-
gias do Terceiro Mundo (Restrepo & Escobar, 2005).
A viragem textual, portanto, sugeriria que os problemas centrais
da antropologia deveriam ser enfrentados por meio de inovações
na escrita etnográfica. Esse argumento viria a ser um lugar comum
nos círculos antropológicos estadunidenses, a ponto de redefinir a
etnografia e, concomitantemente, a antropologia como um gênero
literário, como a representação escrita da interpretação cultural.
Entender a etnografia como um ato de escritura e não como um
processo de pesquisa de campo é uma constatação que se expressaria
ao observar a geração de jovens antropólogos estadunidenses, que
situam a antropologia na monografia mesma, ao invés de enfatizar o
conjunto de diálogos ou as relações de campo que a antecedem (Ra-
ppaport, 198, p.207).
Desse modo, a proclamada crise da representação, apesar de suas
importantes contribuições e produtividade, pode ser avaliada mais
como uma fase da institucionalização e profissionalização da antropo-
logia nos Estados Unidos do que como um problema experimentado
por outras antropologias no mundo (Restrepo & Escobar, 2005).
Etnografia em colaboração:
uma revitalização do pensamento antropológico
Algumas perspectivas de revitalização da antropologia apontam para
olhar outras antropologias diferentes das hegemônicas, por exemplo,
“antropologias do mundo” (Restrepo & Escobar, 2005) ou certas expe-
riências que não confeririam uma centralidade exclusiva à escritura,
mas que deslocariam a atenção para repensar o que se faz no campo
e até mesmo redefini-lo. A reconceitualização da escritura só resol-
veria parcialmente a questão de como a antropologia representa seu
Vida e grafias - miolo.indd 98 3/9/15 7:38 PM
Etnografia, cartografia e devir
objeto. Isso é evidenciado quando se atenta para as antropologias não
hegemônicas. Nessa direção, Rappaport (2007, p.199) menciona que,
na Colômbia, os esforços de uma comunidade antropológica viva e
criativa raramente renderiam seus frutos na forma de monografias
etnográficas clássicas, mas em artigos e ensaios acadêmicos, inter-
pretações históricas e outros gêneros escritos que devêm úteis para as
comunidades estudadas: publicações destinadas ao consumo popular,
jornalismo, documentos políticos, narrativas testemunhais e livros de
texto para a escola primária.
Qual é o potencial da colaboração para alimentar o pensamento
antropológico? Basicamente, a colaboração faz com que o espaço de
trabalho de campo se torne um espaço de coconceitualização, e não
de colheita (produção) de dados, impondo-nos a tarefa de reconcei-
tualizar o trabalho de campo e deslocando, assim, a ênfase dada à
etnografia como escritura (Rappaport, 2007, p.199). Mas o que signi-
fica “antropologia em colaboração”? A etnografia em colaboração,
grosso modo, consiste em:
“Uma aproximação que, deliberada e explicitamente, enfatiza a
colaboração em cada ponto do processo etnográfico, em lugar de
ocultá-la: desde a conceitualização do projeto ao trabalho de campo
e, especialmente, durante o processo de escritura. A etnografia em
colaboração convida nossos consultantes [consultants] a fazer os co-
mentários e tenta que os mesmos passem a formar parte do texto
etnográfico enquanto esse processo se desenvolve. Ao mesmo tempo,
essa negociação é reintegrada ao processo do trabalho de campo.”
(Lassiter, 2005a apud Rappaport, 2007, p.201, tradução livre)
A etnografia em colaboração não é uma novidade na antropologia
nem muito menos se restringe à arena política estadunidense. Seus
rastros são evidenciados em Boas e em seus colaboradores, que cons-
tituiriam a base da antropologia ativista afro-estadunidense, e ela
seria praticada por antropólogos da America Latina que trabalham
com movimentos sociais e organizações não governamentais. Entre
os resultados da etnografia em colaboração se contam exemplares
de diversos autores (Fletcher & La Flesche, 1992; e Ridington & Has-
tings, 1997 apud Rappaport, 2007, p.202), volumes editados onde
antropólogos e pesquisadores locais expõem suas conclusões (Lassiter,
2004 apud Rappaport, 2007, p.202), publicações para as comunidades
locais (Lobo, 2002; e Reynolds & Cousins, 1993 apud Rappaport,
2007, p.202) e livros de autor que agradecem ao contexto de colabo-
ração onde foram produzidos (Field, 1999b; Lassiter, 1998; Lawless,
1993; e Urton, 1997 apud Rappaport, 2007, p.202).
Vida e grafias - miolo.indd 99 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
A etnografia em colaboração consiste em uma prática que
ultrapassa a escritura. Enquanto, frequentemente, a colaboração
envolve a coautoria – aspecto salientado por Clifford, embora ele o
catalogue como utópico (Clifford, 1988, p.51) –, é ainda mais signi-
ficativo o espaço que ela abre ao processo de coteorização com os
grupos que são estudados, proporcionando, tanto aos nossos interlo-
cutores quanto a nós próprios, novas ferramentas conceituais. Dito
de outra maneira, a colaboração faz o espaço da pesquisa de campo
ser entendido como lugar de produção de dados em espaço de co-
conceitualização, constringindo-nos a mudar a ênfase dada a escrita
etnográfica em troca da reconceitualização da própria pesquisa de
campo. Contudo, não significa que desde a antropologia em colabo-
ração, a escrita etnográfica não seja uma dimensão importante, mas
a centralidade atribuída pela antropologia pós-moderna à escritura
etnográfica que implicou na desvalorização do trabalho de campo,
aspecto evidente nas etnografias produzidas desde os estudos cultu-
rais, tem dificultado bastante uma adequada reconceitualização da
função do etnógrafo nas condições contemporâneas em que se aborda
a pesquisa de campo (Rappaport, 2007, p.201).
A experiência da antropologia em colaboração a que se refere Ra-
ppaport (2007) implica um compromisso de longo prazo que só alguns
antropólogos conseguem realizar. O processo de coteorização no qual
está envolvida a antropóloga Joanne Rappaport tem sido fruto da
afortunada convergência de interesses de intelectuais indígenas e um
grupo de antropólogos – do qual ela participa – que, além de predis-
postos, contam com uma longa experiência na região onde a pesquisa
de campo tem sido desenvolvida (o departamento do Cauca na Co-
lômbia). Assim, ao longo de três décadas, Rappaport, além de receber
o reconhecimento por parte dos militantes indígenas, tem publicado os
resultados de suas pesquisas que fazem parte de uma proposta conjunta
de entropologia em colaboração (Rappaport, 2007, p.224). Em suma,
a experiência de atnografia em colaboração apresentada por Rappa-
port sugere que reorientemos nossa atenção em relação à pesquisa de
campo, ao invés de nos deixarmos capturar pela viragem textual.
Vozes:
polifonia e simpatias
Gostaria de adentrar em um exemplo pragmático, emblemático e
contemporâneo sobre como a antropologia pode lidar com a escri-
tura. Refiro-me à pesquisa de Janice Caiafa intitulada de A aventura das
cidades (2007). Comecemos pelas relações entre o discurso direto e o
indireto. A esse respeito, haveria de perguntar-se, principalmente, se
Vida e grafias - miolo.indd 100 3/9/15 7:38 PM
Etnografia, cartografia e devir
o discurso direto, a transcrição literal e a hipertrofia da voz do antro-
pólogo garantiriam a multiplicidade de vozes e a partilha do poder de
enunciação. Recordando que os enunciados não são nem frases nem
proposições, eles se pareceriam com sonhos, onde tudo muda como
em um caleidoscópio, conforme o corpus selecionado e a diagonal
traçada (Deleuze, 1987b, p.45): os enunciados constituem a linguagem
segmentada pelas práticas sociais, pelas instituições, enfim, pelo que
não é linguagem (Deleuze, 1991 apud Caiafa, 2007).
Caiafa (2007) fala a propósito da etnografia de Dwyer, que apre-
senta blocos de discurso direto. O esquema do livro compreende a
apresentação de um evento e, em seguida, o diálogo entre ele e seus
informantes. No caso de Dwyer, ela conclui que seu livro constitui
blocos de pergunta-resposta, que se tornam eventualmente estáticos.
As vozes dos informantes e a do etnógrafo se distinguem claramente,
mas a voz do etnógrafo, ao contrário das primeiras, não é colorida
(variada e expressiva), experimento que ela acha interessante, mas
do qual conclui que o uso do discurso direto não garante a polifonia.
Ela acrescenta que lidar com as vozes dos outros é uma prática muito
presente na enunciação em geral, mas que se enfatiza em alguns
domínios em particular – por exemplo, não é um interesse apenas an-
tropológico, mas do texto jornalístico, do filme documentário.
A enunciação coletiva para Deleuze & Guattari não remete só aos
diálogos, às conversações que temos com os outros, mas ao que carre-
gamos em nossas próprias palavras, pois, de fato, elas impregnam-se
desses outros. Daí que a autoria nunca é plena e as vozes se orga-
nizam em agenciamentos coletivos de enunciação.
Caiafa retoma também os trabalhos de Bakhtin & Volochínov
(2002 apud Caiafa, 2007) que mencionam o aspecto coletivo da
enunciação, ainda que não se centrem nisso, mas nas múltiplas moda-
lidades do relato do discurso da alteridade. Eles exploram as relações
entre o discurso que relata e o que é relatado, ou entre contexto nar-
rativo e discurso citado, em documentos históricos e textos literários,
relações caracterizadas como de força.
Um elemento importante dessas relações é a noção de fronteira.
O discurso indireto é analisador: o narrador decompõe, organiza,
abrevia. Em contraste, a expressividade do discurso direto é intrans-
missível, pois as falas dos outros devêm as frases do narrador. Mesmo
que algo de sua vivacidade possa ser evidenciado na reportagem, ela
acaba a serviço do autor, integra-se no contexto narrativo.
No texto etnográfico e a propósito da centralidade jogada pelo
discurso indireto, analisador, um dos exemplos citados por Caiafa
(2007) é o texto de Clifford Geertz sobre a briga de galos balinesa
(1973), de orientação claramente hermenêutica. Em contraposição, o
Vida e grafias - miolo.indd 101 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
diálogo, ao invés da metáfora ou da interpretação, joga um papel fun-
damental na introdução do discurso citado, pois o leitor tem acesso
direto aos personagens, acontecimentos etc sem a mediação da voz
do etnógrafo que narra. Caiafa nos apresenta várias fórmulas: uma
delas é o estilo monumental, que é caracterizado pela apresentação
de blocos compactos, sem vida, que não se podem decompor, inco-
municáveis. Um texto criador estaria longe de usar esse estilo como
o já mencionado estilo indireto analisador. No texto etnográfico, um
exemplo desse estilo é o esquema pergunta–resposta. Na ausência
de uma voz que o individualize, a voz do etnógrafo, este acaba re-
construindo certa objetividade; sua voz não dialoga com as vozes dos
outros, instaura uma incomunicação.
Entretanto, existem outros mecanismos mais flexíveis no discurso
indireto, que podem ser caracterizados pela mudança de tons. Essas
interferências conseguiriam suavizar o discurso analisador. O ideal
é despreocupar-se com a fronteira entre os dois estilos, embora em
certos momentos seja necessário evidenciá-la. Em suma, trata-se da
enunciação coletiva das vozes dos outros com a do etnógrafo. Assumir
que as vozes dos outros sabem contar a história, trocando, ao mesmo
tempo, entoações com a voz do etnógrafo, aproximando-se delas seja
apresentando-as direta ou indiretamente. O fundamental consistiria
na relação ativa entre discurso direto e indireto e no rumo que ela
tome. A objetividade seria amenizada na medida em que o discurso
indireto adquira a expressividade do discurso citado, alcançando
o que Bakhtin & Volochinov denominariam de “coloração lexical”
(2002 apud Caiafa, 2007, p.165), a voz do etnógrafo se enchendo de
cor com as outras, tornando-se uma entre outras, cedendo à onipre-
sença, à tirania e à interpretação.
Caiafa (2007, p.166–167) menciona que o melhor ambiente para
o discurso analisador é a tendência à generalização presente nas
etnografias. Essa tendência não seria mais do que uma linguagem
que exerce o poder ao construir a expertise, o profissionalismo, e a lin-
guagem que relata se diferenciaria dessa linguagem da objetividade,
em absoluto expressiva, colorida. Esse discurso que generaliza levaria
a um processo de exotização [othering] inerente a um discurso anali-
sador, que tem uma centralidade excessiva na prática etnográfica. A
solução proposta por Lila Abu-Lughod (1991 apud Caiafa, 2007) seria
aproximar a linguagem do texto etnográfico e a linguagem comum,
na acepção mundana, ordinária, sendo capaz de produzir um dis-
curso singular, particular, não dominante ou absoluto, que resistiria,
entre outros, a esse hiperprofissionalismo expressado na proposta de
writing culture.
A flexibilização do discurso direto aconteceria, acrescenta Caiafa
Vida e grafias - miolo.indd 102 3/9/15 7:38 PM
Etnografia, cartografia e devir
(2007, p.167–168) na releitura de Bakhtin & Volochinov, recorrendo-
-se à mudança de entonação, seja através de um estilo linear no qual o
discurso indireto se insinuaria sobre o direto, operando um contágio
com seus tons próprios, ou por meio de uma interferência que se ex-
pressaria de modo inverso. Isto é, o discurso narrativo (indireto) seria
conquistado pelo discurso citado (direto) e, assim, as palavras citadas
se espalhariam no conjunto narrativo, flexibilizando-o, contradizendo-
-o. Caiafa (2007, p.168) sugere que no texto etnográfico é desejável
que o leitor possa distinguir as vozes dos outros da voz do etnógrafo,
interferência sem mescla que tornaria o discurso do etnógrafo singular,
desprovido de uma suposta autoridade, cotidiano, de maneira a apro-
ximá-lo dos discursos relatados. O contágio aconteceria também com
variantes mais flexíveis do discurso indireto, nas quais a objetividade
seria dissipada, dando lugar a uma sorte de devir outro do etnógrafo
que implicaria uma modéstia, sobriedade e simpatia pela alteridade.
Cantar as simpatias à maneira de Whitman, ou seja, cantar as
relações que se criam no exterior (Deleuze, 1996), sentir com, nem
identificação nem distanciamento: “É na direção de uma simpatia nos
agenciamentos de campo e de uma polifonia radical na escritura que
a etnografia poderia realizar-se com mais força.” (Caifa, 2007, p.175)
Trata-se apenas de apreender o corpo como um campo de forças, de
ativar o “corpo vibrátil” (Rolnik, 2011).
Quanto à escritura, Bakhtin & Volochinov ressaltariam a im-
portância do discurso indireto livre (próximo do discurso direto
substituído), que constituiria uma nova tendência com suas peculia-
ridades: uma orientação particular da interação do discurso citado
com o contexto narrativo, cuja novidade repousaria na convergência
de ambos. Porém, sua orientação seria diversa: falariam juntos, mas o
relatado exprimiria sua resistência por trás do autor, a alteridade do
discurso citado não se perdendo. Haveria um paralelismo em ambos
os discursos, o do tom do autor e o do discurso direto substituído, não
interferência (Caiafa, 2007, p.168–169).
Caiafa (2007, p.169) assinala que a escritura etnográfica não
precisa escolher definitivamente um modo ou outro de transmitir o
discurso. O importante seria renunciar a interpretação e a autoridade.
As vozes do outro deveriam se materializar de forma direta e ampla-
mente no texto. O leitor se veria atingido por tudo isso na medida
em que seria incluído na interferência dos discursos em função de
sua leitura e gozo pelo texto, de sua vontade e ação de relatá-lo
posteriormente.
A simpatia, entendida como cofuncionamento dos agenciamentos
no nível da pesquisa de campo, é a fórmula sugerida para encarar
o texto etnográfico para produzir uma enunciação coletiva. Graças
Vida e grafias - miolo.indd 103 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
à simpatia, todas as vozes se tornam particulares, diferenciam-se, a
alteridade e a tensão entre elas se mantendo. O outro não é exotizado
para logo ser consumido, o esquema familiar deixa de ser alimentado.
O outro resistiria, a pesquisa contribuiria com algo novo, geraria pen-
samento e faria o leitor pensar.
Trata-se de esquivar-se do binarismo enunciado/sujeito da
enunciação, inevitável quando recorremos ao artifício hermenêu-
tico, decifrador. Operar-se-ia, desse modo, o deslocamento do “eu”
ao “ele”: uma potência em terceira pessoa, um tornar-se outro do
etnógrafo, do narrador. É assim que se conseguiria produzir uma poli-
fonia radical, não mero acúmulo de vozes, aglomeração de discursos,
pervertendo-se o discurso e a escritura, apagando-se o rosto e a assi-
natura (Foucault, 1995; e Martínez, 1997, p.139–154).
Qual a função do leitor? O leitor faz parte desses agenciamentos
coletivos (de enunciação, do desejo) e, por isso, deveria ser engajado
para ser surpreendido, pensar o que não pensou antes e, desse modo,
fazer parte dos agenciamentos. O leitor também se exporia, como o
etnógrafo ao se dispor a experimentar. O relato etnográfico deve ser
capaz de produzir essa sensação. Como qualquer pesquisa, quer-se
que os resultados sejam divulgados e disponibilizados para aqueles
que não participaram de forma direta. Assim, não seria trabalho da
etnografia possibilitar a outros o acesso a esse campo de criação?
Conclusões
A palavra “grafia” (como em “etnografia”, “cartografia”, “biografia”
etc) se torna problemática quando assumida como representação de
um objeto/sujeito de pesquisa, mas é suscetível de se tornar potente
quando entendida como devir. Antes de tudo, a pesquisa antropo-
lógica tem a ver com processos, não com representação de objetos.
A escrita implica um limiar de desterritorialização. Nesse sentido, o
desafio é justamente como acompanhar processos, como cartografá-
-los, etnografá-los.
A alteridade tem sido apreendida apenas na sua dimensão visível,
extensiva, deixando de lado seu aspecto invisível, processual. É neces-
sário, portanto, liberar a subjetividade do regime identitário. Como?
Explorando os vazios, os interstícios, fendendo as palavras e as coisas,
aproximando-nos do indizível e do invisível, problematizando a
noção de alteridade, a política de subjetivação e de cognição que nos
configura, e que insistem em confinar em um regime identitário. Na
atualidade, essa política oscila entre identidades globais flexíveis (caos)
e identidades locais fixas (encarnadas em minorias étnicas, sexuais,
raciais, religiosas, nacionais), impossibilitando, assim, os processos de
Vida e grafias - miolo.indd 104 3/9/15 7:38 PM
Etnografia, cartografia e devir
criação e singularização movidos pelos acontecimentos (Rolnik, 1997,
p.19–24), pelo occursus (Spinoza, 1990, p.121).
Trata-se, enfim, de ativar a memória inscrita em nosso corpo, sua
capacidade de afetar e de ser afetado que, durante tanto tempo, tem
sido recalcada, trata-se de ativar a capacidade de sentir com o outro
que supera a mera capacidade sensorial, e que expande a vida. Eis
uma das tarefas que a antropologia deveria assumir. Parece que ela
se arroga o direito de manusear a alteridade, mas para confiná-la na
tirania da identidade, e a alteridade não é outra coisa que a presença
viva e real, multiplicidade plástica de forças que pulsam na nossa
textura sensível, tornando-se parte de nós mesmos, com a qual cons-
truímos nossos territórios existenciais (Rolnik, 2011, p.12).
Por outro lado, em um seminário organizado em meados da
década de 1980 na cidade de Santa Fé, a centralidade da escritura na
antropologia seria relevada por um grupo de conhecidos antropólogos
da School of American Research. Esse evento daria lugar à “viragem
textual” em contraste ao “giro hermenêutico” (Restrepo & Escobar,
2005). Naquele momento, Clifford escreveu:
“Começamos não com a observação participante ou com textos cul-
turais (passíveis de serem interpretados), mas com a escrita, a feitura
dos textos. A escrita não é mais uma dimensão marginal ou oculta, ela
emergiu como sendo o mais importante que os antropólogos fazem,
tanto no trabalho de campo quanto depois. O fato de que só recente-
mente encarou-se ou discutiu-se ela seriamente reflete a persistência
de uma ideologia que clama pela transparência da representação e
imediaticidade da experiência. A escrita reduzida ao método: custódia
de boas anotações de campo, confecção de mapas precisos, relatório
de resultados.”
(Clifford, 1986, p.2, tradução livre)
Esse paradigma prevalece ainda hoje, sobretudo no contexto estadu-
nidense, fazendo-nos acreditar que a prática antropológica se esgota
na escritura – uma escritura, diga-se de passagem, desligada do devir.
Crise da representação ou simplesmente outra fase da institucionali-
zação e profissionalização da antropologia nos Estados Unidos?
A esse respeito, e de forma curiosamente suspeita, Tim Ingold
(2008) evoca a resposta de Geertz sobre o fazer do etnógrafo: es-
crever. Ingold acrescenta também toda a crítica que acompanharia a
chamada “crise da representação”. Contudo, ele incorre no mesmo
erro dos textualistas quando pretende dar um lugar destacado à an-
tropologia em contraste com a etnografia:
Vida e grafias - miolo.indd 105 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
“Convencionalmente, associamos a etnografia com a pesquisa de
campo e a observação participante, e a antropologia com a análise
comparativa que se segue após deixarmos o campo. Eu gostaria de
sugerir, ao contrário, que a antropologia – como um modo inquisitivo
de habitar o mundo, de ser com, caracterizado pelo ‘olhar de soslaio’
da atitude comparativa – é ela própria uma prática de observação
baseada em um diálogo participativo. Ela pode estar mediada por
atividades como a pintura ou o desenho, que podem ser acopladas à
observação. E, é claro, pode ser mediada pela escritura. Mas, ao con-
trário da pintura e do desenho, a escritura antropológica não é uma
arte de descrição. Nós não a chamamos ‘antropografia’ e isso por uma
boa razão. Ela é, ao contrário, uma prática de correspondência. O an-
tropólogo escreve – como, de fato, ele pensa e fala – para ele mesmo,
para os outros e para o mundo. Suas observações respondem à sua ex-
periência de habitação. Essa correspondência verbal se encontra no
coração do diálogo antropológico. Ela pode ser realizada em qualquer
lugar, independentemente de podermos imaginar a nós próprios como
estando no campo ou fora dele. Antropólogos, como insisti, pensam,
falam, escrevem em e com o mundo. Para fazer antropologia, você
não precisa imaginar o mundo como um campo. Aliás, ‘campo’ é um
termo pelo qual o etnógrafo retrospectivamente imagina um mundo
do qual ele tem se afastado, em ordem, muito especificamente, de
poder descrevê-lo na escritura. Sua prática textual (literária, escrita)
não é uma correspondência não descritiva e nem tampouco uma des-
crição não correspondente – isto é, uma descrição que (ao contrário
da pintura ou do desenho) se desprende da observação. Portanto, se
alguém se retira à poltrona, não é o antropólogo, mas o etnógrafo.
Quando ele muda da indagação à descrição, ele mesmo tem necessi-
dade de mudar de posição, do campo de ação às margens.”
(Ingold, 2008, p.87–88, tradução livre)
Ingold enfatiza que “antropologia não é etnografia. Etnógrafos des-
crevem, principalmente (sobretudo) por meio da escritura como gente
de algum lugar e tempo percebe o mundo e age nele.” (2008, p.89,
tradução livre)
Entretanto, parece-me que a questão que se coloca a nós é a de
suspender o suposto da centralidade da escritura no fazer antropoló-
gico. Sem dúvida, a escritura é uma dimensão importante, mas, para
a almejada revitalização da antropologia, poderíamos dirigir nosso
olhar a outras antropologias que tenham dado menos importância
ao texto etnográfico e mais à pesquisa de campo e suas potenciali-
dades. Ingold, no entanto, parece ignorar as potencialidades do texto
etnográfico:
Vida e grafias - miolo.indd 106 3/9/15 7:38 PM
Etnografia, cartografia e devir
“Sobretudo, liberar a etnografia da tirania do método. Nada tem sido
mais nocivo à etnografia do que a sua representação sob o aspecto
do ‘método etnográfico’. É claro, a etnografia tem seus métodos,
mas ela não é um método – não é, em outras palavras, um conjunto
de meios de procedimento formal desenhado para satisfazer as fi-
nalidades da pesquisa antropológica. Ela é uma prática no sentido
estrito do termo. Os relatórios dão conta das vidas de outras pessoas,
são peças terminadas de trabalho, não matérias-primas para poste-
riores análises antropológicas. Mas, se a etnografia não é um meio
para os fins da antropologia, tampouco a antropologia é o servo da
etnografia. Reiterando, antropologia é uma pesquisa acerca das con-
dições e possibilidades da vida humana no mundo. Ela não é – como
muitos acadêmicos no campo dos estudos de crítica literária a teriam
apreendido – o estudo de como escrever etnografia ou o estudo da pro-
blemática da reflexividade, da mudança da observação à descrição.”
(Ingold, 2008, p.89, tradução livre)
Talvez o grande desafio de qualquer proposta repouse na problemati-
zação da própria noção de método:
“A metodologia, quando se impõe como palavra de ordem, define-
-se por regras previamente estabelecidas, daí o sentido tradicional
de metodologia que está impresso na própria etimologia da palavra:
metá-hódos. Com essa direção, a pesquisa é definida como um caminho
(hódos) predeterminado pelas metas dadas de partida. Por sua vez,
a cartografia propõe uma reversão metodológica: transformar o
metá-hódos em hódos-metá. Essa reversão consiste em uma aposta na ex-
perimentação do pensamento – um método não para ser aplicado,
mas para ser experimentado e assumido como atitude. Com isso, não
se abre mão do rigor, mas esse é ressignificado. O rigor do caminho,
sua precisão, está mais próximo dos movimentos da vida ou da nor-
matividade do vivo de que fala Canguilhem. A precisão não é tomada
como exatidão, mas como compromisso e interesse, como implicação
na realidade, como intervenção.”
(Passos, Kastrup & Escóssia, 2009, p.10–11)
Além disso, o campo, quando visto da perspectiva da etnografia em
colaboração, permite vislumbrar possibilidades de revitalizar o fazer
antropológico. O trabalho de campo possibilita o occursus, a alteridade.
Mas a alteridade nem sempre é uma alteridade exterior, visível, per-
ceptível, face a face e, sobretudo, humana. Será que alguns acadêmicos
das antropologias hegemônicas optaram pelo conforto das salas de
aula e a familiaridade de um pensamento que resiste ao movimento?
Vida e grafias - miolo.indd 107 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
Evidentemente, a excessiva centralidade dada ao texto etno-
gráfico termina por descartar outras dimensões fundamentais da
etnografia, a saber, enfoque e método (Guber, 2010). Por outro lado,
a escritura não se orienta pela exegese nem a linguagem hiperpro-
fissional, mas se vivencia com o devir, a experimentação, a simpatia.
Não me parece que os encontros que interessam aos antropólogos
aconteçam apenas entre humanos ou exclusivamente vis-à-vis, me-
diados por artifícios tais como o distanciamento, o “olhar de longe e
de fora” (Magnani, 2002), o “olhar distanciado” (Lévi-Strauss apud
Kofes, 2010), o “olhar de perto e de dentro” (Magnani, 2002), a “dis-
tância na proximidade” (Kofes, 2010) etc, tensionados pelo fio da
observação. Na contramão de ardis que nos impõem nossos enfoques,
as relações entre proximidade e distância, verbi gratia, talvez fossem
suficientes ao se “desafiar o suposto da identidade e de um ego auto-
centrado (fosse a feminista, a mulher ou a pesquisadora) como base
para o conhecimento”, como sugere Kofes (2010, p.108).
E por que não romper esse fio e experimentar? Fugir da escrita e
da “cultura” abordadas longe de qualquer proposta fenomenológica,
hermenêutica, pois na “cultura”, como texto, não há nada a inter-
pretar, compreender, analisar, significar. Trata-se de experimentar.
Ainda assim, não se pode esquecer que a noção de “cultura” implica
uma dimensão reacionária, tal como assinala Guattari (2011, p.21–31),
já que divide atividades semióticas de localização no mundo (cósmico
e social) em domínios, aos quais seres humanos são referidos. Essa
separação implica a capitalização, a padronização e a instituição real
ou potencial de ditas atividades para o regime semiótico hegemônico.
Isso significa o corte de suas existências políticas concretas. Da mesma
maneira, Caiafa (2007, p.139) salienta que Abu-Lughod e James Cli-
fford também advertem sobre os riscos em que certas perspectivas
da cultura incorrem ao construir conjuntos coerentes. Porém, Caiafa
acrescenta que o uso da noção de cultura já foi fecundo no passado,
como quando liberou o pensamento social do determinismo bioló-
gico. Nesse mesmo sentido, ela também acredita nas potencialidades
criativas do mesmo, em domínios diversos ao do seu nascimento
(estudos culturais e da comunicação). Essas potencialidades (vontade
de descrever a diferença) poderiam produzir efeitos antitotalizantes.
Por exemplo, se não nos deixássemos seduzir pela autoridade etno-
gráfica, se a experiência do trabalho de campo inspirasse a teoria,
uma prática dessa natureza estaria relacionada a uma forma de expe-
rimentação, ligada ao pensamento e à escritura, não à interpretação
(Caiafa, 2007, p.140). No entanto, é prudente levar em conta que a
colonialidade constitui o presente da antropologia e pensar em como
o constitui (Restrepo, 2007, p.290).
Vida e grafias - miolo.indd 108 3/9/15 7:38 PM
Etnografia, cartografia e devir
Referências
Manoel de Barros, Arranjos para assobio, Rio de Janeiro: Editora Record, 1998
Pierre-André Boutang (direção), L’abécédaire de Gilles Deleuze, Paris: Editions Montpar-
nasse, 1997, 3 dvds (453 minutos)
Janice Caiafa, Aventura das cidades: ensaios e etnografias, Rio de Janeiro: Editora fgv, 2007
I A Carneiro, “Os hypomnemata e os fragmentos da ação através das Notas de
Tempos Inconciliáveis”, 3 Semana de Pesquisas em Artes, Rio de Janeiro: uerj,
2009, disponível em http://www.ppgartes.uerj.br/spa/spa3/anais/isabel_car-
neiro_-302_311.pdf, acesso em 20 de maio de 2013
James Clifford, “On ethnographic authority”, Representations, n.2, p.132–143, 1983
–, The predicament of culture, Cambridge: Harvard University Press, 1988
James Clifford & George E Marcus, Writing culture: the poetics and politics of ethnography,
Berkeley: California Press, 1984
Gilles Deleuze, La imagen-tiempo: estudios sobre cine 2, Barcelona: Paidós Comunicación,
1987a
–, Foucault, Barcelona: Ediciones Paidós Iberica, 1987b
–, Crítica y clínica, Barcelona: Editorial Anagrama, 1996
–, Critique et clinique, Paris: Les Éditions de Minuit, 2010
–, Spinoza philosophie pratique, Paris: Les éditions de Minuit, 2011
Gilles Deleuze & Félix Guattari, El anti-edipo: capitalismo y esquizofrenia, Barcelona: Edi-
ciones Paidós Ibérica, 1985
–, ¿Qué es la filosofía?, Barcelona: Editorial Anagrama, 1994a
–, Mil mesetas: capitalismo y esquizofrenia, Valencia: Editoral Pre-Textos, 1994b
Gilles Deleuze & Clara Parnet, Diálogos, Valencia: Editoral Pre-Textos, 1980
Michel Foucault, Theatrum philosophicum seguido de Repetición y diferencia, Barcelona: Edito-
rial Anagrama, 1995
Félix Guattari, “La transversalité”, Psychanalyse et transversalité, Paris: Maspero, 1972
–, “A transversalidade”, in: Suely Rolnik (organização), Revolução molecular: pulsações
políticas do desejo, São Paulo: Brasiliense, 1987
Félix Guattari & Suely Rolnik, Micropolítica: cartografias do desejo, Rio de Janeiro: Editora
Vozes, 2011
Rosana Guber, La etnografía método, campo y reflexividad, Bogotá: Grupo Editorial Norma,
2010
Timothy Ingold, “Anthropology is not ethnography”, British Academy Review, n.11,
p.21–23, julho de 2008, disponível em http://www.britac.ac.uk/events/2007/An-
thropology_is_-not_-Ethnography.cfm, acesso em 31 de maio de 2012
Suely Kofes, “Seguindo o conselho do poeta: repetir, repetir, até ficar diferente”,
Revista Ex aequo, n.22, p.95–109, 2010
Claude Levi-Strauss, Le regard eloigné, Paris: Plon, 1983
José Guilherme Magnani, “De perto e de dentro: notas para uma etnografia urbana”,
Revista Brasileira de Ciências Sociais, v.17, n.49, 2002
Miguel Angel Martínez, “Topología de la diferencia (variaciones deleuzeanas sobre
Foucault)”, Agora: Papeles de Filosofia, v.16, n.2, p.139–154, 1997
Rafael Estrada Mejía, “Antropologia ao acaso dos encontros: experimentações com
alguns colombianos em São Paulo e Barcelona”, Revista Espaço Acadêmico (uem),
v.9, p.30–42, 2010a
–, “Desterritorialização e resistências: viajantes forçados colombianos em São Paulo
e Barcelona”, tese de doutorado em Antropologia Social, Campinas: IFCH/
unicamp, 2010b
Eduardo Passos, Virgínia Kastrup & Liliana da Escóssia (organização), Pistas do método
da cartografia: pesquisa-intervenção e produção de subjetividade, Porto Alegre: Editora
Sulina, 2010
Paul Rabinow, “Representations are social facts: modernity and post- modernity in
anthropology”, in: James Clifford & George Marcus (edição), Writing culture: the
poetics and politics of ethnography, Los Angeles: University of California Press, 1986,
p.234–261
Vida e grafias - miolo.indd 109 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
Joanne Rappaport, “Más allá de la escritura: la epistemología de la etnografía en co-
laboración”, Revista Colombiana de Antropología, v.43, p.197–229, janeiro a dezembro
de 2007, Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2007
Eduardo Restrepo, “Antropología y colonialidad”, in: Santiago Castro-Gómez &
Ramón Grosfoguel (edição), El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica
más allá del capitalismo global, Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana & Siglo del
Hombre Editores, 2007, p.289–304
Eduardo Restrepo & Arturo Escobar, “Other anthropologies and anthropology
otherwise steps to a world anthropologies framework”, Critique of Anthropology,
v.25, n.2, p.99–129, 2005
Suely Rolnik, “À sombra da cidadania: alteridade, homem da ética e reinvenção da
democracia”, Boletim de Novidades, Pulsional – Centro de Psicanálise, São Paulo, ano v,
n.41, p.33–42, setembro de 1992
–, “Toxicômanos de identidade”, in: Daniel Lins (organização), Cultura e subjetividade:
saberes nômades, Campinas: Papirus, 1997, p.19–24
–, Alteridade a céu aberto: o laboratório poético-político de Maurício Dias & Walter Riedweg,
Barcelona: Museu d’Art Contemporani, 2003
–, entrevista para Corpocidade, 18 de novembro de 2010, disponível em http://www.
corpocidade.dan.ufba.br/redobra/r8/trocas-8/entrevista-suely-rolnik/, acesso
em 20 de maio de 2013
–, Cartografia sentimental: transformações contemporâneas do desejo, Porto Alegre: Editora
Sulina, 2011
Baruch Spinoza, Ética – tratado teológico político, México: Editorial Porrúa SA, 1990
Rafael Estrada Mejía é antropólogo formado pela Universidade Nacional da Co-
lômbia, mestre em Urbanismo pela Universidade de Karlsruhe, na Alemanha, e
doutor em Antropologia Social pela unicamp. Atualmente, é pós-doutorando de
Geografia na UNESP e pesquisador-colaborador do Departamento de Antropologia
da UNICAMP.
Vida e grafias - miolo.indd 110 3/9/15 7:38 PM
Imbricamentos entre
etnografia e biografia:
um estudo sobre
Roy Wagner
Iracema Dulley
Este capítulo é marcado pela ideia de diálogo. Em um primeiro
momento, realizo um esforço para situar minimamente a trajetória de
Wagner a partir de meu processo de pesquisa, da interação que tive
com ele e da recepção de sua obra no Brasil e nos Estados Unidos. Em
seguida, volto-me para a concepção de diálogo e dialética que marca
sua obra. O fio argumentativo que conduz esses dois movimentos é a
ideia de que o texto antropológico é marcado por um imbricamento
entre biografia e etnografia. No caso do presente texto, ele se evidencia
tanto em minha etnografia do autor quanto em sua própria.
Sobre ventos e chapéus
Conheci Wagner na reunião da American Anthropological Associa-
tion em Nova Orleans, em novembro de 2010. Eu havia acabado de
passar por meu exame de qualificação e estava tão apreensiva quanto
entusiasmada com a descoberta de que o autor sobre o qual ver-
savam meu paper e minha pesquisa de doutorado estaria presente no
congresso. Foi nesse espírito que fui assistir a seu paper, o mesmo que
apresentaria meses depois em Florianópolis, “The chess of kinship
and the kinship of chess” (Wagner, 2011a). Ao ouvi-lo, dei-me conta
de que o Wagner que costumamos ler no Brasil – basicamente, a
segunda edição de A invenção da cultura (Wagner, 2010b) e os artigos “A
pessoa fractal” (Wagner, 2011b) e “Existem grupos sociais nas terras
altas da Nova Guiné?” (Wagner, 2010a) – estava, para o autor, em
alguma medida no passado, a despeito da familiar exposição dialética
de seus argumentos. Intuí, pelas reações dos presentes à sua apresen-
Vida e grafias - miolo.indd 111 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
tação e pela própria postura do autor durante a sessão,¹ que a posição
ocupada por Wagner na cena da antropologia americana era bastante
distinta do lugar que ocupa atualmente no Brasil.
Sua apresentação fazia parte da sessão sobre parentesco “Circu-
lation [or (non)circulation] of kinship knowledge” [“Circulação [ou
(não)circulação] do saber sobre o parentesco”], que se propunha a
discutir o estatuto dos estudos de parentesco atualmente, com a maior
parte de seus participantes fazendo referência a Schneider,² orien-
tador da tese de Wagner, The curse of Souw (1967), sobre o parentesco
daribi. Wagner falou durante os vinte minutos reservados a cada
pesquisador no congresso. Sua fala estabelecia comparações entre a
estratégia do xadrez e a estratégia do parentesco a partir de uma série
de oposições conceituais e torções, como vemos frequentemente em
seus textos. Assisti à sessão e aguardei um momento em que ele esti-
vesse sozinho para me apresentar. Disse que fazia doutorado sobre sua
obra no Brasil e que havia publicado a tradução de “Existem grupos
sociais nas terras altas da Nova Guiné?” para o português: meses
antes de minha ida ao congresso, eu havia escrito a Wagner pedindo
permissão para publicar a tradução na revista Cadernos de Campo.
Duas semanas depois, recebi sua resposta: “Thanks for making my day! ”
Wagner alegrava-se, como afirmou durante o congresso, com a dispo-
nibilização de seus textos para os leitores de língua portuguesa, pois
sentia nos antropólogos brasileiros uma abertura a seu trabalho que
não encontrava nas academias norte-americanas.
Além disso, na ocasião, disse a ele que estava me debatendo com
as ideias de A invenção da cultura. Roy sorriu e convidou-me a sentar por
um instante para conversarmos sobre o livro. Uma observação fugaz
e inesperada em meio à sua rememoração do argumento do livro que
publicara na década de 1980 tranquilizou-me quanto a sua empatia:
“I love your hat.” Voltei para o hotel com um encontro combinado para
o dia seguinte no saguão do Sheraton. Mais tarde, viria a descobrir
que meu chapéu fora tomado como indício de um bom tonal.³
1 Wagner estabelecia analogias complexas entre xadrez e parentesco, na linguagem
cifrada que lhe é peculiar. Ele parecia divertir-se com o estranhamento que sua forma
de pensar causava nos ouvintes, a despeito de estes aceitarem ou rejeitarem suas ideias.
Alguns de seus colegas, quase todos da mesma geração, também se divertiam com a si-
tuação. Alguns poucos rostos, para mim desconhecidos, revelavam indignação.
2 Schneider é uma presença marcante nas obras de Wagner. “Some muddles in the
models” (Schneider, 1965) foi sem dúvida fonte de inspiração para suas primeiras publi-
cações. Pode-se dizer que o exercício iniciado (em American kinship, 1968) por Schneider
de dissecar o parentesco ocidental a partir de estudos sobre o parentesco de outros
povos permaneceu como norte para grande parte da produção teórica de Wagner. A
presença de Schneider nos textos de Wagner vai diminuindo na medida em que este se
aproxima mais da teoria da fractalidade e se distancia do culturalismo, embora não se
possa afirmar que é possível realizar uma divisão estanque de sua obra nesse sentido.
Vida e grafias - miolo.indd 112 3/9/15 7:38 PM
Imbricamentos entre etnografia e biografia
No dia seguinte, encontramo-nos às 11 horas no saguão do She-
raton, como combinado. Sem o chapéu, quase passei despercebida
na multidão de antropólogos, mas não tive dificuldade em localizar
Wagner. Pegamos uma xícara de café e nossa conversa tomou rumos
para mim inusitados. Minhas dúvidas intensas sobre como abordá-
-lo revelaram-se vãs. Ele se mostrava uma pessoa excepcionalmente
aberta e parecia interessado em conduzir os rumos da conversa.
Fascinada com a oportunidade, aquiesci. Wagner estava especial-
mente interessado em descobrir “que tipo de mulher eu era” a partir
da direção de meu vento (Castañeda, s.d.). Segundo ele, estava em
dúvida se meu vento era norte, “o vento frio que é como um escudo”,
ou oeste, vento poderoso e iluminador. Havia a possibilidade de ser
uma mistura dos dois. Mencionou também que seu vento era sudeste,
então era natural que alguém do Brasil se interessasse em estudá-lo.
Ficou claro para mim que a direção de meu vento seria determinante
para nossa interação: dela dependeria a classificação de minha perso-
nalidade e, consequentemente, suas expectativas a meu respeito. As
mulheres de vento sul não despertavam seu interesse. Com as de vento
leste tinha má experiência. Sua preferência era pelas mulheres de
vento oeste, mas também considerava as de vento norte interessantes –
muitas delas, inclusive, eram xamãs. Foi só quando nos reencontramos
no Rio de Janeiro, meses depois, em agosto de 2011, que ele afirmaria
com toda a certeza: “You are a north!”, o que não lhe desagradava.
Passado o choque inicial dessa primeira interação, a partir da
experiência de nossas conversas, comecei a revisitar seus textos ainda
durante o congresso e dei-me conta de que várias das passagens com
as quais eu havia tido dificuldade – o lugar que reserva a Castañeda
em A invenção da cultura e formulações como “o tecido da congru-
ência universal” (Wagner, 2011b, p.9–18) – tornavam-se mais claras
a partir da ideia de uma explicação holística ou mesmo mística. Esse
era, afinal, o tema sobre o qual nossas conversas invariavelmente
recaíam, ainda que eu lhe colocasse questões mais próximas do que
3 A oposição entre tonal e nagual é estruturante da leitura wagneriana da obra de
Castañeda (1974). O tonal seria uma atualização do nagual, que é o reino das possibili-
dades, aquilo que é totalmente imanente à existência (Wagner, 2010d, p.XII). O nagual
seria a totalidade do ser, obstruída pelo hábito humano de dividir as coisas em partes.
Wagner explica a diferença entre tonal e nagual de forma sintética na entrevista que
nos concedeu durante sua visita ao Brasil: “Eu acho que toda vez que um poeta faz
qualquer coisa ou um artista faz alguma coisa trata-se de nagual. É a diferenciação
do tonal. Há uma relação muito intricada entre saber algo e dizê-lo. Essas duas coisas
têm de se aproximar e isso é muito, muito importante. É disso que qualquer um que
pensa ou escreve sobre as coisas deve ter consciência. É necessário dizê-lo da maneira
certa, pois de outro modo não funciona. São esses os paradoxos de Zenão. Ele está
zombando da explicação. É isso que estamos tentando fazer ao dizer as coisas dessa
forma.” (Dulley, Ferrari, Marras, Pinheiro, Sztutman & Valentini, 2011, p.973)
Vida e grafias - miolo.indd 113 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
me acostumei, em virtude de minha formação, a considerar antro-
pologia. Não que Wagner não mencione o holismo explicitamente:
ele de fato o faz, mas eu até então entendia seu posicionamento
como mais próximo ao de Dumont, citado com certa frequência,
inclusive porque o conceito de ideologia está presente em muitos de
seus textos (por exemplo, Wagner, 1972). Rapidamente, ficava claro
para mim que o holismo de Wagner se aproxima muito da proposta
de Castañeda, para ele o grande inspirador de A invenção da cultura e
de sua antropologia como um todo.⁴ Para Wagner, Castañeda, tema
de muitas de nossas conversas, tem o grande mérito de transmitir de
forma clara em sua etnografia as potencialidades do mundo indígena
representado por don Juan. O mais importante, nos textos de Cas-
tañeda, não seriam suas análises, mas a descrição límpida que nos
oferece do universo indígena, convidando-nos a aprender com ele.
Esse seria, afinal, o intuito da antropologia: dar a conhecer o universo
nativo ao restante do Ocidente, que em sua perspectiva convencional
e generalizante teria se esquecido de prestar atenção à criatividade
nativa. Para além disso, Wagner aponta em alguns momentos seme-
lhanças entre sua própria etnografia entre os Daribi e a etnografia
de Castañeda – por exemplo, o “corpo luminoso” descrito por Cas-
tañeda e a ideia de “alma” dos Daribi (Wagner, 2010d, p.xii).
Wagner lamentava o fato de os americanos terem, em sua arro-
gância eurocêntrica, deixado de aprender muitas coisas com os índios.
O intuito da antropologia seria, como parte da contracultura, dar a co-
nhecer universos outros, colocando a possibilidade de transformação
da convenção ocidental a partir deles. Eis o argumento central de A
invenção da cultura, exposto de forma prosaica, articulado inclusive ao
sentido da antropologia para Wagner. O lugar do humor em sua obra,
tornado ainda mais explícito em Coyote anthropology (Wagner, 2010c),
guarda uma relação curiosa com essa proposta: por um lado, o humor
é um canal interessante para que o procedimento de obviação (o
“prever e descartar” de A invenção da cultura; a esse respeito, ver Dulley,
4 Wagner oferece, há cerca de trinta anos, um curso na Universidade de Virgínia no
qual lê com os alunos obras de Castañeda. Este, cujo reconhecimento como antropó-
logo por seus pares é ambíguo apesar de ter defendido seu doutorado em Antropologia
na Universidade da Califórnia (UCLA, 1973), publicou inúmeros livros com milhões
de exemplares vendidos, nos quais narra sua experiência de iniciação xamânica
por don Juan e don Genaro, “brujos” yaqui. Acusado de escrever obras ficcionais,
não etnográficas, de ter uma identidade obscura e de criar uma seita religiosa cujos
membros, em sua maioria mulheres, desapareceram após sua morte, Castañeda é uma
figura polêmica. Wagner, embora tenha se mostrado crítico da personalidade de Cas-
tañeda, afirma que o encanto de suas obras não está na visão do próprio autor, mas
em sua capacidade de mostrar ao leitor o conhecimento de don Juan e don Genaro de
forma clara e transformadora.
Vida e grafias - miolo.indd 114 3/9/15 7:38 PM
Imbricamentos entre etnografia e biografia
2011) possa operar, pois, se ele esconde ao mesmo tempo que revela,
permite com o deslocamento de perspectiva realizar uma torção na
visão de mundo convencional e movê-la em uma direção inesperada
– para Wagner, o humor ocupa, inclusive nas culturas generalizantes,
o lugar da criatividade que perpassa as culturas diferenciantes.
Seu recurso ao humor em Coyote anthropology segue essa mesma pro-
posta: segundo Wagner, essa foi sua maneira de apresentar para a
antropologia americana, avessa ao tipo de abordagem proposta por
Castañeda, uma outra maneira de fazer antropologia – obviando-a.
Nessa primeira conversa mais longa, Wagner estava especial-
mente interessado em explicar-me a relação de reversão figura-fundo
que existe entre nossa vida acordados e nossa vida em sonho.
Segundo ele, quando acordados, nós nos fixamos nas figuras que se
movimentam de forma destacada em relação ao contexto. No caso
do saguão do hotel, fixamos nossa atenção nas pessoas que circulam
e esquecemos um pouco do ambiente circundante. No sonho, essa
relação seria inversa: nossa atenção estaria mais voltada para o fundo,
carregado de intenções e energias, do que para as figuras. Segundo
Wagner, há uma relação entre o corpo acordado e o corpo sonhando
que é da ordem do duplo [twinning]. Acordados, aprendemos cogniti-
vamente a enxergar as pessoas destacadas de um fundo [first attention],
mas, quando dormirmos, é esse fundo que se manifesta [second at-
tention], fundo que percebemos em segundo plano quando estamos
acordados. Assim, para Wagner, o conceito de reversão figura-fundo
atribuído à simbolização melanésia guarda uma relação forte com as
descrições de Carlos Castañeda.
Essa foi mais uma reflexão sobre o cotidiano que iluminou instan-
taneamente aspectos herméticos de sua teoria. Com isso, não pretendo
afirmar que comentários desse tipo, feitos de forma espontânea, são
um guia para compreender a proposta do autor. Entretanto, é inegável
que, diversas vezes, momentos assim guiaram e/ou confirmaram
minha compreensão de muitos aspectos de sua obra. Consegui situar
várias passagens de seus textos, cujo significado me escapava por
completo ou causava muita perplexidade, a partir de nossa interação.
Talvez o exemplo mais significativo nesse sentido seja o lugar ocupado
por Castañeda em sua proposta de antropologia. Nesse primeiro en-
contro confirmou-se a ideia de que Wagner vê a antropologia como
uma forma de acessar por meio da experiência um conhecimento não
só sobre o homem, mas também sobre a relação deste com o universo
que o circunda e com o seu poder, entendido como a revelação do co-
nhecimento na forma da imagem – ecos, entre outros, de Symbols that
stand for themselves (Wagner, 1986a) e da influência dos escritos sobre o
ritual Ndembu de Turner (Wagner, 1983 e 1984).
Vida e grafias - miolo.indd 115 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
Contudo, por que Wagner, acostumado com a reticência da
academia americana ao tipo de antropologia que defende, teria
exposto para mim, aparentemente sem reservas, o que se esforçara
por obviar para a antropologia americana? Imagino que isso se deva
a suas expectativas a respeito da antropologia brasileira, conside-
rada pelo autor como muito mais interessante do que a americana,
porque investe na possibilidade de diálogo com conhecimentos não
ocidentais (Dulley, Ferrari, Marras, Pinheiro, Sztutman & Valentini,
2011). Aliás, é curioso que, nesse sentido, sua afirmação venha quase
sempre acompanhada de um elogio ao perspectivismo de Eduardo
Viveiros de Castro, segundo ele, um avanço em relação ao conceito
de cultura. Wagner vê no perspectivismo uma continuação sofisticada
de sua desconstrução do conceito de cultura em A invenção da cultura,
assim como uma continuidade etnográfica em relação à Melanésia.
Em alguns momentos de sua visita ao Brasil, Wagner chegou a propor
que o conceito de cultura fosse substituído pelo conceito de perspectiva.⁵
Provavelmente, foi essa simpatia pela antropologia praticada no país
de onde eu vinha que fez com que Wagner se mostrasse aberto a
conversar comigo logo de início sobre sua antropologia e, inclusive,
tecesse comentários sobre as dificuldades que encontrava em dialogar
com a academia americana a partir de sua prática antropológica.
A própria escolha da obra de Roy Wagner como meu objeto de
pesquisa deu-se em estreito diálogo com o contexto da antropologia
brasileira. Em 2007, enquanto redigia minha dissertação de mestrado
a respeito das traduções realizadas nas missões católicas no planalto
central angolano, julguei encontrar na que me fora apresentada como
a principal obra de Wagner, A invenção da cultura, uma alternativa para
a polarização que observava na antropologia brasileira. Pareceu-
-me que Wagner representava um meio-termo entre a posição que
preconizava o estudo das missões a partir da perspectiva do outro
e a posição que defendia a análise das relações de poder no âmbito
do colonialismo. Afinal, se em minha pesquisa esse contexto era
inescapável, ao olhar para as traduções como tentativas de estabele-
cimento de equivalências simbólicas, interessavam-me os universos
simbólicos e discursivos daqueles sujeitos em interação. Ora, nos
primeiros capítulos de A invenção da cultura, Wagner afirma que a
cultura é produzida na relação entre o antropólogo e o nativo; nos
capítulos seguintes, propõe olhar para a simbolização com base em
uma dialética entre convenção e invenção, um desenvolvimento pos-
5 Em “Anthropology is the ethnography of philosophy: philosophy is the ethnography
of itself ”, Wagner (2011c) parte do conceito de perspectiva em sua discussão sobre a
relação entre filosofia e antropologia.
Vida e grafias - miolo.indd 116 3/9/15 7:38 PM
Imbricamentos entre etnografia e biografia
sível da ideia de cultura como relação. Entretanto, A invenção da cultura
categoriza os modos de simbolização humanos como diferenciantes
ou generalizantes, a depender de qual polo da dialética é mascarado
na simbolização – o primeiro seria, grosso modo, o das “populações
tribais”; o segundo, o “ocidental”. O autor parecia, pois, oferecer uma
configuração sui generis para a questão que ele mesmo formulara, em
um de seus textos mais iluminadores, em termos da dialética entre
cultura e comunicação (Wagner, 1977). Em que medida essas pers-
pectivas de análise, colocadas no contexto da antropologia brasileira
como distintas, relacionam-se em sua obra é o que será discutido a
seguir.
Etnografia, diálogo e dialética
Minha hipótese é de que o trabalho teórico de Wagner mantém
uma relação dialética com sua pesquisa de campo na Papua-Nova
Guiné, da qual resultaram suas etnografias: The curse of Souw (1967),
Habu (1972), Lethal speech (1978) e Asiwinarong (1986b). A seguir, enfoco
a relação entre a sua proposição teórica em A invenção da cultura e em
“Scientific and indigenous papuan conceptualizations of the innate: a
semiotic critique of the ecological perspective” (Wagner, 1977), e seus
dois períodos de campo entre os Daribi na década de 1960.
A teoria proposta por Wagner apresenta uma forma particular de
tornar outros compreensíveis, ao mesmo tempo que considera a inte-
ração dialógica entre o antropólogo e sua cultura, por um lado, e os
nativos e sua cultura, por outro, como parte fundamental do processo
de invenção das culturas. O caráter inovador de sua abordagem em A
invenção da cultura e “Scientific and indigenous papuan conceptualiza-
tions of the innate: a semiotic critique of the ecological perspective”
parece estar relacionado à afirmação de que a cultura é inventada na
relação entre o antropólogo e o outro, ou seja, a cultura é produzida
na interação entre esses sujeitos oriundos de universos simbólicos
distintos. Daí resulta também a possibilidade da antropologia reversa,
processo de delineamento da cultura do antropólogo por parte do
nativo que coloca, inclusive, a possibilidade de desestabilização das
categorias e conceitos antropológicos, tomados por dados porque fun-
damentais para a visão de mundo do antropólogo (cito como exemplo
a equivalência estabelecida entre carga e cultura na Melanésia, como
discutido em Wagner, 2010b, p.67–72). Em An anthropology of the subject,
obra em que Wagner apresenta uma proposta de antropologia a
partir da perspectiva holográfica que afirma ter aprendido entre os
Barok, parecemos encontrar a definição mais explícita do que seria
essa reversibilidade:
Vida e grafias - miolo.indd 117 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
“Na missão mais insidiosa com a qual a possibilidade de uma an-
tropologia real, um estudo positivo e definitivo do conhecimento
humano sobre o humano, tem de se avir, o próprio meio pelo qual se
conhece já seria apropriado pelos povos estudados. Uma antropologia
do sujeito [de pesquisa; an anthropology of the subject].”
(Wagner, 2001a, p.xvii)
Aqui, a anthropology of the subject pretende ser tanto a antropologia do
sujeito no duplo sentido do termo (aquela que se faz sobre o sujeito e
aquela que o sujeito realiza) quanto a superação da dicotomia sujeito/
objeto (subject, em inglês, é tanto “sujeito” quanto “objeto de estudo”).
Assim, o objeto de estudo é um sujeito com capacidade de antropo-
logia reversa.
A descrição etnográfica não pode ser separada da experiência do
antropólogo em campo, o que é especialmente verdadeiro para a obra
de Roy Wagner, na qual a etnografia é considerada a descrição de
outra perspectiva por meio da perspectiva do próprio antropólogo. Na
obra de Wagner, parece haver uma relação dialética entre o diálogo
no nível da interação e a ideia de dialética no nível da teoria. Levando
isso em conta, pretendo compreender as relações que podem ser esta-
belecidas entre a experiência do autor durante seu trabalho de campo
e a teoria da cultura como resultante da interação elaborada (ou ama-
durecida, como somos levados a crer pela leitura de suas etnografias)
posteriormente. A hipótese de que, na obra de Wagner, haveria uma
relação dialética entre esses dois níveis baseia-se na defesa do autor da
dialética como modo de relação e também em sua afirmação de que
sua própria prosa teria sido afetada pelo estilo daribi de dialética:
“Fim do discurso sério. Início da dialética ao estilo daribi, a respeito
da importância da fala para propósitos políticos e ostensivamente es-
pirituais ou, em daribi, po begerama pusabo po, ‘a fala que se volta sobre
si mesma ao ser enunciada’. Isso soa familiar? Deveria soar; esse tipo
de fala é extremamente contagioso e seu autor parece ter pego uma
boa dose dela, que tem uma relação distante com a asma.”
(Wagner, 2008, p.77)
Embora The curse of Souw seja uma etnografia do parentesco daribi
(descrição de uma particularidade), compreendido como os “princí-
pios daribi de definição do clã e aliança”, de modo algum contém o
volume de informações do antropólogo sobre seu trabalho de campo
e suas interações geralmente encontrado em outras etnografias (a
profusão com que Wagner narra seus encontros etnográficos vai, do
ponto de vista cronológico, em um crescente em suas obras, passando
Vida e grafias - miolo.indd 118 3/9/15 7:38 PM
Imbricamentos entre etnografia e biografia
do quase silêncio à loquacidade). Trata-se, entretanto, de um livro
bastante denso, cuja principal inovação parece ser a tentativa de teo-
rizar sobre o parentesco daribi a partir de uma referência ao “sistema
social total visto à luz das categorias simbólicas nativas” (Wagner,
1967, p.xxvi). Embora o texto de The curse of Souw baseie-se em
muito trabalho de campo, este não é descrito de forma exaustiva.
Curiosamente, a experiência de campo de Wagner costuma aparecer
mais em seus textos mais teóricos, como no primeiro capítulo de A
invenção da cultura. No entanto, embora o trabalho de campo não seja
mencionado com muita frequência em The curse of Souw, ele contém
a marca da antropologia reversa: considerar o sistema social “à luz
das categorias simbólicas nativas” (Wagner, 1967, p.XXVI). O diálogo
no qual esse livro se baseia não pode ser acessado pelo leitor, mas já
é mencionado nas primeiras linhas da obra, pois considerar as “cate-
gorias simbólicas nativas” implica entrar em diálogo com os nativos
e compreendê-los, bem como sua cultura, em termos da cultura do
próprio antropólogo, e assim criar a própria cultura e a cultura dos
outros – como explicitado em A invenção da cultura.
Aliás, a própria forma de o autor apresentar seu processo de
concepção do livro é interessante: no prefácio, ele afirma que rea-
lizou sua pesquisa de campo entre novembro de 1963 e fevereiro de
1965, período em que as ideias “surgiram gradualmente durante o
trabalho de campo” (Wagner, 1967, p.x). Assim, a distinção clássica
estabelecida entre o trabalho de campo como um período de expe-
riência, durante o qual o antropólogo passaria por uma imersão na
outra cultura para apreendê-la, e a etnografia como um período de
organização dessa experiência, no qual o antropólogo a reordenaria,
não seria encontrada em The curse of Souw de forma estrita. De modo
distinto, Wagner afirma que seu período de campo já foi intelectual-
mente profícuo. Em outubro, de volta à situação de antropólogo no
processo de escrita de sua tese de doutorado por sete meses, as ideias
teriam tomado a forma que têm no livro, assim como durante um
surto de malária em dezembro de 1965 (provavelmente, a malária
também foi algo ele que trouxe do campo). Alguns meses depois, na
primavera e no verão de 1965, o autor afirmou ter revisado o livro
e redigido o texto apresentado ao leitor. O surto de malária como
arroubo criativo condiz, aliás, com seu elogio da criatividade e da não
racionalização, a despeito da forma clássica de apresentação de seu
argumento etnográfico. A ideia de que a concepção intelectual da
etnografia tem início juntamente com o trabalho de campo encontra
um paralelo no fato de o autor não conceber o processo de inventar
culturas como separado da relação que o antropólogo mantém com
os nativos e sua cultura.
Vida e grafias - miolo.indd 119 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
Como ocorre com muitos antropólogos, Wagner teve alguns in-
formantes privilegiados. Com exceção de Schneider, orientador da
tese, seus agradecimentos mais efusivos dirigem-se a Kagoiano, cuja
foto estampa o frontispício do livro: “Kagoiano de Kurube ajudou-me
como informante, analista, companheiro e confidente em tal medida
que qualquer agradecimento seria insuficiente.” (Wagner, 1967, p.x)
O cozinheiro também é apresentado como um amigo. Embora a
colaboração de Kagoiano apareça já em sua primeira obra, nela essa
relação se restringe ao prefácio, onde ele aparece ao mesmo tempo
como amigo, informante e analista. Entre os Daribi, Yapenugiai,
parente de Kagoiano, também é apontado por Wagner como infor-
mante privilegiado e amigo. Em Habu, são inúmeras as menções às
interpretações de ambos no que diz respeito aos mitos e rituais daribi
(por exemplo, em Wagner, 1972, p.69–73). Ambos eram especialmente
propícios para servir como informantes porque eram reconhecidos
como “bons sonhadores” entre os Daribi, e muito da interpretação
estaria, entre os Daribi, relacionada aos sonhos (Wagner, 1972, p.79).
Entre os Barok, Wagner afirma ter tido a oportunidade de aprofundar
algumas questões com as quais se deparou na análise que originou o
livro Asiwinarong, a partir da “confirmação ponto por ponto” obtida
junto a um orong da aldeia de Bakan, “mr Tadi Gar”, com relação à
negação dos significados sociais na kaba e também ao modelo de festi-
vidades “abertas” e “fechadas” (Wagner, 1986b, p.xxii). Portanto, é
a confirmação nativa que serve de caução última à sua análise, prin-
cipalmente a dos informantes mais velhos (por exemplo, em Wagner,
1986b, p.38–42). Contudo, Wagner defende uma posição um tanto
distinta em um texto posterior, no qual afirma que se equivocou ao
buscar a validação de suas análises na confirmação nativa:
“Mas ao buscar algum tipo de aprovação para minhas ideias, passei
ao largo do mais importante. Eles não estavam interessados em meus
pensamentos, mas em minhas palavras; não estavam tão impressio-
nados com o que eu havia sido capaz de compreender quanto com
o que eu havia sido capaz de pôr em palavras – uma habilidade cor-
poral notavelmente gratuita, como andar de monociclo.”
(Wagner, 1991b, p.44)
A partir de Habu, as menções explícitas às interpretações nativas
abundam em seus textos. Assim, diferentemente do que afirma Sch-
neider em seu prefácio, não há separação estrita entre o modelo – que
seria, para ele, produzido pelo antropólogo – e o trabalho de campo,
pois um dos nativos é retratado como analista assim como o antro-
pólogo e, se participou da análise, isso ocorreu durante o período de
Vida e grafias - miolo.indd 120 3/9/15 7:38 PM
Imbricamentos entre etnografia e biografia
campo de Wagner. Ao longo da pesquisa de campo, o diálogo conduz
à dialética entre culturas que, segundo o desenvolvimento da questão
pelo autor em A invenção da cultura, deveria caracterizar a etnografia.
Como ficará mais claro a seguir, para Wagner, a etnografia pode ser
compreendida como um epifenômeno do diálogo que, para ocorrer
entre sujeitos oriundos de culturas distintas, deve recorrer à analogia:
“Os termos relativos do pesquisador de campo em condições normais
são de deslocamento e confusão mental: a diferenciação já foi
realizada e o outro quase não é necessário para que ela ocorra. O an-
tropólogo é alguém de fora que se encontra entre pessoas de dentro,
um diferencial, não simplesmente de cultura ou de condição, mas
de condição cultural. Então, o que acontece é que se estabelecem
analogias que escondem a ausência por trás da presença, ocultam a
diferença com a semelhança.”
(Wagner, 1991b, p.42)
Entretanto, ainda que o autor afirme acima que o outro não é tão ne-
cessário assim para que a diferenciação tenha lugar, em “The talk of
Koriki: a Daribi contact cult” (1979), Wagner afirma que conceitos
como cultura, parentesco, papel [role] e sociedade tornam-se “epifenômenos
negociáveis de diálogos construtivos ou inventivos. A fatualidade e a
objetividade tornam-se inerentes aos atos criativos de expressão, co-
municação e percepção, e não a objetos de crença, a frágeis quadros
ou taxonomias culturais.” (Wagner, 1979, p.140) Assim, os conceitos
são epifenômenos do diálogo e é esse diálogo que é construtivo ou
inventivo. Entretanto, se os conceitos devem ser considerados epife-
nômenos do diálogo, existe uma relação intrínseca entre ambos na
qual os primeiros devem resultar do último. Os conceitos devem ser,
em última instância, dialógicos. E conceito é, portanto, para Wagner,
o que surge da interação dialógica e se torna visível na etnografia e na
teoria.
Contudo, pode-se argumentar – e Wagner o reconhece – que os
antropólogos não vão a campo destituídos de vieses, resultantes tanto
de sua cultura quanto de sua disciplina. Não retomarei o argumento
desenvolvido acima. Gostaria apenas de apontar que há aqui um
paradoxo produtivo no que diz respeito à relação entre trabalho de
campo e teoria, por um lado, e entre o que o autor considera fenome-
nologia e dialética, por outro. Se, na consideração dos conceitos como
epifenômenos do diálogo, o diálogo parece ser a fonte da qual se originam
os conceitos, a ideia de dialética proposta em A invenção da cultura
indica que deveria haver uma relação de retroalimentação entre
teoria e experiência. Assim, a afirmação de Wagner de que as ideias
Vida e grafias - miolo.indd 121 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
apresentadas surgiram gradualmente no decorrer de sua pesquisa de
campo aponta para sua compreensão como um epifenômeno de seu
diálogo com os Daribi. A isso se seguiu o surto de malária e, se existe
algo que ultrapasse as fronteiras do que é artificial e do que é inato,
como discutido em A invenção da cultura, um surto de malária no qual
se está consciente até certo ponto poderia certamente ser o catalisador
de uma manifestação de conceitos como epifenômenos. Há também,
é claro, o outro lado da dialética, que é o da reorganização do texto e
das ideias pelo autor após recuperar-se do surto.
Perspectiva e gesto êmico
Asiwinarong (1986b) é uma etnografia baseada no campo de Wagner
entre os Usen Barok, de julho de 1979 a março de 1980, bem como
em um retorno a campo entre junho e julho de 1983, durante o qual o
diálogo com os Barok ajudou-o a confirmar muitas de suas afirmações
a respeito deles (Wagner, 1986b, p.xxii). Seguindo as proposições do
autor sobre a dialética entre cultura (a descrição da perspectiva do
outro) e comunicação (a relação entre a perspectiva do antropólogo e
a perspectiva do outro, que se reflete na etnografia como uma relação
entre o diálogo no nível da experiência e a dialética no nível da teoria)
bem como o paradoxo da unidade e da relação discutido em “Scien-
tific and indigenous papuan conceptualizations of the innate: a
semiotic critique of the ecological perspective”, podemos afirmar que
Asiwinarong seria uma tentativa prática de lidar com esses paradoxos,
de negociá-los. Certamente, essa tentativa se transformará em algo
distinto vários anos depois, com An anthropology of the subject e Coyote
anthropology, em que as ideias de holografia, fractalidade e obviação
proporão um caminho para além do paradoxo – por meio da sub-
missão da ciência à perspectiva nativa, e não o contrário. Contudo,
o que permanece de comum entre essas duas atitudes em relação à
cultura e à comunicação – a do paradoxo e a da fractalidade (talvez
se pudesse falar então em uma dialética entre comunicação e perspec-
tiva) – é o gesto êmico, que em Wagner nos convida a considerar as
coisas a partir da perspectiva da alteridade. Esse gesto permanece um
(talvez o) aspecto fundante da obra de Wagner desde The curse of Souw
até suas obras mais recentes.
Parece-me que o que permite a manutenção do gesto êmico –
preocupação cara à antropologia que consiste em circunscrever a
diferença pela via da alteridade – é o recurso a uma objetificação que
pretende prescindir da racionalização por meio do “não fazer” de
Castañeda (Wagner, 2010c, p.99 e p.143). Isso permitiria ao antropó-
logo abandonar-se à perspectiva do outro para, então, relacioná-la à
Vida e grafias - miolo.indd 122 3/9/15 7:38 PM
Imbricamentos entre etnografia e biografia
sua própria (não é à toa que o surto de malária figura no prefácio a
The curse of Souw, portanto). Momentos como esses vêm por vezes à su-
perfície de sua etnografia e parece que a atenção dos Barok à imagem
foi um catalisador poderoso nesse sentido. Acompanhemos o que diz
Wagner em Asiwinarong:
“A imagem, como meio de interpretar a ação, o Poder, ou a efetivi-
dade, é profundamente distinta da explicação verbal: a fala, dizem os
Barok, não vale nada. Uma imagem pode e deve ser testemunhada
ou experienciada, em vez de meramente descrita ou resumida verbal-
mente … A imagem, é claro, pode ser verbal – um tropo ou metáfora
– mas ela reterá, então, a intransigência peculiar da metáfora à
glosa.”
(Wagner, 1986b, p.xiv)
Assim, pode-se dizer que os Barok concordariam com a posição de
Wagner a respeito da experiência e da imagem, a qual surgiu após sua
procura – em vão – por uma glosa universalmente aceita:
“Nenhuma dessas glosas é universalmente aceita – mas, afinal,
nenhuma delas tem de sê-lo. A imagem apresentada na metáfora
contém ou elicia todas elas e tudo o que é necessário para reter a
própria imagem. Um antropólogo determinado a encontrar a verda-
deira glosa ficaria extremamente frustrado, pois a convenção cultural
existe no nível da imagem, não no nível de sua glosa verbalizada.”
(Wagner, 1986b, p.xv)
Aqui, a convenção é a imagem, não sua glosa. A imagem mantém
uma relação fractal com suas eliciações. Pode-se notar, portanto, que
a teoria sobre a fractalidade, que se tornará mais explícita no artigo
“A pessoa fractal” (Wagner, 1991a), já está presente aqui, ainda que
não desenvolvida de forma explícita. Isso também é verdadeiro para
a teoria wagneriana da metáfora e da imagem em Symbols that stand for
themselves, publicada na mesma época (1986a). O lugar da imagem na
teoria de Wagner parece ser o resultado de sua experiência etnográ-
fica, ou seja, da comunicação entre perspectivas que resulta em uma
nova perspectiva, amalgamada.
Embora as etnografias entre os Daribi e os Barok partam da
premissa de que são o resultado de um paradoxo desse tipo (e a dialé-
tica requeira ambos os polos para permanecer dialética), parece-me
que na etnografia entre os Daribi o polo da cultura engloba o polo
da comunicação, ao passo que a etnografia posterior entre os Barok
revela mais sobre a comunicação entre o antropólogo e seus infor-
Vida e grafias - miolo.indd 123 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
mantes, ainda que os polos da dialética sejam mantidos espacialmente
separados: a não ser por algumas poucas exceções, há muito mais co-
municação nos primeiros capítulos de Asiwinarong e muito mais cultura
nos seguintes (padrão que se repete, aliás, em A invenção da cultura, que
dedica, grosso modo, os dois primeiros capítulos à comunicação e os
quatro últimos à cultura).
Contudo, na etnografia entre os Barok, a comunicação se faz
presente mesmo quando o foco está na cultura. Os resultados do
“contato” aparecem lá e cá: uma oração cristã é inserida em meio ao
ritual barok da kaba, a festa ritual retratada por Wagner como central
à cultura barok; as moedas ocidental e barok se amalgamam etc.
Ademais, a experiência do autor entre os Barok parece ter, de certa
forma, modificado a dialética entre convenção e invenção desenvol-
vida em A invenção da cultura, pois os Barok pareciam ter muito mais
obsessão com a convenção do que os outros melanésios entre os quais
Wagner havia feito seu primeiro trabalho de campo. Os Barok são,
de acordo com Wagner, orientados pela tentativa de eliciar um ethos
que é um ideal de comportamento. Assim, o que poderia ser compre-
endido como sua prática inventiva ou diferenciação é realizado em
referência explícita a um “ideal bastante autoconsciente ou padrão de
comportamento e relação interpessoal” (Wagner, 1986b, p.45). Desse
modo, o que é conscientemente destacado aqui é a convenção, ao
passo que a invenção comparece como um subproduto inconsciente.
Mas a forma pela qual se chega à convenção, entre os Barok, é a
improvisação. Embora a comparação entre as duas experiências etno-
gráficas não seja explicitada textualmente por Wagner,⁶ as mudanças
em sua abordagem em An anthropology of the subject (2001a) parecem in-
dicá-lo: nessa obra, o divisor entre as sociedades tribais diferenciantes
e as sociedades ocidentais convencionalizantes parece ter dado lugar
a um jogo de perspectivas que não se guia tanto por polos em inte-
ração, mas por perspectivas em eliciação – o mundo melanésio é, para
Wagner, conhecível através de seu “coming into appearance”, ou seja, de
sua presentificação na forma de imagem⁷ (Wagner, 2001b).
Outro conceito afetado pela experiência de campo parece ser o
6 Ainda que o autor tenha concordado com minha hipótese quando eu a apresentei a
ele, que leu uma versão preliminar deste texto, apresentado no encontro da American
Anthropological Association em Montreal em novembro de 2011.
7 Essa distinção entre o que existe como potência e o que é dado a aparecer de fato
ganha força em sua obra mais recente e aproxima o autor, de certa forma, da feno-
menologia. O próprio Wagner não discordou dessa minha observação, mas colocou
a ressalva de que a fenomenologia deveria ter prestado mais atenção à etnografia. A
observação a seguir o confirma: “É como se as características íntimas da localidade
formassem uma espécie de prisma por meio do qual os fatos globais da existência po-
deriam ser descritos.” (Wagner, 2001b)
Vida e grafias - miolo.indd 124 3/9/15 7:38 PM
Imbricamentos entre etnografia e biografia
de obviação. Embora já esteja presente em trabalhos anteriores, como
Lethal Speech, ele continua a ser desenvolvido em Asiwinarong e, poste-
riormente, em Coyote anthropology, onde é aplicado à análise de Hamlet,
de Shakespeare. Wagner bebe na ideia batesoniana da “mordida que
não é uma mordida”, ela mesma produto de um encontro melanésio:
“… cada tentativa de desafiar ou colocar em risco uma relação …
leva a sua renegociação, e os meios normativos de eliciação, bem
como os tabus e as restrições impostos aos protocolos de parentesco,
são as técnicas por meio das quais essa renegociação é realizada.”
(Wagner, 1986b, p.53)
Certamente, isso se aplica à interação do antropólogo em campo,
como nos mostra a história de Erika. O autor nos relata que seus
filhos, Jonathan, de 6 anos, e Erika, de 9 anos, acompanharam-no
em seu primeiro período de campo entre os Barok, mas não estavam
acostumados ao tipo de interação à qual as crianças da aldeia os sub-
metiam: elas transmitiam aos filhos de Roy a mensagem batesoniana
de que “isso é um jogo”, cutucando-lhes as costelas ou dando-lhes
uma palmada. Jonathan e Erika ofendiam-se, ao passo que as crianças
barok reagiam apenas direcionando uma olhadela de reconhecimento
ao companheiro de brincadeira. Roy procurou explicar a situação
a seus filhos, aparentemente sem resultado. As crianças insistiam na
provocação e pareciam divertir-se com a reação que ela produzia.
Isso continuou durante algum tempo, até que um dia, de forma ines-
perada, quando Erika se dirigia à cozinha para tomar seu café da
manhã, uma mulher pertencente à metade oposta despejou uma
bacia cheia de água sobre sua cabeça.⁸ Erika permaneceu imóvel, à
espera da segunda bacia de água. Após ser encharcada pela segunda
vez, olhou para a mulher e sorriu. Quando seu pai lhe perguntou pos-
teriormente por que reagira daquela forma, Erika replicou: “Porque
eu queria que eles sentissem vergonha do que fizeram.” A conclusão
de Wagner é de que “ela havia aprendido a ética do malum da única
forma que se pode, de fato, aprendê-la”, ou seja, através da experi-
ência (Wagner, 1986b, p.78).
Nessa descrição de uma situação de campo, a abordagem expe-
riencial é oposta à abordagem racionalista. Ao mesmo tempo que
há um reconhecimento da diferença, não há uma preocupação em
retratar os outros (e a si mesmo) por meio de uma censura da racio-
nalidade. Aqui, há praticamente uma fusão com a diferença. E alguns
8 Os Barok dividem-se em metades opostas e complementares, formação social comu-
mente encontrada na Melanésia.
Vida e grafias - miolo.indd 125 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
dos conceitos cunhados pelo autor, como “obviação”, “fractalidade”
e “eliciação”, resultam de um amálgama desse tipo. Não é à toa que,
na Melanésia, a eliciação é o meio de operação do estranho [das Unhei-
mliche; the uncanny], no sentido freudiano:
“Ao mesmo tempo singular e plural, desencarnado e manifesto em
muitas formas mutantes, como um santo em seus milagres, um tadak
[glosado por Wagner como o espírito de um clã] é uma concepção
melanésia notável. De um ponto de vista puramente etnográfico, ele
pode ser visto como um repositório, via uma noção de poder unifica-
dora da forma, da variedade assombrosa de aparições locais, formas
curiosas e monstruosas de vida e paisagem, e por vezes mistérios bas-
tante desestabilizadores encontrados por toda parte na Nova Guiné.”
(Wagner, 1986b, p.113)
Aqui, a etnografia é uma forma de abordar um mistério que pode ser
glosado – ainda que isso não seja suficiente – como o mistério do sig-
nificante flutuante [the floating signifier].
Imagem, eliciação e poder
“Figure ground reversal among the Barok” é um texto de 1987, por-
tanto, posterior à obra wagneriana mais conhecida no Brasil, A
invenção da cultura, cuja primeira edição data de 1975. Esta, concebida
pelo próprio autor como ponto médio entre suas etnografias Habu
(1972) e Lethal speech (1978), baseia-se principalmente na primeira expe-
riência de campo de Wagner, entre os Daribi da Papua Nova Guiné.
Pode-se dizer, até certo ponto, que “Figure ground reversal amon the
Barok” foi escrito em um segundo momento da obra do autor, após
o campo entre os Barok da Nova Irlanda, que afetou todo seu arca-
bouço conceitual e acabou por deslocar suas discussões da década de
1970 para a questão da holografia e fractalidade, e, posteriormente,
da automodelagem, tema recorrente em seus últimos trabalhos (por
exemplo, em Wagner, 2012).
O gesto êmico sustenta a reflexão antropológica de Wagner desde
The curse of Souw, de 1967, passando por toda a etnografia daribi e
assumindo estatuto epistemológico em A invenção da cultura, de 1975.
Esse gesto ganha ainda mais força no segundo momento da obra wag-
neriana, que bebe na simbolização da diferença para articular seus
conceitos e traz uma inovação para a disciplina, na medida em que o
autor assume explicitamente o gesto êmico, trazendo para seu arca-
bouço conceitual, desenvolvido para dar conta do outro, conceitos e
categorias desse outro. Wagner chama a atenção para esse processo
Vida e grafias - miolo.indd 126 3/9/15 7:38 PM
Imbricamentos entre etnografia e biografia
de incorporação conceitual e conduz o leitor a acompanhar a mode-
lagem por meio da qual os conceitos antropológicos fundem-se aos
conceitos nativos e dão origem a um novo arcabouço conceitual em
sua análise.
Entre os conceitos cunhados pelo autor para dar conta do que
compreende como alteridade, ao menos dois são assumidamente
fruto de sua interação em campo: a obviação, que Wagner afirma ter
aprendido com os Daribi, e a holografia, vislumbrada entre os Barok.
Na entrevista que Wagner nos concedeu, colocou a obviação nos se-
guintes termos:
“Eu escrevi muito sobre a obviação como método e mostrei como ela
é uma espécie de consumação da noção hegeliana de dialética que
termina em síntese. A diferença é que com a obviação obtém-se uma
síntese e então uma antissíntese, o que espelha a configuração ori-
ginal da dialética, a qual opunha uma antítese a uma tese. É essa a
inovação que Hegel apresentou em relação à dialética grega clássica,
tradicional, que era composta apenas de tese, antítese, tese, antítese…
Ele acrescentou a ela a síntese, o terceiro ponto. Ora, o terceiro ponto
é o ponto de definição e consumação onde o dois – a dualidade –
chega ao fim. O que a obviação faz é acrescentar um quarto elemento
que inverte o primeiro, um quinto que inverte o segundo e um sexto
que inverte o terceiro … Em outras palavras, acho que Hegel não foi
suficientemente longe com a dialética. Ele não montou a dialética
com base em sua própria lógica, que é o que a obviação faz. É assim
que eu defenderia a obviação em termos hegelianos. Eu não sou he-
geliano. Acho que Hegel não entendeu a dialética porque pensou que
sua descoberta traria o fim da história. Mas não. Karl Marx envolveu-
-se com a questão e deu início a uma outra história, pois Marx virou
a dialética de ponta-cabeça. Eu não sou marxista nem tampouco sou
hegeliano. A obviação é o estado natural de um símbolo. Ela é o que
o símbolo é. Define a condição do simbolismo. Deixe-me explicar
isso de forma um pouco diferente. Todos os símbolos perdem carac-
terísticas, simplificam-se ao longo do tempo. Acho que isso é o que
há de genérico em todo simbolismo, inclusive no mito: ele obvia. Ele
se torna uma espécie de negação de si mesmo e então uma transcen-
dência de si mesmo, que é o que se chama de sublação e o que Hegel
chamou de aufhebung. Assim, para Hegel, o resultado final da obviação
seria uma espécie de sublimação transformada em um domínio de ex-
periência diferente, uma dimensão diferente, se preferirem. Não gosto
de usar a palavra ‘dimensão’, mas dimensão de experiência. Assim, a
obviação é a versão sequencial da metáfora. O que é uma metáfora
estendida? Pegue uma metáfora, faça uma metáfora dessa metáfora,
Vida e grafias - miolo.indd 127 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
faça uma metáfora dessa metáfora e assim por diante. Até onde se
chega? O resultado é uma obviação do início. A forma como os seres
humanos formam sentidos é, basicamente, através de metáforas. As
metáforas são os sentidos que Don Juan chamaria de não fazeres da
linguagem. O que é expresso na metáfora não pode ser definido, não
pode ser afirmado, pois ela é nagual. Como no verso que escrevi:
‘No metaphor is what it thinks you are, but that it take your word as happens-
tance.’ [Nenhuma metáfora é o que ela pensa que você é, mas toma
sua palavra como acaso.] Isso significa, literalmente, que as metáforas
podem pensar. Trata-se de um deslocamento sujeito-objeto.”
(Dulley, Ferrari, Marras, Pinheiro, Sztutman & Valentini, 2011, p.974–
975; ver também Dulley, 2011)
Wagner também atribui sua concepção de dialética aos Daribi
(Wagner, 2008), embora não exclusivamente. Já é conhecida dos lei-
tores brasileiros a discussão de Wagner, em A invenção da cultura e
“Scientific and indigenous papuan conceptualizations of the innate:
a semiotic critique of the ecological perspective”, sobre a dialética
entre convenção e invenção no processo de comunicação do antropó-
logo e seus “outros” em campo. Mas se Wagner chegou a essa reflexão
com base em sua experiência etnográfica entre os Daribi, é após seu
campo entre os Barok que as influências dos “outros” em sua obra se
tornam mais explícitas. Vejamos como isso ocorre em “Figure ground
reversal among the Barok”, sobre o qual se poderia dizer, em termos
wagnerianos, ser uma instanciação etnográfica da segunda fase da
apropriação conceitual wagneriana da simbolização melanésia.
Nesse texto, Wagner fornece-nos uma narrativa etnográfica do
conceito de reversão figura-fundo e talvez de sua própria gênese. O texto
começa com uma indagação sobre a relação entre “a forma e o ser
de uma cultura humana” (no caso, a dos Barok) e a arte, o “pensar e
sentir em imagens” (Wagner, 1987, p.56). Segundo Wagner, a cultura
dos Barok Usen, povo da Nova Irlanda entre os quais fez campo em
1979, 1980 e 1983, gira em torno do “pensar e sentir em imagens”, o
que inclui as imagens verbais, os tropos. Trata-se, pois, da imagem
lato sensu, que engloba expressões musicais, fenômenos arquitetônicos,
a própria linguagem – uma sinestesia. O texto traz uma ideia turne-
riana, central também a Symbols that stand for themselves (1986a): a de que
a imagem “condensa domínios completos de ideias e interpretações
possíveis, e permite que relações complexas sejam percebidas e com-
preendidas num instante” (Wagner, 1987, p.56) – ou seja, nenhuma
imagem pode ser esgotada por glosa alguma.
Exemplo etnográfico disso é a expressão “a bung marapun”,
glosada por Wagner (1987) a partir de seu diálogo com os Barok como
Vida e grafias - miolo.indd 128 3/9/15 7:38 PM
Imbricamentos entre etnografia e biografia
“agrupamento no olho do pássaro”. Sua discussão das diferentes
interpretações barok da expressão mostra, entretanto, que não há
consenso sobre seu significado. Antes, a imagem permite o convívio
de significados tão ambíguos quanto complementares: somente a
imagem é exata – suas interpretações são sempre parciais e incertas.
A imagem tem o poder de realizar algo muito caro a Wagner: o ato de
eliciação. Afinal, se a imagem contém todos os significados e nenhum
significado tem a capacidade de dar conta dela integralmente, pode-se
dizer que um significado será tão mais completo quanto mais se apro-
ximar da imagem, pois a imagem, em seu poder de síntese, prolifera
as interpretações. A imagem é a origem à qual todos os significados
desejam igualar-se, pois contém todos eles.
É por isso que Wagner pode afirmar que a cultura barok “trans-
forma o poder sintetizante de suas imagens coletivas no poder da
própria cultura” (Wagner, 1987, p.57). Assim, a cultura barok é regida
por imagens que sintetizam seu poder e é através dessas imagens que
sua continuidade tem lugar. Em Wagner, o poder continua sendo uma
busca pela semelhança absoluta com a própria imagem, que permi-
tiria adquirir controle sobre as transformações de si, sendo o ser, aqui,
uma imagem – as (trans)formações imagéticas ou, segundo os Barok, a
lolos. Seu questionamento da teoria da representação se dá, portanto,
não pela via do discurso ou da mimese, mas pela via da automode-
lagem, que permite ao ser igualar-se a si mesmo. É essa, afinal, sua
utopia.
O a lolos, entre os Barok, é identificado em sua forma mais espon-
tânea aos a tadak, lugares-espíritos que mudam de forma conforme
a necessidade. A essência dos a tadak não é uma forma específica,
mas sua capacidade de mudar de forma e, correspondentemente, de
nome:
“Um tadak é uma forma de poder (a lolos); ele é conhecido ou expe-
rienciado por meio de várias manifestações, sendo as mais comuns
ou convencionais reconhecidas e nomeadas caso a caso, assim como
o próprio tadak é, de fato, frequentemente identificado pelo nome
de suas manifestações mais conhecidas. Mas isso não significa que
alguma dessas manifestações reconhecidas ou nomeadas seja o
próprio tadak, pois a capacidade de transformação do tadak é in-
trínseca a seu poder e a seu ser. A mudança de aparência (pire wuo)
coincide com o poder que é o tadak, assim como ocorre com a capaci-
dade de regeneração ou a imortalidade.”
(Wagner, 1986b, p.99–100)
Desse modo, o poder supremo é poder de transformação e se dá
Vida e grafias - miolo.indd 129 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
através da imagem. Entretanto, embora suas manifestações mais con-
vencionalizadas tenham um nome fixo, existe uma diferença entre o
tadak e suas manifestações que é a diferença existente entre potência
e atualização. O tadak manifesto contém o poder do tadak enquanto
potência, mas não o esgota. Há, então, algo de fantasmagórico na apa-
rição [pire wuo] do tadak, na medida em que ela remete a uma potência
avassaladora mas não a contém. Os tadak são ciumentos e caprichosos:
engolem suas vítimas – no caso, os membros do clã ao qual per-
tencem (ou que lhes pertence) – e obrigam-nas a seguirem suas ordens.
Os tadak são, ainda, considerados a origem de várias anomalias de
ordem natural. O poder supremo de transformação da imagem não é,
portanto, mera positividade: o poder do a lolos é uma força cujas trans-
formações imagéticas podem ser tão positivas quanto negativas; ele é
responsável tanto pela criatividade artística quanto pelas anomalias
do mundo natural. Na tradição ocidental, esse lugar de contraposição
à convenção é, para Wagner, reservado a grandes artistas como Rilke,
Shakespeare, Michelangelo etc. Esses se aproximam, em sua impre-
visibilidade e criatividade artística, das transformações imagéticas da
cultura barok. E, se entre os ocidentais a criatividade é o polo masca-
rado da dialética, entre os Barok ela é o que há de mais consciente.
O trecho abaixo é muito revelador tanto do lugar ocupado pela
analogia na teoria wagneriana dos símbolos quanto da crítica a Lévi-
-Strauss e à sua adesão à homologia em detrimento da analogia, que
faz com que Wagner classifique sua abordagem, em diversos mo-
mentos, como nominalista:
“É difícil determinar se a noção antropológica tradicional de
‘totemismo’ se aplica aqui, particularmente porque os tadak são in-
corpóreos e identificam-se com múltiplos ‘marcadores’ na forma de
masoso [glosados por Wagner como ‘espíritos’, spirits]. Em sua crítica
exaustiva, delineada em seus livros Totemismo e O pensamento selvagem,
Lévi-Strauss talvez tenha descartado amplamente a significância das
conexões analógicas entre os componentes de ‘marcação’ humanos e
totêmicos, e resolvido o ‘totemismo’ como pura designação, na qual as
diferenças entre um conjunto de marcadores mantém uma correspon-
dência homóloga com as diferenças entre um conjunto de unidades
humanas. Embora o tadak usen assuma uma variedade de formas
(pitão, ser humano e tubarão sendo as mais prevalentes) e tenha, além
disso, vastos campos de masoso, a maior parte dessas formas é, ela
mesma, nomeada; e os tadak também são associados a um nome e a
uma localidade ‘geral’ convencionalizados de modo que não haja di-
ficuldade em acomodá-los à noção lévi-straussiana de ‘denominação’.
Um bung marapun [clã] é designado, nesses termos, pelo nome e pela
Vida e grafias - miolo.indd 130 3/9/15 7:38 PM
Imbricamentos entre etnografia e biografia
forma mais convencional, ou masoso, de seu tadak, e talvez por seu goron
tadak mais distintivo.”
(Wagner, 1986b, p.109–110)
Lévi-Strauss é criticado por Wagner por olhar para o totemismo em
termos de designações homólogas, e não em termos de analogia.
O estabelecimento de homologias entre a ordem da designação e a
ordem das coisas é o que Wagner chama de “nominalismo”, o que
considera problemático por se perder o vínculo com as coisas, na
medida em que o estabelecimento de uma relação de homologia entre
os nomes e as coisas opõe a ordem dos nomes à ordem das coisas:
“Há duas formas de conceber os nomes como símbolos. Podemos
considerá-los como ‘codificações’, ou pontos de referência, que me-
ramente representam as coisas nomeadas, ou então em termos da
relação entre o símbolo e a coisa simbolizada. No primeiro exemplo, a
nomeação torna-se uma questão de contrastes e agrupamentos entre
os próprios nomes: utiliza-se um microcosmo de símbolos para codi-
ficar ou representar o mundo de referência. O mundo dos fenômenos
é autoevidente e está à parte. No segundo exemplo, a nomeação
torna-se uma questão de analogia: símbolo e simbolizado pertencem
a uma única relação, uma construção no interior de um mundo mais
amplo, ou macrocosmo.”
(Wagner, 1986b, p.14)
A analogia, por sua vez, permitiria estabelecer um vínculo entre os
dois domínios, como fica claro também na passagem abaixo:
“Um tadak também pode ser ‘destotalizado’, de maneira um pouco
mais regular, em masoso que designem os membros individuais do clã.
Está claro que, em todos esses aspectos, o tadak satisfaz o conceito de
denominação promovido por Lévi-Strauss e eu não tenho dúvidas de
que ele por vezes opera dessa forma. Por outro lado, o conceito de tadak
também é muito mais rico do que só a denominação exige; a noção de
uma relação de identidade entre o humano e o tadak é uma questão de
analogia (como a relação de parentesco eliciada pelas relações de joco-
sidade ou respeito), não de homologia – ela abre um espaço conceitual
e comportamental entre o designador e o designado.”
(Wagner, 1986b, p.110)
Wagner não considera a homologia inadequada, mas redutora.
Deseja substituir a homologia pela analogia, porque são dois tipos de
metáfora distintos. Mas por que Wagner afirma que a analogia abre
Vida e grafias - miolo.indd 131 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
um espaço entre o designador e o designado, ao passo que a homo-
logia não o faz? Isso se deve ao fato de a homologia não pensar tanto
em termos de coisas, mas em paralelos entre formas de nomeação
– as classificações lévi-straussianas. Já a analogia pensa em termos
da relação que se estabelece entre a pessoa e o tadak. Para Wagner, o
nome estabelece uma relação entre coisas que são “too definite for words”
e isso se dá por meio da metáfora autocontida, que nenhuma glosa
pode esgotar (Wagner, 1986b). Ele quebra a correspondência entre os
elementos colocada pela homologia:
“No limite não conhecível ou previsível, o tadak como poder, origem
ou base para a identidade é analógico, uma metáfora não glosada e
não glosável. Como as relações de parentesco, ele é eliciado e não afir-
mado. E, ao passo que a essência não glosável da relação ou do tadak
dificilmente é uma prova contra tentativas de delimitá-los, circuns-
crevê-los ou controlá-los, todos sabem o que acontece com a pessoa
que revela sua relação e comunicação com seu tadak: ela o perde.”
(Wagner, 1986b, p.120)
Desse modo, a analogia tem uma relação íntima com o poder, tanto
entre os Barok descritos por Wagner quanto em sua própria teoria.
Segundo Wagner (1987), há entre os Barok o poder em potência – a
lolos – e o poder manifesto – iri lolos –, atualização ou instanciação da
possibilidade de poder barok. No cotidiano, uma das formas mais
importantes de incorporação desse poder em sua forma acabada é o
kastam barok, palavra derivada, no pidgin,⁸ do inglês custom [costume].
Kastam é a categoria mais ampla que elicia as relações importantes
para a cultura barok: relações sociais e de parentesco; centralidade
da imagem não verbal nas ideias barok sobre poder; imagética dos
rituais realizados na casa dos homens. Aliás, não só kastam (para
Wagner (1991c), relacionado à reprodução cultural barok) é uma
palavra emprestada do inglês, como também o é meaning [sentido, sig-
nificado], palavra que, segundo Wagner, é usada para descrever algo
profundamente potente em barok. Esses dois empréstimos do inglês,
instanciação da dialética entre comunicação e cultura nos termos
wagnerianos, têm, segundo Wagner, a capacidade de fixar a cultura
barok: aquilo a que os dois vocábulos, em princípio estrangeiros,
referem-se tem a capacidade de “eliciar significados essenciais da
cultura nas pessoas” (Wagner, 1987, p.57). Ora, isso ocorre por meio
de imagens autoanalíticas. A imagem, assim como a estrutura social
barok, funciona por meio da dialética entre contenção e eliciação.
8 Pidgin é a lingua produto do encontro entre o inglês e línguas melanésias.
Vida e grafias - miolo.indd 132 3/9/15 7:38 PM
Imbricamentos entre etnografia e biografia
Em “Figure ground reversal among the Barok”, Wagner apre-
senta as bases etnográficas para seu argumento posterior de que a
cultura barok é holográfica – assim como o é, em última instância,
todo o cosmos. A dialética entre contenção e eliciação manifesta-se
em diversas instâncias: parentesco (matrilinhagem continente/patri-
linhagem eliciadora), ritual (banquete/contenção), gênero (mulheres
continentes/homens doadores). Segundo a etnografia de Wagner, essa
equivalência holográfica entre aspectos de uma cultura é condensada
de forma imagética no taun, imagem e ato de contenção por exce-
lência; mas se o taun contém os banquetes, é também criado por eles,
pois sua construção se dá à medida que são realizados os banquetes
com sacrifício de porcos. No próprio interior do taun, imagem da
contenção, está representada a dialética entre contenção e oferta, pois
ele é dividido entre o espaço do banquete – doação – e o espaço do
enterro – contenção dos ancestrais. O mesmo ocorre com o banquete:
primeiramente, há a fase de contenção, seguida da fase de distribuição
dos alimentos. Cada um (o taun e o banquete) é uma imagem e a com-
binação dessas duas imagens resulta em uma terceira, poderosa, da
cultura barok, a qual orienta a dialética entre o malum e o malili: con-
tenção por respeito e oferta por alegria (Wagner, 1986b).
Assim, temos um exemplo etnográfico que condensa em sua
imagética toda a discussão sobre holografia em Wagner. Trata-se
da replicação, como em um holograma fractal, dos detalhes das es-
truturas mais amplas nas estruturas menores. E, como não poderia
deixar de ser em um pensamento que opera por oposições, o ban-
quete do taun é contraposto ao banquete da kaba, o qual, ao invés de
ser contido por uma árvore, contém uma árvore invertida. A árvore,
plantada de ponta-cabeça no solo, traz sobre si um winawu, futuro
orong, chefe barok, que proclama sobre os porcos “Asiwinarong!”, a ne-
cessidade de um grande homem. Nessa imagem – que para Wagner
retrata o ápice da criatividade barok –, banquete e funeral tornam-se
uma coisa, a mesma coisa. E, se banquete e funeral são equivalentes,
o ritual anula, ainda que temporariamente, as distinções de gênero
e metade. Para Wagner, a imagem do una ya kaba não só inverte a
imagem mais recorrente da vida barok, como é uma reversão figura-
-fundo (pirewuo) dessa imagem. É aquilo que se vê quando se retira o
foco do outro lado da dialética. Para Wagner, o pirewuo “elicia uma
mudança de perspectiva no interior do observador” (1987, p.62). É
justamente isso que o autor deseja operar em nossa sociedade por
meio de sua teoria etnográfica, que se assemelha cada vez mais a um
pidik barok: um mistério que, ao mesmo tempo que oculta (contém) o
conhecimento, tem o poder de oferecê-lo (eliciá-lo).
Vida e grafias - miolo.indd 133 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
Referências
Carlos Castañeda, Porta para o infinito, Rio de Janeiro: Editora Record, 1974
–, “A transformação de dona Soledad”, O segundo círculo de poder, Rio de Janeiro:
Editora Record, s.d.
Tony Crook & Justin Shaffner, “Preface: Roy Wagner’s ‘chess of kinship’: an opening
gambit”, hau Journal, v.1, n.1, p.159–164, 2011
Iracema Dulley, “Coyote anthropology, dialética e obviação”, Revista de Antropologia, v.54,
n.2, p.1079–1090, 2011
Iracema Dulley, Florência Ferrari, Stelio Marras, Jamille Pinheiro, Renato Sztutman
& Luísa Valentini, “‘O Apache era o meu reverso’: entrevista com Roy Wagner”,
Revista de Antropologia, v.54, n.2, p.955–978, 2011
David Schneider, “Some muddles in the models: or, ‘how the system really works’”, in:
M Banton (edição), The Relevance of Models for Social Anthropology, Londres: Tavis-
tock Publications / Nova Iorque: Frederick A Preager, 1965
–, American Kinship, Chicago: University of Chicago Press, 1968
Roy Wagner, The curse of souw: principles of Daribi clan definition and alliance in New Guinea,
Chicago / Londres: The University of Chicago Press, 1967
–, Habu: the innovation of meaning in Daribi religion, Chicago: Chicago University Press,
1972
–, “Scientific and indigenous papuan conceptualizations of the innate: a semiotic
critique of the ecological perspective”, Bayliss-Smith & Feachern (edição), Subsis-
tence and survival: rural ecology in the pacific, Londres: Academic Press, 1977
–, “Ideology and theory: the problem of reification in anthropology”, E
Schwimmer (edição), The yearbook of symbolic anthropology, Londres: C Hurst and
Company, 1978
–, “The talk of Koriki: a Daribi contact cult”, Social Research, n.46, 1979
–, “Visible ideas: towards an anthropology of perceptive values”, South Asian Anthro-
pologist, v.4, n.1, p.1–7, 1983
–, “Ritual as communication: order, meaning and secrecy in melanesian initiation
rites”, Annual Review of Anthropology, v.13, p.143–155, 1984
–, Symbols that stand for themselves, Chicago: University of Chicago Press, 1986a
–, Asiwinarong: ethos, image and social power among the Usen Barok of New Ireland, Prin-
ceton: Princeton University Press, 1986b
–, “Figure-ground reversal among the Barok”, in: L Lincoln, Assemblage of spirits: idea
and image in New Ireland, Minneapolis: Minneapolis Institute of Arts, 1987
–, “The fractal person”, in: Marilyn Strathern & Maurice Godelier (edição), Big men
and great men: personifications of power in Melanesia, Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press, 1991a
–, “Dif/ference and its disguises”, Robert Scharlemann (edição), On the other: dialogue
and/or dialectics, Lanham / Nova Iorque / Londres: University Press of America,
1991b
–, “New Ireland is shaped like a rifle and we are at the trigger: the power of diges-
tion in cultural reproduction”, A Biersack (edição), Clio in Oceania, Washington:
Smithsonian Institution Press, 1991c
–, An anthropology of the subject: holographic worldview in New Guinea and its meaning and sig-
nificance for the world of anthropology, Berkeley / Los Angeles / Londres: University
of California Press, 2001a
–, “Condensed mapping: myth and the folding of space, space and the folding of
myth”, in: A Rumsey & J F Weiner (edição), Emplaced myth, Honolulu: University
of Hawai’i Press, 2001b
–, “Lost horizons at Karimui”, Timo Kaartinen & Clifford Sather (edição), Beyond
the horizon: essays on myth, history, travel, and society, Helsinki: Finnish Literature
Society, 2008
–, “Existem grupos sociais nas terras altas da Nova Guiné?”, Cadernos de Campo, v.19,
2010a
–, A invenção da cultura, São Paulo: Cosac Naify, 2010b
Vida e grafias - miolo.indd 134 3/9/15 7:38 PM
Imbricamentos entre etnografia e biografia
–, Coyote anthropology, Lincoln / Londres: University of Nebraska Press, 2010c
–, “Foreword”, Pedro Pitarch, The jaguar and the priest: an ethnography of Tzeltal souls,
Austin: University of Texas Press, 2010d
–, “The chess of kinship and the kinship of chess”, hau Journal, v.1, n.1, p.165–177,
2011a
–, “A pessoa fractal”, Ponto Urbe, v.5, 2011b
–, “Automodelagem: o lugar da invenção”, Revista de Antropologia, v.54, n.2., p.921–
953, 2012
–, The place of invention, texto inédito
Iracema Dulley é doutora em Antropologia Social pela usp (2013), mestre em An-
tropologia Social pela Unicamp (2008) e bacharel em Filosofia pela usp (2004).
Atualmente, é pesquisadora visitante na London School of Economics e pesquisadora
do CEBRAP. Suas principais áreas de atuação são teoria antropológica e antropologia
da África.
Vida e grafias - miolo.indd 135 3/9/15 7:38 PM
Escrita de si, escrita do mundo:
Michel Leiris
e a experiência sagrada
Júlia Vilaça Goyatá
O trabalho proposto pretende investigar de que maneira se dá o im-
bricamento entre biografia e teoria social no trabalho do antropólogo
e escritor francês Michel Leiris (1901–1990), tendo em vista um de
seus trabalhos, redigido no fim da década de 1930: o ensaio “Le sacré
dans la vie quotidienne” (1938). Este se torna um texto emblemático
na medida em que Leiris ensaia tanto a escrita autobiográfica quanto
a teoria social em seu tecido, uma atuando como reflexo da outra,
vistas como atividades simultâneas. Além disso, destaca-se que é sob a
égide do conceito de sagrado – ideia central do Collège de Sociologie
(1937–1939), associação por ele fundada junto aos colegas Georges
Bataille (1987–1962) e Roger Caillois (1913–1978) – que Leiris produz
esse trabalho. As alegorias pessoais que constrói teriam por intenção,
assim, não apenas a construção de uma história de si, mas também a
investigação deste conceito, visto como ideia chave naquele contexto.
As memórias do autor, principalmente as de infância, seriam capazes
de ilustrar e em última medida tornar potente esta ideia, já que para
Leiris o sagrado tinha uma dimensão psicológica, para além de sua
face social. O sagrado é aqui pensado como conceito, mas também
como experiência vivida. Nos termos do Collège, experiência a ser re-
tomada. Portanto, é esta vida, a própria, que Leiris coloca à mostra
para dela fazer emergir o sagrado.
O Collège de Sociologie
e a proposição de uma “sociologia sagrada”
A fundação do Collège de Sociologie (1937–1939) se dá precisamente
em março de 1937 na cidade de Paris, momento de plena ascensão do
fascismo, exatamente dois anos antes da eclosão da Segunda Guerra
Vida e grafias - miolo.indd 136 3/9/15 7:38 PM
Escrita de si, escrita do mundo
Mundial. Os protagonistas da fundação são Georges Bataille, Roger
Caillois e Michel Leiris: o primeiro, erudito formado na École des
Chartes¹ e funcionário da Biblioteca Nacional; o segundo, também
formado na alta elite da educação francesa, a École Normale Supé-
rieure, e professor no Lycée de Beauvais; o terceiro, personagem que
observaremos mais de perto, ex-participante do bloco surrealista, et-
nólogo e funcionário do recém-fundado Musée de l’Homme.
A inauguração do Musée de l’Homme fazia parte de um reper-
tório de mudanças que vinham contribuindo para uma crescente
institucionalização e consequente valorização da disciplina etnoló-
gica na França. Em 1925, graças à chegada ao poder do Cartel des
gauches, havia sido criado o Instituto de Etnologia na Sorbonne,
tendo como diretores o veterano Marcel Mauss, recém-nomeado
para o Collège de France, Henri Lévy-Bruhl e Paul Rivet, que era
coordenador do Museu de Etnografia do Trocadéro, integrado ao
Museu de História Natural nesse mesmo ano. Em 1931, ocorre a pri-
meira missão etnográfica patrocinada pelo governo francês: a missão
Dacar-Djibouti (1931–1933), da qual Michel Leiris participa como se-
cretário-arquivista, que percorre de oeste a leste o continente africano.
Após a realização da missão, o Museu de Etnografia passa ainda por
uma segunda reforma, transformando-se em Musée de l’Homme,
em 1936, segundo James Clifford, um “ambiente liberal e produtivo
para o crescimento da ciência etnográfica francesa” (2008, p.146–147).
Nesse momento, Bataille e Leiris vinham de uma forte amizade e de
uma relação de troca intelectual construída há mais de dez anos, e
Caillois, mais novo do que eles, conhecera Bataille em 1934, iniciando
com ele uma intensa parceria.²
1 A École des Chartes foi concebida em 1821, pouco tempo após a Revolução Francesa,
para ser um serviço público de conservação do patrimônio francês e formação de pes-
quisadores e profissionais interessados em trabalhar em bibliotecas públicas, arquivos,
museus e coleções por todo o país. Segundo Jean-Michel Leniaud (1993), a função de
resguardar o patrimônio, que antes era da Igreja, passaria agora às mãos do Estado
laico, e era preciso formar profissionais qualificados para lidar com esse material his-
tórico. Assim, os alunos de Chartes teriam contato com uma ampla e especializada
grade de disciplinas, que privilegiava o estudo aprofundado da Idade Média e seus
manuscritos – “paleografia, línguas românicas, diplomacia, instituições políticas,
administrativas e judiciárias da França, direito civil e canônico na Idade Média, arque-
ologia da Idade Média e um curso opcional de bibliografia, classificação de bibliotecas
e arquivos” (Leniauld, 1993, p.620) –, saindo de Chartes não apenas como arqui-
vistas-paleógrafos, mas como verdadeiros eruditos, formando parte da elite do saber
francês: “A conjunção de estudos generalistas na Faculdade e a aprendizagem acética
de disciplinas muito especializadas permitia aos alunos entrever mais que alguns
cargos patrimoniais que se ofereciam a eles.” (Leniauld, 1993, p.624)
2 Para mais detalhes da relação entre Bataille e Leiris, ver Bataille & Leiris (2004).
Sobre a relação entre Bataille e Caillois, o segundo dá alguns depoimentos sobre o en-
contro em Caillois & Ocampo (1981).
Vida e grafias - miolo.indd 137 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
Entre esses pensadores, que, apesar de advindos de universos
distintos do conhecimento, frequentavam o mesmo círculo artístico-
-intelectual, toma corpo a ideia de constituir um grupo para a
discussão de textos e ideias em comum em torno do tema do sagrado,
já inicialmente explorado por Bataille na sociedade secreta e revista
homônima Acéphale, concebida um ano antes.³ Em diálogo com a
sociologia, disciplina que trouxe novo sentido à noção de sagrado,
explorando-a a fundo – principalmente a partir do clássico de Émile
Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse (1912) e dos trabalhos
posteriores de Marcel Mauss relacionados ao assunto, como, por
exemplo, Essai sur la nature e fonction du sacrifice (1898) e Esquisse d’une
théorie génerale sur la magie (1904) –, eles pretendiam perscrutar o con-
ceito de uma maneira renovada.
O sociólogo martiniquês Jules Monnerot (1909–1995), um dos fun-
dadores do Collège de Sociologie, é quem batiza o grupo, querendo
invocar a partir da palavra “collège” [faculdade] a igualdade entre seus
pares e suas afinidades eletivas, além de trazer com ela a ideia de uma
organização colegial, de uma comunidade moral, uma verdadeira
ordem, “sociedade de clérigos” (Hollier, 1995, p.13).⁴ Quanto à escolha
do termo “sociologie” [sociologia], podemos dizer que não remete
somente a um diálogo com esta disciplina, devido ao tema de inte-
resse em comum, mas tem também um fundo estratégico, na medida
em que a ciência sociológica se interpõe como uma alternativa entre a
arte e a política, rótulos das quais o Collège queria escapar tendo em
vista seu desgaste no âmbito do surrealismo e de outras associações
que vinham se formando ao longo da década de 1930.
De fato, esse era um momento de oscilação entre a submissão ou
3 Acéphale pode ser considerado o projeto mais ousado de Bataille nesse período e,
não por acaso, aquele do qual Leiris mais se afastaria, apesar da ligação intensa que
mantinha com seus principais agitadores: Bataille; Colette Peignot, companheira do
último; e o pintor André Masson, nesse momento exilado na Espanha devido à ex-
pansão fascista. A sociedade secreta, seguida de uma revista homônima, teria sido
pensada por Bataille e Masson, em 1936, para ser não só um espaço de reflexão, mas
também de militância política. Apesar de a proposta ser em parte parecida com a
do Collège de Sociologie, Acéphale era marcada por um antirracionalismo extremo e
pelo vínculo entre ação política e religião. Acreditava-se que era através do planeja-
mento de uma “conjuração sagrada”, da destruição e do consumo exacerbado que se
chegaria a uma verdadeira revolução social. Até mesmo a execução de um sacrifício
humano consentido fazia parte dos planos do grupo. Acéphale duraria quatro anos,
sendo que o primeiro número da revista anual sai em junho de 1936, e o último, em
junho de 1939.
4 Monnerot chegara ao Collège por meio de Roger Caillois, de quem era grande
amigo nessa época. Os dois se conheceram e se tornaram amigos no âmbito do movi-
mento surrealista de Breton, no qual ingressaram em 1932. Em 1936, desenvolveram
juntos a revista Inquisitions, que teria apenas um número, precedendo a fundação do
Collège de Sociologie.
Vida e grafias - miolo.indd 138 3/9/15 7:38 PM
Escrita de si, escrita do mundo
demissão aos aparelhos políticos e seus programas, e o Collège queria
restar como uma experiência única, sem tomar partido no conflito
entre o ideal e a ação, o surrealismo e o comunismo. Tratava-se de
tentar uma nova forma de associação, como mostra precisamente
Denis Hollier:
“Tendo fechado as rotas da literatura e da política, o Collège de So-
ciologie se volta para a ciência, último caminho oferecido para quem
quer escapar do dilema da ação e do sonho. Estuda-se o que é objeto
não de saber, mas dessas formas de ignorância que são o desprezo, o
desgosto, o medo, o que Bataille chamou de ‘o aspecto essencialmente
repugnante das coisas sagradas’ ou o que Monnerot chamou ‘temas
quentes’. Esse ativismo epistemológico coloca em causa a separação escolar do co-
nhecimento e da ação. O prestígio que o liga à sociologia vem daí: ela é uma ciência
de objeto interno, em que o sábio faz parte de seu objeto … Bataille dirá, na pri-
meira reunião do Collège, que a sociologia tem o mérito de fazer com que engajemos
a vida nas definições.”
(1995, p.20–21, grifos meus, tradução livre)
Assim, a proposta do Collège era apostar no próprio pensamento
como instrumento político, ou melhor, pensar a reflexão como insepa-
rável da ação. Para o grupo, o sagrado passaria a ser não só um objeto
de pesquisa, mas também uma perspectiva, um ponto crítico de onde
se olha a própria sociedade: o conceito operaria tanto como objeto
de análise (matéria do olhar) quanto como instrumento de reflexão
(conceito operatório que permite ver), sendo percebido como uma
espécie de ponto de condensação entre a reflexão e a ação, pensado
tanto como uma categoria abstrata do pensamento quanto como uma
experiência a ser vivenciada. É nesse sentido que o Collège propõe
a compreensão e a construção de uma perspectiva sagrada (Peixoto,
2011a), capaz de aliar pesquisa e militância. Engajar a vida nas defini-
ções é o que Bataille propõe a partir da imagem do sociólogo: este é
aquele que estuda formações das quais não pode se desvencilhar, ele
está implicado naquilo que observa. Trata-se de implicar o sagrado,
conceito sociológico, na experiência vivida e, de modo inverso, a vida
no conceito.
Ainda em relação ao apelo que fazem à ciência sociológica, do
ponto de vista institucional, o Collège deve também ser considerado
em função da reivindicação de um espaço fora da universidade para
a discussão de temas comuns a ela. Não por acaso, sua dinâmica se
assemelhava muito à dos cursos universitários: funcionava a partir de
reuniões coordenadas por seus fundadores, principalmente Bataille
e Caillois, e eventualmente outros membros convidados. Eram como
Vida e grafias - miolo.indd 139 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
assembleias, “frequentadas por uma audiência numerosa, variada e
movimentada” (Hollier, 1995, p.13). Apesar disso, a associação era ins-
pirada pelo universo das sociedades secretas primitivas, funcionando
em um local pouco convencional: os fundos de uma livraria na rua
Gay Lussac. No auditório, era possível ver figuras importantes como
Victoria Ocampo, editora da revista literária argentina SUR, e Walter
Benjamin, que acompanhava os refugiados da Escola de Frankfurt,
Horkheimer e Adorno, na França.⁵
Em julho de 1937, no número 3–4 da revista Acéphale, foi publi-
cado “Note sur la fondation d’un Collège de Sociologie”. Essa nota,
escrita por Caillois, apresentava a associação e descrevia suas pro-
postas, tendo também o intuito de atrair novos palestrantes e ouvintes
para seu seio. Assinada por Georges Ambrosino, Georges Bataille,
Roger Caillois, Pierre Klossowski, Pierre Libra e Jules Monnerot,
o pequeno texto demonstrava de maneira breve os três principais
princípios da recém-fundada associação. É importante sublinhar que
Leiris, apesar de ser um dos fundadores da sociedade, não assina a
nota. Conforme sua biógrafa, Aliette Armel (1997), tudo indica que
se deu pelo fato de o texto estar publicado em Acéphale, revista com a
qual o etnólogo não queria correr o risco de ser identificado. Tendo
em vista a complexa relação de amizade, diálogo intelectual e tra-
balho desenvolvida por Bataille e Leiris nos anos 1930, pode-se dizer
que Acéphale se apresenta como um projeto emblemático para a com-
preensão de suas discordâncias quanto às formas de ação política e
suas relações com a arte (ver Goyatá, 2012).
O primeiro tópico de “Note sur la fondation d’un Collège de
Sociologie” salienta a importância de um estudo das estruturas
sociais das sociedades modernas, a partir do suposto que esse estudo
vinha sendo realizado pela ciência de maneira incompleta, já que
mais dirigido às sociedades primitivas. Assim, objetiva-se usufruir
dos estudos sociológicos já existentes sobre as “sociedades arcaicas”,
mas ampliando o foco para a sociedade contemporânea. Partindo de
uma crítica à sociologia – “não da sociologia geral e sob todos os seus
aspectos, mas da sociologia entendida como representada totalmente
pela escola sociológica universitária francesa, ilustradas por Durkheim
& Lévy-Brhuhl” (Hollier, 1995, p.856) –, os autores filiam-se a uma
5 Sabe-se que Caillois teve, a partir de 1938, depois que a conhecera nas sessões do
Collège de Sociologie, uma relação amorosa duradoura com Victória Ocampo, se ins-
talando na Argentina no período da Segunda Guerra Mundial e estabelecendo uma
importante relação com os escritores latino-americanos. Também é conhecido o fato
de que Bataille hospedou Walter Benjamin em sua casa e que por volta de 1940, na
iminência da invasão de Paris pelas tropas alemãs, Benjamin confiou a ele vários de
seus escritos, mantidos por Bataille na Biblioteca Nacional.
Vida e grafias - miolo.indd 140 3/9/15 7:38 PM
Escrita de si, escrita do mundo
determinada tradição de pensamento, ainda que desejem também
romper com ela, ampliando seus limites. O uso da noção de sagrado
que empreendem tem relação direta com esse desejo de ampliação:
a noção associada ao estudo das sociedades primitivas é trazida
de maneira mais contundente para a compreensão das sociedades
contemporâneas.
O segundo tópico dá destaque ao caráter de “comunidade
moral” que inspira a formação do Collège, comunidade diferente da
comunidade científica: aqui, não apenas o seu objeto de estudo tem
um caráter aglutinador, mas a própria comunidade de pensadores se
quer “ligada precisamente ao caráter virulento do domínio estudado”
(Caillois, 1995, p.26–27). É o que Bataille chama em carta a Caillois
de uma “concentração tempestuosa, orgânica” (Bataille, 1997, p.153).
Nesse caso, destaca-se que todas as contribuições de ordem pessoal
são bem-vindas e que o esforço é para formular um conhecimento
mais preciso da existência social através da ação comum. O ponto
é desenvolvido a fundo em “Vent d’hiver” (1937), primeiro trabalho
gestado no âmbito do Collège de Sociologie, em que Caillois destaca
a importância da “vontade comum” para a realização de uma experi-
ência comunitária (Caillois, 1995, p.339).
Por fim, o terceiro tópico dá uma ênfase mais precisa ao objeto
que é vislumbrado pelo grupo, a realização da chamada “sociologia
sagrada”:
“O objeto preciso de nossa atividade visa poder receber o nome de
‘sociologia sagrada’, na medida em que esta implica o estudo da
existência social em todas as suas manifestações nas quais há a pre-
sença ativa do sagrado. Ela se propõe a estabelecer os pontos de
coincidência entre as tendências da psicologia individual e as estru-
turas diretrizes que presidem a organização social e comandam as
revoluções.”
(Caillois, 1995, p.27)
Vemos aí que se trata de uma “sociologia sagrada”, e não apenas de
uma “sociologia do sagrado”. A combinação desses dois termos é,
de fato, o que dá tom à experiência realizada no Collège: o sagrado
aparece não só como objeto, mas também qualificando a sociologia
que pretendem fazer. Novamente, revela-se a dupla articulação de
conceito: objeto de estudo – matéria de pesquisas sobre a irrupção
do sagrado na vida cotidiana, no domínio da sexualidade, nos mitos
e rituais coletivos – e perspectiva de análise que permite olhar para
a sociedade contemporânea. Levado ao limite, esse posicionamento
diante do mundo permitiria uma transformação radical das estruturas
Vida e grafias - miolo.indd 141 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
de dominação social; isto é, haveria uma espécie de “atitude sagrada”
capaz de transformar o rumo das coisas.
O exercício era localizar experiências da ordem do sagrado no
mundo social e ver como elas seriam capazes de operar politicamente.
A hipótese era de que tais experiências cotidianas seriam capazes de
revelar a “genuína existência humana” (Bataille, 1995), que, por sua
vez, seria a base de transformações político-sociais – isso porque, em
contato com o sagrado, grau mais profundo da existência humana, o
homem não se deixaria mais subjugar.
Na plataforma do grupo havia ainda um grande interesse pela
reflexão conjugada entre psicologia individual e organização social. O
sagrado seria também um conceito-chave para a compreensão dos en-
trecruzamentos dos dois campos, o que parece evocar as experiências
com a psicanálise vividas por Leiris e Bataille e a criação, na mesma
época, da Sociedade de Psicologia Coletiva. Esta era uma iniciativa
de ambos com Adrien Borel, ex-psicanalista dos dois e fundador da
Sociedade Psicanalítica de Paris (Roudinesco, 1994, p.35), e outros três
psicanalistas – René Allendy, Paul Schiff e Pierre Janet –, interessada
em investigar as pontes entre a psicologia e as ciências sociais (Yvert,
2004, p.253). Não se sabe muito sobre as realizações dessa sociedade,
apenas que buscava estudar “o papel, nos fatos sociais, dos fatores
psicológicos, particularmente de ordem inconsciente” tentando “fazer
convergir as pesquisas até agora empreendidas isoladamente nas di-
versas disciplinas”. Sabe-se que em seu programa, de 1938, aparece
também um interesse específico pelas “atitudes em direção à morte”,
que parecem ser basicamente estudos sobre o suicídio (Leqoc, 1987,
p.115). Bataille e Leiris tiveram suas primeiras experiências analíticas
entre os anos 1920 e 1930, quando frequentaram o consultório de
Adrien Borel. Para eles, a psicanálise não fora apenas terapêutica, mas
também uma fonte importante de saber, uma forma de conhecimento
pela qual se interessaram verdadeiramente.
Um último ponto merece ser ressaltado, ainda que não conste
explicitamente das notas de fundação do Collège. Formado à beira
da eclosão da Segunda Guerra, podemos afirmar que o grupo al-
mejava também dar conta de um fenômeno inteiramente novo: o
fascismo. Mas, se o desejo era de compreender e combater a ideologia
que se disseminava por toda a Europa, não se pode esquecer que o
grupo foi alvo de críticas vindas da extrema esquerda, que apontava
em suas proposições “conotações fascistizantes” (Ginzburg, 2011,
p.203). Segundo Ginzburg (2011), o fascínio que Bataille teria confes-
sado sentir pela simbologia fascista, expresso em carta a Raymond
Queneau, em 1934, quando de sua visita à “exposição da revolução
fascista” em Roma, e “as divagações de Caillois sobre uma comuni-
Vida e grafias - miolo.indd 142 3/9/15 7:38 PM
Escrita de si, escrita do mundo
dade aristocrática formada por indivíduos cruéis, tirânicos, prontos
para enfrentar uma iminente era glacial”, no já citado “Vent d’hiver”
(1937), eram alguns dos sinais que levavam a uma interpretação
ambígua quanto à posição política da associação.
Sabe-se, inclusive, que Walter Benjamin, apesar de ter sido “um
auditor assíduo” das sessões do Collège e de ter mantido diálogo
intenso com alguns de seus membros, principalmente Bataille e Pierre
Klossowski, naquele momento já apontava críticas às suas propostas,
chamando-lhes a atenção para um certo “excesso metafísico e político
do incomunicável” que poderia “preparar o terreno psíquico favorável
ao nazismo”. De acordo com Klossowski, Benjamin os alertava para
o perigo de “entrar em um jogo de puro e simples ‘estetismo pré-
-fascista’” (Klossowski apud Hollier, 1995, p.884). A crítica advinha
também de outros membros da Escola de Frankfurt, como Adorno e
Horkheimer – este, ao entrar contato com as propostas de Acéphale e do
Collège através de Klossowski, teria se expressado caracterizando-os
em termos de uma “confusão irracionalista” (Weingrad, 2001, p.134).⁶
Se, à primeira vista, a desconfiança quanto à identificação do
Collège com a ideologia fascista parece despropositada – sabendo-se
que os intelectuais que formavam o grupo, principalmente Bataille,
vinham de uma história de militância de esquerda e eram radical-
mente contra o regime –, ela se torna mais compreensível quando
pensamos que alguns dos temas explorados pela associação também
eram articulados pelo nazismo: a importância do mito; a busca de um
nexo ontológico através das noções de potência e de poder; o interesse
pelas sociedades secretas e pelo próprio sagrado em si, entendido
como experiência extática e convulsiva. Assim como Maurice Nadeau,
creio que o Collège, longe de “empreender um fascismo à francesa”,
buscava “lutar contra aquilo que lhes parecia uma regressão na ordem
do pensamento empregando – eu ouso dizer – os mesmos meios”
(Nadeau, 1990, p.20). Isso quer dizer que, para compreender e com-
bater o fascismo vigente, o Collège pensava ter que usar as mesmas
armas do inimigo, reconhecendo o poder dessas armas. Assim, o
sagrado tematizado no Collège de Sociologie era considerado não
apenas um conceito sociológico, mas fundamentalmente uma noção
política, capaz de dar conta tanto da compreensão de fenômenos
sociais como o fascismo quanto da ação que visa combatê-lo.
6 Walter Benjamin conhece Pierre Klossowski – escritor, tradutor e membro do
Collège de Sociologie – em 1935, quando este participava com Bataille da associação
Contre-attaque. A partir daí, os dois estabeleceriam uma parceria intelectual, e Klos-
sowski traduzindo para o francês, em 1936, o ensaio “Das kunstwerk im zeitalter seiner
technischen reproduzierbarkeit” [“A obra de arte na era de sua reprodutibilidade
técnica”] de Benjamin. Para mais detalhes sobre a relação entre eles e sobre o trânsito
intelectual entre França e Alemanha nesse momento, ver Weingrad (2001).
Vida e grafias - miolo.indd 143 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
Mas voltemo-nos a nosso alvo: Michel Leiris. Qual era sua posição
no Collège? Como podemos compreender sua participação no grupo?
Além disso, como inserir sua produção autobiográfica em meio às re-
flexões políticas mobilizadas ali? Há alguma relação entre a escrita de
si de Leiris e a “sociologia sagrada” produzida pelo Collège?
Um trio de dois?
É sabido que, apesar de ter fundado o Collège de Sociologie junto
com Caillois e Bataille, Leiris participou da associação de modo muito
mais tímido e desconfiado que seus colegas. A ausência de Leiris
como signatário da nota de fundação do Collège já aponta para sua
posição mais reservada na associação, que, efetivamente, teria como
líderes Caillois e Bataille. O autor, que em 1937 já trabalhava como
etnólogo no recém-fundado Musée de l’Homme e terminava sua for-
mação na École Pratique de Hautes Études, teria contribuído com
apenas um trabalho no âmbito da associação – “Le sacré dans la vie
quotidienne” (1938) – e ao final questionava o compromisso científico
do grupo com relação ao uso de noções advindas da escola durkhei-
meana, inclusive da própria noção de sagrado, com a qual estava em
pleno contato na época. Mais precisamente, é em 1939 que Leiris con-
segue formular e explicitar seu descontentamento com o grupo (que
parece ter ido crescendo ao longo dos anos) em carta a Bataille:
“Trabalhando para redigir o informe das atividades do Collège de So-
ciologie desde sua fundação em março de 1937 – informe que devia
ler na sessão de amanhã –, me vi obrigado a refletir mais cuidado-
samente, coisa que não havia feito até o presente, sobre o que foi a
atividade do Collège nesses últimos anos e tomei um ponto de vista
tão crítico que não me considero verdadeiramente qualificado para
me apresentar amanhã como porta-voz de nossa organização …
Está indicado que o Collège tem por objetivo o estudo das ‘estruturas
sociais’. Ora, estimo que faltas graves contra o método estabelecido
por Durkheim tenham sido muitas vezes cometidas: trabalho a partir
de noções vagas e mal definidas, comparações entre fatos tomados de
sociedades com estruturas profundamente diferentes etc.”
(Leiris, 2004, p.121–123)
Nessa carta, Leiris explicita seu incômodo com o lugar intermediário,
por assim dizer, que o Collège ocupava: segundo o autor, ele não teria
se transformado nem em um grupo de estudos rigoroso, que teria
como centro a sociologia formulada por Durkheim, e nem em uma
“comunidade moral”, “ordem” ou “igreja”, permanecendo, assim,
Vida e grafias - miolo.indd 144 3/9/15 7:38 PM
Escrita de si, escrita do mundo
como algo semelhante às “habituais associações de sábios” (Leiris,
2004, p.123). De seu ponto de vista, o Collège tinha uma proposta in-
teressante, a de trabalhar com os instrumentos teóricos da sociologia,
mas não a levava adiante de maneira responsável, na medida em
que usava noções chave dessa disciplina de maneira imprecisa e por
vezes deformada. Na opinião de Leiris, era preciso que a associação
ou tentasse aplicar rigorosamente os métodos de sociólogos como
Durkheim, Mauss e Hertz em seus estudos, ou deixasse de usar em
seu nome o termo “sociologia”.⁷
O informe das atividades mencionado por Leiris na carta acima
fora pensado por Bataille para ser lido em uma sessão especial do
Collège, a fim de ressaltar os trabalhos e os progressos realizados nos
dois anos de associação. A ideia era a de que, nesse dia, falassem seus
três fundadores: Bataille, Caillois e Leiris. No entanto, o único que de
fato se pronunciou foi Bataille, já que Caillois se encontrava ausente e
Leiris, como explicitado, se recusara a falar.⁸ De fato, essa seria a última
sessão oficial do Collège que, apesar de algumas pequenas reuniões
privadas, não persistiria no ano seguinte com o começo da guerra.
É possível afirmar que a discordância de Leiris quanto aos métodos
do grupo foi a fagulha inicial para sua dispersão, atingindo também
Caillois e Bataille, que passam a divergir quanto ao tratamento de
alguns temas: Caillois chega a afirmar que o misticismo, o drama,
a loucura e a morte, da maneira como são trabalhados por Bataille,
parecem inconciliáveis com os princípios de onde partiu o Collège.
Sobre esse ponto, Hollier sublinha que “a identidade de visões não será
total entre Bataille e Caillois … Se, como dirá Bataille, eles tivessem
que escolher entre poder e tragédia, é muito provável que suas escolhas
fossem opostas: vontade de potência do lado de Caillois, desejo de tra-
7 Sobre esse ponto, Aliette Armel fará uma observação interessante: de certa forma,
Leiris ocupa no Collège de Sociologie uma posição que é oposta à construção de sua
imagem no âmbito da etnologia. No início de sua carreira na antropologia e, princi-
palmente, a partir da publicação de seu diário africano, Leiris passa a ser considerado
como literato e pouco científico no ambiente universitário. Já no espaço do Collège,
que supostamente teria uma atmosfera mais liberal, ele é aquele que reivindica a cien-
tificidade. Nas palavras da biógrafa: “Ele escreve um texto literário sobre o sagrado
em um ambiente muito técnico e científico para tal, enquanto ao inverso, sua situação
social o coloca para velar ao rigor científico das atividades do Collège.” (1997, p.388)
8 O motivo da ausência de Caillois era a primeira visita que fazia a Victória Ocampo
em seu país de origem, em julho de 1939. Caillois fora convidado por Victória para
dar algumas conferências referentes ao trabalho no Collège de Sociologie, em Buenos
Aires. Sabe-se que logo ao fixar residência na Argentina, o autor fundou com Ocampo
uma espécie de filial do Collège em solo latino-americano. Ao que parece, o grupo
argentino acabou se voltando para temas radicalmente distintos daqueles explorados
nos dois anos anteriores na França: um deles é o republicanismo, tema desconcertante
“para alguém que, poucos meses antes, tinha defendido a formação de sociedades se-
cretas e ilhadas para reencantar o mundo” (Aguilar, 2009, p.192).
Vida e grafias - miolo.indd 145 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
gédia do lado de Bataille.” (1995, p.12; para maiores detalhes, consultar
as cartas de Bataille enviadas a Caillois, em Hollier, 1997)
Mesmo sabendo das dissensões que viriam a abalar a dupla Ba-
taille e Caillois no último ano de atividades do Collège, é inegável
que, durante o período áureo da associação e comparado ao envolvi-
mento de Leiris, prevaleceu entre eles não só uma participação ativa
nesse empreendimento quanto uma afinidade em relação às temáticas
de trabalho. Na publicação especial da Nouvelle revue française intitulada
“Pour un Collège de Sociologie” (1938), os textos “Vent d’hiver” e
“L’apprenti sorcier”, de Caillois e Bataille, mantém certo diálogo, ten-
tando ressaltar, cada um à sua maneira, a experiência sagrada como
propulsora da mudança social, em contraposição ao tédio instaurado
pela modernidade. Os dois autores viam no Collège fundamental-
mente um lócus de força religiosa e política, a possibilidade mesma
de ligação entre esses dois aspectos fundamentais da vida social. Já o
trabalho de Leiris, “Le sacré dans la vie quotidienne”, publicado junto
aos ensaios dos colegas, tem outro tom e está voltado para o olhar
sobre o sagrado a partir de uma perspectiva mais intimista, à primeira
vista, parecendo distante das discussões sobre o rumo que vinha
tomando a sociedade. Fato no mínimo curioso e digno de nota: aquele
que no Collège é o mais próximo da sociologia e da antropologia
acadêmica, já que se forma como etnólogo profissional em meio às
atividades do grupo, é também o que mais se distancia da elaboração
mais propriamente sociológica do conceito de sagrado.
No entanto, é preciso avaliar com calma antes de afirmar que
Leiris esteve alheio à proposta do Collège. É verdade que a crítica
que faz perto do fim das atividades do grupo é dura, mas ressalta-se
também que em nenhum momento o autor se coloca como isento da
mesma crítica; ele se vê como parte da associação e assume a responsa-
bilidade da falta de rigor metodológico junto a seus colegas. Tanto que
após a conferência final, em que Bataille se ressente com sua ausência e
com seu posicionamento crítico, Leiris o responderá enfatizando: “Não
estabeleci nenhuma identificação entre você e o Collège de Sociologie,
e quando critico o Collège de Sociologie o faço em bloco, enquanto
organização da qual eu mesmo faço parte.” (Leiris, 2004, p.127)
Nesse caso, não se pode deduzir que, por ter criticado a apro-
priação durkheimiana do Collège, Leiris não tenha se sentido parte
dele ou que o mesmo não tenha sido parte fundamental de sua ex-
periência intelectual. Ao contrário do que afirma Hollier quando diz
que “Leiris não fará nada mais que se emprestar a essa empresa, pela
qual seus colegas darão corpo e alma” (1995, p.12), o que se observa
é uma participação curta, mas não menos comprometida do autor.
Apesar de chegar a dizer que o Collège teria recorrido de maneira
Vida e grafias - miolo.indd 146 3/9/15 7:38 PM
Escrita de si, escrita do mundo
exagerada à noção de sagrado – trazendo-o como princípio de expli-
cação único e indo contra a noção maussiana de “fenômeno total”
–, Leiris produz, enquanto participa do Collège, reflexões originais a
respeito dessa ideia (Leiris, 2004, p.124). Sabe-se, inclusive, que tinha
um caderno de anotações dedicado exclusivamente a suas reflexões
sobre o sagrado, compartilhadas em grande parte com Bataille e
sua companheira na época, a escritora Colette Peignot. Na cader-
neta, nomeada “Le sacré dans la vie quotidienne ou L’homme sans
honneur”,⁹ é possível encontrar um material heterogêneo – “páginas
copiadas de seu diário íntimo, fichas e esboço de classificação de lem-
branças, ecos de leituras, de conversas e de eventos recentes” – que
acabaria por constituir as notas preliminares de seu único ensaio pu-
blicado sob a égide do Collège (Hollier, 1993, p.63). Quando fala em
“homem sem honra” – “L’homme sans honneur”, parte do título que
foi retirada no trabalho publicado, “Le sacré dans la vie quotidienne”
(1938) –, Leiris se refere a ele mesmo: o homem sem honra é basica-
mente um homem desprovido de “vertigem”, que não participa do
mundo do sagrado. É preciso, diz ele, buscar essa honra, e para isso,
“passar em revista tudo isso que, em algum nível, me parece presti-
gioso, de maneira a saber, enfim, o que eu tenho, sobre o que posso
fundar um sistema de valores”. Como possibilidade de título “mais
explícito” para o trabalho que viria, Leiris também propõe “Busca da
honra perdida” (Leiris, 1994, p.9).
Apesar de suas diferenças com relação à associação, a hipótese
que se pretende defender aqui é a de que, a despeito do que o texto de
Leiris parece indicar – a saber, que o sagrado pela qual ele se interessa
é um sagrado particular, íntimo, próprio, distante da vida coletiva e
da situação política em que se encontra –, podemos ver nele os prin-
cípios de um sagrado como operador político, pauta do Collège. Isto
é, trata-se de desvendar de que maneira a investigação de Leiris, que
toma como material básico a própria vida e que tem na reflexão sobre
a arte um de seus pontos altos, se constitui como fazendo parte da
agenda do Collège, uma agenda que quer dar conta de uma situação
política urgente.
Escrita de si, escrita do mundo
“Le sacré dans la vie quotidienne” [“O sagrado na vida cotidiana”],
texto de Leiris escrito (e conferenciado em 8 de janeiro de 1938) no
âmbito do Collège de Sociologie, opera em nível microscópico. Trata-
9 A caderneta em questão foi organizada, publicada e comentada por Jean Jamin,
com o título L’homme sans honneur: notes pour Le sacré dans la vie quotidienne (1994).
Vida e grafias - miolo.indd 147 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
-se, segundo o narrador, o próprio Leiris, de elencar “objetos, lugares
e circunstâncias que evocam em mim essa mistura de medo e de
vínculo, essa atitude ambígua que determina a aproximação de uma
coisa ao mesmo tempo atraente e perigosa” (Leiris, 1995, p.102–103).
A busca é por presenças do sagrado na vida íntima e particular – pelo
“meu sagrado”, como o autor diz. O que está implícito no título, a
partir do artigo “O”, que precede a frase “sagrado na vida cotidiana”,
é que todos têm condição de se encontrar com essas experiências sa-
gradas em suas vidas. O autor chega a dizer, no fim do texto, que esse
encontro é condição necessária para que “o homem possa adquirir
um conhecimento de si o mais intenso e preciso possível” (Leiris, 1995,
p.117).
O que, de início, chama mais a atenção nesse trabalho é a ênfase
dada logo no título à vida cotidiana, já que quando pensamos em
sagrado, principalmente seguindo a linha sociológica, nos vem pri-
meiramente à mente uma coisa ou um momento extraordinário, fora
do tempo da vida comum – como em “Vent d’hiver” (1937), texto de
Caillois em que o inverno é a metáfora desse tempo sagrado, a priori,
como dizia Mauss (1906), um tempo de festa, de comunhão, de sa-
crifício, um tempo atípico. O que Leiris faz nesse trabalho é trazer o
sagrado para o plano da imanência, isto é, para a vida em sua rotina
diária, para o domínio da prática não apenas ritual, mas ordinária,
como em uma espécie de busca incessante pela experiência sagrada que
está “ao rés do chão”, nos traços deixados por “passos perdidos”, para
usar as imagens trazidas por Michel de Certeau (1990) em sua análise
das práticas cotidianas que produzem o espaço. Segundo o autor,
suas intenções são buscar em fatos simples, fora do domínio oficial da
religião, da pátria e da moral, quais são aqueles que para ele suscitam
um sentimento íntimo e particular de sagrado. Leiris afirmará que, na
busca por esses fatos, é possível que aqueles extraídos das “brumas da
infância” sejam, assim, os mais significativos (Leiris, 1995, p.103).
O texto constitui-se basicamente como uma listagem de eventos,
ídolos, lugares e circunstâncias vividos pelo autor em sua infância e
que são trazidos à tona como exemplos de sua experiência sagrada. É
interessante observar que, ao falar de suas memórias, constantemente,
Leiris opera no texto com a separação dos dois pólos do sagrado, que
podem ser vistos também como o lugar da lei, vinculada diretamente
ao pai, e o da transgressão da lei, vinculado à própria infância. Os
objetos do pai são, inclusive, os primeiros a serem listados por Leiris
como objetos sagrados: o chapéu, o revólver, o cofre, “símbolos de sua
potência e autoridade” (Leiris, 1995, p.103). Depois, destaca-se a opo-
sição entre o quarto dos pais, signo do sagrado direito, e o banheiro
da casa onde vivia, local onde com um de seus irmãos Leiris se tran-
Vida e grafias - miolo.indd 148 3/9/15 7:38 PM
Escrita de si, escrita do mundo
cava à noite, inventando histórias e criando folhetins de aventuras. A
clandestinidade das reuniões que faziam no banheiro dava um caráter
proibitivo ao local:
“Como em uma ‘casa dos homens’ de alguma ilha da Oceania – onde
os iniciados se encontram e onde, boca a boca e geração a geração,
transmitem-se os segredos e os mitos – nesse cômodo que era o nosso
clube, nós inventávamos inesgotavelmente nossa mitologia e, sem nos
cansar, buscávamos respostas aos diversos enigmas do domínio sexual,
que nos obcecava.”
(Leiris, 1995, p.107)
Como Bataille no texto “L’apprenti sorcier”, que compõe a publi-
cação de 1938 do Collège, aqui, Leiris recorre às confrarias primitivas
dos mágicos para fazer alusão a esse caráter do sagrado que se vincula
principalmente ao segredo. Os encontros noturnos no banheiro,
como em uma espécie de sociedade secreta infantil, denotavam um
pacto entre ele e o irmão, um laço sólido de cumplicidade, espaço
onde podiam resistir aos imperativos morais impostos pelos adultos.
Daí é possível deduzir que, nesse sagrado gauche [esquerdo], como ele
mesmo chama, o autor reconhece um espaço de libertação e, princi-
palmente, de criação e inventividade.¹⁰
Nesse mesmo sentido, Leiris elencará oposições semelhantes,
atentando principalmente para o caráter sagrado de lugares, coisas,
pessoas e momentos que, presentes na vida cotidiana, depõe contra a
oficialidade: o mato em que gostava de brincar, esse “espaço mal qua-
lificado”, em oposição ao jardim publico; as corridas de cavalo a que
gostava de assistir, relacionadas ao jogo e à aposta, atividades vistas
como imorais; os jóqueis, heróis com prestígio, diferentes das pessoas
comuns; as palavras que geram mal-entendidos ou que são facilmente
confundidas com outras (Leiris, 1995, p.109). Fatos, assim, que, como
ele descreve, levam algum traço de “prestígio”, “imprevisibilidade”,
“perigo”, “ambiguidade”, “segredo”, “vertigem”, em suas palavras
fatos “marcados por algo de sobrenatural” (Leiris, 1995, p.117).
O que parece ser mais fecundo nesse trabalho de Leiris, pensando
que ele foi elaborado em meio às atividades e discussões propostas
pelo Collège, é, de fato, a importância da relação entre sagrado e
segredo – palavras que, por sinal, só não são sinônimas pela va-
riação de uma única vogal e que, em francês, têm uma pronúncia
bastante semelhante. O que Leiris faz com o material extraído de
10 A definição de um sagrado espacial, “direito” e “esquerdo”, refere-se explicita-
mente ao trabalho de Robert Hertz, La préeminance de la main droite (1909).
Vida e grafias - miolo.indd 149 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
sua memória é tirá-lo da proteção do segredo e, colocando-o em
exposição, provocar o que ele chama de o “sentimento do sagrado”.
É possível pensar, entretanto, que o que Leiris executa – retirando
coisas, pessoas, lugares e situações de um lugar separado e secreto em
sua memória, tornando-as públicas – se parece mais com um proce-
dimento de profanação do que com uma sacralização propriamente
dita. O autor parece querer nos mostrar justamente que o senti-
mento do sagrado não é algo presente apenas em círculos restritos,
indicando-nos que a noção com a qual está lidando é mais ampla que
a noção religiosa. Aqui, o sagrado é um sentimento, uma experiência
de contato com a lei e o fora da lei ou com a ambiguidade entre essas
dimensões, que pode ser vivenciada por qualquer homem diante de
uma variedade enorme de coisas. O sagrado exposto é, assim, um
sagrado quase inerente à humanidade, está menos caracterizado pelo
contato dos homens com os deuses do que pelo contato dos homens
com eles mesmos – isto é, com a sociedade e com a lei. Trata-se de
identificar um sagrado profano, com o perdão da contradição.
Trazer o segredo à tona, revelando-o e invocando com ele um
sentimento ambíguo, faz-nos lembrar de O inquietante (1919), ensaio
de Freud em que ele chama a atenção para imagens e histórias que
causam no homem o sentimento angustiante do unheimlich – termo
traduzido como “inquietante”, “sinistro”, “estranho” –, algo que por
definição é, ao mesmo tempo, ambíguo, estranho e familiar:
“Somos lembrados de que o termo ‘heimlich’ não é unívoco, mas per-
tence a dois grupos de ideias que, não sendo opostos, são alheios um
ao outro: o grupo do que é familiar, aconchegado, e o do que é escon-
dido, mantido oculto. ‘Unheimlich’ deveria ser usado como antônimo
do primeiro significado, não do segundo. Nossa atenção é atraída, de
outro lado, por uma observação de Schelling, que traz algo inteira-
mente novo, para nós inesperado. ‘Unheimlich’ seria tudo o que deveria
permanecer secreto, oculto, mas apareceu.”
(Freud, 2010, p.338)
Segundo Freud, esse sentimento seria causado justamente quando o
sujeito se depara com a vinda à tona de algo que lhe era antes fami-
liar e que, por ter sofrido algum tipo de repressão, torna-se alheio ou
estranho a ele em um momento posterior. O autor explica que esse
é um processo de mão dupla, que diz respeito tanto à formação dos
sujeitos quanto à evolução social. Se no desenvolvimento para a vida
adulta a criança sofre repressões constantes a desejos socialmente
inaceitos – trata-se do conhecido complexo de castração –, também
no curso do desenvolvimento social as sociedades modernas teriam
Vida e grafias - miolo.indd 150 3/9/15 7:38 PM
Escrita de si, escrita do mundo
abafado crenças das sociedades primitivas (estas espécies de homó-
logos das crianças), como a capacidade de crer na “onipotência do
pensamento” e transformar-se por meios mágicos.
O que é mais interessante na teoria freudiana e nesse ensaio para
se pensar o trabalho de Leiris é, certamente, a consideração que se
faz da memória. Freud dirá que o sentimento do inquietante aparece,
pois, apesar de reprimidos, os desejos, as crenças ou as ações, tanto
subjetivas quanto sociais, não se apagam, permanecendo resguar-
dadas no aparelho psíquico do homem. Ele ainda acrescenta que
o próprio mecanismo que as reprimiu também se mantém arma-
zenado na psiqué. Desse modo, a angústia ou, mais propriamente, o
sentimento do unheimlich são causados quando há uma rememoração,
seja do desejo proibido (ou da dita crença na “onipotência do pensa-
mento”), que Freud chama também de “o retorno do reprimido”, seja
da repressão ao dito desejo. Nesse caso, quando o que se relembra
é a própria castração, há um retorno do sentimento ambivalente
que caracteriza o complexo edipiano e que se assemelha ao que
Leiris entende como sentimento ambíguo: a tal “mistura de medo e
vínculo”, sentimento típico em relação ao pai, diria Freud, e que cons-
titui o homem em sua relação com o mundo social.
Pensando nas questões colocadas pelo trabalho de Freud, podemos
trazer um ponto comum que envolve a crítica à modernidade operada
pelos autores no interior do Collège de Sociologie, crítica reproduzida
por Leiris: se o segredo normalmente é alguma coisa que não pode ser
dita, isto é, algo que não vem ao domínio público porque está no campo
da lei, recorrer a esse segredo é negar de alguma maneira o imperativo
moral que, para os autores, está diretamente associado à ideia de “civi-
lização”. Esta é definida por Leiris, em um verbete do dicionário crítico
da revista Documents,¹¹ através da imagem de um musgo que se forma
na superfície das águas e se solidifica, dando a falsa sensação de uma
calmaria, “até que um turbilhão venha desorganizar tudo”. Debaixo
dessa camada sólida, há algo escondido: estamos diante do segredo que
é o homem, que, velado pelos “hábitos morais e polidos”, pelas “belas
formas de cultura”, pode ser a qualquer momento trazido à superfície
por forças cruéis que, assim como um vulcão, mostram sua fúria e seus
“instintos perigosos” (Leiris, 1992, p.31).
É a experiência dessa “selvageria”, no sentido daquilo que não é
11 Muito já foi dito sobre a revista Documents, editada de 1929 a 1931 e primeiro projeto
comum a Bataille e Leiris. Em grande medida, os trabalhos versam sobre a relação da
revista com a etnologia francesa – principalmente, em referência à reformulação do
Museu de Etnografia do Trocadéro – e com os movimentos artísticos da época. Para
uma retomada da revista e detalhes sobre sua estruturação, ver Hollier, 1991; Jamin,
1999; Débaene, 2002; Brumana, 2002; Clifford, 2008; e Feyel, 2010.
Vida e grafias - miolo.indd 151 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
domesticado pela civilização, que Leiris quer recuperar, acreditando,
de certa maneira como Freud, que a despeito do movimento da força
repressora, não há como apagar da constituição humana os desejos
proibidos e as crenças mais primitivas.¹² A ideia é a de que o senti-
mento do sagrado, tal qual o sentimento inquietante, pode emergir a
qualquer momento. Mais do que isso, o autor insinua que é desejável
que o que está escondido, secreto, seja tirado da escuridão das águas,
irrompendo e mostrando sua força.
Pensando nisso, pode-se concluir que a obsessão de Leiris pela
escrita de si e pela retomada de suas experiências infantis vinculadas
à reflexão sobre o sagrado – que veremos desenvolvida também em
outros textos da época, como a própria autobiografia de 1939, L’âge
d’homme (na tradução da edição brasileira de 2003, A idade viril) – não se
encontra em “Le sacré dans la vie quotidienne” de maneira fortuita.
Aqui, a exposição da vida tem implicações políticas implícitas, na
medida em que, com ela, Leiris constrói uma potente crítica à maneira
como a moralidade moderna se constitui, sublinhando ainda sua
maneira de apreensão do conhecimento. O segredo se torna aqui um
potente instrumento: ao narrá-lo e exibi-lo Leiris se contrapõe à “civi-
lização”, que insiste em mantê-lo debaixo de sua espessa camada.
Se a modernidade se constitui, pelo menos na leitura nitzscheana
de Bataille – Bataille toma Nietzsche como referencia em quase toda
a sua obra, mas aqui me refiro principalmente à sua produção dos
anos 1930, principalmente aos textos escritos para as revistas La critique
sociale, Documents, Acéphale e para o próprio Collège de Sociologie –,
como a passagem do império de Deus para o império da Lei, não é
menos natural que o projeto de conhecimento em jogo no Collège seja
aquele que quer afastar a razão de qualquer comércio com os sentidos,
sentimentos e superstições individuais. Leiris quer não apenas trazer
à tona as dimensões vinculadas aos afetos e aos desejos barrados pela
lei, presentes na vida cotidiana de todos os homens, como também
levá-las para o âmbito da própria construção do saber. Assim, como na
sugestão da “sociologia sagrada”, em que o conceito de sagrado passa
de objeto do olhar para lente por onde o olhar passa, a exposição da
vida operada por Leiris tem também esse intuito: ela não é apenas o
tema de seu trabalho, mas uma proposta de conhecimento. O que o
12 Roger Bastide (1973) também usa o adjetivo “selvagem” para se referir a um
sagrado que, segundo ele, se opõe ao sagrado “domesticado”, instituído pela cole-
tividade. Assim, o autor concebe o “sagrado selvagem” de maneira semelhante ao
sagrado descrito por Leiris, basicamente como experiência que se quer fora do âmbito
da lei: “É que só existe coletividade possível dentro e através da regulação, o que
obriga a um salto para fora da selvageria a fim de se penetrar no domínio da lei. Ora,
por definição, o selvagem é aquilo que está fora de toda lei e isso quando ele não quer
ser ainda mais, contestação a qualquer Regra.” (Bastide, 1997, p.272)
Vida e grafias - miolo.indd 152 3/9/15 7:38 PM
Escrita de si, escrita do mundo
autor faz é sugerir a não separação entre o universo do pensamento –
que, ao tentar compreender a vida, tende a estancá-la em categorias
– e a própria vida, esta que não se deixa estancar.
Apesar de ser difícil estabelecer, em meio aos vários trabalhos de
Leiris dessa época – entre poesia, prosa e ensaio, principalmente –,
quais aqueles mais ou menos marcados pela voz autobiográfica, creio
ser possível pensar o texto sobre o sagrado na vida cotidiana como
um dos primeiros textos do autor em que o relato sobre si é feito em
consonância à tentativa de compreender o mundo em Leiris que vive,
sendo os dois movimentos inseparáveis.¹³ A noção de sagrado é, nesse
caso, o laço que amarra essas duas linhas paralelas: a linha da vida –
ou do eu em jogo – e a da sociedade que a circunda.
Jean Jamin (1994), tendo em vista o conjunto da obra de Leiris
e o lugar em que o próprio autor insere “Le sacré dans la vie quoti-
dienne” em seu dossiê “Titres et travaux” (1967) – a saber, entre seus
trabalhos etnológicos e não literários –, sugere o texto escrito para
o Collège como uma espécie de embrião para a constituição de sua
autobiografia L’âge d’homme, escrita no ano seguinte, e o primeiro tomo
de La règle du jeu, Biffures, escrito dez anos depois,¹⁴ textos que ensaiam
o mesmo movimento concomitante da escrita de si e da escrita do
mundo. É verdade que Leiris já exercitava desde a juventude a escrita
de si através de um diário íntimo (1922–1989), mas é em L’Afrique
fantôme (1935), diário escrito com o intuito de ser publicado, que ele
ensaia pela primeira vez a construção de um pensamento autobiográ-
fico de fato.¹⁵ No entanto, se a tentativa era a de fazer uma análise do
mundo social, daquele que foi precisamente observado no curso da
viagem, vinculada à compreensão de sua própria condição enquanto
pesquisador, ou seja, uma análise espelhada entre o eu e o outro,
13 Jamin sugere que é no “quase romance” Aurora (que o autor começa a escrever
quando retorna de uma viagem ao Egito e à Grécia), de 1927, que está enraizado seu
projeto autobiográfico: “Ao retornar dessa viagem, Leiris anota em seu diário um
‘projeto de autobiografia de Democlès Siriel’, onde são elencados fatos marcantes que
A idade viril retomará e desenvolverá.” (1992, p.15)
14 É importante considerarmos que o dossiê escrito por Leiris tinha como finalidade
ser apresentado a um comitê científico, “que deveria avaliar sua passagem de mestre
a diretor de pesquisas no cnrs (Centre Nacional de la Recherche Scientifique)”
(Jamin, 1994, p.11). Nesse caso, é possível pensar que, quando insere “Le sacré dans
la vie quotidienne” entre seus trabalhos etnológicos, o autor tenha tido também a in-
tenção de incrementar a parte etnológica de seu currículo, compatível com o cargo
visado.
15 Não quero com essa afirmação dizer que não há no diário íntimo de Leiris refle-
xões sobre o mundo social. Apenas creio ser importante diferenciá-lo do que constitui
sua obra autobiográfica publicada ou realizada com esse intuito. Como chama a
atenção Jamin, o diário íntimo de Leiris é um diário “atípico”: “Bloco de notas, lista,
álbum, ‘coisas vistas’, folhas de rota, caderno de ensaio, livro de bordo ou mesmo carnet
de laboratório.” (Jamin, 1992, p.11)
Vida e grafias - miolo.indd 153 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
pode-se dizer que, aqui, essa vinculação ainda não é orgânica.¹⁶ Creio
que em “Le sacré dans la vie quotidienne” e depois em L’âge d’homme
fica mais claro o uso que o autor faz de sua própria vida enquanto
material de análise para a compreensão do mundo e da sociedade em
que vive. Nesses dois últimos trabalhos, no primeiro de maneira mais
incipiente e no segundo mais escancaradamente, suas memórias e a
construção autobiográfica a partir das mesmas não são paralelas à
análise do mundo ao seu redor, mas ao material mesmo sobre qual ele
se debruça para compreendê-lo.
Entendo esse procedimento usado por Leiris, pelo menos nesses
textos escritos em 1938 e 1939, menos como uma “etnografia de si
mesmo”, como nos diz Jean Jamin – isto é, como a aplicação de um
método científico descritivo para a compreensão de uma vida ou de
uma singularidade – e mais como um “‘ensimesmamento’ da etno-
grafia”, com o perdão do neologismo (Jamin, 1994, p.17). Parece-me
que o que está em jogo é justamente trazer a vida, em seu movimento
incessante, em seu cotidiano sagrado, como o autor nos diz (1938),
para a atividade de pensar a realidade objetiva. Aqui, a vida é um
material privilegiado e um instrumento de análise do mundo que a
circunda.
Reitero, assim, que a narrativa de Leiris sobre sua vida nesse
momento era, na esteira da “sociologia sagrada” pensada pelo
Collège, também uma proposta político-metodológica, uma maneira
de construir o pensamento, uma perspectiva de trabalho que queria
privilegiar o imbricamento entre práticas e saberes. Assim como nos
movimentos de vanguarda com a qual tivera contato íntimo, havia
no trabalho de Leiris uma preocupação em trazer novamente a vida
cotidiana para o seio do pensamento e da arte, que estariam se tor-
nando formas cada vez mais abstratas: era preciso fazer com que essas
fossem esferas essencialmente comunicáveis e, portanto, associadas
16 Em L’Afrique fantôme, por mais que Leiris ensaie a escrita autobiográfica, creio que
ela não está posta ainda como centro de sua atenção. Aqui, a escrita de si parece ser
uma espécie de mediação necessária para o alcance da mais objetiva e real compre-
ensão possível do outro primitivo. No projeto de prefácio o autor explica: “Narro
apenas os fatos a que eu mesmo assisti. Descrevo pouco. Anoto os detalhes e é lícito a
qualquer um declará-los deslocados ou fúteis. Descuido de outros que se pode julgar
mais importantes. Nada fiz, por assim dizer, para corrigir, posteriormente, o que há
de excessivamente individual, mas sim para alcançar o máximo de verdade, pois só o
concreto é verdadeiro. É levando o particular ao extremo que, com frequência, atinge-
-se o geral; exibindo o coeficiente pessoal aos olhos de todos, permite-se o cálculo do
erro; conduzindo a subjetividade ao ápice, toca-se a objetividade.” (2007, p.301) Como
comenta Luis Felipe Sobral, “Leiris faz as vezes de um sisifista moderno: está con-
denado eternamente a empurrar a pedra da subjetividade até o cume da exposição,
apenas para, uma vez lá em cima, vê-la rolar morro abaixo, momento de retomar sua
tarefa” (2008, p.208).
Vida e grafias - miolo.indd 154 3/9/15 7:38 PM
Escrita de si, escrita do mundo
ao movimento da vida (Renault, 1990, p.89). O “eu” construído por
Leiris deixava de ser aqui apenas objeto de sua análise para se tornar
também instrumento dela. Trazendo sua própria vida como material
para pensar as irrupções do sagrado, isto é, os momentos em que ele
se faz presente, Leiris conseguia não só refletir sobre o imbricamento
entre homem e sociedade, desejo e lei, fazendo uma crítica implícita
à moralidade moderna, como também mimetizar essa reflexão, na
medida em que sua narrativa é ela mesma construída por essa an-
gulação entre o eu e o mundo. Isto é, a forma da narrativa reproduz
de alguma maneira o seu conteúdo, chegando a confundir o leitor:
já não se sabe mais onde começa a vida de Leiris e onde termina seu
pensamento, ou quando se escreve para viver e quando se vive para
escrever.
Referências
G Aguilar, “La piedra de la medusa”, Episodios cosmopolitas en la cultura argentina, Buenos
Aires: Santiago Arcos Editor, 2009
G Ambrosino, G Bataille, R Caillois, P Klossowski, P Libra & J Monnerot, “Déclara-
tion sur la fondation d’un Collège de Sociologie”, in: D Hollier (organização), Le
Collège de Sociologie, Paris: Gallimard, 1995
A Armel, Michel Leiris, Paris: Fayard, 1997
P Aron & E Van Der Schueren, “Entretien avec Maurice Nadeau”, Revue de l’Université
de Bruxelles, n.1–2, Bruxelles: Editions de l’Université de Bruxelles, 1990
G Bataille, Oeuvres complètes, t.1, Paris: Gallimard, 1970
–, “Le Collège de Sociologie”, in: D Hollier (organização), Le Collège de Sociologie,
Paris: Gallimard, 1995
–, “L’apprenti sorcier”, in: D Hollier (organização), Le Collège de Sociologie, Paris:
Gallimard, 1995
–, Choix de lettres (1917–1962), Paris: Gallimard, 1997
G Bataille (organização), Documents: année 1929/1930, Paris: Jean-Michel Place, 1991
G Bataille & M Leiris, Échanges et Correspondences, Paris: Gallimard, 2004
G Bataille, R Caillois & M Leiris, “Déclaration du Collège de Sociologie sur la crise
internationale”, in: D Hollier (organização), Le Collège de Sociologie, Paris: Galli-
mard, 1995
R Bastide, O sagrado selvagem e outros ensaios, São Paulo: Companhia das Letras, 1997
P Bonte & M Izard (organização), Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie, Paris:
Presses Universitaires de France, 1991
R Caillois, “Entretien donné à Hector Bianciotti et Jean-Paul Enthoven”, Cahiers pour
en temps, Paris: Centre Georges Pompidou & Pandora Editions, 1981a
–, “Notes pour un itinéraire de Roger Caillois”, Cahiers pour en temps, Paris: Centre
Georges Pompidou & Pandora Editions, 1981b
–, “Vent d’hiver”, in: D Hollier (organização), Le Collège de Sociologie, Paris: Galli-
mard, 1995
–, Oeuvres, Paris: Gallimard, 2008
Vida e grafias - miolo.indd 155 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
R Caillois & V Ocampo, Cahiers pour en temps, Paris: Centre Georges Pompidou &
Pandora Editions, 1981
–, Correspondances, Paris: Éditions Stock, 1997
J Clifford, A experiência etnográfica – antropologia e literatura no século xx, Rio de Janeiro:
Editora ufrj, 2008
V Debaene, “Les surréalistes et le musée d’ethnographie”, Labyrinthe, Paris, n.12. p.71–
94, 2002
M De Certeau, A invenção do cotidiano: artes de fazer, Petrópolis: Editora Vozes, 1994
E Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse: le système totémique em Australie, Paris:
Presses Universitaires de France, 1968
E Durkheim & M Mauss, “De quelques formes primitives de classification. Con-
tribution à l’étude des représentations colllectives”, in: J Duvignaud, Journal
Sociologique, Paris: puf, 1969
J Feyel, “La résurgence du sacré: Georges Bataille et Documents (1929–1930)”, in: J
Feyel (organização), Actes du colloque transdisciplinaire du 29 avril 2006 à Newnham
College, Université de Cambridge, 2010, p.74–93
S Freud, Totem e tabu, Rio de Janeiro: Imago Editora, 1969
–, O inquietante, São Paulo: Companhia das Letras, 2010
–, O mal-estar na civilização, São Paulo: Companhia das Letras, 2010
C Ginzburg, Mitos, emblemas, sinais: morfologia e história, São Paulo: Companhia das
Letras, 2011
A Girard, Le Journal Intime, Paris: Presses Universitaires de France, 1963
J Heimonet, Politiques de l’écriture: le sens du sacré dans la pensée française du surréalisme à nos
jours, Paris: Jean Michel Place, 1990
R Hertz, “A preeminência da mão direita: um estudo sobre a polaridade religiosa”, Re-
ligião e Sociedade, v.6, p.99–128, São Paulo, 1980
D Hollier, “La valeur d’usage de l’impossible”, in: G Bataille, Documents: doctrines, archéo-
logie, beaux-arts, ethnographie, année 1929/1930, Paris: Jean-Michel Place, 1991
–, “Aux fins du Collège de Sociologie”, Gradhiva, n.13, Paris: Jean Michel Place, 1993
–, Les dépossédés (Bataille, Callois, Leiris, Malraux, Sartre), Paris: Édition de Minuit, 1993
D Hollier (organização), Le Collège de Sociologie, Paris: Gallimard, 1995
J Jamin, “Un sacré collège ou les apprentis sorciers de la sociologie”, Cahiers Internatio-
naux de Sociologie, n.68, p.5–30, Paris, 1980
–, “L’ethnographie mode d’emploi: de quelques rapports de l’ethnologie avec le
malaise dans la civilisation”, in: J Hainard & R Kaher, Le mal et la douleur, Paris:
Neuchâtel, Musée d’ethnographie, 1986
–, “Présentation”, in: M Leiris, Journal (1922–1989), Paris: Gallimard, 1992
–, “Présentation”, in: M Leiris, L’homme sans honneur: notes pour le sacré dans la vie quoti-
dienne, Paris: Jean Michel Place, 1994
–, “Documents revue: la part maudite de la etnographie”, L’homme, t.39, n.151,
p.257–266, Paris, 1999
J Jamin & P Williams, “Jazzanthropologie”, L’homme, p.158–159, Paris, abril–setembro
de 2001
V Karady, “Présentation de l’édition”, in: M Mauss, Oeuvres, Paris: Les Éditions de
Minuit, 1985
D Lecoq & J-L Lory, Écrits d’ailleurs: Georges Bataille et les ethnologues, Paris: Éditions de la
maison des sciences de l’homme, 1987
M Leiris, La règle du jeu, Paris: Gallimard, 1948, t.1, Biffures
–, La règle du jeu, Paris: Gallimard, 1955, t.2, Fourbis
–, “Titres et travaux”, Gradhiva, n.9, Paris: Jean Michel Place, 1991
–, Journal 1922–1989, Paris: Gallimard, 1992a
–, Brisées, Paris: Gallimard, 1992b
–, L’ homme sans honneur – notes sur le sacré dans la vie quotidienne, Paris: Jean Michel
Place, 1994
–, “Le sacré dans la vie quotidienne”, in: D Hollier (organização), Le Collège de Socio-
logie, Paris: Gallimard, 1995
–, Espelho da tauromaquia, São Paulo: Cosac Naify, 2001
Vida e grafias - miolo.indd 156 3/9/15 7:38 PM
Escrita de si, escrita do mundo
–, A idade viril, São Paulo: Cosac Naify, 2003
–, A África fantasma, São Paulo: Cosac Naify, 2007
J M Leniaud, “L’école des Chartes et la formation des élites (xix e. s)”, La Revue Admi-
nistrative, ano 46, n.276, novembro e dezembro de 1993, p.618–624, Paris: Presses
Universitaires de France, 1993
M Leiris & P Chavasse, “Entretien avec Michel Leiris”, Radio France-Culture, janeiro
de 1968, disponível em http://www.ina.fr/art-et-culture/litterature/audio/
PHD99208104/michel-leiris-1.fr.html
M Leiris, S Price & J Jamin, C’est-à-dire, Paris: Jean-Michel Place, 1992
C Maubon, “Georges Bataille, Collette Peignot, Michel Leiris: l’aventure du sacré”,
Bataille, Leiris: l’intenable assentiment au monde, Paris: Berlin, 1999
M Mauss & H Hubert, Sociologia e antropologia, São Paulo: Cosac Naify, 2003
–, Sobre o sacrifício: ensaio sobre a natureza e a função do sacrifício, São Paulo: Cosac Naify,
2005
E Moraes, O corpo impossível, São Paulo: Iluminuras & fapesp, 2002
M Nadeau, Michel Leiris et la quadrature du cercle, Paris: Julliard, 1963
–, História do surrealismo, São Paulo: Perspectiva, 1985
F Nietzsche, O nascimento da tragédia ou Helenismo e pessimismo, São Paulo: Companhia das
Letras, 2007
F Peixoto, “O nativo e o narrativo – os trópicos de Lévi-Strauss e a África de Michel
Leiris”, in: J Cavignac, M Grossi & A Motta (organização), Antropologia Francesa no
século xx, Recife: Editora Massangana, 2006
–, “Roger Bastide e as cidades: dois ângulos e uma perspectiva”, in: A Lanna, F
Peixoto, J Lira & R Sampaio (organização), São Paulo, os estrangeiros e as cidades, São
Paulo: Alameda, 2011a
–, “O olho do etnógrafo”, Sociologia & Antropologia, v.1, n.2, p.195–215, 2011b
M Renault, “Michel Leiris et l’art de son temps”, in: P Aron & E Van Der Schueren
(organização), Revue de l’Université de Bruxelles, n.1–2, 1990, Bruxelas: Editions de
l’Université de Bruxelles, 1990
E Roudinesco, Jacques Lacan: esboço de uma vida, história de um sistema de pensamento, São
Paulo: Companhia das Letras, 1994
L Sobral, “O pensamento selvagem de Michel Leiris”, Novos Estudos cebrap, n.82,
p.207–215, novembro de 2008
M Surya, La mort à l’oeuvre, Paris: Gallimard, 1992
L Yvert, “Annotation à l’édition”, in: M Leiris & G Bataille, Échanges et correspondances,
Paris: Gallimard, 2004
M Weingrad, “The College of Sociology and the Institute of Social Research”, New
German Critique, n.84, p.129–161, 2001
Júlia Vilaça Goyatá é bacharel em Ciências Sociais pela ufmg (2009), mestre em
Antropologia Social pela Universidade de São Paulo (2012) e doutoranda na mesma
universidade. As pesquisas realizadas no âmbito dessas instituições se vinculam prin-
cipalmente à teoria antropológica de matriz francesa e aos temas que envolvem o
cruzamento entre memória social, expressão artística e experiência política.
Vida e grafias - miolo.indd 157 3/9/15 7:38 PM
Para além das vidas
de Nimuendaju:
constituição de narrativas
da história da antropologia
Christiano Key Tambascia
Poucos antropólogos foram tão celebrados na história da disciplina
antropológica brasileira como Curt Nimuendaju (1883–1945), nascido
em Jena, Alemanha, mas naturalizado brasileiro depois de décadas
de trabalho no país. Entretanto, ao mesmo tempo que os colegas e
as gerações seguintes de antropólogos não pouparam declarações
sobre sua importância em abrir portas para novas pesquisas etnoló-
gicas, Nimuendaju foi constantemente retratado como um excelente
etnógrafo, um ótimo “coletador” de dados, mas teoricamente limi-
tado – em grande parte pelas dificuldades advindas de uma formação
errática e informal, compensadas por seu conhecido autodidatismo.
Reclamado como um dos pais da etnologia brasileira e emblema do
comprometimento dos antropólogos com o campo político indigenista
e com as populações que buscou compreender, a carreira de Nimuen-
daju mostra-se uma porta de entrada privilegiada para se pensar o
desenvolvimento da antropologia brasileira.
Curt Unkel migrou cedo ao Brasil, onde, já no começo do século
xx, empreendeu expedições ao interior do país de maneira quase
ininterrupta, até seu falecimento, em 1945, próximo de uma aldeia
Ticuna no Alto Solimões. Em 1906, recebeu seu nome guarani, Ni-
muendaju, que adotou oficialmente em 1922, quando se naturalizou
brasileiro. É interessante notar que a adoção do nome indígena aglu-
tina a um só tempo as dificuldades em trilhar, nas matas e na academia
brasileira, o percurso para adquirir respeito pelos colegas antropó-
logos, pelo comprometimento absoluto com as populações indígenas.¹
O nome, nesse caso, não poderia ser mais propício, expressivo do status
quase mitológico que cerca sua figura: como indicam as muitas versões
Vida e grafias - miolo.indd 158 3/9/15 7:38 PM
Para além das vidas de Nimuendaju
de sua morte (natural, segundo alguns; assassinado pelos “patrões”
contra os quais lutou em prol dos grupos indígenas que visitou,
segundo outros) ou as histórias de como por mais de vinte anos teve
seus restos mortais guardados no Museu Paulista em São Paulo, onde
trabalhou pouco depois de chegar ao Brasil (Laraia, 1988, p.70–71).
A proposta deste capítulo é discutir a constituição de uma narra-
tiva acerca da obra e da carreira de Curt Nimuendaju, produzida no
interior do campo acadêmico antropológico, de modo a considerar
como questões sobre o fazer antropológico – teórico e político – estão
condensadas nas “reivindicações totêmicas” (Viveiros de Castro,
1987, p.xviii) do etnógrafo. Partirei, inicialmente, das publicações
que buscam interpretar a morte de Nimuendaju, já bastante conhe-
cidas, para depois tecer alguns comentários sobre as apreciações de
sua obra, de modo a começar a delimitar os espaços reservados e
ocupados pelo mesmo – em vida e depois de seu falecimento, como
figura importante na “mitologia” da antropologia brasileira. Parte
da interpretação foi propiciada por uma pesquisa nos arquivos do
Museu Paraense Emílio Goeldi, instituição para a qual ele trabalhou,
o que possibilita introduzir elementos para complexificar um debate
já bastante amplo nas pesquisas sobre a história da disciplina. Assim,
apresentarei alguns exemplos da importância do colecionismo pra-
ticado por Nimuendaju, aspecto que conjuga tanto as dificuldades
encontradas por ele – no contexto da formação do campo antropoló-
gico no Brasil e do contexto político mais amplo, de meados do século
passado – quanto as possibilidades de colaboração com instituições
nacionais e internacionais.
As muitas mortes de Nimuendaju
e os sentidos de sua obra na antropologia brasileira
Alguns antropólogos aventaram sobre as possíveis causas da morte
de Nimuendaju e sobre os significados de sua morte. Egon Schaden
(1968), por exemplo, afirma que os quarenta anos de viagens pelo
interior do Brasil lhe arruinaram a saúde, não contradizendo,
assim, uma das hipóteses levantadas por Roque de Barros Laraia,
1 Entre os muitos trabalhos que resgatam os significados do nome, Viveiros de Castro
menciona as próprias traduções etimológicas propostas por Nimuendaju e por Egon
Schaden, seu colega e professor da Universidade de São Paulo: de “fazer moradia”,
ou “conseguir para si um lugar” (Viveiros de Castro, 1987). Variações dessa mesma
noção, outras interpretações não contradizem as informações fornecidas por Viveiros
de Castro. São exemplos: Pereira, 1946; Schaden, 1968; Laraia, 1988; Arnaud, 1983;
Côrrea Filho, 1981; Oliveira Filho, 1999; Hartmann, 2000; Mélo, 1973; Gonçalves,
1993; e Grupioni, 1998.
Vida e grafias - miolo.indd 159 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
anos depois, de que Nimuendaju pode muito bem ter morrido de
causas naturais. Herbert Baldus também parece apontar para essa
possibilidade, lembrando que Nimuendaju reclamara a este, em cor-
respondência, de problemas de saúde, informando que havia sido
advertido por médicos que deveria abandonar a carreira de sertanista
(Baldus, 1946). Grupioni lembra, ainda, que pouco antes de empre-
ender mais uma viagem aos Ticuna, em 1943, o etnógrafo havia sido
acometido de um glaucoma e havia feito exames que apontavam para
a necessidade de ter maiores cuidados com a saúde (Grupioni, 1998).
Entretanto, lembra Laraia, essa era uma versão da morte de Nimuen-
daju que pouco circulava entre índios e antropólogos. Laraia (1988)
menciona algumas versões: a possibilidade do quase sacrifício em prol
dos Ticuna, explorados pelos seringalistas da região (que o teriam
envenenado); a tese de que havia sido envenenado pelo pai de uma
índia ticuna com quem se engraçara (que, segundo Laraia, corria nas
fofocas de corredores universitários, a boca pequena, alimentando
a aura acerca das peculiaridades galantes do ofício), aparentemente
levantada por Nuno Pereira, que visitou o local da morte de Nimuen-
daju alguns meses depois do ocorrido, em 1946; a tese de que havia
sido assassinado pelos Ticuna, que lhe roubaram os pertences depois
do assassinato (o que costuma ser negado, tanto pelos Ticuna como
pelos antropólogos, já que em sua posse, no momento da morte, o
etnógrafo tinha apenas presentes aos próprios índios, além de cader-
netas de anotações que depois foram recuperadas).
João Pacheco de Oliveira, por sua vez, atenta exatamente para
os sentidos que essas diferentes versões da morte de Nimuendaju têm
em relação a uma narrativa própria da antropologia brasileira, com-
prometida politicamente com o indigenismo e que resgata, através da
“versão antropológica” considerada implicitamente mais plausível – a
de um assassinato pelos donos dos barracões, contra os quais Nimuen-
daju lutou em prol dos Ticuna que estavam sendo explorados, o que
acena, portanto, para a ideia de um quase sacrifício –, um símbolo
da ética antropológica nacional (Oliveira Filho, 1999). O autor se
exime de sugerir sua própria opinião sobre a causa da morte, mas, ao
trazer elementos para compreender os embates entre Nimuendaju e
os donos dos barracões dos seringais nas quatro viagens que empre-
endeu à região (em um contínuo escalar de violência a cada estadia),
nos é deixada a possibilidade de pensar sobre a suspeita da versão de
um assassinato pelos homens que forneciam bebida aos índios, que se
ressentiam da influência de Nimuendaju entre estes e empreenderam
uma campanha de difamação (o que chegou a levar o etnógrafo preso,
sob suspeita de espionagem, por sua origem germânica, em plena
Segunda Guerra). Nesse sentido, Oliveira (1999) procura problema-
Vida e grafias - miolo.indd 160 3/9/15 7:38 PM
Para além das vidas de Nimuendaju
tizar os efeitos que a presença do antropólogo enquanto agente suscita
em situações concretas do encontro etnográfico.
Entretanto, como se pode depreender dos trabalhos de Baldus e
Schaden, parece que as versões de morte não naturais do etnógrafo,
no alto rio Solimões, só começaram a ser aventadas anos depois de
seu falecimento. A despeito da afirmação de Laraia, não creio ser pos-
sível determinar se Nuno Pereira deixou por escrito alguma opinião
sobre qualquer tipo de hipótese de morte violenta (por desventuras
amorosas ou por problemas com a política local). De fato, aqui, o que
interessa analisar são as narrativas constituídas em publicações sobre
essas apropriações dos possíveis sentidos da morte de Nimuendaju,
que contribuiriam para a produção de uma versão significativa de sua
vida e obra.
Por algum tempo depois da morte do antropólogo, é difícil en-
contrar interpretações pelos que o conheceram que não a de uma
morte natural. Em 1946, Inocêncio Machado Coelho, que acabara de
substituir Carlos Estevão de Oliveira na diretoria do Museu Goeldi,
enviou diversas cartas aos institutos de pesquisa que tinham rela-
ções de colaboração com Nimuendaju lamentando a perda de um
importante pesquisador. Em janeiro de 1946, por exemplo, informa
Julian Steward – no Smithsonian Institute, nos Estados Unidos, que
publicou trabalhos do etnógrafo em seu projeto do Handbook of South
American Indians – que Nimuendaju havia sido vítima de uma doença
hepática, não encontrando necessidade de fornecer quaisquer outros
tipos de dados sobre o ocorrido (Coelho, 1946).
É importante ressaltar que, não obstante as poucas referências a
uma suspeita de assassinato por parte dos patrões insatisfeitos com a
presença de Nimuendaju na região, existem indícios, apontados pelo
diretor do Goeldi à época, Carlos Estevão de Oliveira, e pela diretora
do Museu Nacional, Heloísa Alberto Torres, de uma indisposição
e uma animosidade local em relação ao etnógrafo, atribuídas à sua
origem alemã – ainda que não nos tenha sido deixada uma relação
explícita entre essa situação tensa e a causa da morte. Já em setembro
de 1942, quando Nimuendaju realizava sua terceira viagem à região
Ticuna, Carlos Estevão de Oliveira enviou uma carta ao comandante
Accioli Doria, do Serviço de Navegação do Amazonas e Adminis-
tração dos Portos do Pará, destacando essa tensão:
“… rogo-lhe permissão para, aproveitando a oportunidade, solicitar
seus bons ofícios em favor do nosso museu. Trata-se do seguinte: de-
vidamente autorizado pelo Conselho de Fiscalização das Expedições
Artísticas e Científicas do Brasil, está, há meses, estudando os índios
Tucuna no Solimões, por conta deste Instituto, do Museu Nacional
Vida e grafias - miolo.indd 161 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
e da fundação Rockefeller, o reputado etnólogo Curt Nimuendajú.
Segundo carta que do mesmo acabo de receber, ele, havendo termi-
nado seus estudos, pretende voltar no vapor da Snapp, provavelmente
o ‘Aimoré’, que deve sair de Tabatinga [daqui] a trinta [dias] deste
[dia]. O sr Curt traz material etnológico e botânico para o nosso
Museu, e etnológico para o Museu Nacional. O aludido material é
grandemente precioso. Por isso, este Instituto e o Museu Nacional
tem o máximo interesse em que o mesmo chegue em ótimas condi-
ções de aproveitamento. Em tempos normais, nenhum receio poderia
haver sobre o acolhimento daquele material em qualquer vapor,
maxime sendo o professor Nimuendajú, brasileiro naturalizado.
Depois, tivesse ele qualquer simpatia pelo eixo, e, certamente, não
estaria trabalhando para dois museus nacionais, autorizado para isso
por um conselho federal e auxiliado monetariamente por uma ins-
tituição americana como é a fundação Rockefeller. Mas, como nem
todos sabem dessas circunstâncias, pode haver qualquer ‘quid pro quo’
no embarque daquele cientista. Por essa razão é que eu, particular-
mente e como diretor do Museu Paraense Emílio Goeldi, peço-lhe o
grande obsequio de agir de maneira a não ser criado embaraço ao seu
embarque, assim como ao material de etnologia e botânica que ele
conduz.”
(Estevão de Oliveira para Doria, 16 de setembro de 1942)
É algo nebulosa a menção ao Eixo – referência à Alemanha nazista
em especial, dado o local de nascimento de Nimuendaju – bem como
a necessidade de Estevão de Oliveira ter de ressaltar a legitimidade
das credenciais das instituições para as quais o antropólogo traba-
lhava, brasileiras e americana (portanto, de países aliados, em guerra
contra o Eixo). Dessa maneira, para compreender o pedido do diretor
do museu, temos de entender o sentimento da “escalada de violência”
na região mencionada por João Pacheco de Oliveira.
Em carta de maio de 1942, logo após sua chegada em campo,
Nimuendaju escreve a Estevão de Oliveira, não sem certa ironia e jo-
cosidade, informando:
“Era fato sabido entre civilizados e índios da zona que eu tinha sido
preso e morto. Já eu o tinha ouvido quando de passagem em Tonan-
tins. Em Santa Rita, soube dos pormenores: fui preso porque viajei
nos igarapés dos Tukúna sem licença e morto porque foi descoberto
que eu era espião alemão.”
(Hartmann, 2000, p.308)
Nimuendaju sabia que esse boato havia sido criado pelo subdelegado
Vida e grafias - miolo.indd 162 3/9/15 7:38 PM
Para além das vidas de Nimuendaju
da polícia local, parente dos donos dos barracões que exploravam a
força de trabalho Ticuna. Em outra carta, datada de apenas alguns
dias depois, conta que, quando em visita na casa de um amigo, foi
inquirido por um tenente engenheiro militar que lá também se en-
contrava: o tenente parecia convencido de que ele era espião alemão
(Hartmann, 2000, p.310). Nimuendaju dizia ter certeza de que esses
inconvenientes eram fruto de uma “campanha sistemática de difa-
mação” orquestrada pelos donos dos barracões dos seringais, que
espalhavam a notícia de que ele estava fazendo mapas dos igarapés
para possibilitar ataques aéreos dos alemães, e que havia sido vítima
de toda sorte de boatos e campanhas “odiosas” por parte dos “civili-
zados”, que continuavam a noticiar sua morte, ou a descrevê-lo como
espião (Hartmann, 2000, p.311).
A carta do diretor do Goeldi ao comandante Doria, portanto, se
refere a essas informações que lhe forneceu Nimuendaju ao longo de
1942, tendo sido escrita no início de setembro. Nimuendaju escreveu
a Carlos Estevão de Oliveira manifestando seu receio em embarcar
no referido barco, temendo “encontrar má vontade ou coisa pior da
parte do pessoal do vapor” (Hartmann, 2000, p.328), uma vez que
soubera de casos de abuso contra descendentes de alemães na região e
que havia sido acusado de ter uma estação de rádio clandestina.
Nimuendaju foi preso depois de viajar no vapor, já em Manaus.
O diretor do Goeldi, sabendo do fato, intercedeu junto à Interven-
toria do Estado do Amazonas (Estevão de Oliveira para Maia, 28
de setembro de 1942)² de modo a fazer justiça e ajudar o amigo.
Também agiram Heloísa Alberto Torres e o próprio Marechal
Rondon, que tinha grande apreço pelo colaborador de longa data do
spi, Nimuendaju, que teve um papel importante na constituição de
um posto do órgão na região, para desagrado dos seringalistas. Esse
cuidado se seguiu nos meses seguintes, cartas sempre precisando ser
enviadas às autoridades competentes para explicar o tipo de trabalho
desenvolvido pelo etnógrafo. Em agosto de 1942, por exemplo, Oli-
veira escreveu ao tenente Monteiro, do destacamento do exército da
região, dizendo saber que “denúncias mentirosas” estavam chegando
aos ouvidos do tenente, razão pela qual se sentia obrigado a elencar
as qualidades de Nimuendaju, informando sobre o respaldo que o
etnógrafo tinha de prestigiadas instituições nacionais e americanas, e
que definitivamente não era um “espião, fomentador de revoltas ou
2 É interessante notar que as cartas de Nimuendaju a Estevão de Oliveira, em Cartas
do Sertão, não têm as respostas do último publicadas em suas páginas. As respostas en-
contram-se nos arquivos do Museu Goeldi. Nelas, o diretor do museu se mostra muito
entristecido com os relatos dos abusos dos donos dos barracões, partilhando do des-
prezo de Nimuendaju com relação a esses “civilizados”.
Vida e grafias - miolo.indd 163 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
matador de índios” (Estevão de Oliveira para Monteiro, 18 de agosto
de 1942). Alguns dias depois, comunica isso a Nimuendaju:
“Fui informado de que pessoas daí [Igarapé da Rita, no Alto So-
limões], certamente prejudicadas nos seus interesses subalternos,
haviam comunicado a autoridades dessa região que você estava revol-
tando os índios; que já havia assassinado diversos; que tinha estação
de rádio clandestina, enfim uma porção de infâmias com as quais
visavam a interromper definitivamente a sua atuação científica e
humana entre os Tucuna. Como não podia deixar de ser, revoltei-
-me com tanta miséria e agi no sentido de, fazendo-lhe justiça, evitar
tamanha indignidade.”
(Estevão de Oliveira para Nimuendaju, 26 de agosto de 1942)
No parágrafo seguinte da mesma carta, o diretor alerta para o estado
de ânimo da política internacional quanto à guerra que acontecia na
Europa:
“Aqui pelo Museu vai tudo regularmente. A nossa política interna-
cional é que se complicou, com o torpedeamento de cinco vapores
brasileiros nas costas da Baía, dando isso, como era fatal, grande
revolta do povo e declaração de beligerância entre o Brasil, Alemanha
e Itália. Estamos, portanto, às portas da guerra.”
(Estevão de Oliveira para Nimuendaju, 26 de agosto de 1942)
De fato, desde o início do ano havia pressão para que o Brasil decla-
rasse guerra aos países do Eixo, uma vez que, na prática, o Governo
Vargas já vinha progressivamente se alinhando aos Estados Unidos,
tendo inclusive autorizado a instalação de bases americanas na costa
em troca de incentivos comerciais e compra de armas. A guerra foi
oficialmente declarada em 22 de agosto, depois do torpedeamento de
inúmeros navios brasileiros por submarinos alemães e italianos, in-
cluindo os cinco mencionados por Estevão de Oliveira, afundados no
período de poucos dias – deixando claro o despreparo da marinha na-
cional em lidar com as agressões sem o apoio militar norte-americano
(Alves, 2005).
É preciso, ainda, considerar as complicadas negociações de au-
torização, por parte do Conselho de Fiscalização, para a coleção e
a venda de objetos etnográficos. Essas negociações também foram
conduzidas por Estevão de Oliveira, entre o órgão federal e as institui-
ções estrangeiras que financiavam parte da pesquisa de Nimuendaju,
já que envolviam questões de soberania, por se tratar de patrimônio
nacional em um período delicado da política internacional. Em carta
Vida e grafias - miolo.indd 164 3/9/15 7:38 PM
Para além das vidas de Nimuendaju
para Heloísa Alberto Torres, diretora do Museu Nacional no Rio de
Janeiro, Carlos Estevão de Oliveira reclama das determinações do
Conselho de Fiscalização que, não obstante ter ciência de que Ni-
muendaju estava sendo comissionado pelos dois museus – paraense
e carioca – para formar coleções de artefatos etnográficos Ticuna,
obrigava o etnógrafo a “remeter ao conselho o total dos exemplares
colecionados, dada a importância do colecionador, para que sejam
expostos nesta capital, e devidamente estudados, opinando o con-
selho sobre a partilha final” (Estevão de Oliveira para Torres, 28 de
fevereiro de 1942). A preocupação era de que o Museu Nacional,
se não se interpusesse, como fez o Paraense, sobre a “pretensão tão
desarrazoada” do Conselho, impedisse a referida terceira viagem
de Nimuendaju ao Alto Solimões, já que estava sendo pedida uma
licença de pesquisa que não deveria ser necessária.
É possível complexificar ainda mais a questão, que envolvia uma
negociação delicada entre os museus referidos quanto à partilha dos
objetos etnográficos e as saídas encontradas por Oliveira e Torres
para o trabalho colecionista de Nimuendaju, tão importante para o
financiamento e para a legitimidade de suas pesquisas etnológicas.
Entretanto, creio que esses breves exemplos são suficientes para o ar-
gumento aqui desenvolvido, o de contextualizar os desafios colocados
ao etnólogo e que deram origem às narrativas sobre seu lugar no
campo antropológico brasileiro.
Considerações
sobre a importância atribuída à obra de Nimuendaju
Nos seus quase quarenta anos de viagens, Nimuendaju coletou dados
etnográficos que foram amplamente utilizados por outros antro-
pólogos – brasileiros e estrangeiros. As monografias publicadas na
Alemanha e nos Estados Unidos foram logo reconhecidas por sua im-
portância, e continuam até hoje sendo objetos de reflexão. O mapa
etno-histórico que produziu na década de 1940 é considerado uma
obra-prima dos esforços de Nimuendaju em conjugar as experiên-
cias que teve em campo com seu conhecimento da literatura histórica
etnológica, tornando-se referência para trabalhos futuros, de identifi-
cação e localização dos povos indígenas no Brasil.
Lévi-Strauss, por exemplo, utilizou-se em sua obra das informa-
ções colhidas das publicações de Nimuendaju sobre os povos de língua
Jê para sua análise dos mitos ameríndios. Entretanto, não obstante
a constituição de um renome, cunhado através de sua colaboração
com pesquisadores radicados no Brasil, mas também na Europa e
nos Estados Unidos – como atesta sua relação com Alfred Metraux e
Vida e grafias - miolo.indd 165 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
com Robert Lowie –, que lhe garantiram vínculos institucionais que
possibilitaram a realização de suas viagens, Nimuendaju também teve
seu lugar na história da antropologia brasileira restringido por esses
mesmos fatores. Paradoxalmente, os elementos por ele capitalizados
para desenvolver sua carreira marcaram de forma indelével as narra-
tivas sobre quais foram as fronteiras que não logrou ultrapassar.
Produziu-se de maneira exemplar, na obra e na carreira de Ni-
muendaju, uma espécie de especialização do trabalho científico que
conformou sua entrada no campo antropológico, mas de maneira
específica e limitada. Tratava-se da constatação, bem conhecida nos
departamentos universitários, de uma divisão estabelecida no interior
das competências consideradas científicas. Concepção presente, por
exemplo, na célebre teorização do próprio Lévi-Strauss, ainda na
década de 1950, de que existem colaborações cruciais, mas distintas,
entre o fazer do etnógrafo – que se desloca das “coordenadas” de sua
própria sociedade para coletar dados –, do etnólogo e do antropólogo
– que se utilizam dessas observações para construir modelos abstratos
a serem comparados com outras etnografias (Lévi-Straus, 1996).
Em seu esboço de autobiografia, Lowie, um dos que mais contri-
buiu para estabelecer esses espaços institucionais e acadêmicos para
Nimuendaju, dedica um capítulo ao colega com quem se correspondia
regularmente e a quem ajudava a publicar seus trabalhos nos Estados
Unidos. Já na década de 1920, conta Lowie, soube de um etnógrafo
alemão que vivia há muitos anos no Brasil, não tivera treinamento
formal, mas era um observador perspicaz, o que foi possibilitado
por um “talento natural” excepcional (Lowie, 1959). Entretanto, foi
na década de 1930 que ambos iniciaram uma colaboração que se
estenderia até a morte de Nimuendaju. Este enviava dados etnográ-
ficos a Lowie, que conseguiu uma bolsa, renovada por muitos anos,
do Instituto de Ciências Sociais da Universidade da Califórnia para
Nimuendaju. Lowie também traduzia os trabalhos do colega, consti-
tuindo uma espécie de alter ego caracterizado por fazer todo o trabalho
pesado. Ele afirma que foi a observação precisa de Nimuendaju que lhe
permitiu escrever textos que desenvolviam problemas teóricos trazidos
pela etnografia do último. Ainda que transpareça no relato de Lowie
um desconforto e uma admiração, por ser Nimuendaju quem empre-
endia todo o trabalho árduo e perigoso, a dicotomia entre o fazer do
“coletador” e do teórico se reproduz, ajudando a estabelecer a forma
pela qual Nimuendaju se inscreveu na história da antropologia.
Talvez a faceta menos analisada da obra de Nimuendaju, sua
coleta de artefatos de cultura material, possa ajudar a precisar a
maneira pela qual o próprio desenvolvimento da antropologia no
Brasil abriu mas também restringiu portas para Nimuendaju. É difícil
Vida e grafias - miolo.indd 166 3/9/15 7:38 PM
Para além das vidas de Nimuendaju
precisar a totalidade de sua contribuição para a formação de coleções
etnográficas sul-americanas em museus e instituições de pesquisa
no Brasil e no exterior. Foi comissionado para formar coleções para
museus na Alemanha, na Suécia e nos Estados Unidos, mas também
para instituições brasileiras, como os já citados Museu Nacional, no
Rio de Janeiro, e o Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém do
Pará, apenas para citar algumas de suas principais colaborações. Não
obstante a possibilidade de conciliar o trabalho etnográfico, defender
as populações indígenas e empreender uma atividade que passou a
ser vista com crescente suspeita pelos próprios antropólogos, por ter
passado a ser associada intimamente com o colonialismo que se valeu
de mecanismos discursivos homólogos às políticas de representação
museológicas, o fato é que a coleção de cultura material foi crucial para
o financiamento das pesquisas de Nimuendaju, que não podem ser
dissociadas do contexto da nascente política indigenista, construída sob
uma perspectiva salvacionista. Nesse sentido, não é sem importância o
fato de o colecionismo ser um dos aspectos menos referidos na análise
de sua carreira. Parte fundamental da história da própria antropologia
– como bem atesta a conhecida preocupação de Boas (1907) com a
política museológica como instrumento para o ensino e treinamento
de pesquisadores –, o fazer colecionista passou a ter cada vez menos
espaço em uma disciplina que, não muitas décadas depois, ver-se-ia
preocupada em se esquivar das acusações de colonialismo intelectual.
Uma das principais instituições com a quais Nimuendaju tra-
balhou, enviando coleções etnográficas de diversas populações
indígenas, o Museu Paraense Emílio Goeldi nos fornece exemplos
que permitem visualizar melhor essa questão. Desde a sua fundação,
no final do século xix, o museu contou com a contribuição de via-
jantes e pesquisadores para a formação de sua coleção etnográfica,
considerada referência científica já nas primeiras décadas de sua
existência. Naquele momento, que se estenderia até o período em que
Nimuendaju trabalhou para o museu, tratava-se de fornecer bases
para o desenvolvimento de pesquisas científicas: ainda que separadas
das coleções naturalistas, da botânica, da geologia e da zoologia, as
coleções etnográficas não tinham uma autonomia total frente a essas
outras áreas da pesquisa no museu. Através dos esforços do naturalista
suíço Emílio Goeldi (1859–1917), continuados pelos diretores subse-
quentes, até Carlos Estevão de Oliveira, diretor do museu à época em
que Nimuendaju lá passou a colaborar, a instituição logo promoveu
expedições para compra de coleções e desenvolvimento da ciência na
região Norte do Brasil (Leite, 1993). É importante destacar que a for-
mação dessas coleções ocupava um lugar crucial para a constituição
de prestígio frente a outras instituições nacionais e internacionais, per-
Vida e grafias - miolo.indd 167 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
mitindo, por conseguinte, obter financiamento do Estado brasileiro
para novas pesquisas. É dessa maneira que deve ser compreendida a
disputa entre as instituições, o caráter geopolítico de seu desenvolvi-
mento no país e o cuidado de seus diretores em adquirir coleções que
apenas depois de depositadas em seus acervos poderiam ser formadas
novamente para serem enviadas ao exterior (Grupioni, 1998).
A importância da Reserva Etnográfica Curt Nimuendaju, perten-
cente ao museu Emílio Goeldi, constitui-se, sobretudo, com as coleções
para lá enviadas pelo antropólogo no começo da década de 1940.
Quanto a esse diálogo, observa-se que, se por um lado havia disputas
de prestígio entre essas instituições museológicas (através da formação
das coleções etnográficas tanto nacional como internacionalmente,
com o projeto nacional de salvaguarda e controle de sua cultura), por
outro também eram esses museus que articulavam uma pesquisa que
progressivamente se distanciaria da antropologia praticada nas facul-
dades de ciências sociais em formação. Essas faculdades passavam por
um processo de autonomização frente às instituições museológicas de
fins do século xix e começo do século xx (inclusive, chegando a in-
corporá-las ao campo universitário, como no caso da usp e do Museu
Paulista, por exemplo), e começavam a ser consideradas os locais nos
quais a moderna antropologia iria de fato se consolidar.
Acerca das falhas nos programas dos cursos de antropologia
no Brasil em meados do século passado, Eunice Durham & Ruth
Cardoso assinalaram a raridade da inclusão de estudos arqueológicos
nos mesmos (Cardoso & Durham, 2011). Na realidade, o prestígio dos
museus já começara a declinar desde que as teorias evolucionistas
perderam força, levando a reboque os objetivos salvacionistas mate-
rializados na coleta e classificação da cultura material, que haviam
colaborado para a constituição das relações entre antropólogos e
museus – e entre essas instituições e pesquisadores estrangeiros, como
bem aponta Lilia Schwarcz (2001). A ênfase na teoria cultural em
seu sentido mais estrito passaria a ser a base para a ciência de molde
funcionalista aplicada no Brasil, em grande parte pelos esforços de
Florestan Fernandes, inspirado nos trabalhos de Radcliffe-Brown.
Ainda que não tenham jamais sido completamente desvinculadas dos
cursos de formação dos antropólogos, as instituições museológicas,
origem de muitos dos programas de graduação e pós-graduação, pas-
sariam a ter outra relação com os trabalhos acadêmicos produzidos
e voltados à pesquisa de campo, área na qual Nimuendaju se notabi-
lizou e sobre a qual reside a contribuição que hoje a ele é atribuída,
ofuscando seu trabalho colecionista.
Sobre essa questão, Luiz de Castro Faria afirma ser crucial
atentar para o colecionismo no trabalho de Nimuendaju, por ele
Vida e grafias - miolo.indd 168 3/9/15 7:38 PM
Para além das vidas de Nimuendaju
ser indissociável do “mercado de bens simbólicos, construído de
coleções etnográficas e arqueológicas” (Castro Faria, 1981, p.17), no
qual o etnógrafo estava incluído. Grupioni (1998) também destaca
a importância do trabalho colecionista para galgar postos de maior
prestígio junto a instituições nacionais e internacionais. Sobretudo, a
tarefa colecionista trazia consigo uma perspectiva classificatória que
torna clara a existência de uma reflexão profunda acerca das culturas
humanas – longe, assim, de ser apenas uma empreitada técnica. No
caso de Nimuendaju, não podemos considerá-la como simplesmente
uma possibilidade de financiamento para pesquisas mais impor-
tantes. A cultura material tinha lugar central no rol de preocupações
etnológicas mais amplas do etnógrafo – o que talvez possa trazer
uma reflexão mais densa sobre as maneiras como essas coleções, por
outro lado, também contribuíram para formar e redefinir a trajetória
intelectual de Nimuendaju. Seja como for, esses investimentos, com
origem no trabalho colecionista remunerado e com a progressiva pos-
sibilidade de publicação de trabalhos etnológicos sob os auspícios de
alguns desses institutos, acabam por engendrar a própria condição do
acúmulo de capital intelectual (Bourdieu, 2004), fornecendo ou res-
tringindo os espaços ocupados por Nimuendaju no campo acadêmico.
Financiamento e prestígio intelectual estavam reunidos no fazer
colecionista, que, além de possibilitar interlocuções teóricas, per-
mitiu a Nimuendaju manter sua atuação indigenista. Em carta de
19 de outubro de 1936 (portanto, já de um período em que Nimuen-
daju gozava de certo prestígio consolidado) a Fernando de Azevedo
(1894–1974), o etnógrafo relata a venda de algumas peças ao Goeldi e
a museus europeus e americanos:
“[Essas vendas poderiam] cobrir apenas uma parte das despesas das
minhas viagens e longas estadas entre os índios durante as quais me
vejo às vezes obrigado a prestar-lhes socorro que me ficam mais caros
que os trabalhos científicos e as colecções. O resto do dinheiro eu ar-
ranjava lá ‘como Deus fora servido’, contraindo dívidas e pagando-as
com sacrifício, até que a California University, isto é, doutor R Lowie
começou a interessar-se pelos resultados.”
(Erlich, 1970, p.190)
Não cabe aqui desenvolver densamente essa questão. Forneço, entre-
tanto, um pequeno exemplo que aponta para a impossibilidade de
dissociação do estudo da cultura material do conjunto das reflexões
teóricas de Nimuendaju. Podemos perceber como havia uma preocu-
pação de dotar os catálogos das coleções formadas por Nimuendaju
com a maior quantidade possível de informações etnográficas, muitas
Vida e grafias - miolo.indd 169 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
Relatório “Tukuna”, cortesia do Acervo Etnográfico do Museu Paraense Emílio Goeldi
Vida e grafias - miolo.indd 170 3/9/15 7:38 PM
Para além das vidas de Nimuendaju
Vida e grafias - miolo.indd 171 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
vezes, arriscando-se a certas interpretações de seus usos rituais. Do
arquivo presente no Goeldi, temos inúmeros outros dados que cor-
roboram esta tese. Em relatório enviado ao museu sobre o envio de
uma coleção Ticuna de 277 peças em 1941, Nimuendaju complementa
a lista dos objetos com uma breve etnografia do povo, utilizando
algumas fotografias, produzidas por ele mesmo, para ilustrar os usos
dos exemplares adquiridos. Ato de reflexão que objetivava compre-
ender e explicar os povos indígenas visitados, a coleção dos objetos
(alguns mais valorizados do que outros), e a sua organização e poste-
rior exposição, conjugava as preocupações teóricas e indigenistas de
Nimuendaju, ao mesmo tempo que se sobrepunha a e não podia ser
dissociada dos interesses das instituições que encomendavam essas
coleções. A imagem seguinte ilustra o tipo de trabalho desenvolvido
para explicar sequências de utilização técnica e ritual de objetos:
É interessante pensar sobre as formas pelas quais se conjugam as
preocupações teóricas antropológicas, com uma atividade que, no
período anterior à Segunda Guerra Mundial, levantava questões de
política nacional. Afinal, tratava-se de preservar a cultura essencial-
mente brasileira, que a nascente política indigenista do Serviço de
Proteção aos Índios mantinha como uma de suas bases de atuação,
na esperança de realizar um duplo movimento: desenvolvimento eco-
nômico e preservação cultural. Como bem aponta Grupioni (1998), é
nesse contexto de consolidação de instrumentos estatais para o con-
trole e formação de uma ideia de nação que não apenas a constituição
da antropologia deve ser compreendida, mas também a conformação
dos espaços possíveis, como diria Bourdieu, de serem ocupados por
Nimuendaju. Sua atuação junto aos museus estrangeiros e nacionais
mostra como estavam em jogo questões mais amplas sobre um projeto
de nação, as quais não ficaram alheias às discussões teórico-metodoló-
gicas dos antropólogos. Os desenvolvimentos da obra de Nimuendaju
não podem ser estudados que se leve em consideração as relações es-
tabelecidas com esses institutos de pesquisa, e a importância que o
colecionismo e o projeto de proteção da cultura material passou a ter
no interior da disciplina antropológica.
É interessante refletir como, recentemente, parece haver uma
retomada da contribuição teórica de Nimuendaju (Viveiros de Castro,
1987).³ Considerar o etnógrafo de origem alemã como mais do que
um colecionador de dados e objetos (uma vez que esta mesma ativi-
3 Sobre a recepção de Nimuendaju, vale ressaltar que suas monografias Jê costumam
ser celebradas como exemplos de um Nimuendaju mais experiente, que dava a seus
trabalhos “uma forma final mais acadêmica” (Melatti, 1985; ver também Schaden,
1968).
Vida e grafias - miolo.indd 172 3/9/15 7:38 PM
Para além das vidas de Nimuendaju
dade já era permeada de interesses intelectuais e possibilidades de
atuação e financiamento), significa rever algumas das narrativas sobre
a constituição do campo antropológico no Brasil. Para tanto, não se
pode prescindir de uma análise do contexto científico da primeira
metade do século passado (correspondente ao desenvolvimento da
carreira de Nimuendaju), marcado por uma nova fase da relação
entre pesquisadores estrangeiros no Brasil e as instituições que pro-
moviam interlocuções assimétricas (como as interpretações de Lowie
a respeito do material etnográfico a ele enviado por Nimuendaju, por
exemplo).
Resgatar e apontar para algumas das dificuldades enfrentadas por
Nimuendaju permitem reconhecer que é possível analisar as formas
pelas quais sua obra (e mesmo sua morte) lançam luz ao campo an-
tropológico em formação no período em que Nimuendaju atuou,
que conjugava, por exemplo, produção científica e defesa dos povos
indígenas. Tendo em vista a constituição de um modelo de fazer
científico que tensiona constantemente teoria que se pretende neutra
e comprometimento político, ambos funcionam como alavancas de
reconhecimento e prestígio intelectual, ao mesmo tempo que possi-
bilitam a Nimuendaju ocupar determinadas posições de outra forma
– posições talvez impensáveis do ponto de vista do capital simbólico
e das competências intelectuais que ele dispunha para se inserir no
campo antropológico em formação, com suas regras particulares de
atuação. Não obstante, o campo da produção do conhecimento et-
nológico, e os embaraços sofridos na relação com os poderes locais e
com as instituições financiadoras e controladoras, dão o tom para o
estudo dos sentidos atribuídos à obra de Nimuendaju. Ou seja, essas
reflexões também podem auxiliar na análise da antropologia nacional
contemporânea, que tem na figura do antropólogo de origem alemã
uma referência central. Afinal, como afirma Roberto Cardoso de
Oliveira (1986, p.229–230) sobre a antropologia praticada no Brasil,
desde sua formação “a disciplina … sempre primou por definir-se
em função de seu objeto”, priorizando o “objeto real” sobre a teoria
produzida.
Segundo essa perspectiva analítica, o consenso, ou mesmo as
disputas sobre os significados e sentidos da obra de Nimuendaju,
devem ser questionados, e não aceitos tacitamente ou rejeitados de
antemão. Se foi um pesquisador sério, dedicado, autodidata, ainda
que dotado de um “receio quase doentio de propor ou sugerir alguma
interpretação teórica” (Schaden, 1968, p.82), não se trata apenas de
determinar a validade destas atribuições sobre as qualidades des-
critivas em contraposição a exercícios teóricos tentados (Arnaud,
1983), mas de compreender os efeitos que elas produziram em vida
Vida e grafias - miolo.indd 173 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
e sobre o legado de Nimuendaju. Uma espécie de doxa⁴ partilhada
pela comunidade antropológica caracteriza o etnógrafo como um
pesquisador completamente identificado com os povos indígenas do
Brasil (ver, por exemplo, Emmerich & Leite, 1981; e Erlich, 1970),
parecendo eleger Nimuendaju como um modelo extremo do tipo
de relação estabelecida entre pesquisador e informantes na base da
produção do conhecimento antropológico – reiteradamente definido
por seu compromisso ético, mesmo mantendo sua objetividade. Assim
é constituída a chave em que se compreende mesmo a juventude de
Nimuendaju na Alemanha, quando, nas florestas da Turíngia, já se
encantava com a natureza e o romantismo da vida “não civilizada”
(Pereira, 1946; e Schaden, 1968): um encantamento e, mais tarde, um
sentido de “compromisso” que de alguma maneira compensariam a
instrução errática e autodidata.
Antonio Carlos de Souza Lima, somente para citar um exemplo
entre os muitos possíveis no que diz respeito aos desafios políticos
do antropólogo em um contexto mais amplo e público, analisa os
condicionantes do campo da antropologia no Brasil (expansão das
fronteiras rumo ao interior, no final do século xix e começo do
século passado) para dar conta de uma análise das práticas e discursos
da política indigenista, que, não obstante as diversas críticas quanto à
forma em que foi pensada e promovida originalmente pelo spi, foi de
alguma maneira herdada pelas gerações que sucederam Nimuendaju
na etnologia indígena nacional: “Decerto os antropólogos – agentes
legitimamente encarregados, dentro da divisão do trabalho científico,
de falar sobre o índio – têm tecido um discurso ético, parte da cena
indigenista característica do atual estado desse campo de saber, em
defesa da diferença e do direito a ela que têm os povos indígenas.”
(Lima, 1987, p.150) Estão aí conjugadas questões políticas – do indige-
nismo e do reconhecimento da disciplina antropológica como legítima
ciência que reflete sobre esse campo – e teóricas que a obra de Ni-
muendaju ajuda a elucidar, na medida em que é parte crucial de sua
própria possibilidade de constituição.
Por outro lado, não há consenso entre os antropólogos sobre o
compromisso político com as populações estudadas, com um extenso
debate que não cabe aqui retomar. Entretanto, também entre os
críticos da antropologia comprometida politicamente, Nimuendaju
não deixa de ser referência. A relação entre antropologia e política,
no caso brasileiro, incide diretamente nas formas de revitalização da
4 Aqui, tomo de empréstimo, de Lygia Sigaud (2007), a aplicação da teoria de Bour-
dieu para a história da antropologia e a conformação de narrativas que determinam a
importância dos antropólogos “clássicos” da disciplina.
Vida e grafias - miolo.indd 174 3/9/15 7:38 PM
Para além das vidas de Nimuendaju
importância de Nimuendaju, quanto à sua etnografia ou a aspectos de
sua biografia.⁵
É interessante notar que essas considerações podem não ter tido
o mesmo sentido para o próprio etnógrafo, que em diversas ocasiões
manifestou sua opinião de que facetas biográficas de si não tinham
importância frente ao trabalho que desenvolvia teoricamente. Em um
esboço de autobiografia, encomendada por Baldus e ao qual Nimuen-
daju se mostrou bastante reticente, este informou, essencialmente, a
data e local de seu nascimento, o fato de ter vindo ao Brasil e que o
restante era apenas “uma série quase ininterrupta de explorações”
(Baldus, 1946, p.46). Já na carta de 19 de outubro de 1936 para Fer-
nando de Azevedo, então diretor geral da instrução pública de São
Paulo que lhe pedia fotografias e exemplares etnográficos para fins
didáticos junto ao Museu Social Pedagógico, Nimuendaju afirmou:
“A minha pessoa, porém, não oferece nenhum interesse à ciência: os
assuntos com que me ocupo nos meus estudos, estes sim. Portanto,
queira desculpar-me se lhe digo desde já com toda franqueza que não
desejo ver o meu retrato em parte alguma e o meu nome só debaixo
de trabalhos feitos por mim.”
(Erlich, 1970, p.191)
Uma análise das formas pelas quais são pensadas as contribuições
de Nimuendaju para a formação da antropologia no Brasil e das
facetas menos celebradas de sua trajetória permitem imaginar se não
existiriam outras formas de considerar a sua importância no campo
acadêmico contemporâneo – ao mesmo tempo que poderíamos re-
fletir sobre as narrativas de sua própria constituição, que remete à
fase “heroica” (Oliveira, 1986) da primeira metade do século passado.
Assim, não é irrelevante que se destaque, nos estudos que buscam
determinar o lugar de Nimuendaju na história da antropologia, seu
caráter etnográfico e autodidata. Também não é estranho que os es-
forços de Curt Nimuendaju em denunciar os abusos e maus-tratos
dos grupos indígenas que visitou permitam a conjugação, tornada co-
erente, entre indigenismo (na acepção política do termo) e pesquisa
etnológica. Repensar os espaços reservados a Nimuendaju permite
que se perceba a importância de sua obra, ao desvelar as relações
entre pesquisa etnológica e política indigenista, marca até hoje consti-
tutiva de parte fundamental da antropologia brasileira. Essas relações
são diretamente devedoras do exemplo retirado da trajetória de Ni-
5 Para uma discussão sobre o debate antropológico a respeito do compromisso polí-
tico com as populações estudadas, ver Mattos (2004).
Vida e grafias - miolo.indd 175 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
muendaju, tornado figura heroica de uma ciência que se esforça por
conciliar comprometimento e objetividade – o que fica claro pela
maneira como ele é lembrado e pela maneira como é assinalada a re-
levância de sua obra.
Referências
Vágner Camilo Alves, “Ilusão desfeita: a ‘aliança especial’ Brasil–Estados Unidos e o
poder naval brasileiro durante e após a Segunda Guerra Mundial”, Revista Brasi-
leira de Política Internacional, Brasília, v.48, n.1, p.151–177, 2005
Expedito Arnaud, “Curt Nimuendajú: aspectos de sua vida e de sua obra”, Revista do
Museu Paulista, v.29, p.55–72, 1983
Herbert Baldus, “Curt Nimuendajú”, Sociologia: Revista Didática e Científica, v.8, n.1,
p.45–52, 1946
Franz Boas, “Some principles of museum administration”, Science, v.25, n.650, p.921–
933, 1907
Pierre Bourdieu, O poder simbólico, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004
Ruth Cardoso & Eunice Durham, “O ensino da antropologia no Brasil”, in: Ruth
Cardoso, Obras reunidas, São Paulo: Mameluco, 2011
Luiz de Castro Faria, “Curt Nimuendaju”, in: Curt Nimuendaju, Mapa etnográfico de
Curt Nimuendaju, Rio de Janeiro: fibge & Fundação Nacional Pró-Memória,
1981, p.17–22
Inocêncio Machado Coelho para Julian Steward, 16 de janeiro de 1946, Arquivos Curt
Nimuendaju, Museu Paraense Emílio Goeldi
Virgílio Côrrea Filho, “Curt Nimuendaju”, in: Curt Nimuendaju, Mapa etnográfico de
Curt Nimuendaju, Rio de Janeiro: fibge & Fundação Nacional Pró-Memória,
1981, p.13–16
Carlos Estevão de Oliveira para Heloísa Alberto Torres, 28 de fevereiro de 1942, Ar-
quivos Curt Nimuendaju, Museu Paraense Emílio Goeldi
Carlos Estevão de Oliveira para Baliú Monteiro, 18 de agosto de 1942, Arquivos Curt
Nimuendaju, Museu Paraense Emílio Goeldi
Carlos Estevão de Oliveira para Curt Nimuendaju, 26 de agosto de 1942, Arquivos
Curt Nimuendaju, Museu Paraense Emílio Goeldi
Carlos Estevão de Oliveira para Accioli Doria, 16 de setembro de 1942, Arquivos Curt
Nimuendaju, Museu Paraense Emílio Goeldi
Carlos Estevão de Oliveira para Alvaro Maia, 28 de setembro de 1942, Arquivos Curt
Nimuendaju, Museu Paraense Emílio Goeldi
Charlotte Emmerich & Yonne Leite, “A ortografia dos nomes tribais no mapa etno-
-histórico de Curt Nimuendaju”, in: Curt Nimuendaju, Mapa etnográfico de Curt
Nimuendaju, Rio de Janeiro: fibge & Fundação Nacional Pró-Memória, 1981,
p.29–36
Selma Erlich, “Cartas de Curt Nimuendajú a Fernando de Azevedo”, Revista do Instituto
de Estudos Brasileiros, n.9, p.190–200, 1970
Marco Antonio Gonçalves, “Apresentação”, in: Curt Nimuendaju, Etnografia e Indi-
genismo: sobre os Kaigang, os Ofaié-Xavante e os Índios do Pará, Campinas: Editora da
UNICAMP, 1993, p.9–53
Luiz Benzi Donisete Grupioni, Coleções e expedições vigiadas: os etnólogos no conselho de fiscali-
zação das expedições artísticas e científicas no Brasil, São Paulo: Hucitec, 1998
Thekla Hartmann, “Apresentação”, in: Cartas do sertão: de Curt Nimuendajú para Carlos
Estevão de Oliveira, Lisboa: Museu Nacional de Etnologia & Assírio & Alvim, 2000,
p.25–32
Roque de Barros Laraia, “As mortes de Nimuendaju”, Ciência Hoje, v.8, n.44, p.70–71,
1988
Aylce Oliveira Leite, Difusão da ciência moderna em instituições de ciência e tecnologia – um
Vida e grafias - miolo.indd 176 3/9/15 7:38 PM
Para além das vidas de Nimuendaju
estudo de caso: o Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém: Museu Paraense Emílio
Goeldi, 1993
Claude Lévi-Strauss, “História e Etnologia”, Antropologia estrutural, Rio de Janeiro:
Tempo Brasileiro, 1996, p.13–41
Antonio Carlos de Souza Lima, “Sobre indigenismo, autoritarismo e nacionalidade:
considerações sobre a constituição do discurso e da prática da proteção fraternal
no Brasil”, in: João Pacheco Oliveira Filho (organização), Sociedades indígenas & in-
digenismo no Brasil, Rio de Janeiro: Marco Zero, 1987, p.149–204
Robert Lowie, Robert H Lowie, Ethnologist: a personal Record, Berkeley: University of Cali-
fornia Press, 1959
André Borges Mattos, “Antropologia e política: reflexões a partir das trajetórias de
Roberto Cardoso de Oliveira e Darcy Ribeiro”, 12 Congresso Brasileiro de Sociologia,
Belo Horizonte, UFMG, 2004
Julio Cezar Melatti, “Curt Nimuendau e os jês”, Série Antropologia, n.49, Brasília: unb,
p.1–25, 1985
Veríssimo de Mélo, “Nimuendaju”, Ensaios de Antropologia brasileira, Natal: Imprensa
Universitária, 1973, p.105–108
João Pacheco de Oliveira Filho, “Fazendo etnologia com os caboclos do Quirino: Curt
Nimuendaju e a história ticuna”, in: João Pacheco de Oliveira Filho, Ensaios em
Antropologia Histórica, Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 1999, p.60–96
Roberto Cardoso Oliveira, “O que é isso que chamamos de Antropologia Brasileira?”,
Anuário Antropológico, n.85, p.227–246, 1986
Manuel Nunes Pereira, Curt Nimuendajú: síntese de uma vida e de uma obra, Belém: Instituto
de Etnografia e Sociologia do Amazonas, 1946
Egon Schaden, “Notas sobre a vida e a obra de Curt Nimuendajú”, Revista do Instituto
de Estudos Brasileiros, n.3, p.7–19, 1968
Lilia K M Schwarcz, “O nascimento dos Museus Brasileiros (1870–1910)”, in: Sergio
Miceli (organização), História das Ciências Sociais no Brasil, São Paulo: Editora
Sumaré, 2001, v.1, p.20–71
Lygia Sigaud, “Doxa e crença entre os antropólogos”, Novos Estudos cebrap, v.77,
p.129–152, 2007
Thekla Hartmann (organização), Cartas do sertão: de Curt Nimuendajú para Carlos Estevão de
Oliveira, Lisboa: Museu Nacional de Etnologia & Assírio & Alvim, 2000
Eduardo Viveiros de Castro, “Nimuendaju e os Guarani”, in: Curt Nimuendaju, As
lendas de criação e destruição do mundo, São Paulo: Hucitec, 1987, p.XVII–XXXVIII
Christiano Key Tambascia é professor doutor do Departamento de Antropologia do
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas,
instituição pela qual obteve seu mestrado e seu doutorado em Antropologia Social.
Realiza pesquisa sobre História da Antropologia e Teoria Antropológica. Atua nas
áreas de cultura e poder, e trajetórias e etnografia do conhecimento.
Vida e grafias - miolo.indd 177 3/9/15 7:38 PM
Entre negócios, ócios e domingos:
a ego-história de Boris Fausto
Wilton C L Silva
“Nós, homens do conhecimento, não nos conhecemos; de nós
mesmos, somos desconhecidos – e não sem motivo. Nunca nos
procuramos.”
(Nietzsche, 1887)
Autobiografia e ego-história
Em sua autobiografia (Minha vida, 1930), Leon Trotsky conclui que
sua narrativa intensa e tumultuada não é pessoal, pois o verdadeiro
personagem é a história, e o indivíduo é reflexo do contexto no qual
se desloca, reduzindo sua ação a um resultado das forças superes-
truturais. Enquanto relato, toda forma de biografia é o resultado
de memórias (ou mesmo de esquecimentos) coletivas, individuais e
sociais, constantemente negociadas e processadas, em que o indivíduo
é entendido como representação de interesses de classe, ator estraté-
gico, figura do habitus que atua como ator racional, ser histórico ou
agente socializado, a partir de diferentes referenciais teóricos e meto-
dológicos. Dessa forma, essas narrativas mantêm relações particulares
com o tempo e o espaço, relações que não são simplesmente atos de
resgate, mas de reconstrução do passado a partir de referenciais atuais.
Dentro desse universo, as situações nas quais narrador e per-
sonagem são a mesma pessoa caracterizam a expressão literária da
autobiografia, gênero literário que se inscreve como escrita de si, écriture
de soi, termo cunhado por Michel Foucault, e engloba manifestações
que se distribuem temporalmente desde o epistolário de Sêneca às Con-
fissões de Jean Jacques Rousseau, passando pelas meditações estoicas
do imperador Marco Aurélio e as Confissões de Santo Agostinho, man-
tendo suas características de discurso construído na primeira pessoa,
com ponto de vista totalizador e retrospectivo, no qual alguns eventos
significam erro lamentável ou feliz conversão. Nessa tradição, muitas
Vida e grafias - miolo.indd 178 3/9/15 7:38 PM
Entre negócios, ócios e domingos
vezes, a escrita funcionaria como um dispositivo de confissão, substi-
tuindo o olhar do outro como uma força disciplinadora de nossas ações
e pensamentos assim como a exercida em uma comunidade pelo olhar
do outro. Nas situações de solidão, a escrita seria um possível olhar
capaz de constranger, revelador dos movimentos interiores da alma.
Entre historiadores, a escrita de si é chamada de “ego-história”,
uma forma de reflexão sobre si mesmo que desafia o autor-narrador a
reorganizar as instâncias dicotômicas sujeito/objeto, pela inclusão ex-
plícita de sua persona como foco de análise, na qual a dimensão pública
ocupa uma centralidade. Essa forma de auto-historicização liga-se a
uma cultura de si, na qual se compreende como legítima e necessária
uma manifestação discursiva em que o sujeito se coloca em relação
consigo mesmo, mas que é mediada pelas exigências epistemológicas
de natureza historiográfica. Ou seja, há a expectativa de que cada
autor-narrador explique a sua história e aplique a si próprio os proce-
dimentos que tantas vezes lançou sobre os outros.
Lejeune aponta a confluência entre narrador e personagem no
relato autobiográfico através da construção de um “relato retros-
pectivo em prosa que uma pessoa real faz de sua própria existência,
enfatizando sua vida individual e, em particular, a história de sua
personalidade”. Segundo o autor, a autobiografia constitui-se em uma
dupla dimensão, na forma como é escrita e na forma como é lida,
ou seja, no chamado “pacto autobiográfico” que, de certa maneira,
desloca a classificação da narrativa autobiográfica para além da deli-
mitação entre discursos fictícios e discursos factuais, caracterizando o
gênero pela contratualidade.
Por sua vez, no campo historiográfico, o surgimento do livro
Ensaios de ego-história, organizado por Pierre Nora (1989), e com a par-
ticipação de grandes historiadores franceses e do próprio organizador,
marca a afirmação de uma opção metodológica para a exploração
das memórias individuais dos autores, que se explica não só pela
afirmação do que seria como daquilo que deveria evitar ser. Na con-
tracapa do livro, afirma-se:
“Que é ego-história? Não se trata de uma autobiografia pretensa-
mente literária, nem de uma profissão de fé abstrata, nem de uma
tentativa de psicanálise. O que está em causa é explicar a sua própria
história como se fosse de outrem, tentar aplicar a si próprio, seguindo
o estilo e os métodos que cada um escolheu, o olhar frio, englobante
e explicativo que tantas vezes se lançou sobre os outros. Em resumo,
tornar clara, como historiador, a ligação existente entre a história que
cada um fez e a história de que cada um é produto.”
(Nora, 1989)
Vida e grafias - miolo.indd 179 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
Historiograficamente, essa temática somente se legitima de acordo
com as reavaliações sobre a narrativa histórica e as particularidades
do biografismo, e com discussões sobre a escrita da história e temas
afins que se inter-relacionam.¹ A forma como a narrativa biográfica é
utilizada na construção da memória interna em diferentes áreas das
ciências humanas apresenta certa dimensão hagiográfica pela forma
como em geral é realizada por seus predecessores, muitas vezes, com
fortes vínculos intelectuais com os biografados. Não raramente, so-
brevive nela a ideia romântica do “gênio” mesmo em diferentes
orientações teóricas e metodológicas, ao mesmo tempo que causam
estranhamento, em polos extremos, a ausência de diários no sentido
estrito do termo e a dificuldade em se falar sobre si mesmo.
Os fundamentos epistemológicos da história, por exemplo, situam
o indivíduo e sua experiência particular como formas extremamente
contrastantes de acordo com as orientações teórico-metodológicas,
sendo que a maioria delas busca anular essa dimensão. Assim, sub-
mete-se essa dimensão às determinações e configurações normativas
do discurso acadêmico-científico e à afirmação do ideal do relato
objetivo determinado pela proeminência da fonte sobre o narrador, o
que torna a questão do vivido quase ilegítima.
A autobiografia (assim como o depoimento ou o testemunho)
apresenta um desafio particular no processo narrativo, ao tornar mais
difícil para o narrador a abordagem da multiplicidade de identidades
e referências que se criam no espaço entre o vivido, o lembrado e o
narrado. Em meio ao vivido, no que se refere não somente à ação,
mas também à percepção da vivência e de seus significados e múlti-
plas interrelações; ao lembrado e às construções reais ou imaginárias
entre a lembrança, suas origens e seus desdobramentos; e o narrado
enquanto compartilhamento e ocultamento, diferentes processos de
subjetivação se desenvolvem. É dessas particularidades que surge a
tendência de homogeneizar, racionalizar e formatar, dentro de uma
sequência regular de coerência atribuída, o primado racional e a mo-
ralidade incontestável.
A narrativa teleobjetivada do comportamento público e racional,
1 O volume da produção de autobiografias pelos membros do cânone das diferentes
áreas de ciências humanas parece oferecer diferenças significativas, que refletem tanto
dinâmicas internas e externas das disciplinas como conjunturas locais. A análise dessas
determinantes, embora necessária e legítima, transcende claramente os limites do pre-
sente texto. Merecem destaque, por exemplo, na tradição historiográfica lusitana, o
livro de Maria Filomena Mônica, Bilhete de identidade, autobiografia 1943–1976, editado em
2005; na francesa, A História continua, de Georges Duby, lançado em 1993; na inglesa,
Tempos interessantes: uma vida no século XX, de Eric Hobsbawm, publicado em 2003; e
na norte-americana, Você não pode ser neutro num trem em movimento: uma história pessoal dos
nossos tempos, de Howard Zinn, de 1994, exemplos que merecem destaque pela diversi-
dade de perspectivas possíveis no processo de autorreflexão.
Vida e grafias - miolo.indd 180 3/9/15 7:38 PM
Entre negócios, ócios e domingos
reflexo de ações exemplares e decisivas, encobre o aleatório, o im-
previsível, o subjetivo e o desvio enquanto dimensões presentes no
indivíduo. No caso de intelectuais, o determinante bourdieusiano
do “nome” ocupa uma centralidade que converte, algumas vezes, a
pessoa física em pessoa jurídica, e a partir disso determina a descrição
do percurso entre diversos campos, sistemas e configurações sociais,
nos quais um discurso profissional e acadêmico garante manter sob
controle, ou mesmo afastadas, as dimensões sensíveis e afetivas.
A tradição intelectual brasileira reconhece o memorial como
espaço institucionalizado para o discurso em primeira pessoa como
relato crítico da trajetória cultural e intelectual do indivíduo, assim
como de suas expectativas profissionais e acadêmicas, o que remonta
ao Exposé des titres et travaux scientifiques, característico da carreira aca-
dêmica francesa. No entanto, a subjetivação nesse tipo de narrativa
ainda é limitada pela tradição intelectual, pela homogeneização dis-
cursiva acadêmica e pela dimensão formal e profissional dos rituais
aos quais esse tipo de texto se vincula.
Essa forma de construção narrativa estabelece um “contrato de
leitura” ou um “pacto biográfico” (Dosse, 2007; e Lejeune, 2008) que
explicita sua dimensão vivencial e verificável, mas que, ao mesmo
tempo, oculta sua seletividade, fragmentação e subjetivação ao centra-
lizar sua descrição na perspectiva profissional. Assim como em outras
experiências da escrita de si, o “pacto de leitura” exige concessões
entre autor e leitor nas quais se estabelece uma dupla convenção,
ou falácia: a de que existe uma continuidade no eu reduzido a seus
aspectos mais significativos, juntamente com uma descontinuidade
no tempo que possibilita – através do encadeamento de momentos
relevantes – superar as limitações da memória nas inter-relações entre
ação, ficção e narração.
As características dessas experiências de recordação e exposição
das trajetórias pessoais e individuais devem ser, na fusão de lembrança
e avaliação, destinadas a responder às indagações de um grupo de
leitores que é, ao mesmo tempo, impessoal, mas socialmente delimi-
tado. Dessa forma, explicitam-se “eventos marcantes”, “episódios
nucleares”, “memórias definidoras do self” e “memórias vívidas”, que
são expostos como referenciais de identidade pessoal e profissional,
reconhecimento de uma experiência/vivência ou, ainda, percepção
de uma trajetória coletiva e singular.
A verdade factual, no sentido de reprodução completa e minu-
ciosa do real, não só é impossível, ao entendermos o texto como uma
representação do real moldada pela memória e por diversos condi-
cionantes, como mesmo indesejável. A narrativa, condicionada por
diversos determinantes interiores e exteriores, individuais e coletivos,
Vida e grafias - miolo.indd 181 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
quer pelos temas que levanta ou omite, quer pelas referências nas
quais se espelha, estabelece uma nova relação com a verdade, não
pela factualidade, mas pelo seu significado.² Isso porque as proprie-
dades atribuídas aos eventos caracterizam a relevância da memória
a partir da importância pessoal atribuída ao acontecimento, à fre-
quência com que o evento foi revisitado de forma mental e/ou oral,
assim como à sua originalidade e proximidade ou distanciamento
temporal, entre outros aspectos.
Se a diferenciação desses modelos narrativos não pode ser
pensada a partir de uma maior ou menor factualidade/ficcionalidade,
com certeza remete a diferentes perspectivas de retrospecção/intros-
pecção, distanciamento temporal entre o vivido e o registrado, grau
de minúcia descritiva, nível de inclusão do receptor e foco analítico:
o diário, por exemplo, aproxima a narrativa do vivido, permite uma
descrição minuciosa e pormenorizada das experiências e de suas
percepções, voltada não para o que se fez, mas para o que se é, e tem
uma natureza privada – de uma escrita de si para si, em claro con-
traste com a biografia.
Um historiador de domingo:
micro-história, ego-história e autobiografia
Não se trata, aqui, de analisar a relação de factualidade/ficcionali-
dade nas memórias de Boris Fausto tendo como foco seus dois livros
de natureza autobiográfica, Negócios e ócios: história da imigração (1997)
e Memórias de um historiador de domingo (2010). Para além dessa questão
insolúvel, busca-se, a partir dessas obras que merecem destaque
tanto pela originalidade da proposta quanto pela qualidade do texto,
discutir a concepção da escrita de si de um dos mais importantes
historiadores brasileiros, traçando considerações sobre o modelo nar-
rativo escolhido e sua relação com o métier do historiador.
Os relatos de Boris Fausto permitem observar o trânsito do
autor por estruturas objetivas e por vivências subjetivas, a apreensão
do tempo e a aproximação entre a observação e a reflexão. No pri-
meiro livro, Negócios e ócios: história da imigração (1997), o autor faz uma
descrição das origens judaicas de seus antepassados, do processo de
2 Fentress & Wickham (1992, p.10) afirmam que o “significado social da memória, a
sua estrutura interna e o modo de transmissão não são afetados pela sua verdade”,
mas pela forma como conquistam a credibilidade no interior dos grupos que a cons-
troem, de acordo com a adequação do passado ao presente. Aqui, a questão do relato
autobiográfico ganha uma nova dimensão, a saber, a forma como se constrói em
termos retóricos o auditório, ou seja, o conjunto daqueles que o orador quer influen-
ciar com sua argumentação.
Vida e grafias - miolo.indd 182 3/9/15 7:38 PM
Entre negócios, ócios e domingos
imigração destes para São Paulo, dos negócios da família e de sua in-
fância e adolescência. O livro, de 230 páginas, é estruturado com uma
introdução e sete capítulos, intitulados: “Turquia e Sefarad”, “Da
Europa central à América”, “Imigrantes em São Paulo”, “Bairros
paulistanos e o Triângulo”, “Tempos angelicais?”, “Colégio Ma-
ckenzie” e “Final da história”, além de contar com 27 imagens, fotos
do arquivo familiar.
No segundo, Memórias de um historiador de domingo (2010), o perso-
nagem e a forma da narrativa se mantêm, com ênfase na trajetória
pessoal a partir da entrada na Faculdade de Direito de São Paulo,
passando pelo trabalho como advogado, pela militância trotskista e
pela vida acadêmica de historiador, embora se perceba, até pelo título
dos capítulos, a adoção de uma perspectiva mais “informal”. O livro,
de 287 páginas, apresenta uma introdução e 15 capítulos, intitulados:
“À sombra das Arcadas”; “A política intra e extramuros”; “Futebol
e cinema: um mundo masculino”; “Advogado, meio a contragosto”;
“O fascínio da União Soviética e a micromilitância”; “O camarada
Crispim: entrismo e saidismo”; “Um balanço da micromilitância”;
“Na pátria do proletariado”; “Cynira e sua história”; “Ubatuba não
há mais”; “Os últimos anos de meu pai”; “Tempos de repressão”;
“Historiador de domingo”; “A República de Ibiúna: notas sobre uma
geração”; “Um tango argentino”. Além disso, oferece 22 fotos.
A guinada temática do autor é percebida pela introdução do tema
da imigração e da memória de uma trajetória que se consolidou com
abordagens sobre revolução, trabalho, industrialização e criminali-
dade. A inovação na forma se dá pela abordagem da história familiar
e pessoal, e pela narrativa em primeira pessoa que apresenta “painéis
contextuais superpostos”, e a nova metodologia se desdobra no uso
não só de fontes tradicionais, mas também da memória pessoal e fa-
miliar. Grinberg (2008) analisa a escrita de Boris Fausto em Negócios e
ócios: história da imigração (1997), identificando, nesse trabalho, mudança
significativa de tema, de forma e de método:
“Ao lidar com lembranças, com histórias que lhe foram contadas, com
episódios dos quais se lembra mas não viveu, e com outros, que viveu
mas não se lembra, Boris Fausto escreveu uma narrativa que, longe de
ser ficcional, é baseada em fragmentos e sensações, ingredientes fun-
damentais para a composição de um bom retrato, que é justamente o
que o leitor tem à sua frente quando se depara com o livro.”
(Grinberg, 2008, p.110)
No entanto, a autora, que reconhece a excelência do trabalho como
“uma das abordagens mais interessantes da historiografia recente”
Vida e grafias - miolo.indd 183 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
(Grinberg, 2008, p.110), vislumbra como destaque no texto a sua di-
mensão social enquanto uma história da imigração, diferentemente
da perspectiva deste capítulo, que enfatiza a escrita de si do histo-
riador, hábito extremamente raro na tradição historiográfica nacional.
Já no início da introdução de Negócios e ócios, o autor reconhece o
vínculo do livro com a ego-história, unindo os elementos da história
familiar e da autobiografia, mas se pergunta: “Até que ponto faz
sentido publicar um escrito desse tipo?”³ A resposta:
“A meu ver, a busca de uma audiência mais ampla para um escrito
do gênero da ‘ego-história’ se justifica quando ele combina as esferas
pública e privada; ou seja, quando a narrativa se insere de algum
modo em um universo coletivo, dizendo respeito a uma etnia, a uma
nação, a uma classe social etc; e também quando as relações internas
entre os membros da família ajudam a iluminar um quadro cultural
mais amplo, dizendo respeito ao modelo familiar de uma sociedade.”
(Fausto, 1997, p.7)
A sua experiência pessoal e familiar poderia, admite o autor, ampliar
o conhecimento da micro-história da imigração, da cidade de São
Paulo, do período entre as décadas de 1920 e 1950, da economia cafe-
eira, da socialização escolar, assim como das relações familiares e da
transmissão ou dispersão de valores e conhecimentos.
Grinberg identifica o texto de Boris Fausto menos como ego-
-história do que como micro-história.⁴ O argumento da autora é
que a “ego-história” estabelece uma “relação entre o historiador, sua
trajetória biográfica e a de sua geração, suas escolhas profissionais e a
maneira como estas influenciaram a historiografia contemporânea”;
ou seja, uma “conexão entre a história vivida, na qual o historiador
é sujeito, e da análise historiográfica, na qual ele é analista” e, como
o primeiro livro termina na adolescência do autor, sua trajetória não
aparece (Grinberg, 2008, p.112).
Na verdade, Grinberg relativiza essa afirmação, pois, ao mesmo
tempo que reconhece não ser “exatamente isso (ego-história) o que
se encontra em Negócios e ócios”, pela ausência de uma narrativa da
fase adulta do autor, também afirma que “para os leitores atraídos
3 Curiosa é a referência ao incentivo do filho, o antropólogo Carlos Fausto, para que
o autor escrevesse sobre a sua trajetória e sua família (Fausto, 1997, p.7), pois, na tra-
dição etnográfica, com a inevitável imersão cultural e os necessários diários de campo,
coloca-se de forma precoce a discussão sobre autorreflexão e narrativa, para além de
possíveis heranças positivistas.
4 Em seu livro História e memória, Boris Fausto tem a quarta parte, chamada “Um
pouco de micro-história”, com 35 textos do autor publicados no jornal Folha de S.Paulo,
com diversas narrativas de claro cunho memorialístico.
Vida e grafias - miolo.indd 184 3/9/15 7:38 PM
Entre negócios, ócios e domingos
pelo livro por ele ter sido escrito justamente por Boris Fausto, trata-se
efetivamente de um ensaio de ego-história” (Grinberg, 2008, p.112).
Sem dúvida, o segundo livro, Memórias de um historiador de domingo,
lançado dois anos após o artigo de Grinberg, reforça a perspectiva
autorreflexiva do autor e o seu vínculo com a escrita de si no modelo
da ego-história.
Assim, o nome do autor, esse patrimônio que em alguns casos
define tanto uma pessoa como uma obra, justifica uma forma de se
contar a trajetória familiar e pessoal mesmo antes de tal obra se es-
truturar. Entre tantas narrativas sobre memória, família, judeus e São
Paulo, essa é a criada pelo historiador Boris Fausto, e o “pacto auto-
biográfico” é construído tendo essa particularidade como elemento
constitutivo.
No caso dos historiadores, o falar de si parece desafiar os refe-
renciais acadêmicos clássicos, ciosos da objetividade narrativa, que
estabelecem de forma clara os limites além dos quais se localizam o
subjetivo, o impróprio, o inconfessável e o estigmatizado. Nora (1989,
p.11), já na introdução de Ensaios de Ego-História, afirma o necessário
afastamento dos diferentes textos da ambição ou do risco de se
constituírem como “autobiografia falsamente literária”, “confissões
inutilmente íntimas”, “profissão de fé abstrata”, ou mesmo “tenta-
tiva de psicanálise selvagem”, pois, em cada capítulo, só restaria ao
autor “explicitar, como historiador, o elo entre a história que se fez
e a história que vos fez.” O exercício de ego-história de Duby (1987),
por exemplo, intitulado “O prazer do historiador”, termina com
uma confissão de desconforto do autor com o aspecto público dessa
autorreflexão, e resulta em uma exposição asséptica, com ênfase na
trajetória pública e institucional, como forma de autopreservação.
Guimarães, aludindo ao texto, diz que o historiador:
“manifesta o seu desconforto em escrever a sua história, confron-
tando-se com o dilema de escrever em primeira ou terceira pessoa,
tornar a narrativa pessoal ou impessoal, terminando por optar por
escrever em primeira pessoa, mas decidindo por manter o seu afas-
tamento. No texto, são narradas várias fases de sua vida pública,
pois o autor prefere não falar da sua afetividade nem de seus gostos
e atividades culturais. A sua trajetória intelectual torna-se a sua
ego-história.”
(2002, p.2)
O autor-narrador, historiador que, por ofício, é acostumado a estudar
a diversidade de dimensões que compõem a vida individual e cole-
tiva, opta por um recorte formalístico de sua trajetória com ênfase na
Vida e grafias - miolo.indd 185 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
sua dimensão intelectual, mas que explicita, pelo silêncio, a incapaci-
dade ou recusa de expor sua vida privada, sua afetividade e algumas
relações que são cuidadosamente protegidas. No entanto, é inegável
que tal iniciativa é indissociável da questão da autoria como instância
de legitimação. Como já assinalou Bourdieu (1996, p.78), a forma de
singularização do indivíduo a partir de um nome próprio, pessoal e
privado, mostra-se como uma distinção do sujeito social, na qual a
contratualidade do registro civil agrega “uma identidade social cons-
tituinte e duradoura que garante a identidade do indivíduo biológico
em todos os campos possíveis nos quais ele intervém como agente, isto
é, em todas as suas histórias de vida possíveis”. Nesse tipo de escrita
autobiográfica, o nome próprio mostra-se um designador rígido: é a
forma por excelência da imposição arbitrária feita pelos ritos insti-
tucionais, na qual a nominação e a classificação introduzem divisões
nítidas, absolutas, indiferenciadas nas particularidades circunstanciais
e nos acidentes individuais, no fluxo e na fluidez das realidades bioló-
gicas e sociais (Bourdieu, 1996, p.79).
Se o nome próprio é, para o cidadão, a expressão de sua identi-
dade, em relação ao mundo acadêmico esse nome também se projeta
como guardião de uma obra, que construída social e historicamente
mostra-se como reflexo de realizações, vínculos, simpatias, antipa-
tias, apreciações e indiferenças em um espaço relacional bastante
delimitado. O discurso autobiográfico, no qual a identidade do
autor-narrador-personagem coloca-se em posição de centralidade,
mediado pelas exigências do auditório a quem se dirige, estabelece, já
em sua enunciação, uma relação de paratexto na qual o emissor legi-
tima a obra pelo status que lhe é atribuído.
Em relação à ego-história, o auditório não é um público leitor
abstrato, mas também os pares, os profissionais que dividem com
os autores certas ocupações similares, os referenciais teóricos (con-
vergentes ou divergentes), as redes de relações, os sentimentos de
pertença ou exclusão e identidades diversas. Segundo Grinberg, nos
relatos de Boris Fausto, o modo de contar – pela adoção de uma nova
escala, na qual o micro ocupa a centralidade pela primeira vez na
obra do historiador – justifica a classificação do texto como um exer-
cício de micro-história:
“… mesmo sem fazer referência explícita a autores como Carlo Gin-
zburg e Giovanni Levi, e provavelmente sem usá-los diretamente,
Boris Fausto não só coloca em prática a metodologia da micro-his-
tória como a insere em seu próprio campo de interesse, a história do
trabalho.”
(Grinberg, 2008, p.112–113)
Vida e grafias - miolo.indd 186 3/9/15 7:38 PM
Entre negócios, ócios e domingos
O título Negócios e ócios remeteria, de acordo com Grinberg (2008,
p.113), à centralidade do trabalho na narrativa, mas a autora não
percebe que também reflete perspectivas de etnia e de gênero.⁵
A questão étnica surge, entre outros aspectos, pela forma como,
conforme Boris Fausto, seus antepassados, enquanto imigrantes car-
regados do desejo de sobrevivência e enriquecimento, olhavam com
desconfiança e desconforto para os brasileiros, como “gente aco-
modada” que buscava somente um cargo público e cultivava o ócio
(Fausto, 1997, p.67). A questão de gênero, por sua vez, surge de uma
constatação empírica: a forma como o trabalho é um instrumento pri-
vilegiado de definição do papel social masculino e o fato de a maioria
dos personagens serem homens: o pai, Simon; o avô, Samuel; o autor;
os irmãos, Ruy e Nelson; os tios: José, Isaac e Alfredo.⁶
Fausto (1997, p.8) afirma seu compromisso com o factual ao es-
clarecer que evitará o ficcional, embora reconheça as limitações das
fontes disponíveis por se tratar de uma família de classe média cuja
memória se conserva através de algumas fotos, cartas esparsas e pela
tradição oral:
“Disso resulta que não pude preencher muitas lacunas de fatos apenas
aflorados, de datas, de vivências. Preferi descartar a ficção, não porque
o recurso não me atraía, mas por me parecer que, no caso, levaria a
um produto híbrido, algo enganoso. Nessa linha, achei melhor espe-
cular algumas vezes sobre idades de personagens e manter o caráter
fragmentário de alguns relatos. Essa opção é, em si mesma, indicativa
do quanto se perde e de quanto se recria na passagem de uma geração
para outra e, ainda mais, na longa duração das gerações.”
(Fausto, 1997, p.8)
A recriação tem seu espaço pela inevitável base memorialística do
projeto, que, mesmo inconscientemente, incorpora certo grau de
invenção do passado ou a sua tradução a partir de perspectivas do
presente (Fausto, 1997, p.8–9). O historiador-autor tem clareza de
que a narrativa autobiográfica tem ligação tanto com a história
quanto com a ficção, pois os processos do recordar, na constituição
5 Grinberg (2008), de maneira arguta, aponta a forma como a identidade judaica do
autor permite, a partir de seus escritos, questionar certos mitos étnicos e da imigração,
como as distinções e a superação das diferenças entre grupos judaicos, a relevância do
antissemitismo e do sionismo em São Paulo da década de 1930, entre outros.
6 Em entrevista a Gomes & Grinberg (2008, p.133–134), o autor afirma: “Na minha
casa as mulheres são importadas, por alguma razão genética. Somos oito primos – in-
cluindo primos e primas – e desses oito, nós tínhamos só uma prima, que infelizmente
faleceu. Aliás, desse grupo é a única pessoa que faleceu. E eu tenho dois filhos e três
netos. Todos são homens.”
Vida e grafias - miolo.indd 187 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
da memória, implicam uma teoria ficcional. Aqui, ficção no sentido
etimológico de fictio, criação, e não de falseamento: a autobiografia se
estrutura como um relato construído a partir de uma relação pessoal
percebida como autêntica e não ficcional, que se projeta no campo
do conhecimento histórico pela busca do saber e da compreensão, no
campo da ação pelo compartilhar de uma experiência, e no campo da
arte por se tratar de uma narrativa literária.
Após as considerações sobre a relação entre o factual e o ficcional
no relato, Boris Fausto elenca referências bibliográficas sobre o pano
de fundo histórico da narrativa. Esse pano de fundo cobre desde
estudos sobre o judaísmo, os judeus sefardis em distintas culturas e
regiões, a sociedade e a cultura de Buenos Aires (assim como a pros-
tituição e o tráfico de escravas brancas naquela cidade) na transição
do século xix para o xx, até o colégio Mackenzie em São Paulo, a
biografia escrita por Edgar Morin sobre seu pai (Vidal et les siens, 1989),
as memórias de Pierre Vidal-Naquet (Memoires, 1995)⁷ e o trabalho de
Helena Salem (Entre árabes e judeus, 1991).
Conceitualmente mais bem resolvido do que alguns dos relatos
dos historiadores do livro organizado por Nora (1989), o autor brasi-
leiro não se utiliza, no primeiro livro, de notas de rodapé, de jargões
e de instrumentos afins do universo acadêmico em sua narrativa –
embora, no segundo livro, algumas poucas notas de rodapé se façam
presentes e referências diversas sejam explicitadas. Em Memórias de
um historiador de domingo (2010), o autor reconhece a continuidade do
projeto autobiográfico iniciado na obra anterior, embora ressalte que
certos temas tenham sido abandonados, como a história dos judeus
sefardis, a dimensão familiar e os períodos de infância e adolescência.
Se na introdução do primeiro livro Fausto imputava a busca da
fixação pela escrita da memória familiar ao “impulso de um membro
de um grupo e tem por objetivo fixar lembranças comuns, em que
avulta a presença dos ascendentes”, e eventos como o nascimento
ou a morte prematura de um membro do grupo ou mudanças de
residência ou de situação social são mais significativos do que os cha-
mados grandes acontecimentos (Fausto, 1997, p.7), como a relação
micro e macro é dimensionada a partir do referencial individual e da
trajetória profissional e intelectual do autor? Fausto aponta a paralaxe
como o grande desafio na abordagem desse período:
“Terminei o primeiro livro no momento em que entrei na Faculdade
de Direito, aos 19 anos, e na ocasião justifiquei esse corte prematuro
com o fato de que a história, ao chegar àquele ponto, começava a se
7 Ambos os autores são importantes intelectuais judeus, assim como Boris Fausto.
Vida e grafias - miolo.indd 188 3/9/15 7:38 PM
Entre negócios, ócios e domingos
aproximar do presente. E o presente para um historiador – assim eu
encerrava – por mais que se diga o contrário, é sempre um terreno
pantanoso.”
(Fausto, 2010, p.9–10)
Entrar nesse terreno pantanoso é arriscado, mas justifica-se, segundo
o autor:
“Nele resolvo entrar agora, transcorridos vários anos, esperando
não me afogar em um lamaçal, mas recordar momentos de vida que
possam ultrapassar o limite dos sentimentos pessoais, situados na
esfera privada, e retratar algo que combine o universo privado e o
público, com um fragmento significativo de ‘tempos idos e vividos’.”
(Fausto, 2010, p.10)
Ele ressalta a subjetividade de suas apreciações, tanto sobre insti-
tuições como sobre pessoas, identificando a constante mudança no
interior das primeiras e a multiplicidade de aspectos da personali-
dade e da vida das segundas. Além disso, também afirma o desejo de
evitar o narcisismo e o masoquismo, buscando inspiração em depoi-
mentos de homens bem-humorados como João Batista de Azevedo
Lima (Memórias de um carcomido, 1957), Ramón Cárcano (Mis primeros 80
años, 1943) e José Joaquim de Campos da Costa de Medeiros e Albu-
querque (Quando eu era vivo: memórias 1867 a 1934, 1942).
Curiosa a referência a Medeiros e Albuquerque, pois esse autor
reconhecia no memorialismo “um gênero até certo ponto suspeito”
(Albuquerque, 1942, p.9) e optou por duas particularidades no seu
texto, claramente impressionista: que só fosse publicado após a sua
morte. Ademais, que o texto trouxesse, a partir de sua visão parti-
cular de fatos vivenciados, um julgamento de personagens centrais
no Império e na República, como a princesa Isabel,⁸ dom Pedro ii,⁹
Campos Sales,¹⁰ José do Patrocínio,¹¹ Epitácio Pessoa,¹² entre outros.
8 Nega o papel ativo da Princesa Isabel na abolição, pois esta “nem apressou, nem
deteve a marcha triunfante dessa ideia. Cedeu.” (Albuquerque, 1942, p.73)
9 Um imperador que “tinha a mania de erudição. É o caso de falar de mania, porque
nem tudo nele era sincero” ou somente “quereria ter essa fama de sábio” (Albuquerque,
1942, p.21), sendo, na realidade, “um charlatão hipócrita” (Albuquerque, 1942, p.75).
10 O presidente que “nunca foi um prodígio de coragem” (Albuquerque, 1942, p.77) e
foi o exemplo “mais nefasto de quantos houve em nossa terra. Ele perverteu completa
e irremissivelmente o regime presidencial e a imprensa.” (Albuquerque, 1934, p.26)
11 Que o autor descreve como “aquele negrão gordo, com uma cara empapuçada de
alcoólico, um modo de andar gingando” (Albuquerque, 1942, p.59).
12 Que teria a aparência “profundamente repugnante pela sua avidez de arrivista,
frio, implacável” (Albuquerque, 1934, p.63).
Vida e grafias - miolo.indd 189 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
Com certeza, essa dimensão impressionista encontra mais fácil
expressão no crítico literário Medeiros de Albuquerque do que no his-
toriador Boris Fausto, quer pelos distintos temperamentos, quer pelas
referências que carregam.
Delineando a dimensão familiar do seu relato, Boris Fausto jus-
tifica a incorporação da narrativa sobre a esposa, Cynira (a quem
dedica o livro e que é o tema do nono capítulo do livro), como ne-
cessária pelo vínculo com o autor ao longo de cinco décadas e pelo
interesse que desperta, entre outros aspetos, pela questão política e
de gênero. Na conclusão desse segundo livro, intitulada “Um tango
argentino”, o autor traça considerações sobre o envelhecimento e cita
Norberto Bobbio (De Senectude, 1996) e Elias Canetti & Luis Buñuel
(Meu último suspiro, 1982) para ponderar sobre as dores da velhice e o
sonho de renascer jovem, loiro e dançando com uma bela jovem um
tango argentino. O texto de Boris Fausto, talvez pela junção do rigor
historiográfico e da prática jornalística, demonstra uma leveza da
escrita que se exercita no contexto de memórias individuais e cole-
tivas – família, amigos, colegas e outros personagens das lembranças
pessoais movem-se em tempos e cenários da memória coletiva, como
a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, o Teatro Brasileiro
de Comédia, o Cine Marrocos, a usp, o Edifício Martinelli, o Partido
Comunista, o Partido Operário Revolucionário, o trotskismo, a URSS,
o populismo, a ditadura, a redemocratização. Um processo de subjeti-
vação é constantemente referenciado, em uma autoanálise permeada
de crítica e sensibilidade. No capítulo em que narra sua passagem pela
Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, o autor aponta o
orgulho de conquistar, como filho de imigrantes, o nível universitário, e
chama atenção para o trote enquanto lembrança amarga de crueldade
e de humilhação discente, problematizando as instâncias da memória:
“A tropa de esfarrapados, conduzida aos berros pelos veteranos,
seguia pela rua São Bento, quando vi parado na calçada um crítico
literário bem conhecido na época, Carlos Burlamaqui Kopke. Eu me
voltei para o Augusto (de Campos) e sussurrei: ‘Olha o Kopke.’ Se
narro essa insignificância, é porque a memória retém de forma nítida
(vejo o Kopke de terno azul, bem-composto, com um sorriso leve-
mente irônico nos lábios) um momento tão circunstancial e apaga
outros – quem sabe mais importantes – para sempre? Ou será que
esse fato, na aparência irrelevante, tinha um significado maior, como
algo que restituía o melhor da minha individualidade – o menino com
algum vínculo com figuras intelectuais, negando assim a reles con-
dição de ‘bixo’?”
(Fausto, 2010, p.18)
Vida e grafias - miolo.indd 190 3/9/15 7:38 PM
Entre negócios, ócios e domingos
Essa autorreflexão com nuances de psicanálise também se faz pre-
sente na forma como descreve sua admiração na juventude por
Trotsky, o “profeta desarmado”, que se tornou símbolo da “pureza
revolucionária”:
“Essa admiração pela figura de Trotsky não tinha apenas fundamento
intelectual. Creio que minha história de vida me impeliu para a
‘margem da margem’, para começar, pela condição de judeu, apesar
da não religiosidade e dos esforços bem-sucedidos de integração.
Mas o fator decisivo do sentimento de marginalidade foi a morte pre-
matura de minha mãe e a forma como esse desastre foi tratado no
âmbito familiar. Penso que esse fato – com o perdão da retórica – me
tornou sensível às tristezas da condição humana e às injustiças sociais.
Além disso, potencializou uma tendência à marginalidade, como se eu
fosse alguém marcado para não ser igual aos outros meninos, e depois
aos outros jovens, o que resultou ao mesmo tempo em timidez, em
uma socialização difícil, na rebeldia contra um mundo dividido em
vencedores e vencidos.”
(Fausto, 2010, p.84)
A perda da mãe é uma referência forte nas memórias de Boris Fausto,
o que é reafirmado em entrevista concedida a Angela de Castro
Gomes & Keyla Grinberg:
“A morte de minha mãe foi um trauma imenso para todos. Primeiro,
porque foi uma coisa inesperada … Ela era forte, estava com as
crianças na praia… Então aquilo foi um abatimento tremendo para
meu pai. Ele se vestiu por muito tempo de preto, da cabeça aos pés.
Acho que por um ano andou vestido de preto. E aí havia um pro-
blema, além do problema traumático: o que fazer? Porque havia três
meninos para serem criados e um era muito pequeno.”
(Gomes & Grinberg, 2008, p.135–136)
“… minha família tinha uma característica: era extremamente
fechada nas suas exteriorizações. Acho que isso poderia ser uma
marca de lá trás, mas foi muito agravada pela morte de minha mãe.
Era como dizer: ‘Nós não temos nada para comemorar.’”
(Gomes & Grinberg, 2008, p.152)
A figura do pai, que na entrevista é lembrado como um provedor,
preocupado obsessivamente em “educar e garantir uma condição fi-
nanceira razoável” para os filhos, adquire, em um balanço afetivo,
uma posição de reverência e distanciamento:
Vida e grafias - miolo.indd 191 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
“Na realidade, por mais que eu revalorize e respeite a figura de meu
pai, nunca tivemos um bom entendimento. De quem a culpa? De
nós dois, mais provavelmente, de ninguém. Simon se concentrara em
excesso de cuidado com os filhos e uma de suas frases preferidas me
horrorizava: “Se você se deixasse organizar, iria longe.” Da minha
parte eu reagia com violência verbal, não admitia aproximações, sem
ter maturidade para entender a história de vida de Simon e sua in-
segurança. As circunstâncias, entretanto, fizeram com que em seus
últimos anos de vida meu pai me visse como um protetor, embora as
distâncias se mantivessem.”
(Fausto, 2010, p.215–216)
Um pouco mais adiante, o autor recorda: “Uma das últimas imagens
que tenho de meu pai é sua tentativa de fazer a barba, diante do
espelho, com as mãos trêmulas. Acabou se cortando e, enquanto
tratava de estancar um filete de sangue, suspirou resignado: ‘Já não
está valendo a pena.’ Desistiu, poucos dias depois.” (Fausto, 2010,
p.216) A narrativa não esquece, em meio à autorreflexão, a obrigação
da contextualização sócio-histórica do métier do autor:
“Nos primeiros anos da década de 1950, os alunos da Faculdade de
Direito refletiam as transformações sociodemográficas pelas quais
passara a cidade e o estado de São Paulo. Era evidente a presença
de jovens com sobrenomes estrangeiros, em contraste com as turmas
mais antigas, em que os sobrenomes brasileiros predominavam niti-
damente. Estava também em curso um processo de democratização,
abrangendo muitos rapazes da classe média em ascensão e certo
número de moças. Estas começavam a saltar do sonho privado dos
bons casamentos e das tarefas exclusivas do lar para uma vida pro-
fissional, embora muitas tenham se casado, deixando de lado outras
pretensões. Na minha turma, ingressante em 1949, dos 136 alunos
aprovados, 25 eram do sexo feminino; ou seja, cerca de 20% do total,
em contraste com os dias de hoje, quando os dois sexos se equilibram
na composição das turmas.”
(Fausto, 2010, p.19–20)
A perspectiva do historiador manifesta-se na percepção da impor-
tância da imigração e da ascensão social desses novos grupos étnicos,
na questão de gênero pela ampliação da participação de mulheres
entre o alunado e, em um trecho adiante, no ritual do vestir-se entre
os discentes do curso. A sensibilidade treinada, entre as exigências da
formação e da prática jurídica, do fazer docente e da atividade jorna-
lística, está presente em todo o livro.
Vida e grafias - miolo.indd 192 3/9/15 7:38 PM
Entre negócios, ócios e domingos
Em vários exemplos, revela-se a habilidade narrativa do autor e
a sua capacidade de transitar entre os níveis macro e micro: a forma
como descreve alguns professores e funcionários; a “carnavalização”
na aula inaugural de Brás de Souza Arruda; a negritude de Antônio
Carlos Cesarino em um “ambiente de brancos e de mestiços disfar-
çados em branco”; o desprezo de alunos e professores pelo mulato
Pinto Ferreira, que atuava como professor substituto em diversas dis-
ciplinas; as implicações da proximidade de Miguel Reale com a Ação
Integralista Brasileira; a ação política e a forma peculiar de se vestir
e de se expressar de Waldemar Martins Ferreira, um dos líderes da
Revolução de 1932, que sempre usava gravata borboleta, dava espe-
cial atenção às alunas e utilizava um linguajar empolado (hábito que
Fausto imagina ter influenciado Jânio Quadros quando este foi aluno
de tal professor); os trejeitos “afeminados” do bedel Edgard, que de
tão caricatos faziam com que “muitos colegas garantissem que ele se
divertia a custa da gente, fazendo teatro, pois fora da faculdade já o
tinham [até] visto em companhias femininas”; a boemia inveterada e
o interesse pela mpb de Joaquim Canuto Mendes de Almeida.
Os temas, no nível macro e no nível micro, como a Igreja
Católica, os cursos jurídicos, a política partidária, o marxismo, a vir-
gindade, a sexualidade, o sentimentalismo, o Corinthians, o cinema, a
timidez, entre tantos outros, permitem formar, na referência feita pelo
próprio autor aos historiadores franceses, uma coleção de lieus de mé-
moires. As dimensões social, cultural e temporal entrelaçam-se com as
origens familiares (pessoais e do cônjuge) na vivência religiosa (judia
e católica), na formação intelectual, nos laços familiares, nos vínculos
de amizade, nos trabalhos, nos clientes, no contato com os filhos, no
olhar sobre si e sobre os outros, nos hábitos cotidianos, nas práticas
culturais etc. Fausto, na própria forma de se descrever, mostra seu
exercício de contextualização, no qual o afastamento crítico permite
também o toque de humor:
“Revendo meu círculo de amigos nos anos de universidade vejo que
era predominantemente masculino. No meu caso, um dado que difi-
cultava os tão desejados contatos com as meninas era a timidez que
me impedia de utilizar meu maior trunfo: a sedução verbal. Só bem
mais tarde percebi seu valor, quando confrontado com outros re-
cursos de que não dispunha. Eu era baixinho mesmo para os padrões
da época e começara a perder os bastos cabelos com uma velocidade
estonteante, apesar dos esforços para conter o processo por meio de
óleo de babosa, querosene e uma das muitas vigarices milagrosas lan-
çadas na ocasião, a tricomicina.”
(2010, p.46)
Vida e grafias - miolo.indd 193 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
“Sempre gostei também de me misturar à massa nos estádios de
futebol, em meio ao ‘politicamente incorreto’ mais radical, talvez
como compensação a uma vida certinha … Por que essa presença
permanente do futebol e da paixão de torcedor ao longo de toda uma
vida? A explicação mais simples, no meu caso, é a de que o futebol foi
um dos elementos de formação de minha personalidade nos anos de
infância, e depois abriu uma brecha de salutar irracionalidade numa
existência em que o racionalismo figura em doses excessivas.”
(2010, p.49–50)
Fausto (2010, p.53) reconhece o vínculo com o futebol, chegando a
afirmar: “Há quem estabeleça uma cronologia pelos momentos sig-
nificativos da infância, da juventude e da idade madura. Eu poderia
traçar essa cronologia pelas Copas do Mundo que acompanhei, desde
1938 até a desastrada Copa de 2006.”
Embora sem maiores concessões ao pessoal, o tema delicado
da sexualidade surge no momento em que reflete sobre a Juventude
Universitária Católica (juc) na década de 1940 e o comportamento
individual questiona a regra que “se destacava por sua distância dos
costumes imperantes: a preservação da castidade até o casamento”,
caracterizando hábitos de uma geração e de uma sociedade conserva-
dora que dividia as mulheres em “sérias, biscates e putas”, enquanto a
virgindade dos rapazes era motivo de chacota:
“Entre nós, a iniciação sexual e a competição das façanhas sexuais
eram parte do amor-próprio e da identidade masculina. Essa cir-
cunstância levava a rapaziada a uma permanente tensão entre
expectativas e realidade, originando-se daí histórias fantasiosas de
proezas eróticas extraordinárias. Sem ignorar os jogos sexuais que iam
mais longe e estacavam na preservação sagrada do hímen, as oportu-
nidades que se abriam aos jovens de classe média eram contadas: as
empregadas de casa ou da vizinhança, e as putas de todo gênero.”
(Fausto, 2010, p.37)
E, abordado em diversas passagens, o já citado Edgard, o bedel ho-
mossexual (p.33); Walter, o cliente lituano que se casou com moça
brasileira, “mais para morena”, de Santo Antônio da Platina (no nor-
deste do Paraná), porque sempre teve medo de “casar com mulher
furada”, e então buscou uma “mulher com selo” no interior (p.72); a
indicação do filho do sr Antenaza, que em Cochabamba recomendou
aos irmãos Fausto, em viagem pela Bolívia, que procurassem duas
aeromoças que lhe eram amigas íntimas em La Paz (p.113); ou a re-
ferência à uma jovem hospedada no mesmo hotel que os dois, que
Vida e grafias - miolo.indd 194 3/9/15 7:38 PM
Entre negócios, ócios e domingos
convidava alguns hóspedes a “lançar-se a ‘frivolités’” (p.115); o assédio
de Irina, uma prostituta soviética, ao amigo Pedro Paulo no hotel em
Moscou (p.137); as referências ao temor das religiosas de relações lés-
bicas em um dos internatos femininos em que estudou Cynira, a sua
esposa (p.161); os preconceitos com o trabalho de Cynira no Ginásio
Experimental Pluricurricular Estadual (gepe), da Lapa, em aulas de
orientação sexual (p.190); entre outros temas.
As relações acadêmicas, que tantas vezes são um teatro de vai-
dades e uma arena violenta de disputa de poder (real ou imaginário)
e de recursos diversos, aparecem mais pela a perspectiva do consenso
do que pela perspectiva do conflito, exceto pela referência genérica
aos órgãos de repressão durante a ditadura militar e o exemplo de um
professor – que, em vez de ser nomeado, é apenas referenciado como
“já falecido” – que o provocou publicamente para que fizesse um dis-
curso a favor do Vietnã em uma sala de vestibular de 1969. No último
parágrafo do capítulo “Historiador de domingo”, em que Fausto faz
um balanço sobre sua formação e sua produção intelectual como his-
toriador, parece haver uma referência aos momentos de desgaste ou
tensão não relatados: “O convívio institucional com os professores me
fez ver a preciosidade dos anos passados na reitoria … um ambiente de
solidariedade sem paralelo entre os colegas de trabalho.” (2010, p.264)
Embora tenha classificado o curso de História da usp, quando
aluno, como fraco – salvo honrosas exceções –, tanto pelas limitações
de alguns professores como pelo comodismo da maioria dos alunos,
Fausto explicita as influências intelectuais, os vínculos de amizade
e as trocas acadêmicas ao longo da formação e carreira. O autor
reverencia como professores Fernando Novaes, Emilia Viotti da
Costa, Joaquim Barradas de Carvalho e Carlos Guilherme Mota, e
introduz uma observação justificando a ausência de Sérgio Buarque
de Holanda da lista:
“Sérgio, como se sabe, foi um grande historiador, um dos maiores
da historiografia brasileira. Mas, como professor, preferia contar
anedotas históricas sobre dom João vi, o conde dos Arcos e a impe-
ratriz Leopoldina a dar um curso de história em sentido estrito. Desse
modo, concentrou-se na orientação dos melhores alunos e alunas da
pós-graduação, alguns dos quais produziram excelentes trabalhos.”
(Fausto, 2010, p.237)
Essa visão crítica da docência e da orientação na pós-graduação
também é utilizada em relação a si mesmo:
“Não creio que tenha sido mau professor, no que diz respeito a prele-
Vida e grafias - miolo.indd 195 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
ções e comunicação com a classe. Mas, por falta de vocação, ou por
individualismo, nunca me dediquei a formar e orientar alunos, tarefa
importante a que muitos se dedicam com real entusiasmo.”
(Fausto, 2010, p.264)
Reconhece a influência de Perry Anderson e Edward P Thompson, e
se recorda do contato com o chef e pianista Ciro Flamarion Cardoso
(que cozinhava para os amigos em Oxford), com o tradutor Robert
Slenes (que lhe traduziu para o inglês as aulas ministradas em
Oxford), com o leitor Peter Fry (que leu e elogiou os originais de Crime
e cotidiano: a criminalidade de São Paulo entre 1880–1924), além de outros
que foram colegas e amigos. A narrativa autorreflexiva de Boris
Fausto, quer encarada como micro-história, ego-história ou autobio-
grafia, mostra-se como experiência privilegiada para a reflexão sobre
as possibilidades e os limites da escrita historiográfica. Também a essa
narrativa, aplicam-se as características que o autor atribui à História do
Brasil, um de seus livros que, editado pela usp, tornou-se um best-seller:
“Espero que essa discussão tenha contribuído para mostrar ao leitor
que não existe uma única versão da história, pois, se ela se faz com
documentos, também se constrói, se desconstrói e se reconstrói por
meio do olhar do historiador, do clima cultural de sua época e da des-
coberta de novas fontes.”
(Fausto, 2010, p.260)
Os trabalhos de Boris Fausto são um exemplo feliz da inquietação
intelectual e do vigor imaginativo de um historiador veterano, que
busca estabelecer, a partir de novas perspectivas e de novos pro-
blemas, a tradução e a transcriação tanto teórica quanto empírica do
vivido e do narrado. Isso resulta não só em leitura rica e agradável,
mas também em fonte de reflexão para uma abordagem crítica sobre
a construção social da memória.
Considerações finais
É possível estabelecer-se um contraste entre a ego-história e o gênero
autobiográfico, pois embora ambas sejam dotadas de um autor-nar-
rador que explicita suas memórias, a ego-história condiciona o relato
pela perspectiva profissional que incorpora a autorreflexão.
Na ego-história, a “solidão de existir” é mediada por contextuali-
zações nas quais as regras da arte limitam a subjetivação, favorecendo
a abordagem profissional mais do que a pessoal, e moldando por si
mesma o cenário histórico-cultural e a forma de apropriação desse
Vida e grafias - miolo.indd 196 3/9/15 7:38 PM
Entre negócios, ócios e domingos
passado que é referenciado como trajetória, como patrimônio de um
nome no interior de um grupo específico. Os historiadores que se
arriscam nesse exercício de autorreflexão têm seus processos de subje-
tivação limitados pela compreensão grupal do que é lícito ou não ser
incorporado, o que é por si uma clara demonstração da forma como o
passado é apreendido nas dinâmicas sociais de um grupo profissional
específico, no qual ele, o passado, é o objeto privilegiado.
A memória pessoal, pelo seu grau de instabilidade, inexatidão
e criação imaginativa, é cerceada pelas regras do grupo e pelo ideal
de conhecimento que a disciplina almeja em algumas de suas mais
eminentes teorizações. No entanto, a ideia frutífera de se afirmar um
espaço de autorreflexão do historiador não pode ser reduzida a pa-
trimônio de uma tradição intelectual (francesa ou afrancesada), mas
deveria permitir a incorporação de inovações e ampliações de seu
objeto em uma dimensão transcultural, como possibilidade narrativa
na qual a escrita de si se manifesta entre aqueles que, por atribuição
profissional, são produtores privilegiados da memória dos grupos aos
quais pertencem.
É necessário, portanto, questionar de que forma as identidades
pessoais e coletivas são construções de versões produzidas e reprodu-
zidas dentro da comunicação entre pares, em que as formas de falar,
escrever e descrever o passado surgem como amálgamas profissionais
e comunitários. O relato autobiográfico não oferece somente um
conjunto de informações pontuais ou gerais, mas também revela uma
forma de subjetivação que se manifesta como valorização das expe-
riências vividas, rememoração do passado e uso deste no interior do
grupo ao qual o narrador está vinculado ou ao auditório ao qual se
dirige.
Se, por um lado, o resgate das dimensões criativas da escrita his-
toriográfica é limitado pelas exigências epistemológicas da área, por
outro, isso não impede a percepção de múltiplas dimensões vivenciais,
assim como da dinâmica de constante reelaboração dos significados
advindos desse processo, que se manifestam de forma bastante con-
trastante na emoção, no sentimento, nas falas e nas imagens em que
a relação como o passado é convertida em memória e em narrativa.
Reduzir a ego-história a uma narração de natureza curricular/profis-
sional é subdimensionar uma possibilidade de refinamento reflexivo
no campo intelectual, descartando uma riqueza subjetiva em nome
de receios pessoais que buscam se justificar a partir de referenciais
metodológicos e epistemológicos que se mostram incompletos ou
reducionistas. Se uma boa prática historiográfica deve evitar as
contradições do anacronismo, as reduções do teleobjetivismo e a di-
tadura do documento, deve também incorporar dimensões que sejam
Vida e grafias - miolo.indd 197 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
capazes de apreender as incoerências e instabilidades dos atores e
contemplar suas práticas cotidianas e as descontinuidades e contradi-
ções de uma vida, tanto em terceira quanto em primeira pessoa.
Assim, é necessário o questionamento sobre quais mudanças,
principalmente através do diálogo com a teoria literária e a teoria
antropológica, se fazem necessárias para que a escrita historiográ-
fica, enquanto ego-história, micro-história ou autobiografia, possa
incorporar exercícios de autoanálise que permitam o trânsito entre as
regras da arte e os processos de subjetivação individuais e coletivos,
pessoais e grupais, da pessoa física e da pessoa jurídica. A habilidade
do historiador em estabelecer trânsitos de fronteiras marca a forma
como, enquanto narrador, este foi capaz de se equilibrar entre o
público e o privado, de perceber sucessos, coerências, fracassos, inco-
erências, honrarias e estigmas ou, ainda, de identificar relações entre
indivíduos e grupos de sua rede de relações.
Quando o historiador aceita o desafio de abordar suas memó-
rias e de superar os limites do curriculum pela incorporação da vida
em sua narrativa, ele assume a responsividade (expressão criada por
Bakhtin, que define a forma como o enunciado se adianta às expec-
tativas e objeções do outro, de modo que responde por antecipação
a esse outro) e oferece, em seu trabalho, um dialogismo bem-vindo
e necessário, independentemente se tal busca de transparência é um
caso de narcisismo, expiação, costume ou ritual. A autorreflexão do
historiador, como micro-história, ego-história ou autobiografia, não
está preocupada em oferecer um novo sistema ou em embasar-se em
uma grande teoria, mas talvez possa contribuir para que o conheci-
mento historiográfico se vitalize, conciliando dogma e doxa e aceitando
sem traumas uma verdade enunciada por um escritor cego argentino:
“Toda memória é, de algum modo, uma antologia.”
Referências
Manuel Alberca, “La invención autobiográfica: premisas y problemas de la autofic-
ción”, in: Celia Fernández Prieto & M Ángeles Hermosilla Álvarez (edição),
Autobiografía en España: un balance – actas del Congreso Internacional celebrado en la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de Córdoba, Córdoba: Visor Libros, 2001, p.235–255
Verena Alberti, “Literatura e autobiografia: a questão do sujeito na narrativa”, Estudos
Históricos, v.4, n.7, p.66–81, Rio de Janeiro: fgv, 1991
Medeiros e Albuquerque, Quando era vivo, Rio de Janeiro: Leite & Maurillo, 1942
Leonor Arfuch, El espacio biográfico: dilemas de la subjectividad contemporánea, Buenos
Aires:Fondo de Cultura Economica, 2002
John Beverly, “Anatomía del testimonio”, Revista de Critica Literaria Latinoamericana, ano
13, n.25, p.7–16, primeiro semestre de 1987
Vida e grafias - miolo.indd 198 3/9/15 7:38 PM
Entre negócios, ócios e domingos
Vavy Pacheco Borges, “O ‘eu’ e o ‘outro’ na relação biográfica: algumas reflexões”,
in: Márcia Naxara, Izabel Marson & Marion Brepohl (organização), Figurações do
outro, Uberlândia: edufu, 2009, p.225–238
Pierre Bourdieu, “A ilusão biográfica”, in: Marieta de Moraes Ferreira & Janaína
Amado, Usos & abusos da história oral, Rio de Janeiro: Editora fgv, 1996,
p.181–191
Pilar Bravo & Mario Paoletti, Borges verbal, Barcelona: Emecé, 1999
Nora Catelli, El espacio autobiográfico, Barcelona: Lumen, 1991
François Dosse, El arte de la biografía, Ciudad do México: Universidad Iberoamericana,
2007
Georges Duby, “O prazer do historiador”, in: Pierre Nora, Ensaios de ego-história,
Lisboa: Edições 70, 1989, p.102–132
Boris Fausto, Negócios e ócios: história da imigração, São Paulo: Companhia das Letras,
1997
–, História e memória, São Paulo: Graal, 2005
–, Memórias de um historiador de domingo, São Paulo: Companhia das Letras, 2010
James Fentress & Chris Wickham, Memória social: novas perspectivas sobre o passado, Lisboa:
Teorema, 1992
James D Fernandez, Apology to apostrophe: autobiography and the rethoric of self-representation in
Spain, Durham / Londres: Duke University, 1992
Lauro Flores, “Ideologia y cultura en la autobiografia chicana”, Revista de Crítica Lite-
rária Latinoamericana, ano 18, n.36, 1992, p.97–109
Michel Foucault, “A escrita de si”, O que é um autor?, Portugal: Veja & Passagens, 1992
Ângela de Castro Gomes (organização), Escrita de si, escrita da história, Rio de Janeiro:
fgv Editora, 2004
Ângela de Castro Gomes & Keila Grinberg, “Um historiador republicano: entrevista
com Boris Fausto”, in: Ângela de Castro Gomes, Leituras críticas sobre Boris Fausto,
Belo Horizonte: ufmg / São Paulo: Perseu Abramo, 2008, p.133–228
Ângela de Castro Gomes & Benito Bisso Schmidt (organização), Memórias e narrativas
autobiográficas, Rio de Janeiro, 2009
Keila Grinberg, “Pelo prazer de uma boa história: negócios e ócios na obra de Boris
Fausto”, in: Ângela de Castro Gomes, Leituras críticas sobre Boris Fausto, Belo Hori-
zonte: ufmg / São Paulo: Perseu Abramo, 2008, p.109–131
Valéria Lima Guimarães, “Em torno da biografia como um gênero histórico: apon-
tamentos para uma reflexão epistemológica”, Anais Eletrônicos do 10 Encontro
Regional de História, anpuh-rj, 2002, disponível em http://www.rj.anpuh.org/
Anais/2002/Comunicacoes/Guimaraes%20Valeria%20L.doc, acesso em 15 de
fevereiro de 2009
Phillipe Lejeune, Je est an autre, Paris: Seuil, 1980
–, “Definir autobiografia”, in: P Morão (organização), Autobiografia: autorrepresentação,
Lisboa: Faculdade de Letras de Lisboa, 2003
–, O pacto autobiográfico: de Rousseau à internet, Belo Horizonte: ufmg, 2008
Pierre Nora, Ensaios de ego-história, Lisboa: Edições 70, 1989
Benito Bisso Schmidt, O biográfico: perspectivas interdisciplinares, Santa Cruz do Sul:
edunisc, 2000
Daniela Beccaccia Versiani, Autoetnografias: conceitos alternativos em construção, Rio de
Janeiro: 7Letras, 2005
Wilton C L Silva é mestre em Sociologia pela Universidade Estadual de Campinas,
Unicamp, doutor em História e livre-docente em Metodologia da Pesquisa Histó-
rica pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, unesp, campus de
Assis. Transitando nas ciências humanas, entre humanos e desumanos, tem se mantido
um professor amador e um aprendiz profissional.
Vida e grafias - miolo.indd 199 3/9/15 7:38 PM
Biografias judiciárias:
analisando laudos psiquiátricos
de autos de processos penais
Maria Luisa Scaramella
Em suas etnografias de sessões de júri, Ana Lúcia Pastore Schritz-
meyer descreve-as como um ritual que condensa tempos, espaços e
biografias, atribuindo o mesmo aos autos de um processo:
“Os acontecimentos narrados no júri parecem ganhar sentido ao
serem organizados em horas, dias, cronologias, biografias, e a própria
enumeração das peças processuais, nos autos, segue essa lógica que
comprime multiplicidades em uma única sequência cujo desfecho é
uma sentença decisória.”
(Schritzmeyer, 2007, p.118)
Seguindo a autora, os autos em sua documentação guardam o mesmo
tipo de resumo compacto de fatos, vidas, tempos etc. Sendo assim,
as peças que compõem os autos podem ser compreendidas como
arquivos de vida do sujeito ao qual se referem, em que sua história
é inscrita de forma condensada, sendo contada e recontada com o
intuito de arquivar todos os indícios e provas que levarão, em tese, a
desvendar a morte, legitimando-a ou não.
Sugiro, portanto, que a documentação dos autos possa ser lida
como um tipo de “narrativa biográfica judiciária” sobre a figura
do réu, construída no decorrer do processo. Um dos elementos que
permite essa leitura é o caráter dual dos autos, uma documentação
que condensa e arquiva.
Ao nos falar sobre o processo de arquivar a própria vida, Philippe
Artières (1998) remete-nos ao exercício de arrumar, desarrumar e
classificar a intimidade. Criar uma caixa com recordações, escrever
um diário, por exemplo, seriam formas cotidianas de arquivar a vida.
Nesse último caso, os eventos cotidianos, cronológicos, o fluxo de uma
Vida e grafias - miolo.indd 200 3/9/15 7:38 PM
Biografias jurídicas
consciência seriam o mote para o início de uma narrativa íntima,
evocativa, onde passamos a vida a limpo, onde a verdade é um dos
objetivos. Contudo, essa verdade se molda ao autor, pois, ao arquivar
nossas vidas, fazemos escolhas – omitimos, exageramos, rasuramos,
sublinhamos, incluímos, excluímos fatos, fotos, documentos, bilhetes,
escritos, cartas. Como nos diz Artières, há uma intenção autobio-
gráfica no ato de arquivar a própria vida e, nesse sentido, o real é
manipulado de forma a encontrarmos a versão que melhor condensa
uma imagem de nós mesmos.
O mesmo ato de arquivar – proponho – está presente tanto na
maneira como documentos são criados e inscritos nos autos de um
processo quanto na intenção biográfica que eles guardam ao gerar
uma narrativa ou narrativas sobre o réu em questão. Se, por um lado,
são formas de arquivar e arquivos de naturezas distintas, por outro,
temos fragmentos da vida do réu presentes nessa documentação. Os
autos arquivam essa vida e, na medida em que o fazem, resgatam e
contrapõem elementos da mesma, escolhidos de acordo com uma in-
tenção que não foge ao biográfico e que levará em direção à culpa ou
à inocência.
Entendo, portanto, que, se há um debate entre operadores do
direito em torno da culpa e da inocência ou, como diz Corrêa, em
torno da construção de “modelos de culpa e de inocência”, esses
modelos só se tornam possíveis porque estão baseados na vida em
questão, apropriada e ressignificada ao longo do processo:
“… no momento em que os atos se transformam em autos, os fatos
em versões, o concreto perde quase toda a sua importância e o debate
se dá entre os atores jurídicos, cada um deles usando a parte do ‘real’
que melhor reforce o seu ponto de vista. Neste sentido, é o real que
é processado, moído, até que se possa extrair dele um esquema ele-
mentar sobre o qual se construirá um modelo de culpa e um modelo
de inocência.”
(Corrêa, 1983, p.40)
Nesse sentido, entendo que a documentação dos autos pode ser lida e
compreendida como um tipo de narrativa biográfica judiciária. Frag-
mentos ou fatos de uma vida passam por um tipo de filtro jurídico
ou, como nos diz Kant de Lima (1995), “serão submetidos a um tra-
tamento lógico-formal, característico e próprio da ‘cultura jurídica’ e
daqueles que a detêm”.
Nos autos, temos apropriações de fragmentos de vidas que
entram de forma controlada na documentação (no recolhimento
de provas, nos depoimentos) e que também são utilizados de forma
Vida e grafias - miolo.indd 201 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
controlada, tanto na construção da defesa quanto da acusação.
Basta atentar para o fato de que esse tipo de narrativa independe da
vontade do réu. Como nos diz Arlette Farge, “o ladrão, o traidor e o
rebelde não queriam esse tipo de registro; outras necessidades fizeram
com que suas palavras, seus atos e seus pensamentos fossem consig-
nados” (2009, p.16).
O grau de entrada dos elementos (fragmentos) dessa vida – que
irão compor a biografia judiciária – é variado. Por exemplo, em autos
onde figuram laudos psiquiátricos – e a questão da inimputabilidade
está posta – há uma preponderância de narrativas de vida que vão
compor o que os peritos chamam de anamnese.¹ Este procedimento,
que dá à história de vida grande destaque nos autos de um processo
penal, deve revelar a condição psíquica do réu, portanto, sua con-
dição jurídica. Há na anamnese a tentativa de recontar a história de
vida do réu, atribuindo coerência ao tempo e aos fatos, logo, ao crime.
Reconduzir os fatos (fragmentos) de uma vida por esse filtro
jurídico implica atribuir sentidos a essa vida, partindo do crime em
direção ao passado, seja para a construção da inocência ou da culpa.
Para compreenderem essa vida em sua “essência” (e o crime em seu
enigma), os agentes jurídicos buscam respostas na extensão da traje-
tória em questão, de forma seletiva. Há um presentificar o passado,
trazendo elementos escolhidos dessa vida e colando ou descolando-
-os do crime, quando necessário. A seleção efetuada pelos agentes
jurídicos aponta para o caráter condensador e mesmo explicativo do
biográfico, na medida em que este guarda grande potencial simbólico
e abre espaço à fabulação.
Aqui, inspiro-me na noção de biografema de Roland Barthes
(2005) para pensar essa dimensão mais ou menos fragmentada do
biográfico que entra nos autos e que, de certa forma, será utilizada
na construção explicativa da inocência e da culpa pelos agentes jurí-
dicos. Enfatizo a ideia de “inspiração”, não aprofundando essa noção,
mas aproveitando o que ela me permite acionar sobre o potencial
simbólico de determinados traços biográficos que, nos autos, abrem
caminho a inflexões. São detalhes de uma vida que possibilitam des-
dobramentos, inversões, desvios na forma como serão contados ou
1 Olimpia Maluf, ao analisar os laudos periciais sobre Francisco de Assis Pereira, co-
nhecido como “maníaco do parque”, mostra-nos que a anamnese foi dividida em duas
partes: “a) antecedentes pessoais (dados coletados com o próprio periciando e com
seus familiares sobre sua história de vida, da gestação até o momento presente). Trata-
-se, pois, dos aspectos biopsicossociais do seu desenvolvimento, acrescidos do relato
dos seus comportamentos nas atividades que desenvolveu em suas ‘vidas’ – escolar, la-
borativa, militar, afetiva e sexual; b) antecedentes familiares (levantamento das doenças
psiquiátricas nos antecedentes e colaterais diretos, esses dados são levantados com o
próprio examinando e com seus familiares).” (2000, p.43–44)
Vida e grafias - miolo.indd 202 3/9/15 7:38 PM
Biografias jurídicas
recontados. Nesse sentido, pensando-se ainda em biografemas, Feil
(2009) nos diz que eles misturam uma dimensão real da vida com
uma ficcional, portanto, o biógrafo que segue essa perspectiva estaria
inventando vidas mais do que recontando vidas de maneira linear,
cronológica, coerente. Novamente, reflito sobre o papel dos agentes
jurídicos (ou biógrafos/biografólogos, pensando ainda em Barthes)
na construção da inocência ou da culpa através da recuperação de
traços biográficos contidos e passíveis de inflexões dado seu potencial
simbólico.
Ressalto que as apropriações e ressignificações da vida do
acusado estão diretamente ligadas ao imaginário social e, portanto, ao
status que se atribui a determinadas categorias sociais em detrimento
de outras. A cultura jurídica não está dissociada de um saber local
(Geertz, 1997). Nessa perspectiva, as formas de seleção e as formas de
interpretação dessas biografias judiciárias revelam, para além delas,
relações de poder, disputas, hierarquias, representações que compõem
o imaginário social e simbólico a respeito da vida e da morte, do
normal e do anormal, do bem e do mal.
Na tentativa de explicitar os pontos levantados até aqui, volto-me
à análise dos laudos psiquiátricos inscritos nos autos do processo penal
de Maura Lopes Cançado. Maura Lopes Cançado escrevia contos
para o suplemento literário do Jornal do Brasil (sdjb), no final da
década de 1950. O reconhecimento como escritora, discreto, veio com
a publicação de seu livro Hospício é Deus (Cançado, 1991), em 1965. O
livro, um misto de relato autobiográfico com diário íntimo, foi escrito
durante uma de suas internações no Centro Psiquiátrico Nacional
Pedro ii, então conhecido como hospital do Engenho de Dentro,
entre 1959 e 1960. Em uma das muitas internações que buscou por
vontade própria ao longo de sua vida, foi acusada de estrangular uma
das pacientes do hospital em 1972. Com esse evento significativo,
inicia-se toda uma reordenação de sua vida a partir de parâmetros
jurídicos. A ré foi considerada inimputável, mas, devido à ausência de
instituições femininas que abrigassem inimputáveis à época, Maura
foi para uma prisão comum, passando mais de oito anos de sua
“medida de segurança” encarcerada, indo de uma prisão para outra,
uma vez que sua categoria jurídica não se encaixava nas instituições
existentes. Com a ajuda de alguns amigos da imprensa, conseguiu,
sob a responsabilidade desses amigos, ser transferida para um hospital
psiquiátrico particular, onde passou boa parte dos seus dias até sua
morte em 1993.
Vida e grafias - miolo.indd 203 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
Os laudos psiquiátricos:
notas sobre uma
“curva de vida defeituosa”
O primeiro contato com esse tipo de documentação jurídica acon-
teceu durante meu doutorado em Ciências Sociais, o qual resultou na
tese “Narrativas e sobreposições: notas sobre Maura Lopes Cançado”.
Nessa pesquisa, os autos do processo penal onde a personagem do
título figurou como ré, acusada pela morte de uma pessoa, foi uma de
minhas fontes primárias, juntamente com um vasto material de cunho
biográfico. A análise dessas narrativas deu-se em termos de “sobre-
posição de discursos”, noção apresentada por Serge Doubrovsky. No
texto “Sartre: autobiographie/autoficion”, Doubrovsky (1991) analisa
trechos de episódios semelhantes descritos em duas obras de Sartre,
Les Carnets de la drôle de guerre e Les mots, e se interroga sobre a diferença
e a divergência de sentidos que surgem da sobreposição das duas
narrativas.
A sobreposição de narrativas revelou-me as tensões implicadas
nas versões sobre uma mesma história. Para lembrar Carlo Ginzburg
(2007), quando temos à mão fontes biográficas, o importante é buscar
uma integração entre as realidades e possibilidades que o material
apresenta. Isso implica, segundo o autor, em não focar na oposição
entre literário e científico, verdadeiro e falso, ainda que se faça uma
distinção entre os tipos de narrativas (orais, ficcionais, documentais,
biográficas, autobiográficas etc). Um exemplo disso são as narrativas
do processo penal de Maura, principalmente os laudos, quando co-
locados em contraposição aos relatos autobiográficos e biográficos: a
tensão entre literário e científico aparece e, junto a ela, os diferentes
sentidos que uma mesma narrativa ou biografia pode ganhar, depen-
dendo de quem a narra e para quê.
Debruçada sobre o primeiro laudo – ao todo, foram três desses
laudos – de exame de sanidade mental realizado com Maura Lopes
Cançado, datado de 5 de novembro de 1973, tive a impressão de estar
novamente lendo trechos de Hospício é Deus. O laudo é composto,
principalmente, de pareceres médicos de dois hospitais psiquiátricos
nos quais ela esteve internada, dos relatos sobre exames a que foi
submetida e, por fim, dos relatos dos psiquiatras ou peritos que rea-
lizaram entrevistas com Maura. Assim, a história de Maura parece
ser contada novamente, com alguns dos trechos do laudo se asse-
melhando fortemente a seu livro, excetuando-se a parte intitulada
“Exame psíquico”, onda inicia-se uma narrativa mais técnica, na
qual a história de vida que Maura conta aos peritos é analisada e
encaixada a termos psiquiátricos. Algumas informações novas são
Vida e grafias - miolo.indd 204 3/9/15 7:38 PM
Biografias jurídicas
acrescentadas, mas, de maneira geral, a parte mais longa do laudo
é formada pelo relato que é quase um duplo resumido de Hospício é
Deus. Temos a seguinte narrativa:
“Antecedentes psicossociais: A paciente criou-se no interior de Minas
Gerais, na fazenda paterna onde passou toda a infância. O pai era fa-
zendeiro, homem abastado, ‘podre de rico’, e sua riqueza e poderio a
atingia a tal ponto, que chegava a julgá-lo ‘um Deus’ … o pai, como
próspero fazendeiro do sertão mineiro, possuía aquelas caracterís-
ticas imperantes à época, onde a lei ‘era o revólver’, e as adotava e as
exercia amplamente.”
(Processo penal, fl.74)
O desenrolar é muito semelhante ao de seu livro Hospício é Deus:
“Nasci em uma bela fazenda do interior de Minas, onde meu pai era
respeitado e temido como o homem mais rico e valente da região …
Sempre ouvi dizer que muitas de suas fazendas lhe eram desconhe-
cidas por estarem distantes. Filho de família rica, gastou toda sua
herança quando jovem, casando-se depois com mamãe e recome-
çando a vida nos sertões de Minas Gerais, onde a única lei era a do
revólver. Antes de tudo, meu pai foi um bravo.”
(Cançado, 1991, p.12–13)
A sequência se repete. Cito alguns trechos importantes do laudo:
“De outra parte, a paciente, na infância, sempre foi muito ‘adulada’,
por ter nascido sete anos depois do irmão que a antecedera. O pai
‘apaixonara-se’ por ela e concedia-lhe todas as vontades, era muito
‘bonitinha’ e todos tinham-na na conta de ser muito inteligente.
Quando no colégio, almejava ter um pai culto, que lhe ensinasse
latim, línguas, ‘bacana’. Em contato com outras colegas, filhas de
pessoas de cultura, mentia deliberadamente, afirmando ser filha de
estrangeiros (russos) e ter um tio chinês, chegando ao ponto de ‘men-
talizar’ o tio de rabicho, como se chinês fosse … Não se dava bem nos
colégios, não se adaptava às normas exigidas e não sabia competir
com as outras colegas, porque em sua casa ela sempre fora a pessoa
mais importante … Aos 14 anos decidiu tirar o brevet de aviador, na
localidade de Bom Despacho, curso interrompido pelo namoro que
iniciou com um dos seus colegas … Quando o pai da periciada soube
dos acontecimentos tomou-se de desespero, opôs-se tenazmente ao
casamento e mesmo sabendo que a paciente não era mais virgem,
não consentiu no matrimônio, circunstância que a levou a casar-se
Vida e grafias - miolo.indd 205 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
apenas no religioso … A essa altura dos acontecimentos, a periciada
já estava muito arrependida com o casamento e, depois de nove meses
de casada, dava à luz a um filho do sexo masculino. Pouco depois do
nascimento da criança a paciente separou-se do marido, época que
coincidiu com o falecimento do pai. Face ao desaparecimento do
chefe da família, a periciada, juntamente com a mãe, mudou-se para
uma cidade próxima, onde passaram a residir. Alguns meses depois,
porém, Maura viajou para Belo Horizonte, com o fito de concluir
o curso de aviação, ‘tirar o brevet’, indo morar em um hotel, tendo
convencido a mãe, para comprar-lhe um avião, um teco-teco, um
‘paulistinha’. Chegou a voar sozinha, mas não conseguiu tirar o brevet,
pois um amigo seu, aviador, voando em seu avião, ao praticar ater-
risagem de emergência, destruiu o aparelho. Retornou à fazenda …
resolvendo, mais tarde, prosseguir nos estudos. Para isso matriculou-
-se no colégio Isabela Hendrex, … preparou todo o enxoval, mas
não pôde frequentar o colégio, pois a direção tomara conhecimento
de que era casada. Procurou então um pensionato e lá permaneceu
cerca de um ano e pouco, frequentando cursos de línguas, balé, piano
e canto. Contudo, quando tomavam conhecimento do estado civil
da periciada, via-se obrigada a mudar-se … o que a levou, por fim,
a morar somente em hotéis … Continuou nos estudos até atingir os
18 anos … começou a ficar ‘excessivamente deprimida’, emagreceu
muito, situação essa que conduziu a periciada, pela primeira vez, a
uma internação num sanatório psiquiátrico, eis que também se sentia
muito sozinha, isolada, e o sanatório a ‘protegia’.”
(Processo penal, fl.76–78)
Trechos muito semelhantes estão em sua autobiografia:
“Há sete anos mamãe não tinha filhos, quando se deu meu nasci-
mento. Daí tornar-me objeto de atenção de toda família e o orgulho
de meu pai … O sexo foi despertado em mim com brutalidade.
Cheguei a ter relações sexuais com meninas de minha idade. Isso aos
6 ou 7 anos … Possuindo muita imaginação, costuma inventar his-
tórias exóticas a meu respeito. Aos 7 anos, estudando numa cidade
próxima à fazenda, onde morava minha irmã Didi, mentia para
minhas colegas: ‘Sou filha de russos, tenho uma irmã chamada
Natacha e um dos meus tios nasceu na China, durante uma viagem
dos meus avós.’ Ó, o meu tio chinês, eu o via mentalmente, de rabicho
e tudo, tal os chineses dos livros que lia … No colégio Sacre-Coeur de
Marie passei a envergonhar-me de minha família. Algumas de minhas
colegas tinham parentes elegantes, bem-vestidos, que as visitavam.
Outras, não. Minha família, apesar de mais rica do que a maioria da-
Vida e grafias - miolo.indd 206 3/9/15 7:38 PM
Biografias jurídicas
quelas, morava no interior, apresentava-se com simplicidade … Uma
vez ouvi mamãe, enquanto eu discutia com papai: ‘É um erro fazer
com que nossos filhos adquiram grau de cultura superior ao nosso.
Maura é um exemplo.’ Perguntei-lhe assustada: ‘Que há? Que acon-
tece?’ Respondeu-me: ‘Julga que não percebo sua maneira de ignorar,
mesmo tentar humilhar seu pai?’ Era verdade, mas eu me odiava
também por isso … Aos 14 anos, quis ser aviadora, entrei para um
aeroclube, pretendendo tirar o brevet de piloto. Não consegui brevet,
casei-me com um aviador jovem de 18 anos. Papai se opôs tenaz-
mente, todos viam naquilo uma loucura … Aos 15 anos, vi-me com
o casamento desfeito, um filho e sem papai, sustentáculo de todos os
meus erros – meu grande e único amor.”
(Cançado, 1991, p.12–24)
Toda essa narrativa, esse recontar a história, tem no laudo o título de
“Anamnese”. A anamnese psiquiátrica consiste na construção do histó-
rico do paciente através da coleta de dados sobre a vida do mesmo,
lembranças, reminiscências de família etc. De modo geral, é a recons-
trução de sua história de vida que será analisada e ressignificada a
partir do saber médico psiquiátrico. É esse parecer que sustenta a sen-
tença do juiz. Maura estava sob os olhares dos peritos do Manicômio
Heitor Carrilho, cada mero detalhe, cada gesto, cada palavra e en-
tonação sendo atentamente analisados. O modo como a história era
contada torna-se mais um objeto de avaliação: “A avaliação psiquiá-
trica começa antes mesmo do início da entrevista, com a observação
da expressão facial do paciente, seus trajes, movimentos, maneira de
se apresentar …” (Zuardi & Loureiro, 1996, p.46) Tudo estava coberto
pela aura reveladora dos sentidos subjacentes, prontos a serem des-
velados sob os olhos atentos dos peritos, como demonstra o perito e
narrador:
“A paciente vem ao exame trajando vestes próprias e atuais, com os
cabelos penteados, discretamente maquilada, evidenciando alinho e
cuidados bem femininos pela sua aparência pessoal. Apresenta-se em
estado de clareza da consciência e está orientada auto e alopsiqui-
camente. Mostra nas várias entrevistas mantidas com os peritos, um
elevado grau de ansiedade, eis que não se mantém sentada tranquila-
mente à cadeira, de onde levanta-se a todo instante, movimentando-se
angustiadamente pela sala, cruzando e descruzando as pernas, e
fumando incessantemente. A atitude é vigilante e voluntariamente
dirigida.”
(Processo penal, fl.86)
Vida e grafias - miolo.indd 207 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
Um piscar de olhos, um tremelicar de mãos, uma doença de infância
ou um pecado confesso, tudo ganhava um sentido profundo e defi-
nitivo durante o exame psiquiátrico. Cada pedaço de sua narrativa
era interpretado e posteriormente colado a categorias pré-determi-
nadas de sintomas, mostrando uma personalidade desviante. Por fim,
chega-se à conclusão de que Maura “externa fundamentalmente
uma fachada psicopática, sob a qual se desenvolve surdamente um
processo esquizofrênico larvado, enxertado com epilepsia, com dis-
túrbios psicopáticos e epiléticos do caráter” (Processo penal, fl.86).
No entanto, para chegarem a essa conclusão – que é também um
diagnóstico –, a narrativa dos peritos no laudo recai sobre um tipo de
desqualificação da conduta de Maura e de sua personalidade, por-
tanto, de sua história de vida.
No caso de Maura, não se tratava apenas de chegar a um diagnós-
tico. O objetivo dos peritos era explicar um crime que, em sua origem,
parecia enigmático ou, como diz Foucault (2002), sem interesse, sem
uma motivação explícita. O problema era encontrar esse interesse-
-razão do crime que pudesse torná-lo compreensível e, portanto,
punível ou não. Nesse sentido, esse diagnóstico vai sendo tecido na
narrativa dos peritos sobre Maura e essas caracterizações morais vão
sendo costuradas às entrelinhas, na tentativa de explicarem o enigma.
Nas entrevistas com os peritos, Maura dizia não se lembrar de
nada sobre o momento do crime. A frase que usava era “se lembrar,
fico doida” (Processo penal, fl.73). Os peritos tiveram acesso aos deta-
lhes do que aconteceu através de outras peças inscritas nos autos do
processo, que foi consultado. Nos autos, já havia o parecer do instituto
de criminalística, ou “Laudo de exame de local de morte violenta”:
“Face aos exames realizados e expostos no corpo do presente laudo,
são acordes os peritos em afirmar ter ocorrido no local em causa,
objeto do presente, uma morte violenta (homicídio), perpetrado
por estrangulamento, cujo instrumento utilizado fora uma faixa de
tecido extraído de um lençol, nas condições abordadas nos capítulos
anteriores.”
(Processo penal, fl.57)
Os peritos do exame de sanidade mental estavam, então, diante de
uma paciente psiquiátrica que havia matado violentamente outra pa-
ciente, mas que se apresentava em condições estáveis. De acordo com
a narrativa do laudo de sanidade sobre Maura:
“A linguagem verbal é expressada através [de] uma atividade dis-
cursiva fácil, minuciosa, detalhista e prolixa. No conteúdo do
Vida e grafias - miolo.indd 208 3/9/15 7:38 PM
Biografias jurídicas
pensamento, muito embora não se encontrem ideias delirantes
sistematizadas, organizadas sob a forma de um delírio típico, sua te-
mática está marcada pela fantasia, pela fabulação e pela tendência à
autorreferência.”
(Processo penal, fl.86)
Maura não delira. Ao contrário, fala bem, com minúcia e detalhes.
Sua capacidade intelectual no teste psicológico é descrita como “nível
médio e alto (qi 114). Apesar de uma associação estranha no teste
de Rorschach (um homem estranhíssimo – o próprio Deus), apre-
sentou adequado contato com a realidade e boa lucidez durante todo
o exame psicológico precedido …” Apresenta-se de maneira ade-
quada, tem “fácil relacionamento social e diálogo que mantém com
bom humor”, além de manter uma “atitude cooperativa durante a
aplicação dos testes, persistindo e inibindo-se porém nos que lhe susci-
tavam certa ansiedade” (Processo penal, fl.85).
Nada estava evidente na figura de Maura. O que os peritos psi-
quiatras tinham? Um crime descrito nos autos do processo penal,
ao qual eles possuíam livre acesso. Reviam os depoimentos das tes-
temunhas presentes na noite em que ocorreu e o exame de corpo de
delito (exames periciais que determinam a autoria, temporalidade,
danos, geralmente realizados no local da infração, podendo também
fazer referência ao exame cadavérico), ambos anexados ao processo.
Tinham ainda um histórico de inúmeras internações ao longo da
vida de Maura, o que apontava para uma personalidade que, de certa
forma, já demonstrava sinais de fragilidade. No entanto, a pessoa de
Maura não tornava nada disso explícito. Não havia uma razão clara
que pudesse explicar os motivos do crime e nem um indício mais evi-
dente de alienação mental, delírio ou qualquer coisa que pudesse, de
imediato, levar os peritos a considerá-la como louca (ou seja, como
alguém que estava na condição do artigo 22 do código de processo
penal de 1941), a não ser o fato de que estava internada.
É interessante observar que, se no inquérito o delegado informa
imediatamente que o crime foi cometido por “doente mental” – já
que o crime se deu dentro de um hospital psiquiátrico e Maura estava
na condição de paciente –, no laudo isso muda. Não quero dizer com
isso que essa definição não estivesse moldando a busca e, mais tarde,
a narrativa dos peritos. Ao contrário, a definição está guiando todas
as etapas, não só no laudo como no restante do processo, lembrando
o que diz Alexandre Zarias (2003) sobre esse tipo de definição. Mas
a evidência imediata que o delegado tinha, quando foi até o hospital
investigar a situação, na noite do crime, e se deparou com Maura
na condição de paciente psiquiátrica, competia no momento dos
Vida e grafias - miolo.indd 209 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
exames psiquiátricos com “pessoa de boa aparência”. Não só o tempo
havia passado como a mulher que se apresentava aos médicos peritos
estava bem trajada, maquiada, era desenvolta, contava sua história de
maneira coerente, colaborava com os médicos, apesar de demonstrar
certa ansiedade no cruzar e descruzar de pernas e no fumar incessante.
Então, o que era preciso? Reaproximar essas duas figuras de
uma terceira: era preciso juntar a homicida e paciente psiquiátrica
com a desenvolta e de aparência normal. Era preciso trazer à tona o
que estava escondido, costurando essas três figuras em uma só. Isso
era feito à medida que os peritos retomavam tudo aquilo que já fora
citado, ou seja, todos os indícios que compunham os autos do processo
penal até aquele momento, mas, principalmente, analisando toda a
história de vida de Maura. Se o crime não se revelava na aparência
e na inteligência, era preciso desvendá-lo na conduta de uma vida,
ou seja, em uma vida doentia. Junto a isso, vem uma noção de perso-
nalidade psicopática e esquizofrênica que, na narrativa dos peritos,
aparece profundamente marcada pelas concepções morais da loucura.
Foucault fala sobre as loucuras parciais, entre as quais estariam
aquelas que não podem ser percebidas pela desordem da inteligência,
mas apenas observadas pela desordem das ações, das condutas ao
longo da vida. A loucura moral [moral insanity] era uma delas, um
tipo de noção caracterizada por uma espécie de “perversão das afec-
ções morais, na direção de irritações maníacas, atos inspirados de
violência, explosões de furor” (Foucault, 1978, p.517). A monomania
marcou também o começo de uma visão da loucura associada ao
perigo. Ao tentar formular as ideias que perpassavam essa noção,
Foucault afirma que não se tratavam apenas de “estigmas da incapa-
cidade no nível da consciência, mas dos focos de perigo no nível do
comportamento” (2002, p.178).
Tanto a loucura moral (também denominada “monomania
raciocinante”) quanto a monomania (ou “monomania instintiva”)
descreviam indivíduos que não sofriam de distúrbios de ideação, ou
seja, eram tipos de loucuras entendidas como lúcidas. Não se dava na
esfera da razão e, nesse sentido, estava oculta, como uma “loucura
transparente e incolor que existe e circula sub-repticiamente na alma
do louco” (Foucault, 1978, p.517). A monomania instintiva seria aquela
que se revela repentinamente, às vezes afetando um único tipo de
comportamento, como o do assassino, em alguns casos. Já a mono-
mania raciocinante caracterizava “indivíduos que apesar de lúcidos e
inteligentes, apresentavam ‘distúrbios de caráter ou do senso moral’
… Os indivíduos afetados por essa espécie de loucura conservariam
durante toda sua vida um caráter indisciplinado, reivindicador, cruel,
agressivo, amoral.” (Carrara, 1998, p.74)
Vida e grafias - miolo.indd 210 3/9/15 7:38 PM
Biografias jurídicas
Ainda que essas concepções estejam associadas ao século xix,
muitos dos aspectos que as definem permeiam o laudo sobre Maura
na maneira como esse se serve de concepções morais e do instinto.
Diziam os peritos:
“Sobressaem de forma saliente, no contexto da personalidade da pa-
ciente, e elementos encontrados à saciedade na sua curva biográfica, as
desordens da afetividade, dos instintos, do temperamento e do caráter.
Estas desordens da personalidade da periciada estão muito bem carac-
terizadas e traduzidas na conduta assumida ao longo de sua vida, onde
se encontram as mais variadas formas de reação psicopática e onde se
destacam a irresponsabilidade; a mentira e a insinceridade; a ausência
de remorso ou de vergonha; o comportamento antissocial sem cons-
trangimento aparente; o senso crítico falho e a deficiência de aprender
pela experiência; o egocentrismo patológico e incapacidade de amar; a
pobreza geral das reações afetivas; a perda da capacidade de discerni-
mento; a indiferença em relações interpessoais gerais; comportamento
extravagante e desagradável; as ameaças e tentativas de suicídio rara-
mente levadas a efeito; a impulsividade; a agressividade; a violência; a
sexualidade precoce e as perversões sexuais.”
(Processo penal, fl.86–87)
As desordens da afetividade – entenda-se, aqui, dos sentimentos e
da vontade – são aquelas que apontam esse indivíduo tomado por
um instinto homicida irresistível. Segundo Sérgio Carrara (1998),
alguns crimes enigmáticos encontrariam sua explicação nesse tipo de
impulso, que transforma o homicida em uma espécie de autômato.
Voltando ao laudo de exame de sanidade mental, dizem os peritos
sobre Maura: “Vê-se que sua personalidade é dominada por im-
pulsos incoercíveis básicos e primitivos, a ponto de excluir a conduta
racional; sua resposta aos estímulos é caracterizada pela imaturidade
emocional pela resposta impulsiva e instantânea.” (Processo penal,
fl.87) Já as do temperamento e do caráter recairiam naquela con-
cepção moral ou raciocinante. Tomo outro trecho do primeiro laudo:
“A curva biográfica da periciada eivada de atitudes as mais capri-
chosas, extravagantes, esdrúxulas, amorais, extrapolam já de uma
constituição psicopática tão somente, mas alteram o mundo dos
valores divorciados da realidade, evidenciando a existência de núcleos
psicóticos profundos, capazes de desvirtuar o valor ético ou moral,
prenunciadoras de um processo esquizofrênico larvado, eis que o
caráter insólito do comportamento não mostra ressonância na sua
proporcionalidade, nem lhe trazem nenhum proveito.”
(Processo penal, fl.88)
Vida e grafias - miolo.indd 211 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
Seguindo as palavras do perito, é possível perceber os resquícios
dessas concepções na maneira como a conduta de Maura é julgada.
Tem-se uma figura moral em sua excentricidade, em sua extrava-
gância e mesmo em sua amoralidade, muito distante do que seria,
do ponto de vista dos peritos, um indivíduo com um comportamento
normal, adequado. Por outro lado, esse processo esquizofrênico que
se manifesta surdamente é o guia desse comportamento desvirtuado,
mas o guia de maneira velada, aparecendo ora aqui ora ali, entre
uma internação e outra, entre uma atitude extravagante e outra, ir-
rompendo no momento do crime com toda a sua fúria autômata e
incontrolável. No laudo, a esquizofrenia está muito próxima das mo-
nomanias. Ou seja, ela está lá, está nessa vida, nessa curva. A questão
é mostrá-la:
“Verifica-se do estudo direto da paciente, do minucioso levantamento
biográfico, da pesquisa a todas as fontes de informação, das provas
psicológicas aplicadas, tratar-se de uma personalidade com caracterís-
ticas de onipotência, narcisista, exibicionista e egocêntrica. Incapaz de
julgar sua própria conduta e mesmo quando inadequada ou hostil ao
meio social, está satisfeita com ela, carecendo de propósitos, objetivos
e de perspectivas; tendo um deficiente sentido de realidade; exigindo
a satisfação imediata dos seus desejos; estabelecendo muito escassas
relações emocionais ou laços afetivos estáveis; as suas necessidades
instintivas não se adaptam às necessidades sociais, só se adaptam aos
ambientes que pode dominar, com surpreendentes irregularidades em
suas capacidades e inconsequência na conduta, inclusive na infância,
onde demonstrou, já àquela época, sinais de desadaptação emocional
e traços nocivos da personalidade. Vê-se que sua personalidade é
dominada por impulsos incoercíveis básicos e primitivos, a ponto e
excluir a conduta racional; sua resposta aos estímulos é caracterizada
pela imaturidade emocional e pela resposta impulsiva e instantânea.
A atuação da paciente ao longo de sua curva de vida é tão defeituosa
que impediu uma adaptação psicossocial adequada, indo das extrava-
gâncias de comportamento ao crime.”
(Processo penal, fl.87)
É nessa infância que os primeiros sinais de “desadaptação emocional”
aparecem, assim como os “traços nocivos da personalidade”. É muito
provável que os peritos tenham lido Hospício é Deus: no livro, Maura
enfatiza algumas características de sua personalidade na infância,
deixando outras de lado, como mostram as narrativas no capítulo an-
terior. O olhar que Maura tem sobre sua infância, a maneira como
se descreve no livro, está bastante influenciada pela situação na qual
Vida e grafias - miolo.indd 212 3/9/15 7:38 PM
Biografias jurídicas
estava e isso se torna explicativo para os peritos. Foucault, sobre o
caso Rivière e sua psiquiatrização, diz o seguinte:
“… os psiquiatras, a partir do momento em que queriam psiquiatrizar
a coisa e desculpabilizar Rivière, eram obrigados a dizer: mas esses
sinais de maldade são precisamente sinais de maldade paroxísticos e
tão paroxísticos, aliás, que só são encontrados em certo período da sua
infância. Quando ele tinha menos de 7 anos, não os encontramos; e,
então, a partir dos 7 anos, a coisa começa. Quer dizer que o processo
patológico já estava em ação, processo patológico que devia desaguar,
dez ou 13 anos depois, no crime que sabemos.”
(2002, p.384–385)
O passado é examinado em cada detalhe, na busca de sintomas
que possam localizar a origem do que levaria ao crime. Lá, bem no
fundo, o delito já estava previsto, como um devir ao qual não se esca-
paria. Seguindo a lógica dos peritos, esses sinais paroxísticos, Maura
mostrou tê-los desde sua infância:
“Aos 7 anos, fui vítima de um ataque convulsivo que muito preocupou
meus pais. Deu-se enquanto eu dormia e não sofri. Apenas dor de
cabeça ao acordar. Aos 12 anos, estudando interna, tive outra crise, nas
mesmas condições. Também não me preocupou. Ao contrário, vi-me
alvo de muitas atenções. Mas aos 14 anos, estava acordada, tive uma
crise e foi horrível. Creio ter ficado inconsciente mais de nove horas,
depois do que me veio uma certa amnésia que durou um dia. Outra
crise se repetiu em condição análoga, logo após meu casamento,
durante a gravidez, e a última, aos 15 anos, depois da morte de papai.
Não se repetiram até hoje. Tenho tido constantemente equivalentes.
As auras epilépticas me são quase que cotidianamente familiares.”
(Cançado, 1991, p.21)
Esse relato está em seu livro Hospício é Deus. Nele, Maura conta que,
quando criança, foi tomada por uma série de doenças, as quais
fizeram dela centro de grande atenção. Tudo teria começado depois
da morte de um agregado da casa, Pabi, de quem sua mãe era ma-
drinha. Após sua morte, seu irmão José disse ter visto Pabi em uma
aparição e que este lhe dissera: “Diga à minha madrinha que não
chore tanto por mim, pois não estou sofrendo. Brevemente, voltarei
para buscar Maura.” (Cançado, 1991, p.15) Depois desse fato, sua mãe
fez uma promessa à Virgem Maria: vestiria a filha de branco e azul
até que ela completasse 7 anos. Estava, então, com 4 anos. Contudo,
os 7 anos marcaram o início de suas crises convulsivas.
Vida e grafias - miolo.indd 213 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
A doença e sua cura estão fortemente vinculadas à religião, que
faz a mãe entregar, em promessa, a filha à Virgem Maria. A mistura
do branco e do azul, indicando uma pureza celestial e, por fim, a con-
vulsão que reafirma essa promessa, mas que aponta para a estranheza
desse corpo que se debate entre a vida e a morte anunciada. A con-
vulsão, nessa narrativa de infância, está envolta pelo misticismo, pela
religiosidade, mas com o passar dos anos ela torna-se a “aura epilép-
tica”, segundo os relatos de Maura, demonstrando uma aproximação
com as definições médicas. Volto à narrativa do laudo, atendo-me às
conclusões:
“Conclusões – considerações psiquiátrico-forenses: da avaliação proce-
dida na indiciada Maura Lopes Cançado, chegou-se à conclusão que
externa fundamentalmente uma fachada psicopática, sob a qual se de-
senvolve, surdamente, um processo esquizofrênico larvado, enxertado
com epilepsia, com distúrbios psicopáticos e epilépticos do caráter. É,
assim, uma personalidade mórbida, doente, em todas as suas dimen-
sões … A impulsividade, a agressividade e violência também fazem
parte dos caracteres psicopáticos epileptoides como os da indiciada,
e os distúrbios da eletrogênese cerebral, expressivos da epilepsia que
padece, devem ter dificultado os mecanismos nervosos inibitórios, for-
madores dos impulsos, contribuindo todos esses elementos, além dos
já mencionados, para facilitar os incoercíveis impulsos que marcaram
não só a vida da periciada como a ação delituosa.”
(Processo penal, fl.90)
Primeiro, tem-se uma convulsão envolvida pela aura religiosa,
mais tarde, por uma aura médica e, finalmente, por uma aura “psi-
quiátrica-médico-moral”, onde as convulsões marcam distúrbios
psicopáticos e epilépticos do caráter. Esses surtos paroxísticos, as
crises epilépticas de Maura que começam na infância, tornam-se uma
espécie de sintoma do que se revelaria uma personalidade criminosa,
à moda do final do século xix e meados do xx no Brasil, quando a
epilepsia era associada, em muitos casos, ao criminoso nato.² Nessa
2 Segundo Foucault, “a convulsão é essa imensa noção-aranha que estende seus fios
tanto do lado da religião e do misticismo, como do lado da medicina e da psiquiatria”
(2002, p.270). O autor se refere aos conflitos que envolviam o lugar da convulsão e do
convulsionado entre os séculos XVI e XVIII. Mas é preciso ainda levar em conta que,
no Brasil, sob influência das teorias lombrosianas, o vínculo entre epilepsia e crime
era muito forte, estendendo-se até meados do século XX (mas continuando a existir,
pelo que se lê no laudo de Maura). No Brasil, Afrânio Peixoto, importante médico que
atuou na área da medicina legal, foi o precursor de trabalhos que faziam essa ligação.
Em 1898, publicou sua tese “Epilepsia e crime”, com o prefácio de Nina Rodrigues, de
quem fora discípulo. A ideia de que, no caso de epilépticos, a criminalidade era uma
revelação sintomática da epilepsia foi central no trabalho de Peixoto.
Vida e grafias - miolo.indd 214 3/9/15 7:38 PM
Biografias jurídicas
explicação do crime sem interesse e, por isso mesmo, enigmático, é in-
teressante observar que os peritos precisam ancorar esse crime a uma
curva vital que remonta à infância e se desenrola tortuosamente à fase
adulta, em que Maura é propensa ou mesmo não tem outra possibili-
dade senão a de cometer aquele crime.
Suas ações ao longo de toda a vida são colocadas em xeque no
laudo a partir de um discurso que se apresenta como uma verdade de
caráter científico. No entanto, muito desse discurso está ancorado em
fatores socioculturais, sendo a reprodução de um conjunto de valores
da moral vigente na época. Em minha estadia na cidade de Patos de
Minas, as narrativas que ouvi sobre Maura contam que muitos fami-
liares consideravam suas atitudes como excessivas e inadequadas.³ A
publicação de seu livro autobiográfico, como me foi dito, foi consi-
derada por parte da família de Maura uma agressão ao nome Lopes
Cançado. A companhia de Maura não era bem vista pelas famílias
mineiras, mesmo em Belo Horizonte, o mesmo se dando em sua
própria família.
No livro, Maura relata a fase em que vivia em Belo Horizonte
para retomar os estudos. Pouco tempo depois, internou-se, pois
tentara o suicídio. Foi sua primeira passagem por um hospital psiqui-
átrico, em 1949. Nessa clínica, envolveu-se com o psiquiatra, mas não
dá detalhes do que houve, diz apenas que, além de perder toda a con-
fiança de sua mãe, viu-se só. Segundo Maura:
“Após a experiência do sanatório, desisti de insistir na vida em que
antes me obstinava. A atitude do psiquiatra abrira-me nova perspec-
tiva. Eu não era a mocinha moradora em pensionatos, a ‘Minas-girl’
como são chamadas as moças do Minas Tênis Clube. Mudei-me para
um hotel de luxo, travei conhecimento com moças consideradas mais
ou menos livres, que me aceitaram sem restrições, conheci rapazes,
que também me aceitaram encantados, os rapazes mais em evidência
na sociedade. Passei a frequentar boates de luxo, aprendi a fumar,
embriagava-me todas as noites, gastava a minha herança de maneira
insensata. Não me preocupava absolutamente com minha reputação.
Já não estudava coisa alguma – fazia farras. Deixava-me levar em
turbilhão – mas parecia buscar ainda algo … As coisas melhoraram
sensivelmente: nada esperava. Vivia com intensidade cada momento.
Era considerada uma jovem louca, amoral (ou imoral?), irresponsável,
bonita, inteligente e rica. O telefone do meu apartamento de hotel
3 Durante o ano de 2008, realizei parte de minha pesquisa de campo do doutorado
em Patos de Minas (MG), cidade onde reside uma parcela da família de Maura. Todos
os entrevistados tiveram seus nomes verdadeiros alterados.
Vida e grafias - miolo.indd 215 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
tocava a cada instante. Amigos e amigas procuravam-me sem cessar,
as amigas sempre me pediam favores. Tornei-me muito elegante, sabia
ser admirada. Necessitava de gente constantemente ao meu redor.”
(Cançado, 1991, p.64–65)
Maura já estava separada, deixara o filho com sua mãe e vivia uma
vida considerada livre demais para os padrões familiares. O resul-
tado foi o gradativo afastamento da família, de acordo com o que me
contou Ana, uma das sobrinhas de Maura. O hábito da família era
enviar as meninas para estudar no Sacré-Coeur de Marie e os meninos
para o Colégio Arnaldo, ambos em Belo Horizonte. No entanto,
depois da mudança de Maura, seus irmãos não mandaram mais os
filhos para estudar em Belo Horizonte, a fim de evitar os maus exem-
plos da tia. Seu nome não era sequer pronunciado, segundo Ana.
Não posso afirmar que os peritos tenham lido Hospício é Deus,
já que isso não é mencionado em nenhum momento da documen-
tação. Podem tê-lo feito, assim como Maura pode ter-lhes contado
as mesmas passagens do livro, ou ambos os casos, já que precisavam
recolher material sobre sua vida. O que considero importante res-
saltar é a forma como o laudo atualiza esse relato autobiográfico de
Maura. Se colocadas lado a lado, a narrativa de Hospício é Deus e a que
compõe laudo, na anamnese, são histórias muito semelhantes, mas o
laudo atribui à sua própria narrativa um sentido definitivo, único. Ao
atentar para os sentidos que estão implícitos na narrativa de Maura,
lembro-me de Assis Brasil (1975), em texto escrito sobre Hospício é Deus
que o considera como um relato de denúncia, um documento social:
“O diário nos fornece logo a seguinte ideia: amadurecemos cultural-
mente e o depoimento humano no Brasil adquire expressão literária
para retratar aspectos de um grupo social. Robert Kanters, analisando
o último volume do journal de François Mauriac – Le Nouveau Bloc-Notes
– assinala: “Le journal, cela peut être l’histoire d’un homme à la recherche de
son âme au celle d’un peuple en train de perdre la sienne.” O diário de Maura
Lopes Cançado alcança os dois sentidos da citação de Kanters: a ten-
tativa de situar um drama pessoal em função de um contexto, onde se
sobressai o problema maior de uma premente justiça social.”
(Brasil, 1975, p.101)
No livro O século oculto, Nelson de Oliveira pergunta: “Onde andará
Maura Lopes Cançado?” (2002, p.65) Refere-se à sua passagem
rápida e marcante, a seu ver, pela literatura. Oliveira, nesse livro,
retoma nomes que se destacaram em algum momento, mas que foram
esquecidos com o tempo, assim como as obras. Ao se lembrar de
Vida e grafias - miolo.indd 216 3/9/15 7:38 PM
Biografias jurídicas
Maura, fala principalmente em Hospício é Deus: “Com Hospício é Deus
… Maura pretendia denunciar o sistema psiquiátrico brasileiro. E ela
de fato o fez da melhor maneira que sabia: estraçalhando-nos, ou seja,
transformando em grande literatura o que em mãos menos compe-
tentes seria apenas um libelo.” (Oliveira, 2002, p.67)
Maura falava sobre o cotidiano em uma instituição psiquiátrica.
Mostrou as dificuldades que marcavam esse dia a dia, tão cheio de
descaso e violência, a hierarquia interna, os tipos de tratamentos
empregados, o mecanismo de ajustamento. Em nenhum momento,
o universo das instituições psiquiátricas – totais – é mencionado
no laudo. Nada do que é levado em conta para justificar o crime é
exterior à Maura. No laudo, todos os discursos de reprovação são
acionados, transformando essa história e todo o resto que conse-
guiram juntar em uma curva de vida defeituosa – em todas as suas
dimensões. Essa curva mostra a pessoa extravagante, caprichosa,
esdrúxula, imoral, divorciada da realidade. Pouco ou nada se salva
nessa reconstrução de vida. Todas essas noções reafirmam o delito e
constituem-no como um traço individual (Foucault, 1991),⁴ daí a im-
possibilidade de se associar o crime, por exemplo, à conduta falha do
hospital psiquiátrico em que Maura estava internada: a dinâmica do
hospital psiquiátrico não é levada em conta.
No laudo psiquiátrico, estão anexados três pareceres sobre a pa-
ciente Maura Lopes Cançado de hospitais psiquiátricos onde esteve
internada. São pareceres que descrevem situações relacionadas ao
estado da paciente durante as internações, anteriores à época do
crime e que, cedidos pelas clínicas, serviram de material analítico
para os peritos. O primeiro parecer é da Clínica Bela Vista, o segundo
da Casa de Saúde Doutor Eiras e o terceiro e do Hospital Gustavo
Riedel. Este último tem os seguintes itens: “Ato de internação”,
com apontamentos sobre os traumas descritos pela internada, sobre
as várias internações anteriores e o apontamento de anomalias
em alguns eletroencefalograma (eeg); o segundo é denominado
“Atenção”, incluindo uma observação sobre ideias suicidas da inter-
nada; e o terceiro, “Evolução”, mostra algumas observações sobre o
quadro evolutivo da paciente desde sua internação, ou seja, desde o
primeiro item, “Ato de internação”. Diz-se, em “Evolução”:
4 No Brasil, a psicologização do crime e sua individualização tem como principal ide-
alizador Heitor Carrilho. Defensor do Direito Positivo, Carrilho se opunha ao Direito
Punitivo. Segundo Peter Fry (1985), foi devido à sua extrema dedicação à causa positi-
vista que ocorreu a implementação de manicômios judiciários no país. O primeiro foi
em 1919, o Manicômio Judiciário, hoje chamado Manicômio Judiciário Heitor Car-
rilho, no Rio de Janeiro. Nele, Carrilho ocupou o cargo de diretor ad vitam.
Vida e grafias - miolo.indd 217 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
“A paciente mostra-se extremamente revoltada e agressiva, criando
casos na enfermaria, culminando por quebrar os vidros da janela,
pulando para o lado de fora, desacatando-nos e ameaçando de se
jogar ao solo, caso alguém dela se aproximasse. Essa atitude ultima-
mente da paciente baseia-se em revolta e queixas contra tudo e todos
daqui. Suas queixas, se lógicas e justas de um lado, mostram, entre-
tanto, o patológico pela intensidade de sua reação.”
(Processo penal, fl.84)
As queixas “lógicas e justas” são, contudo, reveladoras da insani-
dade de Maura e, por isso, parecem ser destituídas de validade. No
livro, os relatos referem-se, principalmente, ao Engenho de Dentro,
com algumas evocações de clínicas que haviam ficado no passado
de Maura. No entanto, aqui chegamos a uma questão importante.
O “lógico e justo” parece perder o sentido quando associados a
um paciente psiquiátrico. Sérgio Carrara fala de uma situação que
presenciou durante sua pesquisa no Manicômio Judiciário Heitor
Carrilho, no Rio de Janeiro, em 1983: os internos reivindicavam o
direito a um parlatório, ou seja, um lugar onde eles pudessem receber
seus parceiros sexuais. Havia, no entanto, grande hesitação da parte
dos terapeutas e médicos em implementá-lo, o medo sendo de que
alguma violência pudesse ocorrer. Nesse caso, quem seria o respon-
sável? Diz Carrara: “Novamente aqui aparece a atitude paradoxal de
reconhecimento dos direitos dos internos e de sua incapacidade de
exercê-los.” (1998, p.37) A situação chama atenção à questão posta no
parecer médico de Maura, isto é, a do “lógico e justo”.
Os casos são diferentes, mas a atitude médica é a mesma. As
queixas de Maura são justas, mas sua reação a impede de exercê-las
com reconhecimento. A loucura é exatamente aquilo que destitui os
internos de seus direitos. Erving Goffman fala sobre os direitos dos
internos a partir da ideia de expropriação: “A carreira do pré-paciente
pode ser vista através de um modelo de expropriação; começa com
relações e direitos e termina, no início de sua estada no hospital, pra-
ticamente sem relações ou direitos.” (1996, p.116) A loucura também
é medida pela reação, mas, no laudo, não é associada à violência
institucionalizada contra as pacientes.⁵ Esse tipo de questão não é
levantada no laudo pelos peritos. Nem tudo é relevante nessa história
5 Um dos muitos exemplos do diário: “30/12/1959 Durvalina tem um olho roxo. Está
toda contundida. Não sei como alguém não toma providências para que as doentes
não sejam de tal maneira brutalizadas. Ainda mais que Durvalina se acha completa-
mente inconsciente. Hoje fui ao quarto-forte vê-la. O quarto-forte fica nos fundos da
Seção M B, onde Isabel está. Isabel é considerada ‘doente de confiança’, carrega as
chaves da seção, faz ocorrências e tem outras regalias. Abriu-me o quarto para que
Vida e grafias - miolo.indd 218 3/9/15 7:38 PM
Biografias jurídicas
de vida que é contada aos peritos e depois recontada por eles. Logo,
o que se percebe é que há escolhas. E mais ainda: quando os peritos
colocam o trecho acima citado, é no sentido de reafirmar ao juiz a
violência da paciente, mas em nenhum momento associá-la à situação
“lógica e justa” diante das práticas institucionais. A responsabilidade
precisa ser atrelada à paciente. No laudo, em nenhum momento
a responsabilidade do hospital no qual Maura estava internada é
questionada.
Frente a essas narrativas, duas questões poderiam ter sido con-
templadas no laudo: a primeira é relacionada ao ambiente violento
das instituições psiquiátricas da época; a segunda, a responsabilidade
da clínica em questão, que não apresentava condições de impedir
qualquer reação violenta de pacientes, tanto contra si próprios quanto
contra outros. De certa forma, como mostrei, essas questões estavam
contempladas de alguma forma no requerimento dos advogados e nos
relatos de Maura, mas, para os peritos, elas não existiam. O tipo de
abordagem desses psiquiatras era pautado pela classificação dos indi-
víduos a partir de seus antecedentes pessoais. O objetivo era saber em
que medida o crime fora determinado por essa personalidade indivi-
dual. Daí as instituições psiquiátricas, seus mecanismos e práticas não
influírem nesse olhar sobre Maura, ainda que os peritos soubessem do
sistema falho, da violência instituída. Ignorar esse sistema era e ainda
é parte da prática.
No Brasil, o movimento que começa a questionar a violência
nos manicômios, as práticas asilares, as consequências dessas práticas
sobre os pacientes e o próprio saber psiquiátrico surgiria em 1978,
de forma tímida. Contudo, a reforma psiquiátrica e o movimento de
crítica que ela estabelece sobre práticas e saberes desse campo não
parecem alcançar os casos em que a loucura e o crime são vincu-
lados. Os laudos de sanidade mental inscritos nos autos do processo
de Maura mostram o quanto a psiquiatria dos peritos fica presa ao
indivíduo e à doença, sem se preocupar com o entorno social no qual
este sujeito está inserido. Segundo Peter Fry (1985), no Brasil essa
tendência à psicologização do crime começou com Heitor Carrilho e
perdura até os dias de hoje.
eu visse Durvalina. Durvalina abraçou-me chorando, pediu-me que a tirasse de lá.
O quarto é abafadíssimo e sujo. Fiquei mortificada, perguntei-lhe se sabia quem lhe
batera, e ela: ‘Não. Alguém me bateu?’ Dona Dalmatie disse que o professor Lopes
Rodrigues, diretor-geral do Serviço Nacional de Doenças Mentais, proferiu, aqui, um
discurso na porta (nas portas, porque são três) do quarto-forte, dizendo mais ou menos
isto: ‘Este quarto é apenas simbólico, pois na moderna psiquiatria não o usamos.’ Por
que então estes quartos nunca estão vagos?” (Cançado, 1991, p.117)
Vida e grafias - miolo.indd 219 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
Considerações finais
Os autos de um processo penal de crime contra vida são uma docu-
mentação que visa a buscar a verdade sobre um determinado delito.
Sendo assim, esses autos constroem um arquivo sobre a vida do réu
constituído de fragmentos, narrativas biográficas sobre esse sujeito.
No caso, o que se tem é uma verdade não apenas sobre o crime, mas,
acima de tudo, sobre a ré a partir da história que ela mesma contou,
sendo preciso ressignificar essa história de vida de maneira que ela se
encaixe nos estereótipos e justifique o crime. Na tentativa de solucionar
a questão, a justiça acaba por atribuir sentidos à história de Maura. No
entanto, a comparação e sobreposição da “biografia jurídica” à auto-
biografia de Maura mostra que não há uma única versão possível.
Assis Brasil, quando escreveu sobre a narrativa autobiográfica
de O hospício é Deus, caracterizou-a como uma narrativa de denúncia,
repetindo essa caracterização em entrevista que me concedeu. Para
Assis Brasil, o livro não só expõe o sofrimento interior, existencial, mas
aquele causado pela estrutura falida das instituições da época. Já para
os peritos-psiquiatras, a narrativa autobiográfica de Maura poderia
ser lida como uma narrativa que a denuncia. Nessa busca dos peritos
por indícios que possibilitem encaixar essa “curva de vida defeituosa”
no crime – de forma a suprimir a responsabilidade do feito –, todo
tipo de informação acrescentada reitera uma vida defeituosa.
São exemplos de diferentes interpretações de uma mesma his-
tória, mas é a partir dessas diferenças, presentes nas narrativas de e
sobre Maura, que se torna possível escapar, por exemplo, do status de
verdade da narrativa biografia judiciária. Nesse sentido, as narrativas
autobiográficas de Maura, especialmente O hospício é Deus, são como
uma resposta permanente, mas não única, ao discurso que desquali-
fica essa vida característico do laudo psiquiátrico. A escrita, ou o ato
literário, ganha um sentido de resistência.
Maura passa toda a sua vida em busca de uma “escrivaninha” onde
pudesse escrever. Na maioria das vezes, essa escrivaninha esteve em
hospitais psiquiátricos, em lugares improváveis. Assim, é possível pensar
a escrita como o espaço de liberdade, de reflexão e de ressignificação
do hospital psiquiátrico. Quando Maura diz “só sou autêntica quando
escrevo, o resto do tempo passo mentindo” (1998, p.156), há um pacto
que se estabelece entre sua vida e a escrita, e isso remete ao que Philippe
Lejeune define como “pacto autobiográfico”, pacto que se tornaria
um critério na definição da autobiografia em relação a outros gêneros
literários. No entanto, o pacto também implica uma certa ideologia bio-
gráfica, ou seja, a crença de que “podemos dizer a verdade, e que temos
uma existência individual e autônoma” (Lejeune, 1983, p.426).
Vida e grafias - miolo.indd 220 3/9/15 7:38 PM
Biografias jurídicas
Para Lejeune, há uma intenção de verdade colada aos relatos. Se
essa intenção pode ou não ser alcançada e a verdade materializar-se
em palavras, isso não me parece o fundamental. O que gostaria de
ressaltar não é a crença nessa verdade, mas a crença de Maura nessa
verdade. Essa crença a faz escrever O hospício é Deus, que, como ato lite-
rário, afrouxa as amarras da biografia judiciária narrada pelos laudos
psiquiátricos, restituindo a Maura sua liberdade e permanência.
Referências
Phillippe Artières, “Arquivar a própria vida”, Revista Estudos Históricos, v.11, n.21,
p.9–34, 1998
Roland Barthes, A câmara clara, Rio de Janeiro: Editora Nova Froteira, 1984
–, Sade, Fourier, Loyola, São Paulo: Martins Fontes, 2005
Assis Brasil, A nova literatura iii: o conto, Rio de Janeiro: Pallas, 1973
Maura Lopes Cançado, O hospício é Deus, São Paulo: Círculo do livro, 1991
Sérgio Carrara, Crime e loucura, São Paulo: edusp, 1998
Mariza Corrêa, Morte em família: representações jurídicas de papéis sexuais, Rio de Janeiro:
Edições Graal, 1983
Olívia Maria Gomes da Cunha, “Tempo imperfeito: uma etnografia do arquivo”,
Mana, v.10, n.2, p.287–322, 2004
Serge Doubrovsky, “Sartre: autobiographie/autoficion”, Revue des Sciences Humaines,
v.98, n.4, p.17–25, 1991
Michel Foucault, Vigiar e punir, Rio de Janeiro: Vozes, 1991
–, A verdade e as formas jurídicas, Rio de Janeiro: Nau Editora, 2002a
–, Os anormais, São Paulo: Martins Fontes, 2002b
–, Eu, Pierre Rivière, que degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão, Rio de Janeiro: Graal,
2003
Peter Fry, “Direito positivo versus direito clássico: a psicologização do crime no Brasil
no pensamento de Heitor Carrilho”, in: S A Figueira (organização), Cultura psica-
nálise, São Paulo: Brasiliense, 1985
Cifford Geertz, O saber local: novos ensaios em antropologia interpretativa, Petrópolis: Vozes,
1997
Carlo Ginzburg, O fio e os rastros, São Paulo: Companhia das Letras, 2006
Erving Goffman, Conventos, manicômios e prisões, São Paulo: Perspectiva, 1996
Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, Paris: Édition du Seuil, 1996
Roberto Kant de Lima, “Cultura jurídica e práticas policiais: a tradição inquisitorial”,
rbcs, v.10, 1995
S R Loureiro & A W Zuardi, “Semiologia psiquiátrica”, Medicina, Ribeirão Preto,
n.29, p.44–53, janeiro–março de 1996
Nelson de Oliveira, O século oculto, Rio de Janeiro: Escrituras, 2002
Ana Lúcia Pastore Schritzmeyer, “Etnografia dissonante dos tribunais do júri”, Revista
Tempo Social, São Paulo, v.19, n.2, 2007
Alexandre Zarias, “Negócio público e interesse privado: análise dos processos de inter-
dição”, dissertação de mestrado em Antropologia Social, Campinas: unicamp,
2003
Maria Luisa Scaramella é doutora em Ciências Sociais pela unicamp (2010), com
estágio no Institut des Textes et Manuscrits Modernes (item, Paris, 2006–2007),
mestre em Antropologia Social pela unicamp (2004). Atualmente é professora
de Antropologia no Centro Universitário Curitiba (unicuritiba) e membro do
Núcleo de Antropologia do Direito (nadir), na usp. Suas principais áreas e temas
de atuação são: antropologia, antropologia do direito, narrativas biográficas, histórias
de vida, tribunais do júri, sujeitos de direito.
Vida e grafias - miolo.indd 221 3/9/15 7:38 PM
Messianismo
no neonazismo estadunidense:
a autobiografia de David Lane
Adriana Dias
Durante a pesquisa de campo centrada no líder neonazista e separa-
tista branco David Éden Lane e seus seguidores, observou-se o lugar
central dado por eles à autobiografia de Lane, um opúsculo de 14
páginas dividido em oito capítulos e escrito durante sua estadia na
prisão de segurança máxima no estado de Indiana.¹ O texto ganhou
ainda grande destaque, entre todos os grupos neonazistas, das mais
diversas correntes, em especial após sua morte. Nessa autobiografia,
Lane traçou seu próprio desenvolvimento político, elaborando uma
complexa relação entre si e seu mundo social. No texto, as represen-
tações narrativas indicam como ele se tornou um ariano, e apontam,
de maneira implícita, passos a serem seguidos para os que desejarem
seguir seu exemplo.
David Lane foi preso na noite de 30 de março de 1985 em
Winston-Salem, na Carolina do Norte, sendo condenado a penas
consecutivas que totalizavam 190 anos, incluindo vinte anos para ex-
torsão, vinte anos de conspiração e 150 anos por violar os direitos civis
de Alan Berg (um apresentador judeu de rádio talk show, assassinado
em 18 de junho de 1984). Lane morreu em um complexo prisional,
especificamente o Federal Correctional Complex, em Terre Haute,
Indiana, em 28 de maio de 2007.
Não pretendo elaborar neste capítulo uma classificação dos di-
versos grupos neonazistas, que já receberam de outros pesquisadores
várias denominações. O acadêmico Mattias Gardell (2003) defendeu
que o movimento era mais religioso do que racista ou político, e que
estaria acontecendo um crescimento de uma espécie de “neopaga-
1 Por tratar-se de um crime, as referências aos sites neonazistas e às obras de David
Lane não constam neste trabalho, porque nosso objetivo moral é de denunciá-los, e
não de fazer apologia a eles.
Vida e grafias - miolo.indd 222 3/9/15 7:38 PM
O messianismo no neonazismo estadunidense
nismo” dentro do sistema prisional estadunidense entre os detentos
brancos. Discordo radicalmente dessa análise: como explicitei em
outro texto (Dias, 2007), o movimento é fundamentalmente racista e
profundamente político. Além disso, ele não cresce mais dentro do
sistema prisional: os membros do movimento foram parar no sistema
prisional por terem cometido crimes motivados por ódio racial. Não
utilizo o termo “neopagão”, porque o considero muito contaminado
pela relação de Gardell com membros do movimento.² Uso “neona-
zista”, o que de fato eles são, por reformularem o nacional socialismo
sem se distanciar de seus elementos centrais: a ideia de raça pura
(mas sem a concepção linguística), a concepção eugênica de mundo,
o resgate de simbolismos pagãos, um vínculo forte com a antropo-
logia e a biologia do século XIX, ao mesmo tempo que, negando
o Holocausto, idealizam os grandes líderes nazistas e conferem ao
movimento um discurso diaspórico – os brancos seriam uma minoria
em extinção, espalhados pelo mundo, à beira de um genocídio racial.
Também uso “neoteutônico”, porque constroem para si uma Ale-
manha imaginária, a pátria destes brancos ameaçados, cujo laço
nacional é feito por um sangue simbólico, racializado, independente-
mente de linhagem, língua ou cidadania real (Dias, 2007). Além disso,
os próprios membros do movimento se afirmam nacionais socialistas.
A partir da análise da autobiografia de David Lane, este capí-
tulo explora a complexa relação entre a experiência, a narrativa e
a memória, e pergunta como as formas narrativas muito específicas
dadas por Lane a seu passado constroem uma visão de si mesmo; e
como, se valendo de raciocínios baseados no darwinismo social ru-
dimentar, ele tece uma luta apocalíptica entre os verdadeiramente
brancos (humanos) e os judeus (filhos de Satanás), para tecer um
quadro político que justifique, inclusive, crimes de ódio. Considerado
pelos adeptos do movimento como um líder injustiçado, vítima de
uma guerra racial que acontece em um governo dominado por forças
sionistas (cuja sigla, ZOG, significa Zionist Occupied Government),
os textos de Lane e as homenagens póstumas são publicados e repu-
blicados em cerca de 90% dos sites pesquisados, enquanto milhares de
2 Ron McVan, coautor de Creed of Iron com David Lane e conhecido autor de livros
de rituais usados por esses grupos, afirma ter sido muito importante na pesquisa de
campo de Gardell, tendo hospedado-o nos EUA, quando este viajara da Suécia para
realizar seu trabalho de campo. Fizeram juramentos de fidelidade em rituais. McVan
lhe emprestou seu carro e visitou junto com ele vários líderes do movimento, apresen-
tando-os como Elsie Christiansen, e o próprio David Lane. Gardell faz ligeira menção
disso em seu texto. Posteriormente, McVan o acusa de auxiliar grupos que o acusavam
de plagiar seus textos de livros do movimento Asatru. Nesse emaranhado de rancores e
acusações, o que é certo é que houve uma forte relação pessoal entre Gardell e McVan
durante pelo menos uma década, antes da publicação do referido livro, e que eles
compartilhavam crenças.
Vida e grafias - miolo.indd 223 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
vídeos são postados tanto em redes sociais específicas neonazis como
em redes públicas, em mais de 40 idiomas diferentes.
Metodologicamente, este trabalho combina etnografia clássica, re-
alizada em shows, academias e bares frequentados por grupos adeptos
da ideologia defendida por Lane; pesquisas em arquivos e processos
judiciais, que fazem referência a crimes de ódio cometidos por neona-
zistas, ou relativos à sua prisão; a experiência do método biográfico;
e também a “etnografia em ambiente hiper-intermediado” (Dicks
& Mason, 1998), para problematizar, na várias histórias sobre David
Lane (incluindo o relato autobiográfico), a sua liderança no movi-
mento neonazista.
É importante salientar que, em sua autobiografia, David Lane
se amparou na construção narrativa para aparelhar um discurso a
respeito do “arianismo”, tecido por comentários a elementos de sua
história de vida, buscando achar em pequenos detalhes fragmentados
provas de sua espécie de “predestinação messiânica” ao posto de líder
do movimento. Nesse discurso, elementos de cunho profundamente
religioso, como se verá mais adiante, são associados a um léxico genô-
mico. Esta dupla dimensão está presente na estruturação da prática
neonazista, em seus mais diversos aspectos: o judeu é culpado pelos
males do mundo, pelos aspectos morais e por trazer ao mundo dege-
nerações biológicas e doenças raras, como citam muito claramente
os membros da Women for Aryan Unity (WAU, o movimento de mu-
lheres neonazistas).
A partir de sua narrativa sobre a história de sua vida, Lane tenta
organizar-se diante de toda uma simbologia cristã, respondendo ao
imaginário estadunidense. Ponderando a respeito desse uso específico
dos fragmentos, costurados intencionalmente para dar sentido, como
se verá ao longo da exposição, torna-se ainda mais evidente as rela-
ções exploradas por Suely Kofes (2001) entre memória, experiência,
produção da memória e do esquecimento nas narrativas e etnografias.
A compreensão dessa produção e da relação entre etnografia e
história de vida, tão habilmente revelada por Kofes, é condição es-
sencial para a leitura que se pretende realizar neste capítulo, por três
motivos: em primeiro lugar, porque seria impossível me debruçar na
narrativa biográfica de David Lane sem a realização do trabalho de
campo que desenvolvi anteriormente. Foi na etnografia e a partir dela
que o que se pretende um “sujeito nazi” se delineou compreensível
para mim. Em segundo lugar, porque no texto de Lane, a memória,
a elaboração desta particular e decisiva narrativa da experiência do
se tornar “ariano”, o jogo entre o que é lembrado e o que é estrate-
gicamente esquecido, revelam muito de como na esfera política esse
mosaico é possível. Finalmente, mas não menos importante, é nessa
Vida e grafias - miolo.indd 224 3/9/15 7:38 PM
O messianismo no neonazismo estadunidense
autobiografia que o verdadeiro roteiro de sua ideologia e uma agenda
política se revela. Isso posto, apresente-se o autor e a autobiografia.
David Lane, o mais lido líder neonazista
David Éden Lane foi fundador de três grandes movimentos supre-
macistas brancos: a The Order; o Wotansfolk (povo de Wotan, uma
referência ao nome germano do Deus nórdico Odin); e a Pirâmide
Profética 88. Segundo o que ele narra em sua autobiografia, ele teria
nascido em uma pequena cidade no estado de Iowa, cujo nome é
Woden, nome germânico de Wotan, o Deus Odin. Por isto, ele assumiu
o nome Wodensun, ou “filho de Wotan” – ou, ainda, “filho de Odin”.
Aos 30 anos, após ostentar uma postura antissemita publica-
mente, convicto de que “as nações ocidentais eram governadas por
uma conspiração sionista que deseja o extermínio da raça ariana
branca” (Goodrick-Clarke, 2004, p.359), Lane principia a distribuição
sistemática de panfletos defendendo suas ideias. Na época também
inicia o desenvolvimento dos primeiros “textos fundadores”, nos quais
descreve sua luta como “a batalha entre a linhagem divina e a pro-
gênie do Diabo” (Barkun, 1994, p.231) – os neonazistas defendem que
os judeus seriam resultado da cópula de Eva com a serpente do Éden.
Muitos desses textos têm fortes influências do movimento da Christian
Identity, do qual Lane participou como membro no Colorado, e de
sua penetração no Aryan Nations, em especial depois dos anos 1960.
Durante um período de quase três anos, que ele descreve sempre
como uma grande iniciação, um despertar, ele investiga uma gama de
tradições esotéricas conectadas à mitologia nórdica, ao zoroastrismo e
à gnose, para erigir uma abordagem religiosa “wotanista”, a denomi-
nada Pirâmide Profética. Seu desejo é oferecer a seus seguidores uma
espécie de espiritualidade “não contaminada com o multiculturalismo
e puramente ariana”, que no decorrer dos anos vem sendo assumida
por mais de 80% dos sites supremacistas brancos (Dias, 2007 – localizei
mais de 13 mil sites em língua espanhola, portuguesa e inglesa). Essa
“nova espiritualidade” é definida por ele como “Lei da Natureza”
[Nature’s Law], e grande parte de seus escritos a respeito dela é se dá
durante seu período de prisão. Várias vezes usa isso para comparar-
-se indiretamente a Hitler, citando que sua maior obra, que definiria
a luta dos arianos no mundo, “Minha Luta, também teria sido escrita
quando ele estava preso”. Lane sempre se considerou o grande líder
da presente fase histórica do “povo ariano”.
Prova fundamental disso foi o encontro, exatamente em Mein
Kampf, da “inspiração” para o slogan do movimento, que é repetido
milhões de vezes em todo o mundo. Retirado e resumido do oitavo
Vida e grafias - miolo.indd 225 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
capítulo do livro hitlerista cujo título é Começo de minha atividade política,
o trecho de 88 palavras diz:
“O objetivo da nossa luta deve ser o da garantia da existência e da
multiplicação de nossa raça e do nosso povo, da subsistência de seus
filhos e da pureza do sangue, da liberdade e independência da Pátria,
a fim de que o povo germânico possa amadurecer para realizar a
missão que o criador do universo a ele destinou. Todo pensamento
e toda ideia, todo ensinamento e toda sabedoria devem servir a esse
fim. Tudo deve ser examinado sob esse ponto de vista e utilizado ou
rejeitado segundo a conveniência.”
(Hitler, 1926, p.182, tradução livre)
O slogan, inicialmente apenas definido como “We must secure the exis-
tence of our people and a future for White Children” [“Nós devemos assegurar
a existência de nosso povo e um futuro para as crianças brancas”]
recebeu uma segunda versão durante a prisão de Lane, ou pouco ante-
rior a esta, e divulgada durante sua prisão: “Because the beauty of the White
Aryan women must not perish from the earth.” [“Porque a beleza da mulher
ariana não pode desaparecer sobre a Terra.”] Ao se referir ao capítulo,
Lane demonstra que as 14 palavras são vistas como uma iniciação, e
que é no território político que o biológico e o mítico se unificariam.
Principalmente na construção do primeiro slogan, Lane assume
uma identidade hitlerista: busca em sua obra uma inspiração, dá uma
versão pessoal a 88 de suas palavras – o que, em linguagem simbólica
neonazista, é uma saudação, pois 88 é a repetição de Heil Hitler, por
ser formado pelo número que representa a oitava letra do alfabeto.
Repetir o slogan é, portanto, fazer referência a Hitler, ao texto, ao capí-
tulo e a Mein Kampf.
A morte de Lane, em 28 de maio de 2007, na prisão federal de
Terre Haute, depois de 22 anos de encarceramento, gerou nos sites
neonazis uma narrativa sempre entrelaçada à sustentação de um luto
profundo, que localiza Lane como um dos mais importantes líderes do
movimento racista, muitas vezes comparando-o a Hitler, nos Estados
Unidos e no mundo. Sua prisão foi descrita como um “ato político”
e ele foi definido como “prisioneiro de guerra”. Lane é o autor dos
mais importantes credos “neoarianos”, como “As 14 palavras”, os “14
Porquês”³ e os “88 Preceitos”,⁴ textos em que o ódio racial é signi-
3 Neste texto, Lane faz um resumo de seu projeto, balizado no ódio aos inimigos, des-
crevendo-o como única possibilidade à ameaça de extinção que paira sobre os arianos
no mundo.
4 Nestes preceitos, Lane fala do lugar dos brancos e de seu tempo, evocando imagens
de interação direta com a natureza. O lugar do ariano é entre as montanhas, cercado
Vida e grafias - miolo.indd 226 3/9/15 7:38 PM
O messianismo no neonazismo estadunidense
ficado como “a única saída” para a “ameaça de genocídio” a que a
raça “ariana” estaria sofrendo. Para Lane, o único objetivo verdadeiro
da ameaça sionista em sua conspiração mundial, para qual se instru-
mentalizavam governos e impérios midiáticos, consistia na eliminação
da raça ariana. Para ele, o judeu é o inimigo.
Cabe-nos perguntar: como Lane constrói para si uma vida
ariana, branca e alemã? A hipótese central deste capítulo é de que a
trajetória de David Lane não é “uma série única e por si suficiente de
acontecimentos sucessivos, sem outro vínculo que não a associação
a um ‘sujeito’”, mas que ela se insere em uma “matriz das relações
objetivas entre as diferentes relações”, como aponta Bourdieu (2000)
acerca da ilusão biográfica. Problematizar essas muitas relações,
levando a sério o projeto messiânico e político de Lane, é, primeira-
mente, não aceitar o pressuposto de que se possa creditar a uma vida
a ideia de um todo coerente e orientado que “pode e deve ser apreen-
dido como expressão unitária de uma ‘intenção’ subjetiva e objetiva,
de um projeto”, o que seria tecer “uma ilusão bibliográfica” (Bour-
dieu, 2000, p.74), ao contrário do que a própria narrativa de si, escrita
na prisão por Lane, tenta construir.
Para se desvencilhar de tamanha sedução construída por 14
páginas de símbolos à exaustão, importa pensar e situar agente–
campo não como uma oposição necessária, mas como uma relação.
Olhar o uso do método biográfico, como apontado por Pierre
Bordieu, quando este questionou o caráter ilusório de tais narrativas.
Para compreender melhor a crítica do pensador francês, é preciso
levar em consideração que ela se dá em sua interlocução com Sartre.
O que Bordieu critica é essa busca explicativa de Sartre, alicerçada
em uma percepção de um indivíduo consciente, singular, distante da
ideia relacional daquele, que apresenta o agente, dinamicamente inse-
rido em regras e estruturas próprias do campo de que faz parte.
Nessa relação, estarão não a trajetória coesa, organizadíssima de
Lane, nos seus muitos 14s e 88s ou as equações vetoriais entre causa
e efeito, ambas criticadas por Bordieu, mas, antes, se dará conta das
perturbações que há nesta trajetória, que não satisfazem essa coe-
rência biográfica. Nessa nova proposta, os silêncios, a memória, as
representações, a linguagem e a experiência ocupam um lugar chave
em uma produção etnográfica. É preciso recordar, no entanto, como
escreveu Suely Kofes (2001), que a trajetória de vida é compreendida
por verde e sob um céu estrelado. É neste lugar que o verdadeiro ariano se encontra
com a natureza e consigo mesmo. Ele é a própria natureza a serviço da vida. O tempo
do ariano não é o tempo contemporâneo, diz Lane: este é um tempo de degeneração
moral, marcado pela mídia judaica, pela homossexualidade, pela tirania, pela corrupção
e pelo aborto.
Vida e grafias - miolo.indd 227 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
como um itinerário no qual são privilegiados tanto o caminho quanto
o percurso, e para pensar esta trajetória é preciso buscar esquadrinhar
um distanciamento das marcadas clássicas oposições onipresentes nos
debates acerca das “histórias de vida” (objetividade e subjetividade;
sujeito e estrutura; indivíduo e sociedade), e dar conta, ainda das
“marcas que os sujeitos imprimem às suas interpretações e às suas
existências” (Kofes, 2001, p.24), segundo a crítica de Kofes à noção de
agente em Bourdieu.
Na abordagem de Lane, a preocupação, portanto, com a autobio-
grafia é um elemento central no processo de construir relações para si,
para se colocar no locus central do arianismo, inclusive se valendo de
múltiplos elementos messiânicos. Interessa-nos o que Lane esquece,
o que ele procura silenciar neste esgotamento simbólico? Como os
silêncios, a memória, as representações, a linguagem e a experiência
são produzidos?
Inventando uma vida ariana:
a autobiografia de Lane
A autobiografia de Lane consta de oito partes – obviamente, ele não
perderia uma chance de fazer referência ao número oito: uma intro-
dução e sete capítulos com títulos. Em todas as entrevistas de Lane,
ele sempre deixou claro que cada escolha numérica de sua produção
textual tem um objetivo. São oito capítulos porque oito remete à
oitava letra do alfabeto, o “H” hitlerista, como já foi dito neste capí-
tulo. É por isso que são 88 preceitos, para saudar o líder nazista, HH,
Hail Hitler. É um verdadeiro esgotamento do simbolismo, um messia-
nismo construído pela exaustão.
Da leitura cuidadosa da autobiografia de David Lane, escrita em
14 páginas, também para ressoar seus outros escritos (as 14 palavras e
os 14 porquês, por exemplo, entre diferentes textos que se amparam
nesse número como artefato simbólico), se concretiza um experimento
do líder da The Order de expor sua história de vida e trajetória,
“inventando” uma vida ariana. Interessa-nos como esta experiência
ariana é construída e a partir de quais elementos. A palavra “experi-
ência” é utilizada, aqui, no sentido preconizado por Joan Scott (1999),
como um elemento construído, narrado, negociado e dependente
de uma estrutura narrativa, caracterizando-se, portanto, como um
elemento discursivo. Para a autora, “não são os indivíduos que têm
a experiência, mas os sujeitos que são constituídos através da experi-
ência” (Scott, 1991, p.27).
Esse conceito de experiência, portanto, corrobora a ideia de Michel
Foucault de que a experiência é a racionalização de um processo. Esse
Vida e grafias - miolo.indd 228 3/9/15 7:38 PM
O messianismo no neonazismo estadunidense
processo, provisório, terminaria em um sujeito ou em vários sujeitos,
“produzindo uma configuração da ação, na qual o termo ‘experiência’
é um conceito operatório e articulador da narrativa” (Nicolazzi, 2004,
p.104). O conceito de experiência é, para Foucault (1994, p.123), um
locus, no qual a ação se desenvolveria de acordo com articulações do
tempo. Essa relação entre experiência e uma razão prática de uma
temporalidade distintiva também é discutida por Crapanzano (1984),
por descrever como a existência de determinadas instituições, em sua
dimensão ontológica, afeta todos os indivíduos de um certo espaço e
tempo, influenciando ainda a lógica identitária e de pensamento dessa
coletividade. É nessa direção que a experiência de ser ariano é cons-
truída na autobiografia de Lane, e também é por isso que, depois de
sua morte, seus textos são lidos e relidos, na experiência autobiográfica
está a chave do tornar-se ariano, da experiência ariana. Sem laços de
sangue ou de ascendência, “a suástica é um símbolo que vem da alma”
e revela os sentidos dos mitos aos que tem a raça em suas mitocôn-
drias,⁵ e se você não tem o sangue, ela não lhe abrirá as portas.
Na introdução, Lane descreve “a quase impossibilidade de ignorar
o próprio ego, o que tornaria o registro mais preciso de sua própria
vida uma tarefa difícil”. Relata como uma “das poucas memórias que
tem da vida com a sua família biológica, a luta pelo que parece ter sido
o seu único brinquedo, um trem”. Na introdução adverte, também,
o leitor de que, como está em “batalha com o Governo dos Estados
Unidos e as potências por trás dele”, ele “não pode dizer tudo”, e
espera dele certa capacidade de “ler nas entrelinhas”.
Em outros textos introdutórios nas obras de Lane, tanto em Creed
of Iron (livro compostos por coletâneas “iniciáticas ao wotanismo e
arianismo”) quanto em Deceived, Damned & Defiant (obra composta por
textos ideológicos, relatos históricos e de ações políticas), também é
comum o recurso da ideia de que nem tudo pode ser dito porque seus
inimigos o impedem de falar. O uso deste lugar interditado parece
comover o cidadão estadunidense que, ao mesmo tempo, sabe que goza
de uma liberdade de expressão bem acima da média de outros países,
mas que tem a eterna sensação de vigilância por parte das autoridades
e de um silenciamento obrigatório pelo Estado, segundo afirmam as
teorias conspiratórias que circulam no imaginário do senso comum.
Lane parece saber articular com esse senso imaginário em vários
momentos de seus escritos, e desde o início, ao se dirigir ao leitor afir-
mando que dependerá dele saber ler as entrelinhas, ele pactua com
ele pelo menos a respeito de dois fatos (que já se revelam como fatos
5 É muito comum pelos grupos neonazistas o uso do léxico genômico para legitimar
seu discurso como científico.
Vida e grafias - miolo.indd 229 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
nesta hora de pacto): o primeira é que ambos sabem que há coisas
que não podem ser ditas, porque há poderes que interditam a verdade
(e nisso se inscrevem saberes: há uma verdade, escondida pelos po-
derosos, há quem saiba desta verdade apesar disto). O segunda é que
ele Lane detém o que foi interdito e afirma que o verdadeiro ariano
pode vir a saber do que se trata este não revelado se for capaz de ler
nas entrelinhas, e um pacto entre a especialidade do saber de Lane e a
especialidade do leitor que consegue ler nas entrelinhas é consignado,
portanto.
Ao compelir-se a contar sua história, Lane ressalta que as me-
mórias relativas à família biológica são bastante limitadas, e que
os registros realizados pelas instituições oficiais de sua cidade natal
sofreram um incêndio, bem como os que estavam no orfanato em
que viveu parte da infância. Brunner localiza no narrar uma história
de vida, a expressão da experiência nunca alcançará a totalidade do
indivíduo, haverá sempre hiatos entre a realidade, a experiência e a
narração destas. Esses hiatos também produzem sentidos, por sua vez.
No artigo de Brunner, “Etnografia como Narrativa” (1986), surge
uma interessante reflexão a respeito da “implícita estrutura narrativa”
que guia os trabalhos etnográficos. O autor procura estender a noção
de etnografia como discurso para problematizar a etnografia como
gênero de “história contada” (Brunner, 1986, p.139). Todas as narra-
tivas guardam um projeto político definido, denunciando seu tempo,
operando nos níveis semânticos e sintáticos; as histórias etnográficas
produzem sentidos. As estruturas narrativas organizam esses sentidos,
formatando experiências, em um ritmo que entra em compasso com
o projeto político dominante. Nesse sentido, as etnografias abarcam os
elementos-chave da narração: a história, o discurso e o enredo.
No texto de Lane, muitas vezes eu me perguntei por que ele
“esquece” determinado fatos e outros são tão vívidos. Pergunto-
-me por que os laços biológicos parecem tão frágeis, enquanto basta
nascer na cidade de Woden, em uma quarta-feira, dia de Odin, para
ser filho de Odin e, portanto, um Thor contemporâneo. Há clara-
mente um objetivo político nesse esvaziamento do biológico pelo
mítico, ou ainda um mítico que dá ao biológico sentido: é exatamente
isso que os sites neonazistas afirmam que os mitos despertam genes
e mitocôndrias arianas… É preciso diminuir as fronteiras biológicas
familiares e fazer de Lane o grande ariano, o grande filho de Odin, o
messias ariano do nosso tempo, um novo Hitler.
Lane retrata, no primeiro capítulo de sua autobiografia, denomi-
nado “Família biológica”, a sua infância infeliz. Entre os fatos citados,
anota seu pai como “um bêbado, um canalha, que vivia uma vida da
pior espécie possível”. O pai teria casado com sua progenitora em
Vida e grafias - miolo.indd 230 3/9/15 7:38 PM
O messianismo no neonazismo estadunidense
1934, aos 30 anos, no mesmo ano que a conheceu. Ele fora um traba-
lhador agrícola nômade e sua mãe era uma jovem garota de 15 anos
quando foi desposada por ele.
Lane foi o quarto filho do casal, e nasceu em 2 de novembro
de 1938, uma quarta-feira (Dia de Woden), na cidade de Woden,
Iowa, para justificar o pseudônimo de Wodensson (filho de Odin
ou Wotan). Recorda, ainda, que seu pai biológico, principalmente
quando estava bêbado, era uma criatura verdadeiramente desprezível.
Afirma que ele teria vendido sua mãe para seus amigos e estranhos
por dinheiro para bebida, e que teria espancado toda a sua família,
muitas vezes, com uma cinta, sendo o responsável pela surdez de
seu irmão Roger ao perfurar seus tímpanos em uma dessas surras.
Um dos muitos abusadores de Lane é morto por pancadas com um
martelo, após o pai ter deixado o lar (quando Lane tinha apenas 4
anos) e sua mãe ser obrigada a “cantar e tocar em um bar fazer coisas
que ele não sabe e não quer saber”. Posteriormente, eles e os irmãos
foram levados para um orfanato.
A substituição da figura biológica pela mítica, no caso de Lane,
é um recurso para fugir de sua própria história, mas principalmente
para se demarcar como predestinado ao arianismo: ele nasce no dia
de Wotan, na cidade de Wotan, e como Thor, filho de Wotan, tem seus
inimigos mortos a marteladas. Nesse sentido, pode-se assinalar como
uma autobiografia se oferece como um universo assaz fecundo e, no
caso presente, como um elemento essencial para a abordagem etno-
gráfica. Ademais, como apenas por meio da experiência etnográfica
anterior (Dias, 2007) muitos elementos da autobiografia se tornaram
inteligíveis, por permitirem que eu compreendesse o sentido de certas
imagens escolhidas para darem sentido “ariano” à autobiografia.
No segundo capítulo, “Infância”, Lane fala de sua vida no
orfanato e relata sua adoção por um pastor luterano, que falava di-
namarquês e viajava o país para realizar pregações. Esse pastor lhe
impôs “horas intermináveis de devoções” e um Jesus que Lane con-
siderava “puro tédio”. Os antigos Deuses Wotan e Thor foram lhe
apresentados como vencidos, e ele conta que se sentia extremamente
atraído por suas histórias, mas não pela forma como os luteranos os
descreviam, quase como se desde criança Lane soubesse que estes
deuses lhe eram mais íntimos. Sua trajetória cruza os relatos da
Segunda Guerra Mundial, em especial as notícias que se divulgavam
a respeito da morte em massa dos judeus em campos de concentração
nazistas, notícias que ele ouve com total incredulidade, imediata-
mente, segundo relata. Também refere seu brincar “de guerra” com
outros garotos, em que sempre fazia o papel de alemão, para gritar
“Heil Hitler” e “Sieg Heil” para os outros adolescentes. Enamora-se por
Vida e grafias - miolo.indd 231 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
jovens loiras de olhos azuis, “seus anjos”, o que mais tarde, segundo
ele, definiria sua inquietação constante em construir a luta para evitar
o desaparecimento da beleza da mulher branca da Terra.
A narrativa prossegue em seu propósito de ressaltar seus laços e
sua vocação com o mundo ariano: jamais se deixou ludibriar pelas
religiões cristãs, preferia continuar a ser fiel aos Deuses verdadeiros,
nórdicos, desde muito jovem. Ainda adolescente foi capaz, no meio de
grande propaganda inimiga, de reconhecer o judeu como inimigo e o
alemão como herói. Ao descrever seus amores juvenis como a fonte de
sua luta pela preservação da mulher ariana (condensada na máxima
de Lane: “Porque a beleza da mulher Branca não deve desaparecer
da terra”), o autor descreve sua relação com o mundo feminino
como algo que, “desde o início, transcenderia o elemento puramente
sexual”. Foi no olhar para as mulheres, afirma, que descobriu seu
propósito de vida. Ele também descreve nesse capítulo como se irritou
com um ex-combatente que contara como mantivera relações sexuais
com moças alemães em troca de comidas e roupas, e como por sua
posição de classe social inferior ele teve pouco acesso a mulheres
brancas belas, que preferiram judeus ricos ou atletas negros, possibi-
lidades seguras de ascensão social. Lane salienta que teve sua cota de
moças bonitas, mas que se irritava com o modo como o valor de um
homem valia menos na América que o seu salário ou o ganho de seus
pais. Dessa forma, ele pretendia falar ao americano médio, que sonha
com as belas atrizes de cinema, afirmando o quanto o sistema é des-
trutivo (suicida, diz ele) por exilar o homem do belo.
No terceiro capítulo, “Despertar”, Lane descreve sua “conscien-
tização”: segundo o que ele recorda, em 1978, conclui que de fato as
nações ocidentais estavam governadas por uma conspiração sionista.
Os aspectos econômicos, políticos e religiosos da conspiração não lhe
interessavam de maneira vital, a não ser pelo modo como eles influen-
ciam o ponto verdadeiramente central da questão: essa conspiração
sionista acima de tudo desejava exterminar a raça ariana. Todo o
estudo se organizou no ato de cunhagem das “14 palavras”: “Devemos
assegurar a existência de nosso povo e um futuro para as crianças
brancas” – e Lane começou seu ativismo no estado do Colorado, até,
segundo ele, ser interrompido por entidades sionistas.
No quarto capítulo, Lane se dedica à Irmandade Schweigen
(Irmandade Silenciosa) – que posteriormente ficou conhecida como
A Ordem –, relatando sua fundação e atuação. Em poucos deta-
lhes, conta como o Estado, em seu delírio, aparelhou-se por perjúrio
para incriminar todos os presos da guerra racial, e relata o quanto
seria melhor se eles tivessem mais experiência em criminalidade e
crueldade antes dos atos praticados. A Ordem foi fundada em 22 de
Vida e grafias - miolo.indd 232 3/9/15 7:38 PM
O messianismo no neonazismo estadunidense
setembro de 1983, em Washington, por nove homens sentados em
cadeiras dispostas em um círculo. A décima cadeira era ocupada pelo
retrato de um líder alemão (não é difícil imaginar quem). O décimo
ser humano presente era um bebê branco, que fora colocado no
círculo e cada presente fez um voto para garantir o futuro para essa
criança branca, tema que depois se transformaria em um dos poemas
mais conhecidos de David Lane.⁶ O líder da reunião, Robert Jay
Mathews, que Lane chama carinhosamente de Bob, teria profetizado,
nessa reunião, que morreria em um ano, o que de fato aconteceu 14
meses mais tarde. Lane atribuiu esse fato aos “demônios federais”. A
Ordem foi acusada de roubar mais de US$4,1 milhões, de sequestros
em carros blindados, do assassinato de pelo menos duas pessoas; de
ter detonado bombas; de falsificação de dinheiro; de ter organizado
campos de treinamento militar e ter realizado diversos outros crimes
com o objetivo final de derrubar o governo dos Estados Unidos.
Nesse capítulo, Lane ainda operacionaliza elementos simbólicos para
mostrar como a Irmandade Silenciosa é uma nova forma de aposto-
lado, e como os membros estão a serviço de algo muito “elevado”: o
futuro da raça ariana.
No quinto capítulo de sua autobiografia, Lane se detém na prin-
cipal acusação que pesa sobre ele: o assassinato do jornalista judeu
Alan Berg, em 1987. Em um primeiro momento, caracteriza Berg
como dotado de uma personalidade “particularmente vil”, “irritante
e antibranca”, que “advogava para certas figuras do crime organizado
em Chicago” e possuía uma “boca descontrolada que fora uma fonte
de preocupação para personagens repugnantes de todos os matizes”.
Ele levanta, ainda, a suspeita de que Berg “se envolvera com tráfico
de cocaína e a usava para obter favores sexuais de jovens”, embora
registre que nunca tivera como verificar isto. “De qualquer forma”,
ressalta o autobiografado, “o sr Berg não era o tipo com quem uma
pessoa reflexiva iria querer associar sua filha, para dizer o mínimo”.
Na época da morte de Berg, Lane morava em Idaho e prontamente
enviou uma carta ao Rocky Mountain News negando envolvimento com
o crime, mas testemunhas acabaram relacionando-o ao fato, o que
Lane comsiderou perjúrio estatal.
O sexto capítulo é dedicado a relatar sua vida como prisioneiro.
O título, “A prisão”, é um relato a respeito de como o sistema peni-
tenciário fez todo o possível para humilhá-lo e torturá-lo de todas as
formas. Lane chega a afirmar que o sistema penitenciário “deve ter
sido projetado por psiquiatras judeus loucos”, citando práticas e ativi-
6 “Brilhante criança de luz, és a minha família / De corpo, alma e mente / Um espí-
rito chama do interior / Devo preservar o teu ser.”
Vida e grafias - miolo.indd 233 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
dades prisionais que, segundo ele, objetivam a “submissão sexual pela
mentalidade judaica freudiana de psiquiatras da prisão”. De acordo
com seus dizeres, os guardas da prisão são “exatamente o tipo de de-
mônios encarnados como os que queimaram mulheres e crianças vivas
em Waco”. Relata ainda: “Sua existência é um insulto aos Deuses,
uma maldição para a humanidade e um trabalho inacabado”.
Finalmente, no último capítulo, “A Luta Continua”, Lane des-
creve seus últimos 17 anos de cativeiro, e como “sua caneta” se tornou
sua grande arma de luta. É, de fato, na prisão que ele escreve todos
os grandes textos fundadores, lidos à exaustão por milhões de ra-
dicais no mundo todo. Escrevendo principalmente os princípios da
denominada religião Pirâmide Profética, Lane defenderia a noção
de uma natureza cujas leis são o trabalho da inteligência criativa que
os homens chamam de Deus. As leis de Deus e as leis da natureza
seriam, portanto, a mesma coisa. As leis da natureza são uma “bíblia”
que os homens não podem inventar, alterar ou perverter, e a maior lei
da natureza é a preservação da própria espécie. Para Lane, toda perda
de tempo em disputas religiosas ou políticas fora criada pelos judeus,
que convenceram assim, inclusive, os patriotas da Rússia e as nações
ocidentais de que as únicas opções eram os sistemas econômicos
chamados “comunismo” e “capitalismo”. Ambos, é claro, seriam anti-
natureza. Por meio do estudo da origem de todas as grandes religiões,
ele descobrira que toda religião que se afasta da lei natural é falha
(isto está nos “88 princípios”). O centro da luta de Lane continua sendo
a dignidade do macho, a preservação da beleza da fêmea e o futuro
da criança branca. A biografia termina na décima quarta página,
com as 14 palavras: “Devemos assegurar a existência do nosso povo e
um futuro para as crianças brancas.”
É particularmente interessante como Lane “esquece” de
mencionar sua separação de Katja Lane, a traição dela, e é exata-
mente por isso, milhares de sites neonazistas o citam como o casal
exemplar do movimento, embora ele tenha terminado a vida sozinho
e abandonado pela esposa. Parece haver uma necessidade de cons-
truir um mito de casal mágico, de um amor que supera a prisão e até
a morte, quando a realidade é muito diversa. Katja o deixou, levando
meio milhão de dólares da venda dos livros e um romance mais
promissor. April Gaede, amiga de Lane, chegou a comentar isso em
um fórum neonazi, mas passou despercebido. É Gaede que prepara
os rituais fúnebres do líder. Lane nunca escreveu uma linha contra
Katja, ou se escreveu, eu nunca localizei.
Nos termos de Joan Scott, Lane descreve sua história a partir de
um ponto: “Uma consciência de si próprio” que parece anterior a seu
nascimento, posto que determina, inclusive, sua hora e lugar. Nesta
Vida e grafias - miolo.indd 234 3/9/15 7:38 PM
O messianismo no neonazismo estadunidense
“consciência de si”, há uma espécie de “reconhecimento de sua iden-
tidade autêntica, aquela que sempre compartilhou, e que sempre iria
compartilhar com outros como ele” (Scott, 1999, p.43). Ao construir
sua narrativa a respeito de sua trajetória de vida, Lane destaca essas
experiências exatamente porque elas se somam neste processo de
modelagem de si como ariano, processo que toma forma ainda mais
definitiva no terceiro capítulo do texto, quando Lane rememora como
em 1978 já escrevia a respeito, posteriormente a grandes “pesquisas”
por ele realizadas, de como as nações ocidentais estavam governadas
por uma conspiração sionista que objetivava o genocídio da raça
ariana. As 14 palavras foram então compostas e surgiram as primeiras
grandes campanhas de divulgação do material por ele escrito. Em
1981, quando ele tinha 33 anos, a Liga Antidifamação (ADL, uma
instituição judaica estadunidense) teria tentado assassiná-lo, sem êxito.
A proposta de Lane não passa despercebida: o grande líder ariano
quase é morto pelos judeus aos 33 anos, idade atribuída a Jesus Cristo
na época de sua morte. E ainda assim, teve sua literatura confiscada,
tendo sido crucificado na época pela mídia.
Esta sombra cristã do homem que teve uma vida inteira estu-
dando mistérios (Cristo também fugiu para o Egito, e os rosa-cruzes
defendem que teria sido iniciado lá) e vive um “ministério dos 30 aos
33 anos” até ser preso forma um envoltório messiânico imenso em
torno da figura de Lane.⁷ Seu livro póstumo, que recupera vários
textos e ensaios, Vitória ou Valhalla, faz uma referência direta ao paraíso
dos Deuses nórdicos no título. Os sites reproduzem seus textos, vistos
como cruciais e fundadores, e os adeptos da religião Pirâmide Pro-
fética, por ele fundada, crescem a cada dia. O elemento religioso
conseguiu o efeito que ele tanto almejara.
Quando, portanto, Lane se consolida como líder e pensador da
supremacia branca, ele consegue o feito por somar elementos: um
contexto social e histórico específico, desenvolvendo as categorias que
determinaram seu discurso, narrando suas experiências e sua traje-
tória. Sua morte desencadeou no mundo milhares de homenagens ao
prisioneiro racial. Há desordem, produtora de estruturas, sentidos e
paradigmas. Um drama social, conforme descrito em Social dramas and
stories about Them, de Victor Turner (1980), que foi capaz de inter-rela-
cionar loops, nos quais, de maneira performática, os aspectos estruturais
retoricamente implícitos denunciam contradições estruturais da vida
social. Fazem parte desses dramas sociais diversos tipos simbólicos: os
7 Jesus Cristo viveu seu ministério como messias a partir dos 30 anos, segundo a tra-
dição cristã, na qual Lane foi criado, e na qual se espelha como um duplo. É esse o
sentido de ministério que Lane pretende dar à sua tarefa ao evocar que sua missão
como messias ariano havia se tornado pública aos 30 anos.
Vida e grafias - miolo.indd 235 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
traidores, os redentores, os vilões, os mártires, os heróis, entre outros,
narrados na tessitura dos dramas sociais como personagens exemplares
e paradigmáticos, que dessa forma garantiriam sua imortalidade social
(Turner, 1980, p.150–156). Lane exemplifica muito bem esse uso do
drama social que, para Turner, funcionaria como uma matriz de expe-
riências, por meio das experiências performáticas da cultura, de modo
a estabelecer uma declaração contra a indeterminação e oferecendo,
portanto, elementos para narrativas jurídicas, literárias, morais, com-
plexificando, portanto, todas as modalidades de ação social. Os escritos
de Lane foram lidos apenas nos Estados Unidos por mais de 450 mil
pessoas. Seus textos foram localizados nesses dez anos de pesquisa em
dez idiomas, mas estimo que deva haver muito mais traduções. Há mi-
lhares de vídeos póstumos em sua homenagem. No Brasil, pelo menos
150 mil pessoas são simpatizantes do movimento racista, cerca de um
terço disto apenas no estado de Santa Catarina, no Sul. O maior site
neonazista brasileiro, o Valhalla 88, tem sua sede também em Santa
Catarina e alcançou a significativa marca de duzentas mil visitas antes
de ser retirado do ar, em agosto de 2007. Todos os sites analisados neste
trabalho citam os textos de David Lane em profusão. Os adeptos do
movimento supremacista buscam nele uma espécie perversa de inspi-
ração para tornarem-se, como ele, “arianos”.
Uma tentativa de conclusão…
Vemo-nos no Valhalla?
Morrer é tornar-se ainda mais ariano?
Toda esta reflexão me é bastante extraordinária, não apenas por me
afetar diretamente, mas porque, há quatro anos, definiu o meu objeto
de pesquisa no doutorado em Antropologia, fruto de uma pesquisa
que me leva dez anos de vida. O líder neonazista que examino neste
capítulo tornou-se evidentemente mais notório e célebre após a sua
morte. Multiplicam-se as narrativas a respeito de David Lane, multi-
plicam-se os livros publicados com seus textos, multiplicam-se os sites
que narram suas histórias. A morte é uma experiência, uma produção
também socialmente construída. A morte, por assim dizer, afeta a
todos; milhares de formações polissêmicas distintas, contraditórias e
complexas ocupam os entendimentos sobre a morte da vida contem-
porânea. Pensar a morte, como escreveu Favret-Saada, “como uma
variedade particular de experiência humana”, é ainda “assumir o
risco de ver nosso projeto de conhecimento se desfazer” (1990, p.160).
Nesse desfazer, uma etnografia se torna possível, uma etnografia que
faça justiça aos afetos que são mobilizados diante do morrer. Afetos
perversos ao se debater com um tema como o meu, diga-se de pas-
Vida e grafias - miolo.indd 236 3/9/15 7:38 PM
O messianismo no neonazismo estadunidense
sagem, mas com seriedade. O tema me afeta por demais e me esgota.
Se é verdade que “a característica fundamental da antropologia
seria o estudo das experiências humanas a partir de uma experiência
pessoal”, como escreveu Marcio Goldman (2006), é na morte que essa
experiência orientadora encontra um limite. Parte da tarefa do an-
tropólogo é descobrir o “conhecimento social implícito”, de acordo
com Michel Taussig. Ou seja, “o que faz as pessoas se moverem, o que
torna o real, real, o normal, normal e as posições políticas vigorosas”
(Taussig, 1993)? Como interrogar os sentidos da morte? Até onde po-
deremos apreender as práticas, os saberes e os discursos, esses dois
últimos também entendidos como práticas a respeito da morte? É in-
teressante pensar esse desafio sob a luz do pensamento do antropólogo
Alfred Gell (1998), em sua discussão a respeito da “profundidade parti-
cular temporal” da prática etnográfica, diferentemente da sociologia,
suprabiográfica, e da psicologia social, infrabiográfica. Para Gell, a
antropologia apreende os agentes sociais replicando-lhes a perspec-
tiva de tempo deles mesmos, visto que a periodicidade fundamental
da disciplina é o ciclo de vida. Problematizar a morte e seus sentidos
é, portanto, problematizar inclusive, o limite dessa periodicidade fun-
damental, e como esse limite é construído pelos diversos agentes do
campo etnográfico, de modo que os atos traduzam experiências. Pro-
blematizar o sentido de morte em David Lane é problematizar se a
morte fez dele ainda mais ariano do que a vida. E tudo indica que sim.
Obras de David Lane pesquisadas
Autobiografia
Creed of Iron
Deceived, Damned & Defiant
KD Rebel
Victory or Valhalla
Referências
Michael Barkun, Religion and the racist right: the origins of the Christian Identity movement,
Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1994
P Bourdieu, “Espaço social e gênese de classes”, O poder simbólico, Rio de Janeiro: Ber-
trand Brasil, 1989
–, “A ilusão biográfica”, in: M M Ferreira & J Amado (organização), Usos e abusos da
história oral, Rio de Janeiro: Editora da fgv, 2000
Edward M Bruner, “Ethnography as narrative”, in: Victor W Turner & Edward M
Bruner, The anthropology of experience, Urbana: University of Illinois Press, 1986,
p.139–155
James Clifford, Person and myth: Maurice Leenhardt in the melanesian world, Berkeley: Univer-
sity of California Press, 1982
Édouard Conte & Cornelia Essner, A demanda da raça: uma antropologia do nazismo,
Lisboa: Instituto Piaget, 1998
Vida e grafias - miolo.indd 237 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
V Crapanzano, “Life-Histories”, American Anthropologist, n.86, p.953–965, 1984
–, Tuhami: portrait of a morocann, Chicago: The University of Chicago Press, 1982
Giles Deleuze & Felix Guattari, Mil platôs, v.1–4, Rio de Janeiro: Editora 34, 1996
Adriana Dias, “Links de ódio: uma etnografia do racismo na internet”, monografia de
conclusão de curso em Ciências Sociais, Campinas: unicamp, 2005
–, “Os anacronautas do teutonismo virtual: uma etnografia do neonazismo na in-
ternet”, dissertação de mestrado em Antropologia Social, Campinas: unicamp,
2007
B Dicks & B Mason, “Hypermedia and ethnography: reflections on the construction
of a research approach”, Sociological Research Online, v.3, n.3, 1998, disponível em
http://www.socresonline.org.uk/3/3/3.html
Raphael Ezekiel, The racist mind, Nova Iorque: Penguin Books, 1995
–, An ethnographer looks at neo-Nazi and Klan groups, American Behavioral Scientist, Nova
Iorque, n.46, p.51–71, 2002
Mattias Gardell, Gods of the blood: the pagan revival and white separatism, Londres: Duke
University Press, 2003
Jeanne Favret-Saada, “Être affecté”, Gradhiva, n.8, p.3–9, 1990
Michel Foucault, Dits et écrits, v.1–2, Paris: Gallimard, 1994
Alfred Gell, Art and agency: an anthropological theory, Oxford: Clarendon, 1998
Marcio Goldman, “Alteridade e experiência: antropologia e teoria etnográfica”, Etno-
gráfica, v.10, n.1, maio de 2006
Robert S Griffin, The fame of a dead man’s deeds: an up-close portrait of white nationalist
William Pierce, Bloomington: FirstBooks Library, 2001
Nicholas Goodrick-Clarke, Sol negro: cultos arianos, nazismo esotérico e políticas de identidade,
São Paulo: Madras, 2004
Suely Kofes, Uma trajetória em narrativas, Campinas: Mercado de Letras, 2001
–, “Sugestões para uma discussão sobre identidade”, Travessia, Lisboa, v.4–5, 2004a
Suely Kofes (organização), História de vida: biografias e trajetórias, Campinas: unicamp,
2004b
David Lane, Introduction to creed of iron: Wotansvolk Wisdom, 14 Word Publications, 1997
–, Deceived, damned & defiant: the revolutionary writings of David Lane, 14 Word Publica-
tions, 1999
–, kd Rebel, 2004
–, Victory or Valhalla: the final compilation of writings by David Lane, CreateSpace Pu-
blishing Platform Independent, 2008
Fernando Nicolazzi, “A narrativa da experiência em Foucault e Thompson”, Anos 90,
Porto Alegre, v.11, n.19–20, p.101–138, janeiro–dezembro de 2004
J Scott, “The evidence of experience”, Critical Inquiry, n.17, p.773–795, 1991
M Strathern, “The ethnographic effect i”, in: M Strathern, Property, substance and effect,
Londres / New Brunswick: The Athlone Press, p.1–26
M Strathern, “The ethnographic effect ii”, in: M Strathern, Property, substance and effect,
Londres / New Brunswick: The Athlone Press, p.229–261
Michael Taussig, Xamanismo, colonialismo e o homem selvagem, São Paulo: Editora Paz e
Terra, 1993
Victor Turner, “Social dramas and stories about them”, Critical Inquiry, v.7, n.1, p.141–
168, Chicago: The University of Chicago Press, 1980, disponível em http://www.
jstor.org/stable/1343180
Adriana Dias é doutoranda e mestre em Antropologia Social pela Universidade Es-
tadual de Campinas (2008). Coordena o Comitê de Deficiência e Acessibilidade da
Associação Brasileira de Antropologia e é pesquisadora no Instituto Baresi e na ong
Essas Mulheres.
Vida e grafias - miolo.indd 238 3/9/15 7:38 PM
Por uma etnografia
dos artistas populares:
reflexões sobre personas midiáticas
e biografias de celebridades
Raphael Bispo
Considerado um dos maiores apresentadores e comunicadores da
televisão brasileira, a trajetória de Abelardo Barbosa, o Chacrinha,
teve início no rádio, mas seu maior sucesso foi quando começou a
comandar programas de auditório como a Buzina do Chacrinha em di-
ferentes emissoras de tv. Chacrinha morreu no ano de 1988, mas até
hoje é lembrado por sua originalidade e capacidade de “comandar
as massas”, como lembra a canção de Gilberto Gil, “Aquele abraço”.
Já se passaram cerca de quarenta anos desde o ápice das experiências
das artistas populares chacretes, as dançarinas de palco que auxi-
liaram o apresentador nos inúmeros programas que comandou entre
as décadas de 1960 e 1980 na televisão. Hoje, as mais antigas têm em
torno de 65 anos de idade e nenhuma possui a inserção de outrora no
mundo artístico mais hegemônico.
A partir de uma pesquisa de campo realizada com tais dança-
rinas no Rio de Janeiro entre 2010 e 2012, pude me aproximar de um
conjunto de narrativas as mais variadas possíveis (jornais, revistas,
fotografias, vídeos, cartas, narrativas orais e escritas de produtores,
editores, das próprias dançarinas, entre outras fontes) que nos per-
mitem refletir acerca do sucesso de algumas delas em detrimento de
outras. Além da realização de entrevistas estruturadas com inúmeras
chacretes dispersas pelos mais diferentes bairros do Rio, por meio de
um roteiro, buscou-se maior aproximação com aquelas que se mos-
traram dispostas a participar de uma etnografia em seus moldes mais
clássicos, já que a pesquisa pretendia acompanhar também seus coti-
dianos em casa, suas atividades artísticas contemporâneas, passeios,
encontros, família etc. Para concretizar essa vivência mais profunda
Vida e grafias - miolo.indd 239 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
com as antigas dançarinas, a pesquisa acabou se concentrando na tra-
jetória de cinco chacretes que trabalharam juntas no início dos anos
1970, mas que possuem poucos contatos nos dias de hoje e habitam
diferentes áreas da cidade: Índia Potira, Vera Caxias, Sandra Mattera,
Edilma Campos e Marina Galvão (esta, um nome fictício). Buscou-se
reduzir o escopo da pesquisa em prol de uma maior intimidade, prin-
cipalmente a fim de obter dados para além de suas lembranças sobre
suas carreiras artísticas. Uma primeira reflexão sobre tais trajetórias
pode ser vista em Bispo (2012).
Devido ao distanciamento temporal e afetivo do mundo artístico
hoje, um dos tópicos mais recorrentes quando em campo foram as
constantes reflexões e queixas feitas pelas chacretes acerca de suas
experiências de fama, buscando encontrar justificativas para seu
sucesso pessoal e/ou de amigas e, ao mesmo tempo, confortarem a
si mesmas e aos outros pelo fato de terem sido “esquecidas”, seja já
naquele período de visibilidade ou mesmo atualmente. De maneira
um pouco diferente, e seguindo a proposta de Kofes (2001, p.12),
podemos afirmar que abordar a fama quase quarenta anos de seu
apogeu nos permite acompanhar a tessitura do renome em torno
de certas chacretes ao longo dos tempos, da mesma forma com que,
em igual medida, outras delas eram assim desprezadas, relegadas
a um segundo plano do panteão estrelar. Pensar a fama durante os
anos de consolidação da indústria cultural é, portanto, acompanhar
as dinâmicas e processos que garantiram com que certas dançarinas
ainda hoje sejam lembradas – enquanto outras concomitantemente
são esquecidas –, tendo como pano de fundo um momento de grande
efervescência política, econômica e cultural no país.
Dessa forma, a proposta central desse artigo é perceber como se
deu a entrada da dançarina Glória Maria da Silva – a Índia Potira ou
Índia Poti, como era conhecida pelos fãs –, considerada pelas mais
diferentes narrativas como a maior chacrete da década de 1970, ao
panteão das estrelas televisivas. Parte-se da ideia de que é necessária
a construção de uma persona midiática em torno das dançarinas a fim
de estimular seus renomes no contexto disputado e instável da indús-
tria cultural. A persona midiática garante a lembrança, impedindo o
ostracismo. A busca por diferenciação no mundo artístico por parte
das chacretes envolve saber tecer em torno de si uma personalidade
específica mediada pela imprensa que, como moedas, precisam car-
regar consigo e fazer circular quando diante dos holofotes. Portanto,
seguindo as preciosas pistas das clássicas concepções maussianas
em torno da necessidade de se problematizar e situar culturalmente
a noção de pessoa, pode-se compreender a persona midiática como
sujeitos cumprindo certos “papeis” no contexto das dinâmicas de
Vida e grafias - miolo.indd 240 3/9/15 7:38 PM
Por uma etnografia dos artistas populares
entretenimento contemporâneas, tal como, metaforicamente, o de-
sempenho de “personagens” e o uso de “máscaras rituais” em certos
“dramas sagrados” analisados por Mauss (2003, p.382). As personas mi-
diáticas são performances recorrentes na arte comercial popular de hoje,
cujos personagens e suas máscaras se configuram primordialmente
através de uma articulação – e não na dissociação como comumente
se pensa, nos mostra Sobral (2011) – entre a imagem pública produ-
zida em torno de determinados artistas e suas respectivas trajetórias
sociais, suas vidas ditas mais privadas, aquilo que vai além das
imagens, frutos de seu trabalho televisivo.
Em termos metodológicos, faço uso das narrativas sobre Índia
Potira contidas exclusivamente nas inúmeras matérias jornalísticas
que tive contato ao longo da pesquisa. Duas fontes garantiram-me
essa aproximação: um levantamento da Revista Amiga,¹ tendo como
base o corte temporal de 1970 a 1975, realizado no acervo da Biblio-
teca Nacional – que me permitiu um panorama sobre as chacretes
em um importante periódico da época, comparando como cada uma
delas se inseria nesse contexto, quem mais se destacava, quem era
pouco comentada etc –, e a coleção particular da própria chacrete
sobre sua trajetória. Índia Potira possui ainda um vasto acervo sobre
o seu passado de dançarina, focado, é claro, em sua carreira. Isso
porque, como costumam dizer as competitivas chacretes, “nenhuma
de nós guarda foto ou reportagem da outra”. A vasta quantidade de
material que Índia possui, quando comparada à das amigas, já nos
indica em alguma medida que ela conseguia mais espaço na imprensa
em geral. Além disso, e diferentemente de muitas delas que tiveram
seus acervos incinerados pelos maridos ao longo da vida, Índia conse-
guiu manter praticamente intacto o material que conseguiu recolher
na época. Sendo assim, tais textos e imagens na imprensa assumem
neste trabalho o sentido de “inscrições objetivadas” (Kofes, 2001,
p.21), não por serem efetivamente mais objetivos do que certos relatos
orais supostamente “subjetivos”, enviesados, mas por preservarem
melhor certa temporalidade difícil de ser captada em outros registros,
tornando-se referências básicas para percebermos as dançarinas em
seu auge nos anos 1970 e como se efetivavam naquela época suas per-
sonas midiáticas.
1 A Revista Amiga tv Tudo! era editada pelas Organizações Bloch e circulou no país a
partir de maio de 1970 – portanto, bem no momento de ascensão da indústria cultural.
Considerada a primeira revista que se dedicou exclusivamente a cobrir a programação
televisiva brasileira, documentou também a vida de seus principais artistas, feito
inédito para uma imprensa que ainda se voltava para os produtos midiáticos estran-
geiros, como o cinema americano e suas “divas”.
Vida e grafias - miolo.indd 241 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
O estrelato da empregada doméstica
Rio de Janeiro, abril de 1972. Chega às bancas da cidade e de todo o
país mais um exemplar da popular revista semanal de informações O
Cruzeiro. Traz em sua capa e no miolo uma reportagem e fotos eston-
teantes da “boazuda” mais famosa do momento: Índia Potira, que
já bailava e brilhava na TV há cerca de dois anos nos programas de
Chacrinha. O Cruzeiro contribuiu para a imprensa brasileira por ter
oferecido uma nova roupagem à linguagem dos semanais através de
forte investimento no fotojornalismo, na notícia que, além de ser lida,
deveria ser primordialmente vista. Nada como Índia para servir como
chamariz imagético. A presença de um ícone popular como Glória
em sua capa é indicativo desse apelo que a TV vinha ganhando na
década de 1970, sendo quase imprescindível que uma publicação
respeitada como O Cruzeiro – cujo sucesso editorial é anterior à emer-
gência da TV – não abrisse mão de comentar sobre os mais recentes
ídolos do star system brasileiro.
Pode-se considerar esse momento um dos mais marcantes da car-
reira artística de Índia como dançarina. Ela sempre fala com orgulho
de ter aparecido na revista, e o único exemplar que possui está se
desfazendo por ser um dos mais manuseados do farto acervo que
costuma mostrar a todos interessados por sua carreira. Ser capa de O
Cruzeiro era para poucos, ainda mais para uma mera coadjuvante de
programas de auditório, ocupante de espaços periféricos nos palcos.
Índia “virou artista” por “coisas do destino”, conforme costumam
enfatizar as chacretes e como visto em detalhes em Bispo (2012). Tra-
balhando como empregada doméstica em “casas de família” da Zona
Sul do Rio, gostava de participar das gravações de programas televi-
sivos em horários de folga, desviando-se dos caminhos de volta para
a casa em Senador Camará, bairro pobre da Zona Oeste da cidade.
Pedia encarecidamente à mãe mais alguns minutos tomando conta
de suas duas filhas pequenas a fim de que pudesse se divertir e, quem
sabe, arranjar um trabalho. “A gente entrava nas emissoras, andava
por lá. Mulher, né, meu filho? Já viu!”² Junto com uma amiga, sempre
ficavam atentas para oportunidades de pequenas participações e figu-
rações, “pontas” em humorísticos e auditórios. “Eu fiquei morando
com a minha mãe, então eu ficava procurando coisas. Eu queria ser
2 Faço uso de narrativas orais retiradas de meu caderno de campo ou de entrevistas
gravadas com a chacrete a fim de refletir sobre seus primeiros passos na carreira ar-
tística de dançarina, atentando para como entraram nesse nicho de mercado, suas
expectativas e análises da maneira como conduziram seus anos na tv. Todavia, deixo
aqui de lado a problematização desses momentos. Detalhes em Bispo (2012).
Vida e grafias - miolo.indd 242 3/9/15 7:38 PM
Por uma etnografia dos artistas populares
artista. Eu sempre gostei desse negócio de televisão, de teatro. Essas
coisas eu procurava. Até que consegui.”
Na tv Tupi, na Urca, em 1968 e já aos 21 anos, engrenou pela
primeira vez algumas aparições no Capitão Asa e em shows de humor
de Didi Mocó. Mas foi mesmo no Programa do Bolinha – comandado
por Jair de Taumaturgo na antiga tv Rio, canal 13, próxima ao Posto
6 de Copacabana – que começou a se apresentar no vídeo de maneira
menos intermitente, agora já como dançarina, vindo posteriormente
a chamar a atenção de olheiros de Chacrinha. Nunca dançou pro-
fissionalmente, mas nos testes para tv conseguia se virar bem. O
dinheiro pingado das pontas anteriores tornou-se mais consistente
com as aparições no Jair de Taumaturgo, mas as faxinas continuavam
a ser sua principal fonte de renda, visto que o show ia ao ar uma vez
por semana apenas.
Na verdade, o que começava a despontar nessas primeiras in-
vestidas artísticas de Glória era uma espécie de “fuga” pelo uso
instrumental da beleza e da sensualidade dos condicionamentos à
carreira de empregada doméstica. Índia amplia assim suas chances de
empregos remunerados, sempre restritas pela baixa instrução e pelo
fato de ter duas crianças para sustentar. Desde os 15 anos, quando
largou seu marido e passou a cuidar sozinha de duas filhas, Índia
vinha “dando nó em pingo d’água” por meio de uma gama variada
de ocupações de baixo rendimento como garçonete, balconista e
doméstica. Desde então, não morou com homem algum. Se entre as
mulheres casadas de camadas populares trabalho remunerado é algo
frequente para complementar a renda familiar – mesmo que inter-
mitente e de acordo com as possibilidades e necessidades do coletivo
(Sarti, 2003, p.99) –, o sentido de desemprego é uma questão parti-
cularmente de honra para “mães solteiras” como Índia, tornando-se
uma preocupação candente. A elas, já nos lembravam Bruschini &
Rosemberg (1982, p.15), cabia uma limitada gama de ocupações, todas
de baixo prestígio e remuneração, além de serem majoritariamente
femininas: empregadas domésticas, trabalhadoras rurais, profes-
soras primárias, funcionárias de escritório, costureiras, lavadeiras,
balconistas, serventes, enfermeiras e tecelãs. A baixa escolaridade de
Índia diminuía ainda mais essas já limitadas possibilidades, tornando
o mundo artístico um caminho realmente alentador diante de tão
poucas opções. “Virar artista”, portanto, não satisfaz apenas o inte-
resse na exposição midiática e no glamour dos bastidores da gravação,
uma das razões também bastante justificáveis para a entrada no show
business, já que essa é uma das maneiras mais comuns para o reco-
nhecimento dos pares e o renome em nossa sociedade midiatizada
(Coelho, 1999). Os rendimentos tornavam-se gradativamente mais
Vida e grafias - miolo.indd 243 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
polpudos conforme Índia adentrava o mundo artístico e efetivamente
garantiam melhores condições de vida para ela, sua mãe e filhas.
Graças aos olheiros, Glória chegou à Discoteca do Chacrinha no ano
de 1969 já como dançarina. Ela ocupou espaços periféricos no palco,
principalmente no fundo, durante cerca de dois anos, quando nem
nome artístico tinha. Nesta época, vivia apenas da dança. Muitas
de suas amigas chacretes de renome já trabalhavam por ali quando
ela chegou. Vera Furacão, Sandra Mattera e Loira Sinistra haviam
“ganhado nome” anos antes e deitado na fama quando Glória entrou
para o Chacrinha. Chegara, então, a sua hora! Apenas depois de seu
batismo como Índia Potira sua carreira artística deslanchou, podendo
ser considerada sem sombra de dúvidas a grande chacrete dos anos
1970 e até hoje uma das mais lembradas pelos fãs e pelas narrativas
contemporâneas sobre a televisão desse período. Mas, afinal, como
se teceu o renome de Índia? Quais as razões de seu sucesso em parti-
cular? Por que é sempre lembrada em detrimento de inúmeras outras
chacretes?
Ser tipicamente brasileira
Voltemos à revista O Cruzeiro, pois Glória Maria nunca foi tão indí-
gena como naquela publicação. Tanto na capa quanto nas fotografias
internas, o fotógrafo Fernando Seixas fez questão de valorizar o apelo
sensual da jovem através de imagens que a tornavam o estereótipo
da selvagem sexualizada, bastante recorrente no imaginário erótico
dos brasileiros. Um cocar com penas de cores fortes, inúmeros ade-
reços pelo corpo como colares de dente de onça, armas de guerra em
punho, além de uma curtíssima tanga tapando suas genitálias, mas
que deixavam à mostra o bumbum. Nada tapava os seios, apenas
o longo aplique de cabelos negros estrategicamente posicionados
impedia com que a revista “da família brasileira” beirasse os tão cri-
ticados periódicos eróticos que começavam a pulular pelas bancas de
forma sorrateira, fugindo da censura federal. As narrativas tecidas
em O Cruzeiro sintetizam em palavras de enaltecimento uma pos-
sível razão para seu grande sucesso, aquilo que seria constantemente
formulado em torno de sua persona na imprensa em geral ao longo
dos anos de sucesso: a combinação de uma beleza “estonteante”,
“exótica”, “tipicamente brasileira” com a dedicação à maternidade e
à família, o amor às suas duas filhas.
“Nem Índia, nem Potira. Mas simplesmente Glória. Santificada de
Maria. Exótica e bela. Vinte e quatro anos caindo de madura. Cheiro
de flor. Gosto de araçá do mato. Corpo pra ninguém botar defeito.
Vida e grafias - miolo.indd 244 3/9/15 7:38 PM
Por uma etnografia dos artistas populares
Foto interna e de página inteira de Índia Potira na revista O Cruzeiro em abril de 1972
Vida e grafias - miolo.indd 245 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
Um marido que já era. E duas filhas – filhas dele –, Cláudia e Con-
suelo, que sustenta com o amargo suor de seu trabalho disciplinado.
O que não é fácil na selva dos homens. Primeiro, como garçonete de
pensão familiar de subúrbio. E tome cantada. Depois como bailarina.
E tome paquera. ‘Sabe lá o que é driblar pingo d’água sem molhar a
cuca?’”
(O Cruzeiro, p.86, n.15, abril de 1972)
Todo o texto do repórter Geraldo Romualdo exalta a beleza de Índia
enquanto conta a maneira como a jovem entrou para a televisão. Sua
cor de pele garante metáforas para os cheiros e gostos agradáveis que
ela emanaria. Como ironicamente nos lembra Corrêa (1996, p.39) ao
escrever sobre a imagem da mulata, “seria preciso o talento de Lévi-
-Strauss para fazer o inventário da rica coleção de ervas e especiarias
utilizadas nas metáforas dos cheiros, gostos e cores evocados nas frases
nas quais a mulata é sujeito”. O título da matéria é por si emblemático:
“Um jeito de índia.” Toda a sua trajetória é narrada como se o brilho
que ela emana fosse algo inapagável, força em si mesma disruptora de
qualquer tentativa de obscurecê-lo, uma vez que singularizar-se seria
uma característica natural dos sujeitos taxados ao estrelato, nascidos
para brilhar. Só com sua beleza a “deusa” Índia abria-se para a fama
e encantava seus súditos por onde quer que passe. “Eram mais de cin-
quenta candidatas. Tirou nota dez. Sem pistolão e outros recursos”,
exalta o texto de Romualdo, consagrando-a “gênia” da dança. Os
produtores se “apaixonavam” e sempre a selecionaram para ocupar
posições de destaque nos programas de que participou.
A chacrete tem a sua cor intensamente sexualizada na repor-
tagem e associada a outra marca nacional: o café. Ao final do texto,
de maneira apoteótica, indica-se que a chacrete é muito para o
nosso país e começaria a se envolver com uma “viagem importante”
e “profissionalmente decisiva”. Índia estaria contratada para um
grande show de propaganda do café brasileiro pelos Estados Unidos
e Europa. A viagem nunca viria a ocorrer, revelou-me a chacrete. Na
verdade, era mais um blefe marqueteiro, daqueles cujos propósitos
buscam valorizar a pessoa famosa, dando a ela um sentido de unique-
ness perante as demais.
A associação de Índia ao café correspondia às aproximações
constantemente feitas da jovem na imprensa popular da época às
“brasilidades”, um movimento típico do ufanismo e patriotismo da
década de 1970 acerca das “coisas nossas”, valorizando o que havia
de original e diferente em nosso país. Em alguma medida, o renome
de Índia reflete esse “interesse pelas coisas brasileiras” que, segundo
Vianna (1995, p.28), seria reflexo de um longo processo histórico de
Vida e grafias - miolo.indd 246 3/9/15 7:38 PM
Por uma etnografia dos artistas populares
“invenção da tradição” que teve força ao longo do século xx no país.
O samba, a feijoada, o café e a mulher miscigenada são inventados
e ressignificados como sendo nossas verdadeiras raízes, passando de
símbolos malditos a elementos nacionais e, precisamente nos anos
1970, até mesmo oficiais. Índia merecia ser exaltada por ser síntese de
brasilidade, um elemento definidor da nação. Seu corpo é produzido
na mídia em uma performática imbricação de feminilidade, raça
e origem nacional. Chacrinha chegava até mesmo a chamar Índia
Potira de um segundo apelido, a “Rainha da Transamazônica”. Sua
fama era tanta que lhe permitia ter um apelido para o apelido.
Dentre inúmeras mulheres tidas também como “boazudas” no
programa, Glória se destacou por sua beleza classificada de “exótica”,
pela forte construção da jovem como expressão do “projeto mestiço”
bem-sucedido do país, de “mulher tipicamente brasileira”, assumindo
e explorando a associação bastante íntima entre sua cor de pele e uma
feminilidade que se faz nacional. Piscitelli (2002, p.220) afirma que a
exotização acaba por inferiorizar a “diferença” em certos contextos
eróticos, se construindo constantemente através de certo grau de esteti-
zação, como esses das narrativas escritas e fotográficas de O Cruzeiro que
intencionalmente exageram a “condição indígena” de Glória. Meio
mulata, meio índia, meio Brasil. Ao mesmo tempo, lembrando Corrêa
(1996, p.39), graciosa, dengosa, portanto, bastante desejável. A persona
midiática de Índia Potira é tecida no cruzamento exitoso de gênero,
cor, sexualidade e nacionalidade, fina tessitura que tem na literatura da
corte, bem como no rádio (primeiro) e na televisão (depois) um impor-
tante instrumento de divulgação desse articulado imaginário a partir
da cidade do Rio de Janeiro. “A imagem de Gabriela [personagem
principal do livro homônimo de Jorge Amado] é, muito provavelmente,
mais aquela projetada pela Rede Globo do que a imagem textual do
romance que leva seu nome” (Corrêa, 1996, p.40). Glória se faz Índia
Potira no cruzamento desses marcadores, reverberando em uma forte
exotização de sua persona no contexto da imprensa dos anos 1970.
Para se perceber essa construção midiática do sucesso de Índia
como símbolo do Brasil, podemos constatar que umas de suas marcas
registradas nos palcos – ou que pelo menos se fez mais registrar
publicamente, já que danças e passos específicos singularizam uma
chacrete, buscando cada uma um “estilo” próprio – era o exímio
samba no pé. Índia é vista como dona de um “rebolado cadenciado”,
“especialista em rebolar ao som de sambas bem rápidos” e com quem
“o samba é bem quente mesmo”. Índia foi também uma grande
passista de carnaval e desfilava como destaque de chão em escolas de
samba como a Beija-Flor de Nilópolis e a Unidos de Vila Isabel, que
no início dos anos 1970 disputavam os títulos por meio de enredos
Vida e grafias - miolo.indd 247 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
Reportagem avulsa do acervo de Índia que nos mostra uma maneira recorrente como
a chacrete era apresentada na imprensa
Vida e grafias - miolo.indd 248 3/9/15 7:38 PM
Por uma etnografia dos artistas populares
bem comuns à época, a saber, valorizando a história nacional oficial
e o desenvolvimento econômico do país. Em reportagem sobre um
desfile do qual participou, Glória é descrita como um dos integrantes
da Beija-Flor cuja fantasia de índia fazia “alusões ao Brasil de hoje”,
vindo próxima às alas sobre a “Transamazônica, as comunicações
e as riquezas naturais, como o café, a banana etc”. Os dois mil in-
tegrantes a desfilar naquele dia na Presidente Vargas “procuraram
mostrar o Brasil de hoje e de amanhã, com o otimismo definido no
samba-enredo: ‘Com a miscigenação de várias raças/somos um país
promissor’”. Se houve uma chacrete que mais se fez no carnaval
carioca da época que exaltava as “coisas nossas”, o Brasil mestiço e
alegre, que crescia e se expandia para o mundo inteiro ver, essa cha-
crete foi Índia Potira.
Na verdade, ao longo de sua carreira artística, Glória sempre
trafegou fazendo uso instrumental de sua cor de pele para conseguir
dinheiro e destaque. Índia foi negra quando, um pouco antes de entrar
no Chacrinha, era backing vocal no grupo de soul As Gatas. Nos pri-
meiros e últimos anos de dançarina, antes e depois da fama, foi mulata
e fez disso literalmente uma profissão (Giacomini, 2006), compondo
grupos de dançarinas como as Mulatas do Sargentelli e as Mulatas
Tipo-Exportação. Índia foi só indígena mesmo quando trabalhou para
Chacrinha, revelando por meio dessa trajetória a fluidez e os matizes
com que os tons de pele são classificados e ressignificados em nosso
país a partir de uma alocação situacional, ainda mais nesses contextos
do mercado erótico regido por um alto grau de mercantilização e uma
permanente valorização do novo, do diferente (Piscitelli, 2007, p.28).
Para alguém que estava “dando nó em pingo d’água”, Glória precisou
ser negra, mulata e índia conforme as necessidades do momento e as
conveniências do trabalho artístico-sensual por ela arranjado.
Chacrinha valorizava Glória em seus programas. Sua linguagem
grotesca permitia múltiplas brincadeiras e piadas repletas de duplos
sentidos, incitando-a a todo instante eroticamente. Todas as pilhérias
serviam para remeter à pura sensação corporal, ao sexo in naturis que
emanaria da chacrete construída como indígena. Certa vez, decidiu
fazer mais um daqueles seus famosos concursos, nomeando-o “Índia
quer apito!”. A proposta era que homens levassem um apito ao pro-
grama. O mais bonito ganharia o concurso. Simples assim. Anunciava
ele a seus leitores em Amiga:
“A famosa Índia Potira – poucos sabem que seu nome é Glória Maria
– fez suas confidências: disse que seu maior desejo é tocar um apito,
conforme fizeram outros índios, seus antepassados. Mas, para a sua
infelicidade, só falta o apito. Por isso, o Chacrinha já bolou outro con-
Vida e grafias - miolo.indd 249 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
curso. Vai dar um milhão para quem levar o apito mais bonito. A
única jurada será esta bela Índia, que pelo que parece, entende muito
de apito. Mas, enquanto não começa este concurso vocês poderão ver
o concurso dos calouros, e também a final do mais belo penteado na
Buzina de logo mais.”
(1972, n.129, p.46)
Ser mãe solteira
Por sua vez, se a chacrete representava supostas particularidades sen-
suais oriundas da miscigenação brasileira, era também emblema de
seu povo e, principalmente, das mulheres que o compunham. Uma
das formas para a construção do renome de Índia era tão ou mais im-
portante que suas corporalidades estimuladas eroticamente na mídia:
ela era mãe, uma característica pouco comum entre as dançarinas.
Uma ou outra tinha filho naquele período. Assim, toda sua persona mi-
diática é também gerida fazendo constantes alusões a esse aspecto de
sua vida privada, ao fato de trabalhar dançando em prol das garotas,
“que sustenta com o amargo suor de seu trabalho disciplinado”, como
dito em O Cruzeiro. “Mulher guerreira”, “mulher que luta” repre-
sentam expressões comumente associadas à Índia na imprensa, que
também teria em si, seguindo tais narrativas, o melhor do que existe
nas inúmeras mulheres das camadas populares das grandes metró-
poles do Brasil: o amor materno.
No mesmo ano da matéria de O Cruzeiro, Glória apareceria em
Amiga ao lado de suas filhas, com uma imensa foto delas abraçadas em
meio a brinquedos comprados pelo trabalho na tv. De maneira bas-
tante semelhante, a chacrete começa sendo descrita como uma mulher
“linda”, de “corpo flexível”, “movimentos graciosos”, “esguia”, “pele
cor de jambo” e “cabelo liso”. Em seguida, o texto de Jacyra Santana
sugere que Índia seria “mulher de dois amores”, aos quais “dedica
iguais cuidados” e por quem “nutre o mesmo ciúme”. Na verdade,
a repórter procura indiretamente sugerir ao leitor uma divisão da
“boazuda” entre dois amantes para se descobrir, ao final do texto, estar
ela apaixonada mesmo por suas duas filhas. Glória enfatiza que todo
o seu esforço caminha no sentido de dar a elas melhores condições de
vida. “Preparo para elas uma vida mais suave do que a minha. Não
quero que passem pelo que passei.” “Dou às minhas meninas coisas
que eu não pude ter”. Cláudia, na época com 9 anos de idade, diz que
pretendia ser professora de línguas. Consuelo, aos 7 anos, manifesta in-
teresse em ser bailarina como a mãe. Glória enfatiza estar batalhando
para “tirar a ideia da cabeça dela”. “Danço mais dois anos e parto
para outra. O negócio é ganhar dinheiro para Cláudia e Consuelo”
Vida e grafias - miolo.indd 250 3/9/15 7:38 PM
Por uma etnografia dos artistas populares
(Amiga, 1972, n.111). Cerca de alguns meses depois da reportagem, uma
jovem leitora de Amiga em Manaus, chamada Ana, enviava carta à
redação dizendo-se fã da revista e solicitando “uma capa com a supe-
rincrementada Índia Poti e suas filhas” (Amiga, 1972b).
Tal experiência de ser uma mãe solteira, a princípio, pode gerar
inúmeros entraves sociais e estigmas às mulheres nessas condições.
Os comentários da vizinhança e a dificuldade em arranjar trabalho
são geralmente algumas reclamações das “mães solteiras” em certos
grupos de camadas populares (Salem, 1981; e Sarti, 2003). No entanto,
a situação um tanto vergonhosa pode servir também como aciona-
dora de um código de honra feminino, quando o “erro” é revertido
pela mulher por meio de uma “chance de reparação” (Sarti, 2003,
p.75), dando a ela a possibilidade de enfrentar as consequências de
não ter tido uma vida convencional ao lado de um parceiro fixo. A
jovem mãe passa a ter um novo estatuto perante os familiares, bem
distante daquele mais subordinado que sua idade e condição de
gênero permitiam até então (Duarte & Campos, 2008, p.258). Ter os
filhos e conseguir criá-los por meio do trabalho após o casamento é a
razão para o orgulho de Índia na imprensa, mostrando que a “mãe
solteira” é digna do respeito supostamente perdido pelo comporta-
mento inadequado ou pela ausência do marido ao seu lado. Faz-se uso
de uma condição a princípio estigmatizada como forma de construir
sua persona midiática, garantindo certo sucesso através da constante
menção e repetição nos veículos de comunicação de um fato da vida
privada, ser mãe. “O trabalho para sustentar o filho redime a mulher,
que se torna a mãe/provedora. Subordinado à maternidade, o tra-
balho confere à mulher a mesma autonomia moral que é reconhecida
no homem/provedor/trabalhador” (Sarti, 2003, p.76).
A ocupação de dançarina é sempre encarada como atividade
temporária, apenas para se “fazer um trocado”, na medida em que
além de ser extremamente instável, ela é perpassada por uma aura
de preconceitos que faz com que muitas delas tenham o fim da car-
reira sempre em eminência (Bispo, 2012). Tanto que se vai e volta
ao mercado da dança com certa frequência, obedecendo ao fluxo
de novas perspectivas de trabalho articuladas aos momentos da vida
privada (conjugalidades, amores, família etc). Assim, assumir o papel
de mãe, ou melhor, gerir a persona midiática em torno do fato de ser
também mãe, para além de uma mera “boazuda”, uma índia sexua-
lizada, é uma forma de amainar a forte carga negativa que as danças
eróticas incutem às girls. Na mídia, Índia sempre se mostrou como
mãe cuidadosa e responsável por seus deveres enquanto mulher. In-
vestiu em uma imagem de mulher jovem, bonita e carregada de filhos,
que preferiu o trabalho ao ócio ou depender de um marido.
Vida e grafias - miolo.indd 251 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
Mas essa justificativa de fuga do estigma não nos é suficiente
para compreendermos a persona midiática maternal de Índia. Isso
porque as chacretes são formuladas dentro de um contexto de marke-
ting televisivo. Suas performances obedecem, portanto, a uma estratégia
comercial. Através de gestos, movimentos sutis, olhares para a câmera
e pequenos passos de dança, as bailarinas televisivas supostamente
se comunicavam com o telespectador masculino e os convidavam a
compartilhar a tv com as mulheres de sua casa, o “público-alvo”
dos programas de auditório como os de Chacrinha (Mira, 1985,
p.67). A formulação dessa lógica não se faz aleatoriamente. Os anos
1970 foram o grande momento do aprimoramento das pesquisas de
mercado e o fortalecimento do setor publicitário brasileiro, princi-
palmente por meio da televisão (Almeida, 2006, p.7). Interpretações
como estas da “função” das chacretes em “atrair homens” que “não
assistem a programas de auditório” emergem de conclusões feitas
pelos produtores e publicitários da tv a partir dos resultados de tais
pesquisas. Assim, nessa época, várias emissoras brasileiras começaram
a fazer uso mais constante de procedimentos técnico-científicos a fim
de mensurar a audiência de seus programas por meio da construção
de “perfis típicos” de telespectadores, que se tornavam “interlocu-
tores ideais imaginários” (Almeida & Hamburguer, 2004, p.118) com
os quais os produtores buscavam dialogar para formular o conteúdo
da grade de programação e vender a audiência conquistada aos
anunciantes – estimulando o consumo televisivo por meio de recortes
de gênero, de classe e de idade, principalmente. Portanto, é preciso
trazer à tona tais categorias e reflexões êmicas a fim de compreender
os sentidos da ocupação de dançarina televisiva a partir dessas lógicas
comerciais e a necessidade de se articular a persona midiática de uma
dançarina à maternidade.
De acordo com tais pesquisas mercadológicas, os tipos de pro-
grama da tv preferidos das mulheres de camadas populares são, em
ordem de preferência, as novelas, os programas de auditório, os mu-
sicais e os humorísticos. Já os homens destes mesmos “segmentos de
mercado” prefeririam os jornais, os humorísticos e os filmes, respec-
tivamente (Mira, 1985, p.67). Nota-se que nestes saberes constituídos,
os homens não demonstrariam maiores interesses nos programas de
auditório e nas telenovelas, transformando tais conteúdos em algo
majoritariamente feminino. Assim, as chacretes, por meio de danças
sensuais e a exibição do corpo, teriam a “função” de buscar reverter
essa situação, partindo-se do pressuposto de que os homens podem ser
conquistados para frente da tv e transformados em consumidores
por meio do erotismo.
Além dos óbvios reducionismos da diversidade de pessoas que
Vida e grafias - miolo.indd 252 3/9/15 7:38 PM
Por uma etnografia dos artistas populares
assistem à tv – transformando a audiência em uma massa homo-
gênea – tais pesquisas que tipificam os gostos das camadas populares
corroboram para a reprodução de uma série de discursos normativos
que partem de concepções hegemônicas acerca da classe, do gênero,
da sexualidade e de outros marcadores da diferença presentes em
nossa sociedade. A família heterossexual e o domicílio onde residem o
casal com seus filhos é o eixo estruturante de tais análises, onde cada
um dos cônjuges possuiria interesses claramente opostos, porém, com-
plementares, obedecendo a uma diferenciação de gêneros tida como
natural. A “família brasileira” é a instituição receptora da mensagem
televisiva, em que predominam certas relações sociais recorrentes
(filhos que estudam, homens que trabalham e mulheres que cuidam
da casa) e princípios morais específicos que não devem ser confron-
tados, mas, sim, valorizados.³ A família como entidade máxima não
impede que seus componentes sejam vistos de maneira mais individu-
alizada por esses produtores. “A tv interpela o espectador enquanto
indivíduo-membro da comunidade familiar, reunida na parte da casa
onde se concentra a atividade coletiva.” (Sodré, 1984, p.58) Um pro-
grama agrada mais às esposas do que aos maridos de certo núcleo
domiciliar e vice-versa, cabendo aos programadores saber lidar com
tal polaridade por meio de estratégias que procuram fazer com que
o casal assista harmoniosamente à certa programação e/ou que ele
tenha uma diversidade de opções de entretenimento.
Para além dessa centralidade da família na mensagem televisiva,
mas diretamente dialogando com tal pressuposto, há uma nítida fe-
minilização da audiência nos discursos dos produtores e anunciantes
de modo geral. A audiência televisiva seria predominantemente fe-
minina, gênero este também tradicionalmente associado ao consumo
(Almeida, 2002, p.181). A programação deve ser capaz de captar a
atenção de tais donas de casa pela sua capacidade de arregimentar
o que toda uma família é capaz de consumir, sendo agradada em
seus gostos e interesses pelos formuladores do conteúdo televisivo,
tornando-a a imagem do que seria o típico telespectador.
Indo ao encontro do hegemônico argumento da centralidade
familiar e da feminilização da audiência televisiva, as donas de casa
3 Analisando periódicos voltados para o mercado publicitário na tv, Almeida (2006)
destaca que os profissionais desse meio estão atentos às mudanças sociais referentes à
maior participação das mulheres no mercado de trabalho, mas costumam interpretar
tal fenômeno como uma mera exigência de complementação de renda. Assim, mesmo
trabalhando, as mulheres são sempre as donas de casa, aquelas que estão a todo tempo
consumindo e que saem dos lares por mera imposição externa. “Percebe-se, assim,
uma arraigada associação entre mulher, compras, impulso afetivo de comprar, mas
também com quem compra e cuida do lar, dos filhos, e mesmo das roupas e bens do
marido” (Almeida, 2006, p.19).
Vida e grafias - miolo.indd 253 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
são interpretadas por essas pesquisas como aquelas do núcleo familiar
que mais gostam dos programas de auditório de Chacrinha. Mas esses
dados são carregados por inúmeras impressões e interpretações com-
portamentais da parte dos produtores do programa, na maioria das
vezes nunca verificadas “cientificamente”. Por exemplo: as dançarinas
como as chacretes buscam chamar a atenção dos dispersos maridos
para a atração que as esposas tanto gostam e não manteriam qual-
quer diálogo mais direto com elas. O pressuposto de um antagonismo
no casal se encontra nos argumentos dos produtores, baseando-se
mais em suas percepções e sensibilidades pessoais do que no alcance
das pesquisas desenvolvidas, que nunca chegaram a medir precisa-
mente o “efeito chacrete” nos lares brasileiros. Portanto, tal sentido de
“função” de um recurso audiovisual e seu “efeito” nos lares é criado
pelos próprios produtores televisivos a partir de suas práticas, partindo
de interpretações, vivências e representações próprias para chegarem
a formular a máxima que justifica o uso das chacretes, “segurar a
audiência masculina”. Assim, o conflito conjugal traria consequên-
cias positivas, no final das contas. Ao exibir “o tipo de mulher que
o pessoal [homens] lá em casa gosta”, as chacretes também seriam
alvos da implicância da maioria das telespectadoras, assistindo supos-
tamente a toda essa fartura pela televisão de suas casas de maneira
incômoda e crítica, cheias de “inveja” das dançarinas. Todavia, não
desligariam a tv porque além da atração possuir inúmeros outros
quadros que a agradariam em cheio, elas precisariam controlar os
maridos encantados pelas dançarinas. O argumento das donas de
casa invejosas e dos maridos enfeitiçados pelas girls é constante no
âmbito da produção de Chacrinha. O apresentador certa vez escreveu
sobre o casal telespectador imaginário que tanto procura agradar e
sobre os efeitos que as chacretes teriam em suas vidas:
“Certos homens têm muita raiva de mim, assim como suas mulheres.
E eu vou explicar o porquê. Os homens ficam se mordendo por causa
das chacretes. Daí a inveja, o despeito, porque gostariam de estar
no meu lugar. Eles pensam mais ou menos assim: “Este velho deve
passar na cara todas essas mulheres.” E as mulheres que não têm o
que fazer, que não têm ocupação a não ser o forno e o fogão, ficam
umas ‘araras’ quando olham para a tv e vêem as chacretes – as mu-
lheres mais quentes do Brasil – dançando e mostrando sua beleza.
Essas mulheres que têm ódio das chacretes, que vivem criticando-as,
são feias, gordas, mal-amadas e só têm relações sexuais uma vez por
ano (quando têm!). É por isso que elas têm despeito das chacretes e
formam uma concepção errada das nossas bailarinas.”
(“Chacrinha por dentro e por fora”, Homem, n.29, v.2, p.23, 1980)
Vida e grafias - miolo.indd 254 3/9/15 7:38 PM
Por uma etnografia dos artistas populares
Então, a partir de uma série de pesquisas que a princípio verificam
apenas que as donas de casa são quem realmente veem os programas
de auditório, a presença das chacretes passa a ser pensada como
uma incitadora de conflitos conjugais pela equipe televisiva e, con-
comitantemente, elemento de aproximação do casal. As girls geram
sentimentos como “ódio”, “inveja” e “despeito” e acabam por inco-
modar as donas de casa, que no final das contas devem ser sempre
agradadas por serem o principal público do programa. Chacrinha
acusa telespectadoras de serem “gordas”, “feias” e “mal-amadas” por
supostamente manifestarem desprezo pelas chacretes. Suas reflexões
partem de observações cotidianas e interpretações dos números das
pesquisas. Ainda de acordo com tal imaginário, diante de inúmeras
mulheres “que roubam homens” dançando, cabe à dona de casa ficar
mais atenta ainda ao seu programa de auditório favorito e impedir que
uma “da vida” leve o seu marido embora. Sentados juntos no sofá,
cada um observando elementos distintos do mesmo programa de audi-
tório, a tv geraria maior aproximação entre os cônjuges.
Portanto, pensando em termos de estratégia de marketing – se-
guindo essas lógicas comerciais com que são formulados os programas
televisivos e a “função” das chacretes no vídeo –, existe um argumento
bastante defensivo do mundo publicitário da tv que faz com que seus
constituintes evitem confrontar certos “valores” que entendem como
constitutivos dessa “família brasileira” sentada na poltrona e diante
da tv, atitude esta que poderia provocar danos à “imagem” de seus
programas e produtos a serem vendidos. Dessa maneira, “há tabus
que devem ser respeitados e esses tabus se encontrariam basicamente
no reino da moral e dos bons costumes” (Almeida & Hamburger,
2004, p.127). Temáticas sexuais como mulheres rebolativas, por
exemplo, devem ser cautelosamente abordadas de forma a evitar o
suposto incômodo do telespectador. Afinal, não são girls de boate e
casas noturnas, mas, sim, dançarinas que invadem os lares brasileiros,
dançando em plena sala de estar. Se ela dança, é sempre pela família,
fique bem claro. Assim, investir na dançarina-mãe amaina qualquer
problema de caráter moral que elas venham a suscitar nos lares, além
de dialogar com a unidade fundamental para quem os programadores
pensam estar fazendo tv, o núcleo familiar. Além disso, mostrar uma
chacrete-mãe é também buscar estimular alguma aproximação do
“público-alvo” feminino com as dançarinas, a quem a princípio teriam
certa resistência. Ser mãe-dançarina é estar o mais próximo possível
da mãe-telespectadora, com ela compartilhando as tensões inerentes
à maternidade, evitando a iminente disputa pelo marido. Ambas se
dedicam aos filhos e fariam tudo por eles.
Ainda em 1972, Chacrinha promoveu no programa o concurso
Vida e grafias - miolo.indd 255 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
da “melhor mãe do ano”. A vitoriosa? Índia Potira, que ganhou cer-
tificado de autenticidade das mãos do apresentador e todas as outras
pompas necessárias para a ode à maternidade. Claudia e Consuelo
compareceram ao palco e foram imensamente aplaudidas. Faz-se
necessário construir uma boa reputação em torno de uma chacrete,
e mostrá-las mãe é um dos melhores caminhos para isso, inclusive
para promover a aproximação e empatia da “boazuda” com as te-
lespectadoras que, a princípio, não se gostam. Teriam elas, no final
das contas, algo em comum. E que fique claro: tudo seria feito com o
consentimento das crianças, as maiores incentivadoras da carreira de
Índia. “Já tinha decidido parar definitivamente, mas resolvi atender
aos inúmeros chamados, principalmente, aos de minhas filhas, que
não entendem esse meu afastamento. Volto para atender a contratos
que me acenam e porque também não me entendo sem dançar” (O
Dia, 16 de dezembro de 1973, p.1).
Concluindo
Assim, dessa forma foram tecidas as narrativas midiáticas sobre Índia
Potira durante seus anos de estrelato e que garantiram a ela alguma
notoriedade: síntese de brasilidade, devido à sua suposta lascívia e
sensualidade, síntese do povo feminino “guerreiro”, pela dedicação
à família e ao trabalho que desempenhava com fervor para sustentá-
-la. Essa foi indubitavelmente de maneira como a persona midiática de
Glória foi gerenciada, passando de dançarina televisiva de pouco des-
taque na tv a uma das mulheres mais exaltadas e desejadas no início
dos anos 1970, o que a faz ser lembrada até hoje enquanto muitas de
suas amigas foram “esquecidas”. Uma conjugação entre ternura e
sensualidade, entre dedicação e furor sexual, de puta e mãe dadivosa,
mulher de um “romantismo que tem algo de vulcânico”. Essa conju-
gação de opostos tornou-se seu diferencial, sua grife, circulando pela
imprensa em geral por meio dessa personalidade que é, no final das
contas, nos diz Martinez (2004, p.220), “uma personalidade-imagem-
-representação”, já que estamos diante de um discurso unificado
sobre um determinado sujeito que produz em torno dele um perso-
nagem midiatizado, construído a partir de uma série de elementos
aleatórios como a aparência física, sua postura, sua cor de pele, sua
vida pessoal, sua experiência como mãe etc.
As narrativas jornalísticas projetam ao público uma imagem
bastante específica de Glória Maria, tecendo ao seu redor uma
espécie de marca registrada, combinando elementos de sua atividade
profissional – a dança sensual, o samba – com sua vida íntima, o
fato de ser mãe de duas meninas. Sobral (2011) percebe também que
Vida e grafias - miolo.indd 256 3/9/15 7:38 PM
Por uma etnografia dos artistas populares
no cinema hollywoodiano hegemônico essa associação entre vida
pública e privada é imprescindível ao sucesso. A Índia Potira é uma
personagem delineada, individualizada por traços bem particulares.
O sujeito-persona no contexto da indústria cultural é reduzido há um
conjunto de poucas características, cuja homogeneidade tem o real
propósito de torná-lo mais conhecido e palatável ao público. O artista
é assim alojado na estrutura da produção televisiva e destacado em
um mercado do entretenimento repleto de outras pessoas também
interessadas na projeção midiática por meio de tais marcações distin-
tivas, que acabam soando em alguma medida como etiquetas para
uma fácil identificação. Por meio das narrativas escritas sobre Índia
Potira na década de 1970, só sabemos ser ela uma “boazuda” e mãe
dedicada. Nada mais.
Diz-se que foram mais de quinhentas chacretes ao longo de vinte
anos a passar pelo programa de Chacrinha e, logo, singularizar-se
perante essa alta rotatividade não era tarefa das mais fáceis. Todas
se especializaram em projetar ao público a imagem de superfêmea, de
mulher erotizada, quase uma devoradora de homens. Era preciso,
porém, ir além disso, seja destacando particularidades corporais delas
(como ser “tipicamente brasileira”), seja por meio da revelação de
traços de sua vida privada (ser “mãe solteira”). Temos nas narrativas
jornalísticas, portanto, uma identidade homogênea de cada dançarina
sendo tecida de maneira constante, de matéria em matéria, reiterada
até a sua (possível) exaustão. Toda aparição delas é uma repetição
performática de uma especificidade imagética. Desde seu primeiro
mise-en-scène artístico, o sujeito-persona será assim encenado a todo o
momento nos veículos de comunicação que lhe permitirem algum
destaque, até o momento em que seu desgaste favoreça a emergência
de novas e diferenciadas personas ou uma tentativa de reformulação
desse tipo social desgastado (Sobral, 2011, p.645).
Foi incentivando essa ambiguidade, a fricção desses contrastes
que, no total, Índia viveu nove anos exclusivamente da carreira
artística, seja dançarina, backing vocal, fazendo pontas, cantando,
interpretando. Carreira essa trilhada durante boa parte da década
de 1970, período de maior conforto e estabilidade financeira tanto
para ela quanto para sua família em toda a sua vida. Desses anos ar-
tísticos mais intensos, considerando que “ganhou nome” no ano de
1971, viveu exclusivamente de Índia Potira por cerca de sete anos, até
1978, quando decidiu interromper a carreira. Porém, a quantidade
de matérias no acervo de Índia sobre ela mesma, bem como o meu
levantamento da revista Amiga, apontam para os anos de 1972 e 1973
como seu ápice, período em que foi a mais comentada das chacretes
na imprensa. Todas as mudanças na vida de sua família, por exemplo,
Vida e grafias - miolo.indd 257 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
se deram nesse curto período de dois anos, quando o dinheiro caía de
forma intensa em seus bolsos e a “vida mudou da água para o vinho”.
Índia faturou muito quando ficou famosa por meio dessa persona
midiática, retirando dela todo o proveito possível até seu desgaste ao
final dos anos 1970. A imprensa costuma dizer que ela foi a chacrete
que mais ganhou dinheiro dançando na tv. O sucesso garantia a
exigência de cachês para fotografar para jornais, revistas, fazer foto-
novelas etc. Glória também virou cantora de marchinhas de carnaval,
lançando o sucesso Índia Botucatuca em 1974. Fez também, em menor
proporção, algumas peças do teatro de revista, como Vem de ré que eu
estou de primeira, de Tarso de Castro, protagonizada por Leila Diniz
na boate Number One – espaço muito frequentado por artistas da
época e onde outros convites surgiam para a jovem, inclusive para se
prostituir. Ligada a Puma Produções, dos filhos de Chacrinha, Índia
fez também inúmeros shows pelo Brasil todo. Às vezes ia com outras
chacretes, mas na maioria das vezes ia sozinha. Se alguém queria
contratar um grupo de dançarinas do Velho Guerreiro para uma
apresentação, ela com certeza tinha que estar no meio. Todos queriam
Índia! Não parava quieta em casa. Aliás, era seu o passe de dançarina
mais caro nessa época. Sua presença valia mais do que as das amigas,
apesar de receber o mesmo valor que as outras pelos shows que fazia (a
produção ficava com todo o lucro que Índia gerava).
Assim, inaugurou muitas praças, fez muitas aberturas de festas po-
pulares, lançou muitos produtos regionais pelo Brasil afora. Junto a um
profissionalismo elogiado até hoje pelos filhos de Chacrinha – presença
constante, honrava compromissos, empenho na dança, disposição em
dialogar e aparecer na mídia –, conseguiu incrementar bastante seus
rendimentos no início dos anos 1970. Sem falar nas demais formas
de impulsionar o acúmulo financeiro gerado pela sua imagem hiper-
feminina: não se fez de rogada e fez muitos programas de luxo – no
auge, cobrando de um único cliente o que ganhava em dois meses no
Chacrinha –, sem falar dos presentes (joias, roupas, viagens, almoços
etc) que conseguiu de muitos “velhos babões”. Sempre aproveitou tudo
que era oferecido e deixava muito pouco passar. Diz hoje que lem-
brava da infância pobre, das poucas oportunidades de trabalho sendo
“mãe solteira”, do seu direito de nunca negar a si mesma a possibili-
dade de ganhar algum trocado de forma honesta, até mesmo através
do sexo pago. Quando se falava de mulher bonita no início dos anos
1970, falava-se necessariamente de Índia Potira. Durante esse tempo,
ela foi um dos maiores sex symbol do país no contexto das artes comer-
ciais populares e, sem sombra de dúvidas, fez muito sucesso com isso,
principalmente por ter orquestrado em torno de si uma persona midiá-
tica de mulher “boazuda”, porém, mãe de família.
Vida e grafias - miolo.indd 258 3/9/15 7:38 PM
Por uma etnografia dos artistas populares
Referências
Amiga, n.129, p.46, acervo Biblioteca Nacional, 1972a
Amiga, n.131, p.54, acervo Biblioteca Nacional, 1972b
Amiga, n.247, p.36, acervo Biblioteca Nacional, 1975c
Raphael Bispo, “Gênero e carreiras artísticas na emergente indústria cultural brasi-
leira”, Comunicação e Sociedade, v.21, p.79–94, 2012
Heloísa Buarque de Almeida, “Melodrama comercial: reflexões sobre a feminilização
da telenovela”, Cadernos Pagu, n.19, p.171–194, 2002
–, “Nas ondas do mercado: a pesquisa de audiência de TV”, Anais do 30º Encontro
Anual da Anpocs, Caxambu, 2006
Heloisa B Almeida & Esther Hamburger, “Sociologia, pesquisa de mercado e sexua-
lidade na mídia: audiências × imagens”, in: Adriana Piscitelli, Maria Filomena
Gregori, Sérgio Carrara (organização), Sexualidades e Saberes: convenções e fron-
teiras, Rio de Janeiro: Garamond, 2004
Maria Cristina Bruschini & Fúlvia Rosemberg, “A mulher e o trabalho”, in: Adriana
Piscitelli, Maria Filomena Gregori & Sérgio Carrara (organização), Trabalhadoras
do Brasil, São Paulo: Brasiliense, 1982
“Chacrinha por dentro e por fora”, Homem, n.29, v.2, p.23, acervo da Biblioteca Na-
cional, 1980
Maria Claudia Coelho, A experiência da fama, Rio de Janeiro: FGV, 1999
Mariza Corrêa, “Sobre a invenção da mulata”, Cadernos Pagu, n.6–7, p.35–50, 1996
Diário de Notícias, p.15, acervo pessoal de Índia Potira, 9 de novembro de 1973
Luiz F D Duarte & Edlaine de C Gomes, Três Famílias: identidades e trajetórias transgeracio-
nais nas classes populares, Rio de Janeiro: fgv, finep & cnpq , 2008
Sonia Giacomini, “Mulatas profissionais: raça, gênero e ocupação”, Revista Estudos Fe-
ministas, v.14, n.1, p.85–101, 2006
Suely Kofes, Uma trajetória, em narrativas, Campinas: Mercado das Letras, 2001
Fabiana Jordão Martinez, “Experiência e (hiper)corporalidade entre modelos profis-
sionais”, Cadernos do IFCH, n.31, p.211–234, 2004
Marcel Mauss, “Uma categoria do espírito humano: a noção de pessoa, a de ‘eu’”, So-
ciologia e Antropologia, São Paulo: Cosac Naify, 2003
Maria Celeste Mira, Circo eletrônico: sbt, São Paulo: Olho D’Água & Loyola, 1995
O Dia, p.1, acervo pessoal de Índia Potira, 19 de maio de 1993
O Dia, p.1, acervo pessoal de Índia Potira, 16 de dezembro de 1973
Adriana Piscitelli, “Exotismo e autenticidade: relatos de viajantes à procura de sexo”,
Cadernos Pagu, n.19, p.195–231, 2002
–, “Corporalidades em confronto: brasileiras na indústria do sexo na Espanha”,
Revista Brasileira de Ciências Sociais, v.22, n.64, p.17–32, 2007
Reportagem 1 [sem informações], acervo pessoal de Índia Potira
Reportagem 2 [sem informações], acervo pessoal de Índia Potira
Toni Venturi (direção), Rita Cadillac: a lady do povo, 2010
Tânia Salem, “Mulheres faveladas: ‘com a venda nos olhos’”, in: Maria Laura Ca-
valcanti, Maria Luiza Heilborn & Bruna Franchetto (organização), Perspectivas
antropológicas da mulher 1, Rio de Janeiro: Zahar, 1981
Cynthia Andersen Sarti, A família como espelho: um estudo sobre a moral dos pobres, São
Paulo: Cortez, 2001
Luís Felipe Sobral, “O beijo de Spade: gênero, narrativa, cognição”, Mana, v.3, n.17,
p.625–652, 2011
Muniz Sodré, O monopólio da fala, Petrópolis: Vozes, 1984
Hermano Vianna, O mistério do samba, Rio de Janeiro: Jorge Zahar & ufrj, 1995
Raphael Bispo é mestre e doutor em Antropologia Social pelo Museu Nacional/
ufrj. Atualmente é pesquisador do Centro de Estudos Sociais Aplicados (cesap),
vinculado ao iuperj/ucam, e professor substituto assistente no Departamento de
Antropologia da uff.
Vida e grafias - miolo.indd 259 3/9/15 7:38 PM
Edifício Master:
o documentário e a experiência
de vida na metrópole
Ana Lúcia Modesto
A primeira imagem foi gravada pela câmera de segurança do prédio. A
equipe de produção entra pelo portão. Como, em geral, o espectador¹
está acostumado a ver cenas gravadas por câmeras de segurança em
reportagens sobre crimes – aumenta a sensação de algo anormal acon-
tecendo no edifício. Isso é coerente com a visão do diretor, que chama
a si mesmo e a sua equipe de “invasores”. Ao fundo, escuta-se as con-
versas entre os membros da equipe. Parte da equipe entra no pequeno
elevador. São cinco pessoas e duas câmeras. Uma terceira câmera ficou
do lado de fora, e filma quando a porta do elevador se fecha. Agora o
espectador vê imagens dos corredores vazios do prédio. Há uma certa
sensação de claustrofobia. Uma voz em off anuncia:
“Um edifício em Copacabana, a uma esquina da praia. Duzentos e
setenta e seis apartamentos conjugados. Doze andares. Vinte e três
apartamentos por andar. Uns quinhentos moradores. Três equipes.
Alugamos um apartamento por um mês para mostrar a vida do
prédio em uma semana.”
O tema
A presente pesquisa toma como objeto de análise o documentário Edi-
fício Master, de Eduardo Coutinho (2002). Mudando o objetivo inicial
do documentário, que era filmar uma semana na vida de um prédio no
bairro carioca de Copacabana, o diretor preencheu todo o filme com
depoimentos dos moradores, que narram os fatos que julgam impor-
tantes em sua vida. São histórias de vida de “pessoas comuns”, da baixa
1 Sempre que a palavra “espectador” for utilizada, ela se refere à autora do texto.
Vida e grafias - miolo.indd 260 3/9/15 7:38 PM
Edifício Master
classe média, em que nada de “heroico” ou “fabuloso” é contado, mas
que se tornaram importantes para o diretor no desenrolar de seu tra-
balho e, exibido o documentário, fascinante para o público receptor.
Este aspecto motivou a minha busca da compreensão desse efeito.
Neste capítulo, pretendo sugerir uma reflexão sobre o uso do
documentário no levantamento de histórias de vida. Assim, o próprio
método de levantamento de narrativas biográficas vai se transformar
no foco do trabalho deste trabalho. Ou seja, baseada no estudo do
documentário, farei uma breve reflexão sobre sua importância para a
antropologia (e a etnografia), principalmente para os que investigam a
vida metropolitana.
O título do filme, a apresentação, faz com que o espectador com
experiência em etnografia urbana relacione o documentário à obra
A utopia urbana, do antropólogo Gilberto Velho (1973), que realizou
uma pesquisa em um edifício de apartamentos conjugados de Copa-
cabana. O objetivo da pesquisa de Velho era saber por que as pessoas
abriam mão da oportunidade de “viver numa casa, com jardim e
quintal”, para residir em um conjugado de quarenta metros qua-
drados, aproximadamente. A impressão é que o filme é diretamente
inspirado na obra de Velho. No entanto, nos comentários do diretor,
não há nenhuma referência ao livro citado.
Na pesquisa de Gilberto Velho, em razão de seu objetivo, as
questões são dirigidas para a compreensão dos motivos que levaram
o morador a viver em Copacabana. Em sua conclusão, ele veri-
ficou que há uma estratificação imaginária do espaço urbano, que
influencia o comportamento do grupo de pessoas que ele classifica
como white collar, seguindo a terminologia de Mills (1969), ou “estrato
médio urbano”. Os valores que estão presentes nesse estrato social
levam os moradores a escolherem a vida em um bairro considerado
então como “o mais moderno”, “aquele em que há mais liberdade”,
diversão, comércio e, principalmente, um endereço que por si mesmo
atestaria o status social do indivíduo como pertencendo à classe média.
Apesar das condições precárias de moradia, para os habitantes o
bairro é um símbolo de superioridade social, o que compensaria o
mal-estar físico/psicológico.
Eduardo Coutinho, que, conforme afirmei acima, não faz qual-
quer menção ao trabalho de Gilberto Velho, explica sua vontade de
fazer um filme em um edifício em Copacabana para efetuar uma
mudança em relação às obras filmadas por ele até então. Acostumado
com o trabalho em comunidades pobres, ele escolheu mudar seu foco
para um espaço fechado, um prédio de classe média, pela qual, diz
Coutinho, os intelectuais sentem “horror”. Após três semanas de pes-
quisa (entrevistas), foram selecionados os personagens do filme. Cada
Vida e grafias - miolo.indd 261 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
um recebeu um cachê de 50 reais e as gravações foram feitas em uma
semana. Ao contrário das intenções iniciais, que saíram até gravadas
no início do filme, Eduardo Coutinho não gravou a vida do prédio
em uma semana. Ele ocupou todo o tempo do documentário com
entrevistas dos moradores, vendo nesse material biográfico algo mais
interessante do que pensara inicialmente. Embora tenha deixado uma
terceira câmera para mostrar a entrada do prédio, imagens da praia,
episódios cotidianos, essas imagens foram cortadas na montagem
final. A terceira câmera só foi usada no início, para gravar a entrada
da equipe (que o diretor chama de “invasores”) e a entrevista com
o administrador do prédio. Apesar das contradições em relação ao
roteiro original, o diretor se mostrou muito satisfeito com a segunda
escolha, em que os moradores falam sobre suas vidas. A variedade de
depoimentos, ou seja, de pessoas com trajetórias diferentes morando
no mesmo lugar, encantou o diretor e o espectador também.
A decisão de Eduardo Coutinho e a reação positiva ao docu-
mentário chamaram minha atenção para o fato de que a simples
sequência de narrativas de vida, sem qualquer ação, nem mesmo da
câmera – que se reduz à função de captar “cabeças falantes” na maior
parte do tempo –, se torne algo atraente para pessoas. Principalmente
porque o grupo entrevistado nada tem de exótico ou singular. “Um
filme sobre pessoas como você e eu”, diz a frase na embalagem do
dvd, o que poderia ser até considerada negativo para a comercia-
lização. Mas, com quase duas horas de duração, o documentário
prende a atenção do espectador. Vendo a reação fantástica que o
filme tem sobre os meus alunos em aulas de Antropologia Urbana,
percebi que as narrativas de vida de moradores de grandes cidades,
que revelam as especificidades humanas do que normalmente é visto
como uma multidão de seres homogêneos, pode ser considerada,
desse ponto de vista, como equivalente ao trabalho do etnógrafo em
outras e distantes sociedades.
Quais são os efeito do filme de Coutinho sobre o público e em
que medida ele pode contribuir para uma etnografia configurada por
narrativas de vida? Estas são as questões deste capítulo.
O documentário:
conceito utilizado
Falar em personagens quando há referência aos moradores, pessoas
reais, pode dar um ar de ficção ao documentário. Eduardo Coutinho
observa que as pessoas se reinventaram para a gravação em relação
à pesquisa inicial, acrescentaram e omitiram fatos antes citados. Na
visão do diretor, a câmera estimula as pessoas a falarem de sua bio-
Vida e grafias - miolo.indd 262 3/9/15 7:38 PM
Edifício Master
grafia e aumenta sua autoestima. Isso ficará claro no caso de um
depoimento em que um morador agradece pela oportunidade de falar
de sua infância sofrida. Dentro das ciências sociais, usa-se a palavra
“personagem” para aproximar o indivíduo do personagem teatral.
Por outro lado, a expressão de Coutinho não contraria nossa noção
de pessoa (palavra, aliás, que veio do próprio teatro), cara à antropo-
logia. O conceito de documentário que utilizo foi retirado da obra de
Noel Carrol (2005). Após discorrer sobre as dificuldades teóricas de
separação entre documentário e filme de ficção, Carrol aponta uma
posição neorretórica, colocando como fator determinante a pers-
pectiva do autor ao realizar sua obra. No caso do documentário, o
autor o define como “um filme de asserção pressuposta” envolvendo
“uma intenção de sentido por parte do cineasta que fornece a base
para compreensão dos sentidos para o público, assim como uma in-
tenção assertiva por parte do cineasta que serve como base para a
adoção de uma postura assertiva do público”. O cineasta pode inserir
imagens que não reproduzam o real em sentido imediato, quando,
por exemplo, se refere a fatos passados não registrados em filmes. Mas
sua postura é de comprometimento com verdade ou verossimilhança,
contanto que respeite “os padrões de evidência e de argumentação
exigidos para fundamentar a verdade ou plausibilidade do conteúdo
proposional que apresenta” (Carrol, 2005, p.89). O esforço de Carrol
e outros se dá na busca de uma classificação teórica; na prática, o
mercado já produz uma divisão, o que vai influenciar o olhar do
público e separar fantasia de realidade.
No caso do filme de Eduardo Coutinho, há um detalhe inte-
ressante: ele coloca um objetivo no início da narração, e depois
a sequência toma um rumo distinto. Esta mudança no percurso
narrativo, entretanto, não quebra a posição assertiva do público.
O espectador percebe a mudança ocorrida, mas para ele isso não
compromete a plausibilidade do filme. Quando se torna ciente dos
motivos do diretor, o espectador concorda com ele: o conteúdo do
filme é mais interessante que imagens da praia de Copacabana ou
uma discussão na frente do prédio.
Narração e cortes:
o prédio e suas transformações
Vera:
“Vim para aqui com 1 ano… Já morei no 803, no 715, no 714, 306,
morei no 117. Vinte e oito apartamentos… A nossa vida era de cigano,
mas sempre dentro do edifício… Vou falar primeiro de uma maneira
Vida e grafias - miolo.indd 263 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
geral. Aqui já foi um antro de perdição muito pesado. Houve suicí-
dios, houve morte de porteiros, houve assassinatos… Nos corredores
havia pessoas caídas, havia filas de homens e mulheres esperando
a outra pessoa sair para ele entrar, houve muitas cafetinas. Depois
vieram as mortes naturais. Que eu me lembro, no 608, onde vocês
estão, morreu uma amiga minha… Agora não. Agora aqui é um
prédio familiar.”
Corte.
A câmera se aproxima da sala de administração do prédio. Há uma
mesa onde quatro pessoas conversam. Seus olhares se voltam para
a equipe de filmagem que avança, entra em uma salinha, onde o es-
pectador avista Sérgio, um senhor que fala com muita desenvoltura,
sempre procurando demonstrar sua autoridade.
Ele recebe a equipe com um sorriso. “Sejam bem-vindos à sala
de administração. [Corte] Sou feliz porque estou aqui desde 8 do 4 de
1997 e a minha gestão foi reeleita em março até 2003. [Corte] Espero
fazer muito mais. O meu objetivo não é, digamos assim… Eu queria
deixar o prédio bonito, decente, graças a Deus, eu consegui. Eu ouço
muito Piaget, mas quando não dá eu passo para o Pinochet. E é uma
realidade. Como diz o outro: ‘A realidade é a morte das ilusões’ … Eu
dou muito amor. E quero receber muito amor. Mas essas coisas não se
exigem. Se cativam.”
Nessas sequências de imagens, de palavras, já se mostram os primeiros
sinais sobre a utilidade do uso do documentário para as filmagens de
narrativas de histórias de vida. As palavras pronunciadas são acom-
panhadas de pequenas transformações faciais, gestos, modos de
olhar, tons de voz, que acrescentam significados à fala. Vera conta
os fatos negativos do passado em tom confessional, como quem está
falando mal de alguém que está próximo ou pode chegar a qualquer
momento. É uma verdade que diz, mas não quer ferir ninguém. Eu
poderia continuar aqui tentando descrever nuances e levantando hi-
póteses como: ela tem intimidade com o prédio e está contando seu
passado sujo. Mas o que importa agora não é explicar sua postura,
mas descrever sua forma de falar. Sua imagem facial. Isso só um
grande escritor conseguiria. O mesmo no caso do Sérgio, com sua fi-
losofia unindo Piaget e Pinochet, sua confissão de que só quer receber
amor. São personagens para serem vistos. A leitura da narrativa deixa
escapar a possibilidade de análise mais completa do depoimento e do
narrador. A imagem permite essa análise.
Isso fica mais nítido no próximo depoimento, o de Maria do
Vida e grafias - miolo.indd 264 3/9/15 7:38 PM
Edifício Master
Céu. Ela faz uma descrição hilária da primeira fase do prédio. Sua
risada é contagiante. É uma daquelas pessoas que fala completando
as palavras com gestos. Transpor suas palavras simplesmente não
demonstraria sua diversão ao falar dos velhos tempos. Fica também
a impressão, escutando e vendo sua declaração, de que ela também
se divertia com a desordem do prédio. Vendo, por exemplo, homens
descendo por cordas quando chegava a rádio patrulha. Ou seu prazer
com a troca de notícias da madrugada anterior, uma brincadeira
que mantinha com uma amiga, onde faziam “as reportagens”. A
desordem do prédio, narradas pelos dois primeiros entrevistados,
ganha agora um ar carnavalesco e transmite uma sensação de que
as pessoas, pelo menos alguns moradores, se divertiam com isso.
Depois, quando fala que tudo mudou com a eleição de Sérgio para
administrador, ela muda de expressão, fica séria. Demonstra tristeza
quando fala do quanto o administrador sofreu. Mas essa mudança
também parece uma tristeza devido a uma nova ordem, que não
seria divertida. De qualquer forma, a representação fílmica permite,
principalmente hoje com os aparelhos de reprodução domésticos,
questionar e refletir sobre o rosto do outro, e nos encoraja a uma
leitura que alcance o inconsciente visual da personagem. Individu-
almente, podemos apenas reunir duas subjetividades: uma exposta
e outra que quer conhecer a primeira, mas tem apenas os caminhos
incertos de sua intuição. A imagem permite uma análise.
O uso do documentário também permite que as pessoas discutam
essas impressões do espectador. Sei que a filmagem de uma narrativa
de história de vida não pode ser apontada como uma prática de pes-
quisa sempre disponível em levantamentos de biografias. Mas entendo
que a possibilidade de ser utilizada quando possível deixa um objeto
precioso para aprofundar os estudos no campo, o preparo de pesqui-
sadores e para apresentar resultados etc. O Edifício Master não é uma
narrativa da vida, são várias histórias contadas e condensadas. Mas o
documentário deixa para a antropologia, particularmente para a an-
tropologia urbana, uma forma de captar a vida social na metrópole,
que complementa muitos trabalhos já realizados e abre espaço para
a discussão da condição do indivíduo/pessoa de uma maneira mais
complexa. Além disso, instiga discussões porque acrescenta imagens
às palavras, que combinam-se no movimento das sequências e dos
cortes.
Vida e grafias - miolo.indd 265 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
Walter Benjamin
e as transformações da percepção humana com o cinema
Estou sugerindo o uso dos documentários em trabalhos científicos
como uma forma de aprimorar a percepção do outro e sua história
de vida, da mesma forma que a leitura de romances pode ajudar o et-
nógrafo na observação e descrição de outra cultura. Walter Benjamin
(1994), além de escrever sobre as mudanças que o romance moderno
provocou na formação de um novo tipo de leitor, também escreveu
sobre as mudanças que o cinema provocou “na ciência da percepção
que os gregos chamavam de estética”. Peço licença para reproduzir
uma longa reflexão de Benjamin, escrevendo sobre as mudanças in-
conscientes que o cinema introduziu no olhar cotidiano, que podem
ser otimizadas se usarmos documentários como objeto de estudo e
instrumento de pesquisa:
“Nossos cafés e nossas ruas, nossos escritórios e nossos quartos alu-
gados, nossas estações e nossas fábricas pareciam aprisionar-nos
inapelavelmente. Veio então o cinema, que fez explodir esse universo
carcerário com a dinamite de seus décimos de segundos, permitindo-
-nos empreender viagens aventurosas entre as ruínas arremessadas a
distância. O espaço se amplia no grande plano, o movimento se torna
mais vagaroso com a câmera lenta. É evidente, pois, que a natureza
que se dirige à câmera não é a mesma que se dirige ao olhar. A dife-
rença está principalmente no fato de que o espaço em que o homem
age conscientemente é substituído por outro em que sua atuação é
inconsciente. Se podemos perceber o caminhar de uma pessoa, por
exemplo, ainda que em seus grandes traços, nada sabemos, em com-
pensação, sobre sua atitude na fração de segundo em que dá um
passo… Aqui intervém a câmera com seus inúmeros recursos auxi-
liares. Suas imersões e emersões, suas interrupções e seus isolamentos,
suas extensões e suas acelerações, suas ampliações e suas miniaturiza-
ções. Ela nos abre, pela primeira vez, a experiência do inconsciente
ótico, do mesmo modo que, a psicanálise, a experiência do nosso in-
consciente pulsional.”
(Benjamin, 1994, p.189)
Permito-me uma analogia entre esta ampliação provocada pela
câmera e aquela provocada pela etnografia, embora seja preciso, em
seguida, deslocar-se desta analogia para pensar o efeito da técnica ci-
nematográfica para as técnicas etnográficas, para as quais é também
importante a percepção auditiva. O filme, quando estudado junto
com etnografia, também pode aperfeiçoar técnicas etnográficas. No
Vida e grafias - miolo.indd 266 3/9/15 7:38 PM
Edifício Master
documentário, o espectador percebe, em vários momentos, que o tom
da voz se altera. Ao contar fatos dolorosos, o entrevistado fala algumas
palavras de forma quase inaudível. Com a máquina, podemos au-
mentar em muito o volume, mais do que no gravador. Além disso, a
leitura dos lábios também nos ajuda.
A postura diante de uma câmera pode fazer também o indivíduo
se soltar ou se reinventar, como citado acima. O caso de Antônio
Carlos, por exemplo, é interessante: um senhor de 57 anos, que se de-
clarou tímido e gago, e foi dizendo que a entrevista seria terrível. No
final, entretanto, o entrevistador observa que ele não gaguejara um
minuto sequer e pergunta o motivo. Ao explicar, Antônio conta um
momento de sua vida muito especial. Lágrimas e orgulho aparecem
em seu rosto e tom de voz: “Não sei. Foi Deus. Falou por mim. Foi
maravilhoso.” O entrevistador pergunta por que ele achara o depoi-
mento “maravilhoso”, e Antônio Carlos responde:
“Porque, mais uma vez, eu tive a oportunidade de passar a público a
minha infância que, apesar de sofrida [e] às vezes um pouco amarga,
eu nunca precisei de pegar pó, de beber cachaça, mantive a minha
dignidade. Não tenho nada que pese nos meus ombros. Tenho a con-
vicção de que fui um bom filho, minha mãe morreu nos meus braços.
Às vezes saía daqui, ia até Brasília, às vezes não podia porque eu tinha
voltado de férias. Eu pedi ao gerente: ‘Eu preciso ir ver minha mãe,
minha mãe está pior.’ Fui. E quando eu voltei, falei com o gerente
que nas férias eu compensava esses dias. ‘Eu te agradeço por você
ter me liberado.’ Ele disse: ‘Você não precisa me agradecer, você foi
porque merecia.’ Fiquei muito feliz. Eu não sabia que ele tinha por
mim, como funcionário, uma consideração tão forte… Eu sou muito
frouxo. O homem não chora no simples fato de chorar. O homem, eu
não escondo, eu sou esse.”
O depoimento de Antônio Carlos mostra que o exercício de passar
a vida privada para o domínio público pode emocionar o indivíduo
a ponto de provocar mudanças psicossomáticas, como a interrupção
temporária de sua gagueira. O diretor do filme explica isso apenas
como um efeito da câmera sobre algumas pessoas. Dependendo do
indivíduo, a reação pode ser a inversa. Mas é atualmente reconhe-
cido o efeito terapêutico em potencial de falar sobre si. Longe do divã
do psicanalista, entendo que o registro e estudo de uma história de
vida também pode exercer esse efeito sobre o narrador e o público re-
ceptor. Gostaria de introduzir a noção de cena de Crapanzano (2005)
nessa discussão. O autor fala de epifenômenos que acompanhariam
as relações sociais, como emoções, humores, sentimentos, cujo estudo
Vida e grafias - miolo.indd 267 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
muitas vezes é rejeitado por se entender que se referem a um mundo
subjetivo. Crapanzano entende que tal dimensão é, na verdade, inter-
subjetiva, e faz referência a diálogos que ocorrem na vida cotidiana e
em situações de pesquisa, em que experiências podem mudar a per-
cepção da pessoa, em relação a outros indivíduos e ao meio. Ele dá
exemplos de sua vida pessoal e profissional referindo-se às mudanças
instantâneas de percepção das coisas que lhe teriam acontecido. In-
clusive, Crapanzano refere-se ao “surgimento” de um segundo olhar.
Embora possa parecer romântico ou subjetivo, as experiências rela-
tadas, que fazem parte da vida social, não devem ser descartadas no
registro de uma ampliação do campo perceptivo.
Penso que narrativas de história de vida podem provocar tais
reações entre os que estão envolvidos na pesquisa, como também com
os leitores. No caso da vida metropolitana, seria uma transformação
da mentalidade blasé, termo que Simmel (2009) tornou famoso ao
descrever a atitude do indivíduo que se fecha diante da quantidade de
impulsos lançados sobre ele. A narração de sua vida pode provocar
mudanças psicológicas, “destravando” uma mentalidade adquirida.
Com o uso do documentário, ficaria mais fácil mostrar que esses
efeitos são objetivos.
O que não se consegue esquecer…
Uma entrevista com um casal surpreendeu Coutinho devido ao im-
previsto ocorrido com a fala da esposa. Quando o marido, Carlos, em
resposta a uma pergunta de Coutinho disse que ele e a esposa viviam
bem, Maria Regina, a esposa, interrompe o marido, falando que
desde fevereiro eles enfrentam problemas, e que ela chegara a tentar
se matar, sentando-se na janela. O ato não foi consumado porque seu
parceiro a segurou. Aí ocorre uma pequena discussão, o marido tenta
manter sua posição discreta, mas ela quer revelar os defeitos dele, de
Copacabana, de sua insatisfação com a idade, a velhice, que a leva a
evitar a vida em público e a uma atitude de reclusão, reforçada pelo
fato de o parceiro olhar para outras mulheres. Seguem-se acusações
mútuas de ciúme e cria-se uma tensão entre os dois. Há um corte
e Carlos aparece falando: “Nós não prestamos, mas nos amamos.”
Seria uma conclusão, mas Maria Regina completa: “Eu falei que da
próxima vez eu atiro nele, e depois eu atiro em mim.” A entrevista,
mesmo citando suicídio, morte, em seu todo, ficou hilariante, devido
à forma com que Maria Regina fala, interrompendo e desmentindo
o parceiro, e perguntando se o entrevistador quer saber a verdade.
De certa maneira, o espectador não leva a sério suas ameaças. No
entanto, sabemos que o ciúme entre casais provoca situações de vio-
Vida e grafias - miolo.indd 268 3/9/15 7:38 PM
Edifício Master
lência todos os dias. O riso é uma demonstração de alívio quando
achamos que, naquele momento, a ameaça de morte não é séria.
O estudo de grandes prédios merecia também uma investigação
da questão do suicídio. O tema é citado por vários entrevistados, se
referindo a desejos passados ou a casos reais acontecidos no Master. A
própria construção do prédio facilita, de certa forma, nesses aparta-
mentos conjugados com uma única janela, ao permitir apenas a visão
de um outro prédio. A pressão sobre o indivíduo cresce em momentos
difíceis da vida, principalmente quando ele está só. Fechado entre
paredes, a única saída pode ser pela janela.
Em outras histórias, a tensão não pode ser disfarçada. Vera foi
costureira de famílias ricas até a morte do marido. Agora vive em um
dos apartamentos. A entrevista com Vera ilustra essa questão. Ela se
apresenta bem vestida, maquiada. Seu português demonstra que se
trata de alguém que “aprendeu muita coisa com a alta sociedade”,
como faz parte de sua apresentação.
“Os objetos que mais gosto são os meus retratos. Porque eu me amo.
A gente tem que se amar… A gente mora no cartão postal do Rio,
que é Copacabana. Mas é muito violento aqui, muito violento. Eu ia
passando na Siqueira Campos, ali na porta da Telemar, e um rapaz
me abordou, me abordou com uma mulher, e eu me assustei. Ele tirou
o revólver e disse: ‘Cala a boca e não olha para lado nenhum.’ Ele
queria saber onde eu morava. Olha, quando eu entrei aqui, eu tive
tanto medo, tanto medo do rapaz. Um rapaz bonito, branco, bem
vestido, mas muito bem vestido mesmo. Aí ele disse: ‘Pega o cartão da
Caixa Econômica.’ Eu abri a gaveta, joguei tudo no meio da cama.
Eu tremia. Eu tive que me arrastar, pegar nas pernas dele, pegar nas
pernas dele, aquele gatinho, e pedir para ele não apertar o gatilho. Aí
eu fui com ele, ele tirou todo o meu dinheiro. Oito mil reais… Eu vim
para a casa, o senhor não imagina como eu fiquei. Chorando, cho-
rando, chorando. Ele: ‘Pode ficar com seu dinheiro que eu não preciso
de seu dinheiro.’ Aí ele me deu aquela sacola, até hoje eu guardo
aquela maldita sacola [procura e mostra uma sacola xadrez, com um
envelope dentro, onde estão dois maços de papéis, dobrados como di-
nheiro]. Eu fiquei desesperada. Fiquei zanzando aqui, eu devia C&A,
Ponto Frio… Quando deu 4 horas, eu botei uma calça e fui na janela
para pular.… [Ela explica que não pulou por causa de suas dívidas.]
Porque eu não sou dessas pessoas que dizem: defunto não paga.
Porque quando eu morrer, eu quero morrer em paz, eu quero morrer
sem dever nada a ninguém. Hoje eu tenho um namorado bacana.
Porque a solidão machuca muito, machuca muito.”
Vida e grafias - miolo.indd 269 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
No depoimento de Vera, o espectador fica esperando para ver as fotos
dela. Eduardo Coutinho diz que não mostrou por uma questão de
ética pessoal. Ela não pegou as fotos para mostrar, e durante todo o
documentário, evitou tirar o foco da câmera da pessoa entrevistada.
Se ela não mostra suas fotos, por outro lado faz questão de mostrar
a sacola que o assaltante lhe deu. Diante de todo o mal que a sacola
representava, o espectador se pergunta por que ela conservou um
objeto que representa a maldade do criminoso e o sofrimento da per-
sonagem. Tal como objetos que mostram momentos felizes, fotos que
registram lugares e pessoas importantes, o símbolo de um aconteci-
mento amargo da vida também tem lugar entre os objetos guardados
por uma pessoa. A sacola é uma dádiva maldita, um artifício usado
pelo assaltante para aumentar a dor da vítima. Mas, como prova de
acontecimento que quase causou o fim de sua existência, Vera guarda
a sacola, intacta, como memória material de sua dor. A sacola com a
imitação do dinheiro é a alegoria do mal que lhe foi feito. Ela sente
nojo pelo objeto, mas, como conseguiu sobreviver física e psicologica-
mente, a sacola pode ser um símbolo de superação também.
Às vezes, uma expressão facial que surge de repente em um rosto
que quer aparentar felicidade dá indícios de um passado trágico. É o
que vemos no depoimento de Renata. Ela fala do namorado ameri-
cano, que seria louco por ela. Quando o entrevistador pergunta por
que ela ainda não casou, Renata responde que quer esperar porque a
pressão dele naquele momento está muito forte. Ele deposita dinheiro
todo mês na conta dela, comprou um apartamento para ela – não fica
claro se o que ela ocupa no Master –, manda mensagens e faz ligações
toda hora. No início da entrevista, disse que o namorado deveria estar
irritado porque o celular estava desligado. Em um momento em que
está falando do casamento, ela diz:
“Eu sonho em fazer uma coisa assim. Quando eu saí de casa, minha
mãe falou: ‘Eu não dou uma semana para você passar fome com sua
prima e voltar implorando um prato de comida.’ Eu falei: ‘Mãe, só
puta eu não vou ser. E não vou matar ninguém, posso passar fome,
mas na sua casa eu não venho mais.’”
Renata conta que tinha uma mãe liberal, mas que não aceitara a
gravidez da filha adolescente “preocupada com o que os outros iam
falar”. Ela levou a filha a um centro de umbanda, onde lhe foi dado
um preparado para provocar aborto. O feto morreu, mas continuou
no corpo da mãe. Renata passou muito mal e foi internada. Ao sair do
hospital não aceitou o convite da mãe para voltar para casa. Ela res-
ponde: “Olha, mãe, a senhora tem que lembrar que com filho na sua
Vida e grafias - miolo.indd 270 3/9/15 7:38 PM
Edifício Master
casa eu não ia ficar, agora sem filho eu não quero ficar.” Renata fala
de uma grande mágoa com a mãe. Em um instante, porém, retoma
a alegria inicial para dizer que agora ninguém a derruba mais e ela
é a Renata, a “number one do Brasil”. Para o espectador, fica a dúvida
sobre a relação amorosa contada no início da entrevista. Principal-
mente porque, apesar da alegria, Renata demonstrava ansiedade,
mexendo sem parar nos cabelos. Levando em conta que ela mesma
usou a palavra “sonho” relacionando com o casamento com o ame-
ricano rico e apaixonado, dúvidas ficam no ar. O diretor também
parece ter tido a mesma sensação, quando diz que Renata saiu do
prédio poucos dias depois da entrevista. Não para ir para os eua,
mas para outro prédio semelhante.
Conclusão
Walter Lima Jr, que no dvd comentou o filme junto com o diretor,
chegou à seguinte conclusão:
“Esse é um filme terrível sobre a solidão humana. É um filme sobre o
irremediável. As pessoas estão aí, dentro daquela caixa. É muito re-
velador da solidão humana. Eu acho até Copacabana habitada por
solitários. Aquela selva de janelas e cimento me dá a sensação de um
muro cheio de solitários.”
Eduardo Coutinho concorda, mas chama a atenção para o fato de
que são pessoas tentando sobreviver à solidão. Talvez seja isso que,
no final, cause um efeito positivo do espectador: ele acompanhou um
pouco de múltiplas trajetórias, nas quais os problemas dos persona-
gens estão registrados, mas viu pessoas que tentavam demonstrar que
sobreviveram mantendo a dignidade, um valor importante para o
grupo social a que pertencem os entrevistados.
Uma outra observação é que se a solidão fosse a tônica do
filme, ele seria melancólico. Ora, não foi esse o efeito produzido no
espectador. Entendo que a solidão dos personagens vivendo em apar-
tamentos conjugados, com uma única janela voltada para o mundo
– janela que, no caso dos suicídios relatados, se mostrou a porta aberta
para a morte –, seja ocultada pelos relatos de vida, em que aparecem
as relações sociais que as pessoas mantiveram no passado ou ainda
possuem no presente, as diferentes experiências que tiveram durante a
vida. As histórias resgatam o mundo social, e a solidão se torna pouco
visível. Creio que o caso mais patético de solidão humana foi a de um
rapaz cuja memória foi destruída por uma hemorragia cerebral. Ele
tinha família, amigos, mas estava só. O sentido das relações foi cor-
Vida e grafias - miolo.indd 271 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
roído pela doença. Os personagens do filme não parecem solitários
enquanto estão contando sua biografia.
O Edifício Master não prova que as pessoas são felizes ou tristes em
sua solidão – se admitirmos que os moradores do prédio são solitá-
rios, como quer Walter Lima Jr. Mas o espectador sente que recebeu
aquela que é a maior recompensa do estudo do humano. Mesmo que
o documentário não seja um trabalho científico, entendo também que
as narrativas de histórias de vida representam um objeto fundamental
para o trabalho etnográfico nas metrópoles, pois conseguem apontar
respostas para a difícil pergunta de como as pessoas sobrevivem à
solidão, e como enfrentam as pressões objetivas da vida urbana.
Referências
Walter Benjamin, Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura,
São Paulo: Brasiliense, 1994
Nöel Carrol, “Ficção-não e cinema de asserção pressuposta: uma análise conceitual”,
Teoria Contemporânea do cinema, São Paulo: Senac, 2004
Eduardo Coutinho (direção), Edifício Master, João Moreira Salles & Maurício Andrade
Ramos (produção executiva), Eduardo Coutinho, Walter Lima Jr & Consuelo
Lins (comentários), Vídeo Filmes, Brasil, 2002
Vincent Crapanzano, “A cena: lançando sobre o real”, Revista Mana, v.11, n.2, p.357–
384, 1995
C Writh Mills, A nova classe média, Rio de Janeiro: Zahar, 1969
George Simmel, “As grandes cidades e a vida do espírito”, Psicologia do dinheiro e outros
ensaios, Lisboa: Edições Texto & Grafia, 2009
Gilberto Velho, A utopia urbana, Rio de Janeiro: Zahar, 1973
Ana Lúcia Modesto é professora associada do Departamento de Sociologia da ufmg.
Membro do programa de Pós-Graduação em Sociologia e do Programa de Pós-
-Graduação em Antropologia e Arquelogia. Doutora em Etnografia do Saber pela
Universidade de Campinas. Publicou o livro A fala e a fúria: a imagem do psicopata no
cinema. Membro do Centro de Estudo Urbanos (ceurb) da ufmg, na área de Nar-
rativas da Cidade. Membro do Núcleo de Estudos sobre Quilombolas (nuq), na área
de história de vida de quilombolas. Participa, junto ao Museu da Cidade de Belo Ho-
rizonte, de uma pesquisa sobre o espaço público e o privado: as fronteiras mágicas do
mundo moderno.
Vida e grafias - miolo.indd 272 3/9/15 7:38 PM
Não mais somente na rua:
autobiografia
e relatos biográficos
de Esmeralda Ortiz
como exercício etnográfico
em São Paulo
Hugo Ciavatta
Esmeralda Ortiz completou 33 anos no dia 21 de agosto de 2012. E
comemorou na roda de samba do projeto Samba de Vitrine, na rua
General Osório, próximo à Estação Pinacoteca, entre as Estações da
Luz e Júlio Prestes, em um sábado ensolarado e de céu aberto em São
Paulo. Não foi a primeira vez que vi Esmeralda, nem a última, mas
foi a mais marcante delas, porque Esmeralda dessa vez não estava
coordenando uma reunião da irmandade dos Narcóticos Anônimos
(na), como na maioria das vezes em que nos encontramos, na Lapa,
não estava em sua casa, em Pirituba, preparando as aulas que dava
na Fundação casa (Centro de Atendimento Socioeducativo ao Ado-
lescente), nem mesmo estava cantando em uma praça próximo ao
mercado da Lapa. Esmeralda também não silenciava as minhas ques-
tões sobre os espaços onde estávamos naquele momento, citados por
ela em sua autobiografia, os mesmos lugares sob intervenção dos go-
vernos municipal e estadual, com presença ostensiva da polícia militar
pelas ruas, desde o início daquele ano.¹ Esmeralda, naquela tarde de
agosto, no entanto, cumprimentava amigos, sorria, dançava e cantava
ao som da roda de samba.
1 Era implementada uma política chamada oficialmente de Ação Integrada Centro
Legal. Ver jornal Folha de S.Paulo, 5 de janeiro de 2012, Caderno Cotidiano, página C3.
Vida e grafias - miolo.indd 273 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
O quarteirão da General Osório fechado entre a Rua do Triunfo
e a Rua dos Andradas também pouco lembrava os prédios acinzen-
tados e envelhecidos ao redor, do comércio e da circulação intensa na
região central da cidade. Com uma tenda montada na frente de um
antigo hotel, próximo ao prédio da Secretaria de Cultura do Estado,
a entrada do Memorial da Resistência, na Estação Pinacoteca, era
o fundo de quem olhava em direção à Rua do Triunfo. Do outro
lado, estão lojas de música e de instrumentos musicais. Na frente da
tenda, duas churrascarias e muitas pessoas aglomeravam-se enquanto
alguns grupos e músicos, como aqueles que fazem o Samba da Vela,
em Santo Amaro, em São Paulo, revezavam-se nos instrumentos e na
roda de samba.
Esmeralda Ortiz, negra, estava com o cabelo comprido e volu-
moso em tranças. Ela tem cerca de 1,70 metro de altura e emagrecera
bastante desde quando nos encontramos pela primeira vez em sua
residência: Esmeralda fez a cirurgia de redução do estômago no
início do ano. Ao lado de sua amiga, vizinha e costureira, Nilce, uma
senhora de cabelos bem grisalhos e óculos fundos, Esmeralda levava
um vestido branco, longo, e passou a tarde encontrando amigos, con-
versando, cantando e dançando ao som da roda de samba na General
Osório. Ela até mesmo discutiu com uma das garçonetes da chur-
rascaria em frente, pois a moça não dava importância aos pedidos
de Esmeralda para que procurasse pelos clientes do estabelecimento
cujos veículos mantinham os aparelhos de som ligados lá fora, atrapa-
lhando o samba. Enquanto isso, Nilce me entrevistava, queria saber
quem era eu, por que eu conversava pouco e passava a maior parte do
tempo observando tudo ao redor. Nilce dizia isso depois à Esmeralda,
que, sorrindo, confirmava que eu estava fazendo uma pesquisa, que
estava lendo o livro dela, Esmeralda – por que não dancei?, e que estudava
antropologia. Depois dali, Esmeralda e Nilce foram para a sede da
escola de samba Casa Verde, onde passistas a haviam convidado para
o ensaio e, também, para fazer a comemoração do aniversário de
Esmeralda.
Na rua General Osório, diante da loja de instrumentos musicais
Contemporânea e do bar e restaurante da Zebrinha Amarelinha, ou
somente bar Amarelinho, a história de Esmeralda Ortiz em Esmeralda
– por que não dancei? confundia-se com a história do lugar, em meio
à “cracolândia” e ao projeto Nova Luz, entre as representações de
degradação, pela circulação intensa de usuários de crack, e aquelas de
um projeto de revitalização, ou requalificação urbana da região da
estação Luz. A rua Helvétia, que no começo de 2012 parecia trecho
de confinamento de usuários de crack, com a ação das polícias Militar
e Civil, e dos governos estadual e municipal, está poucos quarteirões
Vida e grafias - miolo.indd 274 3/9/15 7:38 PM
Não mais somente na rua
acima, em direção às estações Luz e Júlio Prestes. A “cracolândia”,
“territorialidade itinerante”, não estava naquela tarde do aniversário
de Esmeralda na rua General Osório.²
Esmeralda, que eu já vira cantando em uma roda de samba no
Mercado Municipal da Lapa, estava então a poucos metros também
da Rua do Triunfo, citada por ela em sua autobiografia assim que
narra sua primeira experiência como usuária de crack. A música, o
samba, é destaque também na região: há uma rede, uma série de
lojas de instrumentos musicais, além da Escola de Música do Estado
de São Paulo (emesp). Aqueles que frequentam o local, Esmeralda
os conhecia, são em sua maioria da Zona Norte da cidade, onde ela
vive, e estão todos em contato com escolas de samba da mesma região
(Aderaldo & Fazzioni, 2012).
O samba, o pagode, a música é cotidiana na vida de Esmeralda,
desde o primeiro encontro que tive com ela na sua casa. Isso ficou
claro naquela manhã em que a encontrei pela primeira vez, porque
ela estava rouca, havia cantado na noite anterior. As minhas inquie-
tações iniciais sobre a região central de São Paulo onde Esmeralda
viveu a maior parte do tempo nas ruas, alvo de ações violentas dos
governos municipal e estadual, via Polícia Militar, eram objeto de
silêncio para Esmeralda. Aquilo que precisava ser dito sobre aqueles
espaços do centro da cidade já estava no livro, o que ela poderia me
dizer era o que estava acostumada a relatar sobre sua experiência nas
ruas, os depoimentos que lhe pediam jornalistas e estudantes: “Como
foi viver nas ruas?”; ou “como foi sair das ruas?”; e suas respostas re-
metiam à determinação pessoal dela, ao seu empenho e dedicação, à
ajuda recebida e também à aceitação dela mesma.
Em sua autobiografia, entretanto, a música também é uma refe-
rência para que Esmeralda tenha deixado os quase dez anos em que
esteve em situação de rua, entre os 8 e os 17 anos. Rosemary Reguniso
da Silva Santos, a Rose, educadora que conheceu Esmeralda ainda
criança, no projeto Clube da Turma da Mooca,³ e participou desse
2 Frúgoli Jr & Spaggiari (2010) recuperam o termo que Nestor Perlongher (2008)
utiliza para descrever a circulação de um mercado de prostituição masculina em São
Paulo.
3 De 1987 a 1990, Alda Marco Antônio esteve à frente da Secretaria Estadual do
Menor. Nesse período, foi criada uma estrutura dissociada da burocracia estatal da
Secretaria da Promoção Social. A Secretaria Estadual do Menor incorporou o pro-
grama Criança de Rua, desta última secretaria, e criou os Clubes da Turma, como o
da Mooca, frequentado por Esmeralda. Ali, havia atividades lúdicas, de formação e
esportes, e como complementação escolar surge também o Circo-Escola (Gregori &
Pereira, 2000, p.21–23). A trajetória de Esmeralda entre a infância e a adolescência,
retratada em Esmeralda – por que não dancei?, é também fruto dos deslocamentos institu-
cionais pelos quais passou o Estado e o governo, bem como pelo conjunto de relações,
tramas e disputas políticas que se deram nesse contexto.
Vida e grafias - miolo.indd 275 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
momento em que Esmeralda deixava a vida nas ruas, lembra a impor-
tância disso em depoimento no livro:
“O insight foi música. Eu já sabia que ela gostava de música. Você vai
tentando na conversa, sem ser maçante, vai conquistando aos poucos,
descobrindo o que é que puxa esse menino, qual é seu projeto de vida.
A Esmeralda foi dando indícios de que o grande eixo da vida dela
era a música. Eu, que não gostava de Zeca Pagodinho, fui obrigada
a comprar o disco, andar com um gravador, tentar gravar a sua voz
cantando. Aí ela queria ouvir sua própria voz e isso se tornou uma
forma de aproximação, uma forma de ela se permitir parar. A música
fez essa ponte. A partir daí, ela começou a resgatar algumas coisas, as
composições que ela tinha, começou a cantar.”
(Ortiz, 2000, p.129)
“Esse é o caminho que a música me levou, através dele estou me
lapidando” é também o que diz a voz de Esmeralda abrindo o do-
cumentário dirigido e produzido por seu amigo Elton Santana,
Esmeralda – joia rara do samba, e que reforça as palavras de Rose. Nesse
documentário, Esmeralda conta que fez o primeiro samba aos 10
anos de idade, quando frequentava o mesmo Clube da Mooca, em
1992, enquanto vivia nas ruas do centro de São Paulo. A Eco 92, no
Rio de Janeiro, fora pretexto dos educadores para um concurso de
samba entre as crianças que o projeto atendia, recolhendo-os das ruas
durante o dia e levando para aulas de artes. Assim, Esmeralda diz que
começou a escrever letras de samba.
“Somos nós o amor, somos a esperança dessa vida, somos o
consolo de uma dor”, trecho da letra de uma das canções que Esme-
ralda cantou atrás do Mercado da Lapa, e que também canta durante
o vídeo. Cantar, para ela, é sinônimo de lapidar. Lapidar-se no apren-
dizado contínuo pelo qual ela passa, como também diz o título de
outra canção: “Canto para subir”. Por experiência de dor, Esmeralda
se refere à vida que levou durante os anos em que esteve nas ruas,
e cantando então ela evoca a saída desse universo, um aprendizado
também afetivo.
Em Esmeralda – por que não dancei?, Esmeralda diz ainda que desde
criança, na barraco em que vivia com a família,
“Gostava de bagunça e de ficar numa roda de samba, na viela da
minha casa. Todos os sábados eu ficava lá vendo o pessoal fazendo
samba. Aquilo era uma das minhas maiores diversões. Acho que é por
isso que até hoje eu gosto de samba.”
(Ortiz, 2000, p.22–23)
Vida e grafias - miolo.indd 276 3/9/15 7:38 PM
Não mais somente na rua
O mesmo documentário traz imagens ainda do projeto Samba na
Quebrada, em Pirituba. Inspirado no mesmo Samba da Vela, Samba
na Quebrada era então levado para outras comunidades interligadas
pela música, pelo samba, uma “família do samba”, diz Esmeralda
no vídeo. O projeto ainda acontece no Largo da Lapa aos sábados,
das 18h às 22h, e todo último domingo do mês em Pirituba. Em um
dos sábados em que Esmeralda participou da roda, acompanhei-a,
ao lado de seu filho, de duas amigas e do filho de uma delas. Elas se
conheceram no projeto Cidade Escola-Aprendiz, “associação sem
fins lucrativos que mantém programas complementares à escola, no
campo da comunicação e das novas tecnologias, para estudantes de
escolas públicas e particulares” (Ortiz, 2000, p.185), e cujo “objetivo é
agregar valores como cidadania e protagonismo juvenil”. Logo depois
Esmeralda engravidou, praticamente na mesma época que uma
dessas amigas. Os meninos, os filhos delas, cresceram muito próximos.
Depois de se formar em Comunicação Social na Faculdade
Anhembi Morumbi, na Mooca, em 2005, Esmeralda ainda começou
faculdade de Música, no Anhangabaú, mas não se identificou com o
curso e por isso o deixou. Assim, Esmeralda, em 2012, estava traba-
lhando para uma ONG, dando aulas na Fundação casa de Pirituba,
na Zona Norte, em outra na unidade do Brás, mais central em São
Paulo, e ainda em outra unidade mais afastada na Zona Norte, no
bairro Taipas. Antes disso, deu palestras em escolas e colégios para
crianças, como no Abrigo da Associação Marli Curi, em Pinheiros,
contando as histórias de antes e depois de sair das ruas. Ela também
fez shows com músicos, cantando samba, e trabalhou como jornalista
freelancer.
Assim que se formou, Esmeralda apareceu no programa da Rede
Globo de televisão Profissão Repórter, do jornalista Caco Barcellos, em
2007. Apresentada como a “ex-menina de rua”, Esmeralda é a re-
pórter de uma matéria da edição do programa que tenta entrevistar
o rapper Mano Brown, dos Racionais mc’s, que se apresentavam na
Praça da Sé, em São Paulo, durante evento conhecido como Virada
Cultural. Enquanto acontecia a apresentação, todavia, ocorre um con-
fronto entre a polícia militar e espectadores do show. A entrevista não
acontece e as imagens mostram apenas o rapper no palco pedindo à
polícia para não atirar e aos espectadores para manterem a calma.
Cinco anos depois, em julho de 2012, com o mesmo Caco Bar-
cellos, Esmeralda participa de outra edição do Profissão Repórter,
mas dessa vez não é a recém-formada em Jornalismo e “ex-menina de
rua”, mas a “ex-usuária de crack”, em uma edição do programa em que
se retrata o vício em medicamentos e a dependência química de en-
fermeiros, médicos, dentistas, profissionais da área da saúde. Algumas
Vida e grafias - miolo.indd 277 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
imagens mostram a Esmeralda que Caco Barcellos havia entrevistado
rapidamente em 1997, em uma clínica de recuperação para depen-
dentes. Esmeralda havia acabado de completar 18 anos e aparece de
boné e moletom. Em 2012, entretanto, Esmeralda era fonte de infor-
mação sobre esses profissionais da área de saúde que ela conhecera nas
internações pelas quais passou depois de deixar a vida nas ruas.
Nas reuniões da irmandade dos Narcóticos Anônimos em que
acompanhei Esmeralda, ela contava sua experiência como usuária
de crack e menina nas ruas do centro de São Paulo, tal como em Es-
meralda – por que não dancei?, tal como aparece nos programas de Caco
Barcellos. Especialmente quando as reuniões tinham como temática
a “autoaceitação”, ela se referia à própria vestimenta ao sair das ruas
como uma defesa, uma proteção contra a violência sexual sofrida
durante aqueles anos, tanto dentro de casa, na infância, quanto nas
ruas, em estupros e espancamentos diante dos roubos que cometia.
Esmeralda contava, por exemplo, as estratégias de roubo e os lugares
preferidos para dormir, como no largo São Francisco. A concentração
de pessoas dormindo no largo lhe facilitava afastar-se de policiais.
Os mesmos policiais que acordavam todos com violência. O largo
também garantia proximidade à rua Direita, onde realizava arras-
tões furtando roupas e outros objetos de vendedores ambulantes, que
também tentavam agredi-la.
Esmeralda talvez fosse uma das meninas à qual Heitor Frúgoli Jr
(1995) se refere falando da Sé e da rua Direita:
“Chama atenção a forte concentração de meninos de rua, que cir-
culam e habitam o local e as redondezas, alternam-se entre as ruas e a
febem, assaltam e mendigam para sobreviver, viciam-se em cola de
sapateiro e transformam, ocasionalmente, partes do metrô em ‘dor-
mitórios’, o chafariz da praça em ‘chuveiro’ e seu lago em ‘piscina’. A
tradicional rua Direita, que desagua na Praça da Sé, marcadamente
popular em seu tipo de comércio e na composição predominante do
público frequentador, talvez seja a rua que mais se aproxime da dinâ-
mica dos mercados tradicionais.”
(Frúgoli Jr, 1995, p.55)
Quase 15 anos depois, participando das reuniões dos na, Esmeralda
apresentava então o exemplo de uma história de quem havia deixado
a vida nas ruas, o uso de crack, de cola e de maconha, e tornara-se mãe,
professora, escritora e sambista. Naquele momento, em 1997, contudo,
quando saía daquele universo das ruas, Esmeralda lembra no livro:
“Tinham tirado as coisas que me moviam: a droga, roubar e a rua. Me
tiraram daquele mundo e me jogaram pra outro.” (Ortiz, 2000, p.146)
Vida e grafias - miolo.indd 278 3/9/15 7:38 PM
Não mais somente na rua
Saindo da vida nas ruas
Esmeralda e Rose lembram no livro que Esmeralda, aos 17 anos,
roubava muito e apanhava demais dos policiais na região que compre-
ende a Praça da Sé, o Vale do Anhangabaú e a Praça da República.
Esmeralda conta ainda que via em Rose uma autoridade que fosse lhe
prender. Rose circulava com uma moto pela região trabalhando para
a fundação e projeto Travessia,⁴ no final de 1996, quando Esmeralda
dizia:
“Eu não acreditava mais neles… Eu dizia: ‘Se você não vai me dar
comida, não vai me dar coberta, pode sair fora, não estou mais a fim
de vocês falarem de projeto não.’ Eu falava porque eles começavam
um projeto, ficavam por um tempo, depois fechavam. A gente às vezes
criava um vínculo com eles.”
(Ortiz, 2000, p.126–127)
O projeto Travessia nasceu, em 1991, ligado à Associação Viva o
Centro, de proprietários urbanos com atividades ligadas a serviços,
comércio, com instituições públicas e privadas tentando configurar-
-se como interlocutor representativo naquela região central da cidade.
Entre aquelas que compunham a associação, o Banco de Boston tinha
papel hegemônico. Assim configurada, a Associação Viva o Centro e
o Travessia, portanto, se constituíam em práticas políticas na cidade,
em meio a intervenções urbanas que denotavam não aceitar pobreza
e desemprego presentes em massa nos espaços públicos (Frúgoli Jr,
2000, p.84).
Prestes a completar 18 anos, Esmeralda dizia que o crack não mais
lhe dava a sensação de preenchimento que experimentara antes:
“Comecei a perceber a perda de domínio, a pensar no que eu estava
fazendo com a minha vida. Os meus amigos estavam morrendo,
quase todos de overdose, na minha frente. Os caras em overdose do
meu lado e eu lá, pegando a pedra deles pra fumar. Comecei a ter
medo de ficar na noia de matar todo mundo. Eu queria fumar pra
4 “É uma parceria entre sindicatos e bancos que instituiu, em 1996, uma fundação
para desenvolver programas educativos para meninos e meninas em situação de rua
no centro da cidade. No primeiro momento, as atividades são realizadas nos espaços da
rua, por educadores de rua. No segundo momento, os meninos realizam atividades artís-
ticas e esportivas em diversos espaços. Recebem bolsa e voltam para dormir na casa
de familiares ou em abrigos. Essas atividades devem prepará-los para frequentar os
espaços da comunidade com outros garotos. Eles ainda são acompanhados pelos edu-
cadores. No terceiro momento, os meninos e meninas passam a frequentar atividades na
comunidade, com acompanhamento dos educadores.” (Ortiz, 2000, p.127)
Vida e grafias - miolo.indd 279 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
curtir, não pra ter noia. Eu não parava de fumar, mas sentia desejo de
parar.”
(Ortiz, 2000, p.125)
Esse preenchimento, para Esmeralda, aparecia também nas reuniões
da irmandade dos na, quando ela dizia que o uso do crack dava, sim,
prazer, como muitos que ali estavam também poderiam afirmar. A
“noia”, porém, marcava a mesma experiência, causando perturbação,
fazendo surgir o desejo de parar. Ao reconstruir a experiência de usu-
ários de crack com a substância, Taniele Rui (2012) também nos leva à
questão semelhante enfrentada por Esmeralda naquele momento: o
que o corpo poderia suportar?
Em 2012, Esmeralda às vezes comentava comigo a frequência
então recente de cultos evangélicos próximos de sua casa, levando
o filho, ou indo buscá-lo na companhia de outros amigos, vizinhos
deles. Mas importante também para Esmeralda sair da situação de
rua, negando a experiência do uso de crack e a instabilidade das insti-
tuições pelas quais ela havia passado, foi a relação que ela estabeleceu
com sua própria religiosidade:
“Às vezes vinham os pastores na Sé, à noite, levar sopão pra gente.
Eles rezavam, cantavam hinos, eu cantava com eles. Aquilo me pre-
enchia. Eu tinha uma satisfação imensa além da droga. Eu ficava
louvando a Deus. O pessoal da jeame, Jesus Ama o Menor, ficava
pregando. Eles cantavam louvor pra nós e oravam. Na Sé apa-
recia também um pessoal da Legião da Boa Vontade e da Igreja
Universal. Eles levavam cobertores no tempo de frio, de madru-
gada. Eles já sabiam o ponto onde a gente dormia. Levavam sopa e
medicamentos.”
(Ortiz, 2000, p.128)
Religiosos, inclusive, levavam aquelas crianças como Esmeralda para
casas de recuperação de dependentes químicos, clínicas de tratamento
de dependência. O uso de crack, as instituições de assistência, a reli-
giosidade e a afetividade, portanto, estão conectadas narrativamente.
No final de 1995, ainda, diante das transformações institucionais
pelas quais passava o governo do Estado de São Paulo, educadores da
Secretaria do Menor temiam os convênios então realizados com ins-
tituições religiosas, mesmo que naquele momento as parcerias fossem
mais voltadas às creches infantis (Gregori & Pereira, 2000, p.45).
Porém, diferentemente das outras instituições, lembra Esmeralda em
seu livro, nos religiosos ela “confiava… porque não prometiam nada,
sempre estavam lá”.
Vida e grafias - miolo.indd 280 3/9/15 7:38 PM
Não mais somente na rua
Simone Frangella, ao analisar as relações da entrega de alimentos
por uma entidade assistencial e religiosa, em um refeitório, em São
Paulo, entende que há uma
“performance radicalmente corporal, a pregação religiosa da entidade
colocou em destaque as relações de troca demandadas na oferta da
comida. Através do alimento diário oferecido, requer-se recepção e
reflexão sobre o mundo divino e seu oposto: a vida na rua. Transpor-
tada para o cenário da rua, tal performance reitera seu caráter de
exorcismo.”
(Frangella, 2004, p.230)
É justamente dessa passagem que Tiago da Silva (2010) explora outros
sentidos a partir de sua etnografia sobre doação de alimentos também
por uma instituição religiosa no Rio Grande do Sul. Da Silva enfatiza
o caráter de negociação que se estabelece. Mesmo não havendo con-
versão religiosa, os “anfitriões” em situação de rua que frequentavam
a instituição estudada precisavam concordar com algumas normas,
fechar os olhos, erguer as mãos aos céu e balbuciar as orações (Da
Silva, 2010, p.146).
Além das relações estabelecidas nesses espaços assistenciais, reli-
giosos, o que Esmeralda Ortiz (2000) comunica no livro é o sentido de
sua própria experiência religiosa e em que medida isso modificou sua
experiência nas ruas, sua trajetória, sua própria biografia. Sua experi-
ência religiosa não aparece pela negociação, de apoio pela performance
de conversão (Da Silva, 2010), ou representa um mundo dividido
entre o divino e aquele das ruas (Frangella, 2004).
A passeios nos sábados e domingos, a piqueniques em um parque
próximo, ou mesmo a um acampamento no final do ano, com os pas-
tores que iam até a Sé, as lembranças de Esmeralda fazem referência
a uma experiência com o espaço, nesse momento, que começa a se
alterar, diante do que ela tinha então vivido nas ruas de São Paulo.
Antes, como Esmeralda lembrava durante as reuniões dos NA, as
praças da Sé e Patriarca apareciam referidas à “loucura da droga”.
O crack, a cola, a maconha, para Esmeralda, eram sinônimos de fuga
da realidade, da família, da vida que levava nas ruas, do vazio, das in-
quietações, a droga a preenchia e lhe matava ao mesmo tempo, dizia
Esmeralda. A percepção dos limites do próprio corpo (Rui, 2012) e a
experiência religiosa formando vínculos, reconstituindo espaços de
afetividade, marcam o final da experiência de Esmeralda nas ruas de
São Paulo.
Mesmo assim, Esmeralda, ainda aos 17 anos, dizia viver o encan-
tamento dela pelas ruas, por isso fugia, voltava ao crack e ao roubo no
Vida e grafias - miolo.indd 281 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
Centro da cidade, às internações na febem (Fundação para Edu-
cação e Bem-Estar do Menor). Da sua última internação, Esmeralda
recorda a data de saída dada pelo juiz, 29 de julho de 1997, poucos
dias antes de completar 18 anos de idade. Depois disso, portanto,
poderia ser submetida a um processo judicial e, se condenada, enca-
minhada a uma penitenciária. Um ambiente do qual, inclusive, ela já
conhecera o cotidiano, tendo inventado outra identidade após roubo
e prisão (Ortiz, 2000), comum no universo dos adolescentes infratores.
Adolescentes acusados de ato infracional, nos anos 1990, levados ao
sos Criança, por exemplo, eram recebidos
“por monitores que os acompanhavam dentro do prédio. O garoto
era registrado e os documentos relativos ao ato infracional ou à sua si-
tuação eram anexados ao seu processo. O adolescente era revistado e,
se estivesse machucado, encaminhado para a enfermaria do órgão…
Antes de ser encaminhado à promotoria da capital, o adolescente
tinha de ser identificado, pois era preciso verificar se ele de fato tinha
menos de 18 anos. A identificação consistia no cruzamento dos dados
fornecidos pelos meninos com as informações do precário banco de
dados informatizado do sos… Tomando fichas com modelos de
impressões digitais, os funcionários faziam várias comparações para
saber se a idade, o nome e os dados correspondiam… Certos garotos
utilizavam dois, três ou até quatro nomes diferentes, tentando fugir de
medidas mais sérias que deveriam estar cumprindo em razão de atos
infracionais anteriores”
(Gregori & Pereira, 2000, p.79)
O processo de identificação artesanal e demorado já era conhecido
por Esmeralda, portanto, que também lembra de fazer uso de nome
diferente quando conhece o procedimento institucional que cabia a
prisões.
Em 1997, Rose, por meio do projeto Travessia e de um professor
de Esmeralda na febem, lhe escrevia cartas pedindo para que ela
aceitasse ajuda para sair “da rua”. “Eu estava ficando maior de idade
e via que tinha perdido minha adolescência e minha infância, tinha
perdido tudo, não tinha aproveitado nada.” (Ortiz, 2000, p.142) Es-
meralda, então, aceita integrar-se ao projeto Travessia e, ao sair da
febem, vai para uma Casa de Passagem, nova denominação dos
antigos orfanatos, que incorporavam as diretrizes do Estatuto da
Criança e do Adolescente, implementadas pela Prefeitura de São
Paulo.
Vida e grafias - miolo.indd 282 3/9/15 7:38 PM
Não mais somente na rua
Quando foi para as ruas
Esmeralda entende que passou a estar nas ruas continuamente depois
da primeira internação na febem, no Tatuapé, na Unidade de
Atendimento Provisório (uap3), algumas noites após fugir de casa e
não retornar para dormir. Ela saiu de casa pela primeira vez no final
de 1987, quando tinha 8 anos. Passava o dia fora de casa, tendo a
Praça da Sé, o bairro da Lapa e o mercadão da Lapa, o mesmo em
que iria cantar anos depois, como destinos. Claudinei, o irmão mais
novo de Esmeralda, fugiu de casa antes, junto com um primo. Além
de Claudinei e Giselda, irmã mais velha de Esmeralda, ela teve outros
quatro irmãos que morreram ainda crianças. Giselda e Claudinei
ainda estavam vivos, mas com nenhum deles Esmeralda dizia manter
contato (Ortiz, 2000, p.45).
A saída de casa, Esmeralda conta, foi uma forma de fugir à
violência da mãe durante aqueles anos, violência também de um
namorado da mãe que começou então a bater em Esmeralda. O alco-
olismo da mãe, disseminado na família, também é bastante enfatizado
por Esmeralda:
“Em casa, minha mãe me batia. Batia muito. Quando estava bêbada
e quando estava sóbria… Eu me lembro que quando ela estava sã ela
ficava tremendo… Ela esperava a gente dormir e batia em nós com
um pedaço de pau, tacava objetos. Às vezes ela me cutucava com
bituca de cigarro, e, como lá não tinha fogão a gás e a gente cozinhava
no fogão à lenha, tinha bastante pau em casa. Então minha mãe espe-
rava a gente dormir e dava paulada… Eu me sentia presa num mundo
desconhecido onde toda a minha família sofria, inclusive eu… Lá era
tudo assim, minha mãe, minha avó, meu tio, minha tia, meus primos.
Eram todos assim… De vez em quando ela [mãe] me tratava melhor,
falava que me amava. Ela gostava de mim. Se me maltratava muito,
era por causa do álcool. O álcool tirava o afeto dela por mim, então
vinham os maus-tratos, e ela dizia que não gostava de mim, que queria
ter me abortado antes de eu nascer. O álcool tirava o afeto dela, e eu,
devido a essas circunstâncias, perdi o afeto por ela também.”
(Ortiz, 2000, p.24–25)
A referência à relação com a mãe é recorrente ao longo do livro, e
escrever sobre isso foi uma maneira de Esmeralda perdoá-la, aceitar
sua própria história e entender sua condição depois dos anos em que
esteve nas ruas, segundo ela própria em Esmeralda – por que não dancei?,
como lembrado ainda nas reuniões de na. No trecho acima, também
aparecem o sofrimento, o amor, a violência física e o alcoolismo, todos
Vida e grafias - miolo.indd 283 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
conectados narrativamente. Ao sair “das ruas”, Esmeralda dizia es-
tabelecer relações destituídas de afetividade. Em sua autobiografia,
Esmeralda olha para as relações que construiu entre o que viveu em
família, na infância, e em seguida durante os anos em que esteve nas
ruas, explicando como saiu, como deixou essa situação:
“Não sei o que é amor de família, só o amor-próprio. Se eu não me
amasse, ainda estaria naquela vida… Minha família nunca passou pra
mim afeto, segurança e amor. Em todo aquele tempo que passei na
rua, fui perdendo o pouco desses sentimentos que eu tinha. Hoje eu
não tenho contato com a minha família. Eles não me procuram e eu
não procuro eles.”
(Ortiz, 2000, p.27)
A vida nas ruas, nesse sentido, passa a ser para Esmeralda, quando
abandona aquele universo e escreve sua autobiografia, um teste-
munho. Mas, além do que aquele de uma experiência de miséria, de
uso de crack e dos casos de violência sexual, é um testemunho de morte
de relações (Das, 2011), das relações afetivas, familiares, da infância, e
também daquelas constituídas e vividas nas ruas.
Com 8 anos, ao lado de uma amiga, Priscila, que vivia na mesma
favela que a família de Esmeralda na Vila Penteado, elas dormiram
pela primeira vez “na rua”, na rua São Bento. Esmeralda se perdeu
de Priscila, mas alguns dias depois encontrou Giselda, sua irmã mais
velha, que a levou de volta para casa (Ortiz, 2000, p.56). Depois de
apanhar novamente da mãe, poucos dias depois, Esmeralda relata
que estava de volta às ruas, e em seguida foi encaminhada à febem.
Policiais que procuravam por meninos que haviam realizado um ar-
rastão, uma sequência de roubos, levaram-na para o distrito policial
e posteriormente para a uap3. Em um quarto pequeno, ela dividiu
o espaço com outras nove meninas. Não havia separação por idade
e as meninas crianças e adolescentes ficavam todas juntas na mesma
unidade, crianças abandonadas que sofriam maus-tratos, ou que ti-
vessem cometido qualquer tipo de infração legal, segundo Esmeralda
(Ortiz, 2000, p.59). Uma assistente social depois lhe informou que ela
estava presa como carente, e não como infratora. Com o endereço
da mãe, ela foi levada para casa novamente. No mesmo dia, todavia,
reencontrando a mãe alcoolizada, Esmeralda voltou para a rua e 15
dias depois estava outra vez na febem. Assim, Esmeralda entende
a maneira que se tornou “de rua” definitivamente, saindo dessa situ-
ação quase dez anos depois, para uma Casa de Passagem, em 1997,
antes de completar 18 anos, quando também estava integrada ao
projeto Travessia, na rua Tabatinguera, próximo à Sé, e, por meio
Vida e grafias - miolo.indd 284 3/9/15 7:38 PM
Não mais somente na rua
dele, também começava a fazer terapia no projeto Quixote, na Vila
Mariana. Este era um projeto da Faculdade Paulista de Medicina,
para meninos e meninas em “situação de rua”, dirigido à depen-
dência química. Nele, Esmeralda começa a fazer terapia com Rafik,
que a acompanha desde então.
Antes destes projetos e instituições, Esmeralda frequentou
também o Circo-Escola, em 1988, na avenida João Paulo I, quando
saía de casa com a mãe e os irmãos para pedir esmola pela cidade.
“Circo-Escola Enturmando era uma linha de programas preventivos
e de contemplação escolar desenvolvido pela Secretaria do Menor
de São Paulo de 1987 a 1992. Os circo-escolas eram implantados nos
bairros distantes do Centro da cidade e ofereciam aulas de circo,
teatro e artes plásticas.”
(Ortiz, 2000, p.46)
O Clube da Turma da Mooca, onde ela conheceu Rose, oferecia prá-
ticas de esporte, atividades de artesanato e culinária para crianças em
“situação de rua” até às 17 horas:
“Na hora de ir embora do Clube era a maior briga. Ninguém queria
ir, mas tinha horário, era até às cinco horas da tarde. Nosso dia era
preenchido. Quem dormia na rua pegava o ônibus, terminal Carrão,
e descia no Brás. Do Brás ia a maior galera, todo mundo com um sa-
quinho de cola, cheirando.”
(Ortiz, 2000, p.84)
Então Esmeralda voltava pra Sé, cheirava cola e fumava maconha
até as 19 horas. Ela conta que às vezes pegava um micro-ônibus que
levava crianças para o Projeto Criança de Rua (pcr), um abrigo
onde passava a noite.
Quando o pcr e o Clube da Mooca deixaram de existir, Es-
meralda lembra que viveu em um casarão, já demolido, na rua Frei
Caneca, mas não tinha lugar fixo; ficava na Sé, no Vale do Anhan-
gabaú. Desde 1990, com o Estatuto da Criança e do Adolescente
em vigor, a febem, em São Paulo, passou a ser pressionada pelo
Ministério Público, que exigia reformulação das diretrizes e ações
da instituição, marcadamente repressiva e não educacional. Já em
outubro de 1992, com uma rebelião na unidade da fundação, em
Taubaté, inicia-se uma sucessão de trocas na Secretaria Estadual do
Menor e, com isso, um desmantelamento dos programas anteriores,
como os Clubes da Turma. Política institucional então pautou-se
por convênios, repassando esses programas para outras instituições
Vida e grafias - miolo.indd 285 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
(Gregori & Pereira, 2000, p.30–31). Ainda no início da vida nas ruas,
Esmeralda conta que depois da primeira internação na febem,
quando foi levada para casa e em seguida estava nas ruas novamente,
é que ela passou a dormir em “mocós”.
“Debaixo das pontes tem às vezes buracos feitos pelos ratos. A gente
ia lá e terminava o trabalho: aumentava o buraco, do tamanho pra
gente caber. Era só pegar um papelão e forrar o chão, porque é tudo
de areia debaixo da ponte, na parte que ela já está no chão. Assim a
gente fazia o nosso mocó. Em alguns cabiam vinte pessoas. No mocó
era gostoso dormir porque era bem quentinho. Dormiam meninos e
meninas, às vezes só meninas, às vezes só meninos. Fui parar no mocó
da avenida 23 de Maio, que eu não conhecia, mas era um lugar muito
falado. Todo mundo que eu via ia pro mocó. O mocó era onde tinha
mais drogas, então era onde tinha mais movimento.”
(Ortiz, 2000, p.64)
Esmeralda ficava no mocó na avenida 23 de Maio, próximo à rua
Maria Paula e à avenida Brigadeiro Luís Antônio.
Crack, cola, maconha
A mesma Rua do Triunfo, na esquina em que estávamos no dia do ani-
versário de Esmeralda, à direita no sentido da estação Pinacoteca, é
a referência de Ortiz (2000) em Esmeralda – por que não dancei?, quando
ela experimentou e iniciou o uso de crack. Então com 12, 13 anos, entre
1992 e 1993, Esmeralda já estava nas ruas, havia deixado o barraco da
família, da mãe e dos irmãos na Zona Norte de São Paulo, em uma
favela na Vila Penteado, e se identifica no livro, apontando para o
início dos anos 1990, como uma “trombadinha, roubava” (Ortiz, 2000,
p.91). Esmeralda entrara no universo da viração descrito por Maria Fi-
lomena Gregori (2000). Estavam em viração crianças e adolescentes
pobres vivendo diariamente, a maior parte do tempo, nas vias urbanas,
constituindo ali relações e identidades. Movimentavam-se, circulavam
pelas ruas, passavam por instituições, e entre idas e vindas de suas re-
sidências de origem, estavam na rua novamente. Procuravam adquirir
recursos de sobrevivência, articulando e manipulando ferramentas
simbólicas para se comunicar e se posicionar frente à cidade e aos per-
sonagens dela. Ao circular, ainda, eles não estabeleceriam relações
permanentes, tampouco se fixariam em algum sítio durante muito
tempo. Desse modo, segundo Gregori (2000), se constituíam a sociabi-
lidade e as identidades desses meninos nas ruas.
Na Rua do Triunfo, então, estava a turma de uma substância
Vida e grafias - miolo.indd 286 3/9/15 7:38 PM
Não mais somente na rua
nova para a época, o crack, justamente na mesma região e época em
que Esmeralda Ortiz estava nas ruas, era usuária desta droga e re-
alizava pequenos furtos para sobreviver, circulando por instituições
prisionais e de recuperação. O crack era novo para Esmeralda, apesar
de ela já usar cola e maconha havia alguns anos, desde que passou a
estar nas ruas continuamente. Esmeralda dá referências espaciais na
cidade por seu itinerário nas ruas. Ela relata compra de maconha na
avenida Alcântara Machado, no sentido Mooca, em uma ponte. Já a
cola, diz Esmeralda,
“eu cheirava e depois sentia os bichos correndo atrás de mim. Ficava
batendo o maior papo com a grama. Na praça Patriarca, do lado da
rua Direita, tem um monumento, um homem bem grandão. Eu ficava
cheirando cola olhando pra ele. Dali a pouquinho ele vinha andando
atrás de mim. Eu saía daquele lugar e ele correndo atrás de mim.
Na hora que ele ia me pegar, passava o efeito da cola. Então eu chei-
rava mais. Eu ficava olhando para as nuvens e via os anjinhos. Não
sentia fome, não sentia frio. Não sentia medo. Com a cola, eu tinha
coragem. Por isso eu gostava.”
(Ortiz, 2000, p.65–66)
Não somente as referências espaciais aparecem, mas também o relato
de Esmeralda da experiência de uso dessas substâncias, as alucinações
e a afetividade fragilizada, com medo. Esmeralda comunica assim a
maneira como viveu naqueles anos em que esteve nas ruas, primeiro
falando de um pânico muito grande com o uso do crack, porque este
lhe dava uma sensação de preenchimento intensa e fugaz. Instantes
depois do uso, ela vivia o sentimento de que estava sendo vigiada, que
policiais estavam à sua procura, de que era preciso correr. Por fim,
passado esse momento, ficava o desejo de fumar novamente: “A gente
tem que ter a droga toda hora mesmo… Então eu vivia pra usar. E
pra isso eu precisava roubar.” Esmeralda, dessa forma, diz ter perdido
qualquer afetividade, inclusive por si própria (Ortiz, 2000, p.98–99).
Relatos assim são recorrentes entre usuários de crack, como mostra
Taniele Rui (2012).
Além de consumir, Esmeralda também começou a vender crack
aos 14 anos, na Sé, no Vale do Anhangabaú, na República e no
Parque dom Pedro. No ano seguinte, sua mãe morreu, sua irmã mais
velha se casou e Esmeralda e o irmão mais novo, também nas ruas,
tiveram uma internação na febem assinada em juízo – mas dois
meses depois ela estava novamente nas ruas. O uso de cola e crack, as
prisões na febem e as fugas, inclusive de um internato em Diadema,
logo depois que sua mãe perdeu sua guarda, são recorrentes ao longo
Vida e grafias - miolo.indd 287 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
de Esmeralda – por que não dancei?. Para Esmeralda, já próxima da maio-
ridade penal,
“A febem servia de refúgio. Quando tudo já estava insuportável,
eu me entregava. Um dia eu estava na República, depois subi uma
rua ali perto da Sé. Tinha uma mulher com um relógio, eu cheguei
e puxei o relógio dela. No quarteirão da frente eu parei pra vender
o relógio pro marreteiro. Nessa que eu estava vendendo, apareceu a
polícia com a vítima e me pegou no flagra. Me levaram pro distrito.
Eu segurei o que tinha roubado, mostrei pra eles, pra eu ficar presa.
Minha oração foi eu parar na febem. E fui pra febem.”
(Ortiz, 2000, p.141)
Depois dos dois primeiros encontros que tive com Esmeralda em sua
casa, a febem como refúgio e o uso de crack só apareceram na con-
versa quando Esmeralda passou rapidamente diante de um pequeno
vidro de esmalte, dizendo que, quando fumava crack, até o cheiro
do corante para as unhas era capaz de despertar a obsessão por uma
pedra da droga. Perguntei o que ela teria para falar sobre o Centro
de São Paulo com a intervenção da polícia. Ela disse que até es-
crever o livro sua dimensão do mundo não ultrapassava a unidade da
febem no Tatuapé, e em seguida voltou a ficar em silêncio, refor-
çando que o que eu quisesse estudar sobre ela já estava no livro, que
não tinha nada a acrescentar. O primeiro encontro da irmandade
dos na substituiu o silêncio de Esmeralda sobre seu próprio livro. Es-
meralda me convidou para uma reunião temática coordenada por
ela na mesma Zona Norte, mais próximo à Brasilândia, em uma sala
atrás da paróquia do bairro. A reunião aconteceu com a presença de
pouco mais de dez pessoas, todos homens, à exceção de Esmeralda.
A sala também servia para aulas, cursos diversos que a paróquia da
Igreja Católica ali oferece durante o dia e encontros de associações
do bairro no período noturno. Ademais da lousa preenchida de “tra-
dições” e “orações” da irmandade dos na, estava organizada uma
estante de livros, pequenos cartões, quadros e uma bandeira da ir-
mandade, todos com mensagens de apoio, de ajuda, como guias de
comportamento aos presentes. Apresentei-me como pesquisador que
acompanhava Esmeralda, enquanto todos se diziam “adictos⁵ em
recuperação”. Diferentes entre si, as apresentações falavam da depen-
dência, de como haviam passado os últimos dias, da condição como
5 O termo “adicto” pode se referir à “pessoa que se submete a, que depende, que está
com ou outro ou se lhe junta por afeição”; “adjunto, adstrito”; “aquele que usa uma
droga habitualmente e tem por ela uma ânsia incontrolável que se torna um hábito
mórbido”.
Vida e grafias - miolo.indd 288 3/9/15 7:38 PM
Não mais somente na rua
adicto há anos; às vezes, com uma precisão apontada em muitos
anos, meses e dias, às vezes, em dois anos vagamente. Porém, o in-
tervalo da ausência ou afastamento do uso de uma substância, quase
nunca identificada, era repetidas vezes pontuado por “limpo há…”
anos, meses, dias, então sempre de maneira precisa. Alguns presentes,
contudo, mais velhos, enfatizavam que, apesar da longa dependência
e do afastamento também já de anos, estavam “limpos só por hoje”,
em uma alusão à resistência diária, contínua. Desse modo também se
apresentou Esmeralda, “adicta em recuperação, limpa só por hoje”,
destacando, mesmo assim, o intervalo distante do uso, do consumo,
já de mais de 14 anos. Em seguida, a reunião transcorreu com Esme-
ralda conduzindo a temática da noite, relatando sua experiência nas
ruas. Primeiramente, ela mostrou pequenos vídeos feitos em finais
dos anos 1980 nas primeiras unidades da febem, em São Paulo,
antes mesmo da aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Esmeralda não aparecia nos vídeos, mas se identificava como uma
daquelas crianças apanhadas nas ruas e levadas às unidades precá-
rias, de espaços reduzidos e que aparentavam excessivo número de
internos. Após breve introdução sobre as imagens e sobre sua his-
tória, Esmeralda, que antes silenciava comigo sobre as ruas do centro,
sobre os espaços por ela citados em seu livro, como se repetisse as pa-
lavras que já estavam escritas. “Sinto que, se eu voltar a frequentar
o mesmo lugar sem estar preparada, vou voltar aos velhos hábitos”
(Ortiz, 2000, p.202–203). Então, narrava a circulação nas ruas, referia-
-se aos furtos na rua Direita em meio aos camelôs, atenta à proteção
do corpo contra a violência de policiais e vendedores. Nas reuniões de
na, contudo, um ambiente de “confissão” coletiva, o alívio de uma
consciência que não quer voltar a falar no assunto dá lugar a formas
de reconhecimento e ajuda mútua para aqueles que participam da ir-
mandade, assim como Esmeralda.
Vestir-se e comportar-se como homem, mesmo depois de deixar
as ruas, foi o ponto seguinte bastante destacado por ela naquela
reunião, que contou ainda maneiras de reconhecer e lidar com a
obsessão pelo crack diariamente. A reunião, por fim, encerrou-se com
alguns depoimentos abertos, e nesse momento a referência à depen-
dência e à identificação com os relatos de Esmeralda, por parte dos
participantes da reunião, de como encontrar fugas diárias para a
necessidade, ou o desejo por uma substância, ressoaram nas falas. Es-
meralda ainda dirigiu-se a mim. Sorrindo, ela perguntava se eu estava
assustado, pedindo também para que todos reparassem na minha
expressão. Eu sorria, sem entender, pois não havia percebido minha
própria reação. Esmeralda parecia recolocar as palavras de Roland
Barthes:
Vida e grafias - miolo.indd 289 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
“Não se trata de operar o que foi representado… trata-se de fazer
passar na nossa cotidianidade fragmentos de inteligível (fórmulas) pro-
vindos do texto admirado (admirado justamente porque se difunde
bem); trata-se de falar esse texto, não de o agir, deixando-lhe a distância
de uma citação, a força de irrupção de uma palavra bem cunhada de
uma verdade de linguagem; nossa própria vida cotidiana passa a ser
então um teatro que tem por cenário o nosso próprio hábitat social…
não se trata de transpor conteúdos, convicções, uma fé, uma causa…
trata-se de receber do texto uma espécie de ordem fantasmática.”
(Barthes, 1990, p.11)
Assim, o refúgio representado pela febem em alguns momentos
da vida de Esmeralda nas ruas, como ela destaca na autobiografia,
o uso de crack, questões que pessoalmente ela silenciava comigo, só
eram reconstruídas nas reuniões de na, outra espécie de refúgio
depois de deixar a vida nas ruas: era um texto falado, uma vida co-
tidiana passada, narrada em um cenário que, de alguma forma, lhe
era contíguo, não havia transposição, apenas vestígios de uma ordem
“fantasmática”.
A dificuldade por reconhecer-se, por saber quem era, o que
poderia fazer além do roubo, da venda e consumo de crack e das inter-
nações e fugas da febem, encontrava identificação entre os relatos
nas reuniões de na. “Sou um sujeito camaleão?”, questionava-se um
dos participantes das reuniões na Lapa:
“Na casa dos meus pais, sou o cara que foi um garoto-problema; na
Igreja, no culto, sou o negro certinho, um exemplo a ser seguido; no
trabalho, sou o cara que cumpre o que tem que ser cumprido, mas
pra quem se olha torto só porque pegou um cigarro careta pra fumar
no corredor – ‘nossa, mas você… você fuma?’ –; pra minha esposa,
sou o amorzinho às vezes, e às vezes também o negro safado de quem
se tem que ficar no pé, regulando; no fim das contas, ‘quem sou eu?
Tenho que ficar escondendo até cigarro no corredor agora?’”
Entre risos e expressões de susto, os participantes diziam “(me) iden-
tifico, companheiro”, e Esmeralda, então, recolocava sua própria
narrativa autobiográfica, de quem havia passado anos vestindo-se
como homem, namorando meninas nas ruas e na febem, que hoje é
sambista, escritora, professora, mãe, que o importante não era que os
outros soubessem quem ela era, mas que ela mesma entendesse quem
era para si própria. Ou, dito de outra forma, quase 12 anos antes das
reuniões de na que coordenava, em sua autobiografia, Esmeralda ali-
nhava o final do processo em que saiu da vida nas ruas:
Vida e grafias - miolo.indd 290 3/9/15 7:38 PM
Não mais somente na rua
“As pessoas me ajudaram a resgatar a minha autoestima, e essa au-
toestima mostra a confiança que eu tenho em mim mesma. Essa
confiança me leva a me recuperar. Fazer este livro se encaixa na ideia
de que estou preparada pra falar sobre a minha vida.”
(Ortiz, 2000, p.197)
É assim que Esmeralda relaciona a ajuda que recebeu, a dedicação
dela mesma e sua religiosidade como resposta à pergunta que está no
título de sua autobiografia.
“Fui procurar forças dentro de mim e também encontrei pessoas que
puderam me dar um apoio… o Circo-Escola, o Clube da Mooca,
aqueles pastores que iam na praça da Sé, o Travessia, o PCR, o
Quixote, e agora o Aprendiz, a Escola da Rua…”
(Ortiz, 2000, p.196–197)
Além destas instituições, Esmeralda lembra que o Travessia lhe pos-
sibilitou contato com a Associação Novolhar, que produzia matérias
veiculadas pela tv puc e de lá, posteriormente, conheceu o Cidade-
-Escola Aprendiz, onde escrevera o livro, e também participava de
outros projetos. Enfim, houve todo um arranjo que lhe assistiu durante
o período em que ela deixou a vida nas ruas. A autobiografia de Esme-
ralda, portanto, era sua própria trajetória, tal como Suely Kofes (2001)
conceitua esse termo, “resultado do entrecruzamento de relações às
quais estão ligados, quer pelos significados já dados a estas relações e
que constituem os sujeitos enquanto pessoas sociais, quer pelos signi-
ficados que eles agenciam e narram”. A autobiografia de Esmeralda
é uma narrativa biográfica como resultado de outras narrativas, de
outras relações. É uma trajetória que não se confunde, entretanto, com
sua vida, aberta em seus sentidos biográficos, por fazer-se, como Esme-
ralda lembrava no início de nosso contato em 2012.
As cidades de
Carolina Maria de Jesus e Esmeralda Ortiz
Esmeralda não tem a dimensão de registro temporal, como em um
diário, tal qual o texto de Carolina Maria de Jesus (1960), Quarto de
despejo – diário de uma favelada, mas escolhe os temas que mais lhe foram
importantes para contar sua vida, como o vício em crack. Há em Es-
meralda Ortiz (2000), mesmo assim, caminhos, espaços de uma São
Paulo, inclusive, em transformação quando Esmeralda – por que não
dancei? é comparado ao diário de Carolina.
Carolina de Jesus (1960), na década de 1950, vivia às margens
Vida e grafias - miolo.indd 291 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
do rio Tietê, próximo ao bairro Canindé, em São Paulo, em uma
favela. Na capital paulista, em 1973, 1,2% da população do município
vivia em favelas, e já em 1993 esse número havia subido para 19,8%,
ao passo que na década de 1990 o crescimento dessa população era
estimado em 16,4% ao ano (Imparato & Ruster apud Davis, 2006,
p.27). Olhar primeiro para o diário de Carolina de Jesus (1960), depois
para a autobiografia de Esmeralda Ortiz (2000) e também para seus
respectivos contextos diz muito das transformações pelas quais a
cidade passou. Esses números a respeito do crescimento das moradias
precárias justamente mostram que a presença de favelas na paisagem
urbana da capital tornou-se comum a partir da segunda metade do
século xx.
Carolina Maria de Jesus (1960), à sua maneira, questionava a
ordem na qual vivia, na então periferia de São Paulo, a partir da
relação dos políticos com o local e dos bairros com a favela também.
O diário dela foi e é alvo de diversas discussões e, como ressaltam
Levine & Bom Meihy (1994), registra a luta dia após dia de uma
mulher negra, pobre e sem ajuda do Estado, e até mesmo sem amigos.
A escrita e publicação do seu texto, como ela mesmo relata, foi objeto
de ameaça e represália de vizinhos na favela em que vivia, pois ela
contava em seu diário desavenças, brigas e mostrava, ainda, seus pró-
prios preconceitos, nota o leitor, especialmente quando Carolina se
refere aos nordestinos e nortistas. Ela era também migrante, de Minas
Gerais, havia passado pelo interior de São Paulo e naquele cenário
seu texto acabou justamente contrapondo, para o leitor de então e
também atual, toda a euforia do nacional desenvolvimentismo, que
impulsionava dezenas, milhares de pessoas às cidades pelo país.
A trajetória de Carolina Maria de Jesus (1960) é muito complexa,
pois até sua morte, em 1977, e também depois disso, muitos anali-
saram a vida e mesmo os outros textos que ela continuou a escrever
após Quarto de despejo, como Simone da Silva Aranha (2004) em Sobre
Carolina Maria de Jesus, o Quarto de Despejo e a Casa de Alvenaria, por
exemplo. Além disso, muitos temas perpassam a história dela, desde a
aventada loucura, o tratamento midiático, a celebrização da pobreza
e da própria Carolina por jornais e revistas nacionais e internacionais.
Porém, o que ficou, em resumo, com a publicação do diário, foi o re-
gistro da miséria na cidade de São Paulo em finais dos anos 1950.
As referências de Carolina às ruas da cidade, à sua circulação por
elas, negando-se a dizer que vivia na “cidade”, pois a favela na lama
às margens do Tietê não era considerada “cidade” por ela, revelam
as transformações pelas quais São Paulo passou nessas décadas. As
principais ruas citadas são Frei Antônio Santana de Galvão, Alfredo
Maia, Pedro Vicente, Asdrúbal do Nascimento, Paulino Guimarães,
Vida e grafias - miolo.indd 292 3/9/15 7:38 PM
Não mais somente na rua
Guaporé, Voluntários da Pátria – nestas duas últimas se situavam
depósitos onde Carolina levava o papel que catava para sobreviver –,
Eduardo Chaves, Sete de Abril, bem como as avenidas Cruzeiro do
Sul, Tiradentes, Bom Jardim e do Estado.
Esse circuito é diferente daquele de Esmeralda, na década de
1990, que se aproxima somente na Asdrúbal do Nascimento, já que
a rua está próxima à Praça da República, esta que aparece bastante
no seu texto (2000). Mesmo a referência de Esmeralda à Praça da Sé,
que lhe aparecia como signo de liberdade, no início da infância, ou
a rua Direita. Carolina, pois, quase trinta anos antes de Esmeralda,
circulava mais pela então periferia de São Paulo, ainda que cruzar,
aproximar-se e vivenciar o cotidiano no Centro de São Paulo, então
elitizado, não esteja ausente de seu diário.
Já nos anos 2000, pensar os limites periféricos da cidade a partir
das margens do Tietê na região do Canindé, como faz imaginar o
diário de Carolina, é descabido, tal o crescimento urbano de São
Paulo. O diário é também um exemplo que não se enquadra às esta-
tísticas, já que o aumento vertiginoso das favelas periféricas em São
Paulo aponta para o início da década de 1980. Antes disso, pessoas
mais pobres viveriam em quartos alugados nos cortiços do Centro
da cidade. Sendo justamente construídos com essa finalidade, como
abrigos, alguns cortiços originaram-se de antigos casarões herdados
da burguesia urbana (Davis, 2006, p.44).
O cenário ou a topografia em Esmeralda – por que não dancei?, como
descrito por Simone Frangella em Capitães do Asfalto (1996), fica em
segundo plano. Na autobiografia de Esmeralda, há apenas indícios
etnográficos de uma São Paulo (Frehse, 2006) dos anos 1980 e 1990.
Em primeiro lugar, Esmeralda está se reconhecendo, e o leitor sabe
quem ela “é” desde o início, uma ex-menina de rua, uma menina
“viradora” (Gregori, 2000) no Centro de São Paulo, que também fora
usuária de crack. Na autobiografia de Esmeralda, não há futuro a ser
desvelado, apenas compartilhamento de uma experiência vivida, na
qual Esmeralda procura entender o que lhe permitiu sobreviver. A
cidade também aparece pela circulação, pelas ruas e avenidas pelas
quais Esmeralda transitava, como a avenida 23 de Maio, em que
existiam diversos “mocós”. Depois de lá, mais próximo à Sé, estava o
fórum da rua Maria Paula, perto da avenida Brigadeiro Luís Antônio,
outra região em que ela também permaneceu (Ortiz, 2000, p.65). Já
a praça Patriarca, ao lado da rua Direita, surge quando Esmeralda
conta sobre seu vício. Havia um monumento na praça que marcou
justamente o uso de cola, quando ela a cheirava olhando para uma
construção. É a mesma região, contudo, por onde circulavam todos,
usuários e meninos em situação de rua. O Vale do Anhangabaú, a
Vida e grafias - miolo.indd 293 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
rua Frei Caneca, a Praça da Catedral da Sé e a Praça da República,
também são sempre os principais pontos, os extremos da região por
onde todos circulavam (Ortiz, 2000, p.88). Justaposta a Carolina
Maria de Jesus (1960), a história de Esmeralda também reconta parte
da história de São Paulo (Peixoto, 2006). Sua autobiografia é também
a história de São Paulo, de suas transformações espaciais, do Centro e
da periferia, das representações de pobreza.
Porém, a São Paulo que Esmeralda descreve é composta por seus
“espaços afetivos”. Ela abre o livro Esmeralda – por que não dancei? com
uma referência à casa em que então vivia:
“Como é gostoso um chuveiro. O chuveiro vai limpando a gente por
dentro e por fora. Nunca tive um chuveiro. Nunca tive uma cama
e uma casa de verdade. Agora, sim, tenho o meu chuveiro, tenho a
minha cama, tenho a minha casa.
O prazer do chuveiro vem à minha cabeça hoje, 14 de março,
uma terça-feira, ano 2000. São dez horas. Faz muito sol. Os meninos
estão se divertindo na Praça da Sé. Dos 8 aos 15 anos, eu também
pulava nessas águas, e o chafariz era a minha felicidade. Mas o tempo
passou. Hoje estou com 20 anos e não tomo mais banho na praça.
Isso é coisa do passado. Agora, felicidade mesmo é estar na minha
casa e ter uma cama pra dormir.”
(Ortiz, 2000, 19)
Já nos parágrafos iniciais, portanto, estamos diante de uma narrativa
autobiográfica, em que a casa, o chuveiro e o espaço estão conectados
à expressão de uma subjetividade feliz, pelo fato de Esmeralda ter
deixado um passado de dor e sofrimento, pois os “meninos na Sé” são
meninos em situação de rua, como ela fora. Em seguida, Esmeralda
fala de sua enorme paixão pela rua, quando criança, vendo na Praça
da Sé as brincadeiras dos meninos no chafariz, o movimento das lojas
como sinônimo de felicidade, de uma vida melhor, alegre, sem dor,
que ela não tinha ao lado da família.
A casa de Esmeralda em 2000 aparece também em oposição a
esse cenário recordado em Esmeralda – por que não dancei?. Além das
ruas de São Paulo por onde ela esteve durante aqueles anos e das ins-
tituições pelas quais passou, como a febem, o barraco em que viveu
com a mãe e os irmãos, na Vila Penteado, ganha destaque:
“Fico lembrando da minha mãe, do barraco. Um quarto tinha uma
cama de casal, onde todos dormiam, uma mesa velha e quadrada, um
guarda-roupa velho e caindo aos pedaços. Eram dois quartos, mas
todos dormiam num só. No outro quarto não dormia ninguém, mas
Vida e grafias - miolo.indd 294 3/9/15 7:38 PM
Não mais somente na rua
de vez em quando minha irmã dormia lá, e eu dormia com ela. Esse
quarto tinha uma cama improvisada. Nós pegávamos quatro blocos
para serem os pés da cama e em cima deles colocávamos madeirite e
um colchão. Era a maior imundice aquele quarto. Tinha um armário,
até que ele era bonitinho, era azul, era um armário de cozinha. Na
cozinha tinha umas panelas que eram pretas por causa do fogão a
lenha, um fogão improvisado e típico da família, pois quase todos
usavam esses fogões porque não tinham condições de comprar um a
gás … No quarto onde ninguém dormia tinha um peniquinho. Era
um baldinho parecido com esse em que vem silicone, porque em casa
não tinha banheiro e nem chuveiro. O banho era tomado com cane-
quinha ou no tanque. Quem quisesse chuveiro tinha que ir na casa da
vizinha.”
(Ortiz, 2000, p.28–29)
A lembrança da mãe, o esfacelamento de qualquer afetividade e a
consequente dor que isso lhe causou, portanto, estão entrelaçados às
imagens do barraco em que viveu. Esmeralda nomeia isso, ela era
pobre, encarava a pobreza como algo normal e
“… falar disso dói. Quando eu catava ferro-velho, acordava de manhã
e ia pedir pão duro, pele de galinha e gordura no açougue. Pegava
capim-cidreira e fazia chá pra tomar de manhã. Pegava legumes es-
tragados, mas graças a Deus nunca tive doença. Pão com mortadela
pra mim era luxo.”
(Ortiz, 2000, p.200)
O capim-cidreira, quase 12 anos depois da publicação do livro, foi o
chá que Esmeralda me ofereceu na primeira vez em que nos encon-
tramos, em sua casa. Eu acabara de chegar, havia conversado com
ela apenas pelo telefone, lhe explicado que pesquisava a história de
pessoas que estiveram nas ruas em São Paulo, que também estudava
a revista ocas, e que gostaria de entender melhor a história dela, re-
tratada em seu livro. Eu lhe repetia isso quando cheguei e acabava
de entrar em sua casa, enquanto ela também me perguntava de que
parte da cidade eu viera, onde estava estudando. Esmeralda, naquele
instante, sem eu lhe perguntar nada sobre o livro ou sobre ela, me
oferecia o chá falando também que o perfume do capim-cidreira lhe
remetia à infância, à mãe que lhe fazia o chá. A Esmeralda que abre o
livro dizendo que sua “família nunca passou pra mim afeto, segurança
e amor” (Ortiz, 2000, p.27) não estava diante de mim. Mesmo conhe-
cendo a trajetória de Esmeralda, mesmo tendo lido sua autobiografia,
naquele instante, eu senti que Esmeralda era uma mulher feliz.
Vida e grafias - miolo.indd 295 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
Lugares de narrativas
Em Esmeralda – por que não dancei? surgem os pontos, as referências de
circulação pela cidade de São Paulo, mas não há propriamente uma
descrição e um preenchimento desses espaços. Porém, como lembra
Michel de Certeau (1994), espaço é “lugar praticado” e, com isso, há
outro aspecto importante para o autor: do memorável como aquilo
que se pode sonhar a respeito do lugar. Lugares só existiriam pela
evocação ou não de espíritos múltiplos, lugares seriam povoados de
lembranças:
“Os lugares são histórias fragmentárias e isoladas em si, dos passados
roubados à legibilidade por outro, tempos empilhados que podem se
desdobrar mas que estão ali antes como histórias à espera e perma-
necem no estado de quebra-cabeças, enigmas, enfim simbolizações
enquistadas na dor ou no prazer do corpo.”
(Certeau, 1994, p.189)
Na autobiografia de Esmeralda, os lugares são histórias fragmentárias
também, como o “mocó” na 23 de Maio, o monumento da Praça do
Patriarca, expressões da dor e do sofrimento.
Para Esmeralda, quando das reuniões dos Narcóticos Anônimos,
a demarcação do espaço, os pontos, as praças e ruas, um mapa
mnemônico parecia apontar o próprio reconhecimento daqueles
lugares do centro de São Paulo como lugares de dor, de violência.
Esse mapa reconstruído narrativamente por Esmeralda era lugar de
memória (Certeau, 1994). Esmeralda coordenava reuniões de narcóticos
anônimos, portanto, sua posição discursiva era também o ponto de
chegada de sua própria trajetória discursiva. Esmeralda – por que não
dancei? narrava aqueles lugares e espaços do centro da cidade, espaços
também de destruição, e narrava ainda os narcóticos anônimos. No
caso, mais do que isso, Esmeralda narrava para os Narcóticos Anô-
nimos. Tal como em seu aniversário, na rua General Osório, em meio
à região que era a “cracolândia” mesmo que aparentemente não fosse
a “cracolândia”, Esmeralda tornava o espaço, o mapa, sua própria
vida um “descenso ao cotidiano” (Das, 2011), um retorno, uma rea-
propriação do mundo, porém, não para o mesmo “lugar”.
Vida e grafias - miolo.indd 296 3/9/15 7:38 PM
Não mais somente na rua
Referências
Guilhermo Aderaldo & Natália Helou Fazzioni, “Choro e samba na Luz: etnografia
de práticas de lazer e trabalho na Gal Osório”, Ponto Urbe, v.11, p.1–18, 2012
Simone da Silva Aranha, “Sobre Carolina Maria de Jesus, o Quarto de Despejo e a
Casa de Alvenaria”, in: S Kofes (organização), História de vida: biografias e trajetórias,
Campinas, São Paulo: unicamp, 2004
Roland Barthes, Sade, Fourier, Loyola, São Paulo: Brasiliense, 1990
Michel de Cearteau, A invenção do cotidiano: artes do fazer, Petrópolis: Vozes, 1994
Mike Davis, Planeta Favela, São Paulo: Boitempo, 2006
Veena Das, “O ato de testemunhar: violência, gênero e subjetividade”, Cadernos Pagu,
37, julho–dezembro, 2011
Tiago Lemões Da Silva, “A rua como espaço de interação social: um estudo antro-
pológico das relações entre população em situação de rua e grupos caritativos”,
Revista Antropolítica, Niterói, n.29, p.9–35, 2° semestre de 2010
Simone Miziara Frangella, “Capitães do asfalto: a itinerância como constitutiva da
sociabilidade de meninos e meninas ‘de rua’ em Campinas”, dissertação de
mestrado pelo programa de Pós-Graduação do ifch/unicamp, Campinas:
unicamp, 1996
–, “Corpos urbanos errantes: uma etnografia da corporalidade de moradores de
rua em São Paulo”, tese de doutorado pelo programa de Pós-Graduação do
ifch/unicamp, Campinas: unicamp, 2004
Fraya Frehse, “Do impacto da modernidade sobre a civilidade das elites nas ruas de
São Paulo no século xix”, in: H Frúgoli Júnior, L Andrade & F Peixoto (organi-
zação), As cidades e seus agentes: práticas e representações, Belo Horizonte; São Paulo:
puc-Minas & edusp, 2006
Heitor Frúgoli Jr, São Paulo: espaços públicos e interação social, São Paulo: Marco Zero, 1995
–, Centralidade em São Paulo: trajetórias, conflitos e negociações, São Paulo: Cortez, 2000
Heitor Frúgoli Jr & Enrico Spaggiari, “Da cracolândia aos noias: percursos etnográ-
ficos no bairro da Luz”, Ponto Urbe, usp, ano 4, p.6, 2012
Maria Filomena Gregori, Viração: experiências de meninos nas ruas, São Paulo: Companhia
das Letras, 2000
Maria Filomena Gregori & Cátia Aida Pereira, Meninos de rua e instituições: tramas, dis-
putas e desmanche, São Paulo: Contexto, 2000
Carolina Maria de Jesus, Quarto de despejo – diário de uma favelada, São Paulo: Círculo do
Livro, 1960
Suely Kofes, Uma trajetória, em narrativas, Campinas: Mercado de Letras, 2001
Robert M Levine & José Carlos Bom Meihy, Cinderela Negra: a saga de Carolina Maria de
Jesus, Rio de Janeiro: Editora da ufrj, 1994
Esmeralda do Carmo Ortiz, Esmeralda – por que não dancei?, São Paulo: Editora senac,
2000
Fernanda Âreas Peixoto, “As cidades nas narrativas sobre o Brasil”, in: H Frúgoli
Júnior, L Andrade & F Peixoto (organização), A cidade e seus agentes: práticas e repre-
sentações, Belo Horizonte / São Paulo: PUC-Minas & EDUSP, 2006
Taniele Rui, “Corpos abjetos: etnografia em cenários de uso e comércio de crack”,
tese de doutorado em Antropologia Social pelo ifch, Campinas: Unicamp,
2012
Este texto é fruto da apresentação na 28ª Reunião Brasileira de Antropologia, no
Grupo de Trabalho Etnografia e Biografia na Antropologia: Experiências com as Di-
versas Grafias sobre a Vida Social.
Hugo Ciavatta é mestre em Antropologia Social pela unicamp.
Vida e grafias - miolo.indd 297 3/9/15 7:38 PM
Histórias e narrativas
envolvendo a ocupação Mauá
Stella Zagatto Paterniani
Este capítulo tem por objetivo demonstrar etnograficamente pro-
cessos de ênfase tanto na coesão como na diferenciação de grupos
que compõem a ocupação Mauá. Esses grupos são os movimentos:
Movimento de Moradia da Região Centro (mmrc), Movimento
Sem-Teto do Centro (mstc) e Associação dos Sem-Teto da Cidade
de São Paulo (astc–sp). Durante a pesquisa de campo de meu
mestrado (Paterniani, 2013a), percebi que processos de coesão e de di-
ferenciação coexistem na conformação de uma coletividade – nesse
caso, a Mauá.
O centro de São Paulo,
alguns espaços e personagens:
o trânsito
Desço na estação Luz do metrô, no terminal da linha amarela,
subo as escadas e saio no fim da avenida Cásper Líbero, Centro da
cidade de São Paulo. Atravesso a avenida, do lado em que há a saída
da linha amarela e a praça que fica sobre a Estação Luz da linha
amarela – um continuum de asfalto com algumas poucas árvores, todo
ele cercado e que mais parece um convite para se erguer os olhos e
observar, mais ao fundo, a ocupação Prestes Maia, em rua paralela à
avenida – para o lado repleto de estabelecimentos comerciais: bares,
pequenas lanchonetes, lojas, barracas de camelôs com cds, dvds,
eletrônicos. Caminho menos de um quarteirão e já atinjo a esquina
que a avenida, ao terminar, faz com a rua Mauá. À minha frente, do
outro lado da rua, a lateral do prédio da estação Luz. A depender do
horário do dia, a movimentação de pessoas é mais ou menos intensa,
com duas possibilidades para os corpos que por ali estão: estar em
trânsito, de passagem, com rumo definido (entrando na estação de
metrô e sumindo escadarias abaixo, ou saindo e rapidamente – o
Vida e grafias - miolo.indd 298 3/9/15 7:38 PM
Histórias e narrativas envolvendo a ocupação Mauá
passo é sempre rápido – seguindo adiante na avenida Cásper Líbero
em direção à República); ou estar, enquanto permanente, ali, nas
imediações, habitando a rua. Há, evidentemente, nuances entre uma
ou outra possibilidade: os que param e se detêm para comprar um
lanche; quem está a postos para o trabalho; quem condensa um limiar
próximo ao de um permanente trânsito, com lapsos de transitória
permanência, aparentemente sem rumo definido e em estado alte-
rado de consciência – os usuários de crack. Viro à esquerda.
Esse trecho da rua Mauá é pouco movimentado. Durante o dia,
apenas uma calçada atrai pessoas: o lado onde a paisagem continua
semelhante à avenida: funcionam algumas lojas e botecos, vendedores
ambulantes passam e se encontram, e por onde eu também habitu-
almente caminho. Ao anoitecer, a calçada defronte àquela por onde
sempre passo ganha vida, recebe pessoas e dá mais movimento à rua:
usuários de crack se encontram e garotas de programa ficam a postos
para trabalhar. Caminho, margeio a estação Luz. Se continuasse, de-
sembocaria na avenida Duque de Caxias que, oito quadras adiante,
cruza a avenida São João. Mas não termino a primeira quadra sequer
e paro em frente ao número 340.
Ao chegar, toco a campainha se o portão está fechado. Geral-
mente, contudo, ele está aberto e há conhecidos reunidos conversando
do lado de fora. Trocamos algumas palavras, e às vezes engato uma
conversa antes de entrar no prédio. Do lado de fora, o muro é pintado
com os dizeres “Associação de Moradores da Mauá” em um semi-
círculo cujo raio é atravessado pelas palavras “Movimento Sem-Teto
do Centro”, seguido da sigla mstc. Há cinco anos, este mesmo
prédio estava abandonado, lacrado, acumulando lixo, entulho, ratos,
baratas. Estava ocioso,¹ sem função social.² E algumas pessoas – dezenas
1 Conforme os artigos 182 e 183 da Constituição Brasileira, a saber:
“Artigo 182: a política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público mu-
nicipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habi-
tantes …
§ 2º – A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências
fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor …
§ 4º – É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área in-
cluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo
urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado apro-
veitamento, sob pena, sucessivamente, de:
i – parcelamento ou edificação compulsórios;
ii – imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo;
iii – desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão
previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos, em
parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros
legais.
Artigo 183: aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados,
Vida e grafias - miolo.indd 299 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
ou centenas –, ao romper cadeados e correias e adentrá-lo, com seus
pertences e famílias, com a perspectiva de escancarar a ociosidade
desse imóvel, dizem estar ocupando. “Ocupar”, nesse contexto, não é
verbo que exige complemento ou objeto direto ou indireto: ocupar é
ação direta e, por definição, exige, sim, a não separação entre sujeito
e objeto. Não há os ocupantes e o ocupado; há a realização da ocu-
pação e todos os envolvidos que compõem o ocupar, dentre eles: as
pessoas, o imóvel, a cidade, suas memórias, trajetórias, caminhos. Há
a ocupação Mauá.
Na madrugada do dia 24 para o dia 25 de março de 2007, con-
forme Filadelfo (2008) narra, pessoas ocuparam o número 340 da
rua Mauá. O mstc é um dos três movimentos que compõem a
Comunidade Mauá, junto com o Movimento de Moradia da Região
Centro (mmrc) e a Associação de Sem-Teto da Cidade de São
Paulo (astc-sp). Ser composta por três movimentos influencia di-
retamente na organização da ocupação. Cada movimento tem seu(s)
andar(es), e há um coordenador por andar. Em um salão, no térreo,
acontecem reuniões de base, reuniões de coordenação de cada um
dos movimentos e, uma vez por mês, uma assembleia geral. Nesse
salão está escrito na parede lateral, em letras grandes: “Quem não
luta tá morto”, seguido de “Somos uma só”. Há, ainda, as lideranças,
ou referências imediatas e incontestes: o mmrc é o “movimento do”
Nelson; o mstc, da Ivaneti; e a astc-sp, do Sukita e da Raquel.
Os moradores da Mauá falam de si enquanto coletividades transi-
tando entre as organizações, as pessoas, o movimento (cujo grau de
abstração varia) e o prédio como referência e identificação.
No saguão de entrada do prédio, as três grandes siglas e seus
nomes por extenso estão pintados em uma parede lateral, seguidas de
uma quarta: flm, com a palavra “Frente” embaixo, que se não fosse
por um pedaço de parede com tinta descascada, seria completada com
“de Luta por Moradia”. A Frente de Luta por Moradia (que chama-
remos de “Frente”) é uma das organizações que atuam na cidade de
São Paulo na “luta por moradia para a população de baixa renda (de
zero a três salários mínimos)”, como os militantes dizem. Muitas outras
por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou
de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro
imóvel urbano ou rural …
§ 3º – Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.” (Constituição
da República Federativa do Brasil, disponível em http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm)
2 A função social da terra e da propriedade está prevista na Constituição Federal;
a definição de Habitação de Interesse Social pode ser encontrada no Estatuto da
Cidade, disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/LEIS_2001/L10257.
htm, acesso em 5 de maio de 2012.
Vida e grafias - miolo.indd 300 3/9/15 7:38 PM
Histórias e narrativas envolvendo a ocupação Mauá
organizações de bairro ou regionais integram a Frente – como o Movi-
mento Sem-Teto do Centro (mstc) – que, por sua vez, integra outros
Movimentos nacionais e internacionais. Há muitas organizações de
bairro ou movimentos regionais envolvidos com a luta por moradia
que, contudo, não integram a Frente. Alguns, como a União de Luta
de Cortiços (ulc), o Movimento de Moradia do Centro (mmc) e o
Fórum de Cortiços compõem a União dos Movimentos de Moradia
(umm, a qual será referida por “União”), a qual, por sua vez, também
se articula nacional e internacionalmente com outras organizações.
Frente e União são as duas possíveis maiores organizações de
movimento de moradia que atuam no Centro da cidade de São Paulo.
Atuam em conjunto no Centro, militantes de corpos a posto, ocu-
pando imóveis ociosos e saindo às ruas em manifestações; e enquanto
organizações atuam para o centro, disputando programas e políticas
públicas para que famílias de baixa renda tenham direito a morar
dignamente no centro da cidade. Não aglutinam, contudo, todos
os movimentos de moradia que atuam na cidade nem no centro: o
mmrc não integra nem a Frente nem a União – e nem por isso
deixa de fazer ações conjuntas com ambas.
Atualmente, há 237 famílias morando na ocupação Mauá, com
cerca de 180 crianças: aproximadamente 1.300 pessoas. Antes de ser
ocupado, naquele prédio funcionava o hotel Santos Dumont, inau-
gurado em 1953 e anfitrião de “milhares de pessoas recém-chegadas
pela antiga Rodoviária da Luz” (Pereira, 2012, p.161), desativada nos
anos 1980. Por isso, a estrutura reconhecível de um hotel de meados
do século xx: recepção, escadas de mármore e os corredores muito
estreitos e escuros. Do piso, restam poucos tacos de madeira; anda-se
praticamente em cima do concreto do contrapiso. Só há janelas
dentro dos quartos; nas paredes de cada corredor, pintadas de um
amarelo brilhante, há apenas um minúsculo quadrado vazado, por
onde entram algumas réstias de sol a depender da luz do dia. Nos
corredores, também há banheiros coletivos, tanques e muitos fios ex-
postos e emaranhados – a eletricidade do prédio é improvisada pelos
próprios moradores.³
A estrutura do prédio, com um pátio interno descoberto, oferece
um espaço de encontro para as crianças, ao voltarem da escola,
andarem de skate, pularem amarelinha, brincarem de bate-bate (ou
bate-bolas, ou bolimbolacho, um brinquedo popular dos anos 1980
que voltou a ser febre, especialmente entre os menores), correrem,
gritarem, rirem. Às vezes, jogam capoeira, com monitores do projeto
3 Este parágrafo e os seguintes, até o início da próxima seção (“A ocupação Mauá:
para dentro, para fora”), contêm trechos que foram publicados em Paterniani (2013b).
Vida e grafias - miolo.indd 301 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
Herdeiro da Mauá. Em uma das paredes do pátio, inclusive, letras
grandes – no mesmo padrão das letras do saguão de entrada e do
salão de reuniões – formam a frase “Herdeiros da Mauá”. As crianças
também têm à sua disposição um escorregador, no quarto andar, e
alguns carros de brinquedo, em que podem entrar e pedalar. Por toda
a ocupação há bicicletas de todos os tamanhos; às vezes nos escuros
corredores há colchões encostados nas paredes.
Do pátio interno, vê-se concreto por todos os lados. Um concreto
colorido pelas pichações e grafites que se sobrepõem, e pelas muitís-
simas roupas sempre dependuradas nas janelas e em varais suspensos,
no melhor estilo toscano ou veneziano que encantaria a turistas no
Antigo Continente. Essa é, para mim, a imagem-símbolo da Mauá:
da escada que liga um andar a outro, à vista, por um vitrô quebrado,
de crianças jogando futebol no pátio, com os dizeres “Herdeiros da
Mauá” ao fundo, rodeadas pelos coloridos de roupas dependuradas.
Há silêncio (observo essa imagem do quinto ou sexto andar); no
entanto as roupas me trazem som e os corpos se movimentam. Essa é
a imagem de vida com que sou brindada cotidianamente na Mauá.
A ocupação Mauá é emblemática: localiza-se em uma das ruas
que delimitam o polígono formado também pelas avenidas Ipi-
ranga, São João, Duque de Caxias e Cásper Líbero – uma região
popularmente conhecida por “cracolândia”, por concentrar grande
quantidade de usuários de crack, alvo de violentas operações que vin-
culam o governo municipal e estadual e a Polícia Militar do estado de
São Paulo (Rui, 2012). Esse polígono é alvo também do Projeto Ur-
banístico Nova Luz, em curso por iniciativa da Prefeitura Municipal
de São Paulo. Esse projeto, terceirizado através uma licitação de con-
cessão urbanística, previa a revitalização da área desse polígono, com
demolições de edifícios e implementações de empresas e prédios para
serviços públicos e valorização do patrimônio histórico e cultural, com
vias a intensificar o setor de serviços e o capital imobiliário especula-
tivo na região.
Uma concessão é um instrumento que prevê, como contrapartida
à cessão da responsabilidade estatal para um ator privado, a prestação
de serviço continuada para a sociedade. A concessão urbanística é
um instrumento formulado na gestão Marta e regularizado na gestão
Kassab. Em termos de instrumentos de política habitacional, a ideia
de uma concessão urbanística é algo contraditório: qual seria a con-
trapartida prestada para a sociedade, se as praças, as ruas, as calçadas
já são públicas e já deve estar à disposição para o bom usufruto dos ci-
dadãos? No caso da concessão do Nova Luz, além dessa contradição,
ela tampouco está prevista no Plano Diretor. Tanto a Defensoria
Pública quanto o Ministério Público possuem ações alegando a
Vida e grafias - miolo.indd 302 3/9/15 7:38 PM
Histórias e narrativas envolvendo a ocupação Mauá
inconstitucionalidade da concessão urbanística do Nova Luz. No
entanto, a concessão urbanística foi anunciada em novembro de 2008
pelo então prefeito Gilberto Kassab, e efetivada em maio de 2010 em
um consórcio entre as empresas Concremat Engenharia, Cia City,
aecom Technology Corporation e Fundação Getúlio Vargas.
Assim, a dicotomia Nova Luz/“cracolândia” acaba refletindo um
mesmo real: o real dos dominantes, para usar os termos de Deleuze
(1985), pois o diagnóstico da degradação (contido no termo “cra-
colândia”) serve como justificativa para a revitalização (proposta pelo
Nova Luz), e tanto o diagnóstico como o projeto representam inte-
resses exteriores aos das pessoas cujas vidas acontecem pela região.
Além disso, tanto o Nova Luz quanto os projetos interventores que o
precederam na região têm em comum uma orientação semelhante à
de teatralização do patrimônio cultural, como exposta por Canclini:
“A teatralização do patrimônio cultural é o esforço para simular que
há uma origem, uma substância fundadora, em relação a qual deve-
ríamos atuar hoje. Essa é a base das políticas culturais autoritárias.”
(2000, p.162)
Além disso, a região da Luz é uma região central que, desde
2003, pelo Plano Diretor da cidade de São Paulo, é demarcada como:
Zona Especial de Interesse Social (zeis), destinada à construção
de moradia popular. Por conta dessa superposição de intenções – a
zeis e o Nova Luz – dentro do perímetro de execução do projeto,
foi criado um espaço para a gestão e tomada de decisões: o Conselho
Gestor das zeis-3, composto por representantes de setores envol-
vidos na execução e no impacto do projeto urbanístico: moradores da
região, comerciantes, proprietários, inquilinos, pessoas em situação
de rua, movimentos de moradia, Prefeitura e ongs. A participação
de moradores da Mauá e de pessoas vinculadas à amoaluz (Or-
ganização de moradores do bairro da Luz) fez valer seus interesses no
Conselho:
“Organizados, conseguimos evitar a demolição do edifício Mauá pre-
vista no contraditório projeto Nova Luz. Contamos ainda com um
estudo técnico e econômico que demonstra a viabilidade de trans-
formar o edifício Mauá em habitação de interesse social, o qual foi
aceito pelo poder público. Nossa ativa participação política possibi-
litou o constante diálogo e o apoio de vizinhos e comerciantes.”
(Carta Aberta da Comunidade Mauá, 2012)
Há um morador da Mauá que é conselheiro nesse espaço: Nelson,
nascido em Santo Amaro da Purificação, em uma família de 12 filhos.
Ele conta, em uma atividade de formação do mmrc, que veio para
Vida e grafias - miolo.indd 303 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
São Paulo, onde viveu bons e maus períodos, na década de 1990. Em
um desses maus períodos, entrou no movimento e viu que era pos-
sível olhar para o próximo de um jeito que não fosse com indiferença.
Por seis meses, morou na rua Líbero Badaró. Despejado de lá, foi
morar em um terreno no Ipiranga, onde enfrentou muita chuva em
um janeiro que “não era como esse que estamos vivendo [em 2012],
não, era de muita chuva mesmo” (Nelson, 2012).⁴ Lá, ele conta que
viveu uma experiência de resistência e acompanhou a resistência das
pessoas e, por seu esforço e dedicação, foi convidado pela Coorde-
nação para ser colaborador do movimento. Aceitou e ficou por quatro
anos vinculado a esse Movimento. Ajudou a organizar a Marcha
dos Cem Mil a Brasília, diversas ocupações e a Marcha até o Center
Norte. Mas por motivos de divergência de pensamento e ideologias,
saiu desse movimento em 2000. Precisava voar. Mas ficou só.
De repente, na iminência de um despejo, famílias “confusas e
perdidas, que estavam ao Deus-dará”, o procuraram. Ele fez reuniões
e assembleias, ajudou a organizá-las, “não podia dizer ‘não’ praquela
gente”. “Deu na cabeça fazer uma ocupação”. Mas como fazer?
Onde? Resolveu se afastar um pouco da região central e foi ocupar um
local na avenida Radial Leste. Levou as famílias até lá, e quando um
companheiro estava serrando o cadeado, a Guarda Civil Metropoli-
tana apareceu “com arma em punho. Assim não dava pra continuar.”
E Nelson lá, “com um carnaval de gente. Nem hoje eu não consigo or-
ganizar esse tanto de gente”. Resolveu então subir a rua Mauá, entrou
na rua Plínio Ramos e viu um prédio vazio. Foi sua salvação: “Como
atirar num pássaro que nunca vi e acertar.” (Nelson, 2012) A polícia
chegou, e ele ficou do outro lado da rua. A polícia tentou entrar e não
conseguiu. Foi embora. À meia-noite do dia 28 de fevereiro de 2003, o
prédio estava ocupado pelo movimento: a ocupação Plínio Ramos.
Se a ocupação Mauá fica virando à esquerda na avenida Cásper
Líbero, a rua Plínio Ramos encontra-se com a Mauá sete quadras
acima, se, ao invés de virar à esquerda na Cásper Líbero, tomar o
rumo à direita. A Plínio Ramos permaneceu por dois anos e oito
meses, quando a reintegração de posse foi cumprida. Desde então,
muitas outras ocupações aconteceram: na rua Duque de Caxias, na
General Osório, na rua Anhaia.⁵ Todas ruas próximas ao polígono
Nova Luz.
A ocupação Plínio Ramos tornou-se referência no movimento de
4 Esta e todas as falas de Nelson foram ditas por ele no Encontro de Formação do
MMRC, no Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, na cidade de São Paulo, em
janeiro de 2012.
5 Dados e informações sobre ocupações, do período de 1997 a 2012, podem ser con-
sultados em Paterniani (2013a), Neuhold (2009) e Oliveira (2010).
Vida e grafias - miolo.indd 304 3/9/15 7:38 PM
Histórias e narrativas envolvendo a ocupação Mauá
moradia, tanto pela organização da ocupação como pela violência do
despejo que as famílias sofreram, em 16 de agosto de 2005:
“Os moradores organizaram no prédio atividades como educação
infantil, alfabetização de jovens e adultos, oficina de costura, grupos
de mulheres e jovens, atividades culturais e de formação política. Até
mesmo uma horta hidropônica vertical foi criada, utilizando paredes
da construção.”
(Fórum Centro Vivo, 2006, p.36)
No despejo, a polícia fez uso de bombas de gás lacrimogêneo, gás de
pimenta e balas de borracha. Nelson conta como foi:
“Aí vi coisa. Setenta e cinco famílias na rua, sem ter pra onde ir. E tí-
nhamos que lutar. Me deu na cabeça soldar a porta. E aí foi aquele
desmantelo. Era pra acabar mesmo com o movimento, preparamos
nossa resistência.”
(Nelson, 2012)
Com a porta principal soldada, bombeiros quebraram uma porta
lateral feita de aço. “Foi um confronto tremendo aquele despejo, a
polícia tava lá pra massacrar.” (Nelson, 2012) O dossiê organizado
pelo Fórum Centro Vivo endossa:
“Este despejo forçado envolvendo cerca de trezentas pessoas – entre
elas 110 crianças – foi o mais violento de que se teve notícia nos
últimos anos da cidade de São Paulo. Com o despejo, os mora-
dores que não tinham para onde ir montaram seus barracos na rua
em frente ao prédio, que teve portas e janelas vedadas com tijolos e
cimento e permanece vazio.”
(Fórum Centro Vivo, 2006, p.36–37)
Esse é procedimento de praxe em imóveis reintegrados: a construção
do muro da vergonha, como se diz entre os militantes.
As famílias despejadas da Plínio Ramos fizeram um acampa-
mento nas “calçadas da rua Mauá com a Plínio Ramos” (Fórum
Centro Vivo, 2006, p.39). A elas, somaram-se famílias despejadas
de outro imóvel. Ficaram três meses nesse acampamento na porta
do prédio. Três meses de massacre, segundo Nelson (2012): “Não
tem coisa pior do que viver na rua e ser humilhado. Filhos de com-
panheiros não podiam ir à escola porque não tinham lugar pra
tomar banho.” Ao cabo desses três meses, a Prefeitura destinou-os
a um abrigo: um galpão “cheio de pulga, rato e barata”. Ficaram lá
Vida e grafias - miolo.indd 305 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
por mais quatro meses para depois receber da Prefeitura R$250,00
mensais durante um ano. Um “auxílio-miséria”.
Dois anos depois do despejo da Plínio Ramos aconteceu o despejo
da Prestes Maia. A ocupação Prestes Maia é uma referência temporal
e política para moradores da Mauá, pessoas do campo do movimento
de moradia e a esquerda paulistana em geral. Começa em uma gestão
da Prefeitura de São Paulo e termina em outra. Ocupado em 2002,
tornou-se a maior ocupação vertical da América Latina, e cerca de qui-
nhentas famílias passaram por lá. A reintegração de posse ocorreu em
15 de junho de 2007. Heitor Frúgoli (2012)⁶ lembra que, após a violenta
desocupação do Prestes Maia, as famílias tinham duas alternativas:
morar na periferia, em conjunto habitacional, ou optar por receber a
Bolsa-Aluguel. Ele conta sobre a angústia que tomava conta das pessoas
na hora dessa tomada de decisão: havia uma fila que todos deviam
enfrentar, imensa. Ao fim da fila, devia-se declarar sua escolha a um re-
presentante da Prefeitura. Frúgoli diz que a dificuldade da decisão era
tamanha que muitas pessoas enfrentavam a fila sem conseguir resolver
e, estando cara a cara com o representante da Prefeitura, voltavam ao
final da fila para ter mais tempo para decidir. Carlos Filadelfo Aquino
(2008) realizou, em seu mestrado, uma etnografia dessa ocupação.
Então, na madrugada de 24 para 25 de março de 2007, como
escrito acima, “havia pessoas que estavam vivendo com o [programa]
Bolsa-Aluguel da Marta, a bolsa já estava vencendo…”, conta Nelson
(2012). Havia as famílias que tinham sido despejadas da Plínio Ramos
e as famílias que tinham sido despejadas da Prestes Maia. O mmrc,
o mstc e o movimento que, mais tarde, passaria a se chamar
astc-sp uniram-se. “E ocupamos”. Ocuparam o prédio da rua
Mauá. Nascia a comunidade Mauá.
A ocupação Mauá:
para dentro, para fora
Após a conquista no Conselho Gestor das zeis-3, que retirou o prédio
do Nova Luz e o deixou sob responsabilidade da Secretaria de Habi-
tação, os moradores da Mauá foram notificados de uma liminar de
reintegração de posse – pelo mesmo juiz que assinara a reintegração
da Prestes Maia em 2003.⁷ Os moradores elaboraram uma carta em
que contavam o acontecido:
6 Em depoimento no mesmo encontro de formação supracitado.
7 A reintegração feita em 2003 foi uma das reintegrações que ocorreram na ocupação
Prestes Maia. A que me referi acima ocorreu em 2007. Atualmente, o prédio está no-
vamente ocupado.
Vida e grafias - miolo.indd 306 3/9/15 7:38 PM
Histórias e narrativas envolvendo a ocupação Mauá
“Nas vésperas do quinto aniversário da ocupação, o Poder Judiciário,
ignorando os direitos fundamentais à moradia e à função social da
propriedade, sem que os moradores pudessem ser ouvidos, deferiu
uma ordem de reintegração de posse (processo n.583.00.2012.127245-
0/0) em favor de quem abandonou o imóvel por mais de vinte anos e
acumulou uma gigantesca dívida de iptu desde 1973 somando quase
R$2,5 milhões.”
(Carta Aberta da Comunidade Mauá, 2012)
A reintegração de posse da Mauá não seria a primeira do ano de 2012.
Em uma madrugada de maio de 2011 houve ocupações simultâneas no
Centro da cidade, e também na madrugada de 6 para 7 de novembro
de 2011, dez ocupações simultâneas ocorreram, nos seguintes ende-
reços: avenida São João, 613; avenida Conselheiro Nébias, 314; avenida
São João, 617; avenida São João, 625; rua Borges Figueiredo, 1358
(Mooca); avenida São João, 601; rua Carlos Guimarães, Belém; rua
Tabatinguera, 277; rua Vitória e rua do Carmo.⁸ Quatro dias depois,
em 10 de novembro de 2011, o edifício Cineasta, um dos prédios ocu-
pados na avenida São João, sofreu reintegração de posse.
Mas, com a liminar, a comunidade Mauá saiu às ruas. No dia 16
de abril deste ano, véspera do dia em que se lembra o Massacre de
Eldorado dos Carajás, foi organizado um ato em defesa da ocupação
Mauá.⁹ Manifestantes reuniram-se na Mauá e caminharam até o
Fórum João Mendes, na Praça da Sé. Os moradores da ocupação
saíram às ruas. As lideranças da Frente e da União saíram às ruas. Li-
deranças da Central de Movimentos Populares, membros-fundadores
do Partido dos Trabalhadores,¹⁰ Conselheiros Tutelares.¹¹
8 Assim consta no site da umm, acessado em 2 de fevereiro de 2012. O site da flm,
acessado em 5 de fevereiro de 2012, contém informações contraditórias, pois apresenta
o seguinte endereço no lugar dos dois últimos citados no texto: duas ocupações na
avenida Rio Branco (Paissandu).
9 Em 17 de abril de 1996, sem-terra, em marcha para Belém, “bloqueavam a rodovia
PA-150 para forçar a desapropriação da área da fazenda Macaxeira, de 35 mil hectares
ocupada por 1.500 família havia 11 dias. O coronel Mário Collares Pantoja mandou os
policiais para o local a fim de conter a ação do mst e o dia 17 de abril de 1996 acabou
entrando para a história como uma das ações policiais mais violentas.” (Thomaz, 2011,
disponível em http://www.mst.org.br/node/11622) Dezenove trabalhadores rurais
sem-terra foram mortos, 69 foram mutilados e cerca de cem ficaram feridos, em uma
ação que envolveu 155 policiais militares armados.
10 A Central de Movimentos Populares (cmp) é uma organização de âmbito na-
cional, que articula muitos movimentos sociais, não só os de moradia. Muitas das lideranças
da cmp e do movimento de moradia têm estreitos vínculos com o Partido dos Trabalha-
dores (pt) – algumas, inclusive, são membros-fundadores do partido.
11 Uma preocupação que surge com a liminar de reintegração de posse é em relação
às crianças e suas mães. Se forem despejadas, não tiverem para onde ir e ficarem na
rua, o Conselho Tutelar, amparado no Estatuto da Criança e do Adolescente, pode
tirar a criança da rua e mandá-la para um abrigo, separando-a de sua mãe ou de
outros familiares.
Vida e grafias - miolo.indd 307 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
Nesses momentos, grandes referências são acionadas nas falas
feitas no carro de som: o recente massacre de Pinheirinho, em São
José dos Campos, e a figura do atual prefeito da cidade de São Paulo,
Gilberto Kassab, o juiz que assinou a reintegração com uma “caneta
assassina”.¹² As referências endossam um diagnóstico e um repúdio
à criminalização dos movimentos sociais, apontada enquanto prática
do governo do estado e enquanto aliada à desaprovada política habi-
tacional municipal. Associam a moradia à vida; o despejo, à morte.
Durante o percurso do ato, Nelson ia falando ao microfone, expli-
cando por que estavam ali. Quando o ato finalmente chegou diante
do prédio do Fórum com sua retidão em concreto, viradas para ele
foram estendidas faixas e bandeiras. E à frente do ato foram posicio-
nadas as crianças.
Recupero uma fala dita no carro de som, que bradava uma his-
tória da Mauá, tendo como supostos interlocutores os trabalhadores
do Fórum e o juiz. Quem contava era Manoelzinho, liderança do
mstc. Começou dizendo que em 2003 o prédio fora ocupado pela
primeira vez. Trinta dias depois, foi pedida a reintegração de posse,
realizada pacificamente com a intervenção da força policial. O imóvel
foi entregue ao proprietário sob a reivindicação de que fosse desapro-
priado e passasse a cumprir sua função social. Durante quatro anos
da desocupação, o proprietário não pagou sua dívida ao Estado, e o
imóvel permaneceu abandonado até 2007, quando ocorreu nova ocu-
pação. O proprietário, então, conhecendo as falcatruas do Judiciário,
fez a seguinte manobra: pediu o desarquivamento do processo que foi
cumprido em 2003, alegando desobediência e exigindo, novamente, a
reintegração de posse. “Como? Se saímos pacificamente com a força
policial?”, questionava Manoelzinho, para arrematar: “O proprietário
está cometendo crime processual.” E amparados legal e juridica-
mente, “nós, o povo pobre, dependente do poder público, dependente
da burguesia, estamos aqui. Cabe ao senhor, Vossa Excelência, que a
rua Mauá não seja mais um Pinheirinho da vida.”
Na fala de Manoelzinho, acima, encontramos um sentido ético e
épico da luta (Comerford, 1999, p.19), em uma narrativa de resistência
que evoca outros eventos, referências e outras lutas de resistência,
outros casos concretos do prolongado enfrentamento na luta pelo
direito à moradia digna. Outras tradições, outras experiências e outras
12 O acampamento do Pinheirinho era um terreno na cidade de São José dos
Campos – sp, de cerca de 1,3 milhões de metros quadrados, com uma imensa dívida
de iptu, que foi ocupado em 2004. Em 2008, o acampamento contava, segundo suas
lideranças, com cerca de dez mil pessoas. Em 2012, ele sofreu uma violenta reinte-
gração de posse – o “massacre” ao qual as lideranças do movimento referem-se. Inácio
Dias de Andrade (2010) realizou uma etnografia do Pinheirinho antes da reintegração
de posse.
Vida e grafias - miolo.indd 308 3/9/15 7:38 PM
Histórias e narrativas envolvendo a ocupação Mauá
coletividades são evocadas na fala e, mais do que isso, outras coletivi-
dades estão também ali presentes, incorporadas nas pessoas que chegam
no ato.
Em assembleia geral da Mauá no dia 3 de maio, foi dada a notícia
de que o mandado de segurança fora negado pelo desembargador.¹³
Este alegou que o grupo não tinha interesse pelo prédio e que “não
tem problema a polícia entrar”, disse Ivaneti (a quem todos chamam
Neti), liderança do mstc, que conduzia a assembleia. Essa res-
posta ignora o Estudo de Viabilidade de Revitalização do Edifício
da Rua Mauá para Fins Habitacionais, documento anexo ao pedido
do Mandado de Segurança, elaborado pelo arquiteto Waldir Cesar
Ribeiro, em que consta:
“O edifício em estudo é fisicamente passível de adaptação para a
finalidade de empreendimento habitacional de interesse social, apre-
sentando-se viável a implantação das unidades habitacionais e todas
as instalações e equipamentos necessários que garantam a segurança
e o conforto dos futuros moradores, inclusive o imprescindível atendi-
mento às normas de proteção contra incêndio.
Com relação aos aspectos legais, também apresenta viabilidade,
pois reúne todas as premissas necessárias ao atendimento da atual di-
retriz das administrações públicas no sentido de revitalização da área
central de cidade, atende à preconizada destinação social da proprie-
dade, e é passível de atendimento das legislações urbanística e edilícia
municipal.
Cabe aqui ressaltar que, para a viabilização do empreendimento,
torna-se imprescindível que a aquisição do imóvel seja efetivada pelo
poder público, por meio de desapropriação, tendo em vista o longo e
vasto histórico especulativo envolvendo este edifício.
Quanto aos aspectos econômicos, o empreendimento preten-
dido, a ser enquadrado como Empreendimento Habitacional de
Interesse Social (ehis), está previsto para comportar 160 unidades
habitacionais.”
(Ribeiro, 2011)
13 Mandado de segurança é um instrumento jurídico previsto na Constituição Bra-
sileira, cuja função é assegurar os direitos fundamentais, inclusive quando aquele que
está desrespeitando esses direitos é o próprio Poder público, como consta no artigo
5º, “parágrafo lxix – conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito
líquido e certo, não amparado por ‘habeas-corpus’ ou ‘habeas-data’, quando o respon-
sável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa
jurídica no exercício de atribuições do Poder público.”
14 O Agravo de Instrumento é um mecanismo jurídico com poder de suspensão de
decisões judiciais. Segundo o Dicionário Processual Civil Brasileiro, de Vicente Greco Filho
(2007), “é o recurso cabível contra as decisões interlocutórias suscetíveis de causar lesão
Vida e grafias - miolo.indd 309 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
Diante da resposta negativa sobre o mandado de segurança, havia
ainda um prazo de cinco dias para a advogada entrar com pedido de
Agravo de Instrumento.¹⁴ “Vamos desanimar?”, Neti perguntava ao
plenário, que respondia em coro: “Não!” A seguir, passa o microfone
para outra liderança, Nelson (2012), cuja fala gira em torno da impor-
tância de lutar e resistir: “Triste é aquele que não faz sua luta”, “luta se
faz com resistência”. E frisa que é só lutando que será possível resgatar
cidadania e dignidade. A assembleia se encerra com todos levantando
o braço esquerdo, “o braço do coração”, diz Neti, e respondendo “a
luta é pra valer” três vezes, em um forte coro, quando Neti diz as siglas
de cada um dos três movimentos da Mauá. Em seguida, por mais
três vezes ela diz: “Quem não luta” ao que o plenário responde: “Tá
morto!”, em um uníssono crescente, e a assembleia termina.
Dois dias depois, a Mauá comparece em peso à Uninove, no lan-
çamento da pré-candidatura de Manoel del Rio a vereador de São
Paulo pelo Partido dos Trabalhadores. Manoel apresenta a um audi-
tório lotado com pessoas de todas as regiões da cidade de São Paulo
sua proposta – resultado, segundo diz, da experiência de muitos anos
de trabalho com os movimentos: a criação de um Fundo Municipal
de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza. O objetivo desse
fundo seria desenvolver políticas públicas integradas, relacionadas,
direcionadas às pessoas em situação de vulnerabilidade social. O eixo
orientador é trabalhar para desenvolver a autonomia das pessoas
atendidas pelo fundo, com vistas a restabelecer a dignidade humana.
Propor políticas públicas integradas aproxima-se da reivindicação
básica do movimento de moradia, a moradia digna. Reivindicar
moradia digna vai além da questão da moradia enquanto acesso à
unidade residencial, articulando referências ético-políticas que dis-
putam os recursos e o acesso à cidade. A moradia digna contrapõe-se
à realidade vivenciada por muitos, qual seja, a da moradia precária
em cortiços, favelas, a moradia incerta que depende do Bolsa-
-Aluguel ou da ajuda de parentes e/ou amigos, moradia “sem papel
passado”, que espera regularização. Del Rio conclui sua apresentação
afirmando que o trabalho integrado das políticas públicas deve ser
transitório. A ideia é que “a pessoa seja incluída na comunidade e na
sociedade”, ou seja, que deixe de ser atendida pelo Plano, uma vez
restabelecida sua dignidade.
Há uma tônica comum em discursos vindos de lugares e posições
diferentes: a tônica do trânsito. Iniciei este texto apontando para o
grave e de difícil reparação às partes, assim como nos casos em que o juízo a quo não
admite a interposição de apelação, ou ainda quando o recurso for relativo aos efeitos
em que a apelação é recebida”.
Vida e grafias - miolo.indd 310 3/9/15 7:38 PM
Histórias e narrativas envolvendo a ocupação Mauá
trânsito das pessoas na região da Luz nas cercanias da Mauá. Indi-
quei a ocupação enquanto compartilhando de outras ocupações, na
memória de seus militantes – quer seja essa memória pessoalmente
vivida, quer seja um disponível mantido, alimentado e deixado à es-
preita pelos movimentos e pelas lideranças, para que novos militantes
e simpatizantes sejam pegos por uma memória do movimento de
moradia.¹⁵ Uma memória que compartilha do mesmo princípio de
amalgamação entra pragmático e simbólico condensado no ocupar.
Há uma sólida e enfatizada memória do movimento de moradia,
que evoca também o sofrimento e a violência, desde o Massacre de
Eldorado dos Carajás sofrido pelo mst até reintegrações de posse e
despejos violentos, como a da Plínio Ramos e recente “massacre” de
Pinheirinho, passando por conquistas de moradias de companheiros e
lideranças – que estão ali, de corpo presente, provas vivas da memória
encarnada –, avaliações e lembranças da relação com o poder público
no passado recente da história política da cidade de São Paulo – a
gestão Erundina e a gestão Marta –, a condenação das gestões Serra
e Kassab.¹⁶ Passado e presente parecem coexistir, conforme a acepção
bergsoniana de duração, definida menos pela sucessão do que pela co-
existência de todo o passado em todo o presente – o “presente que não
para de passar” e o “passado que não para de ser” (Deleuze, 1999, p.45).
As ocupações, também desse ponto de vista de memória, podem
ser vistas com um caráter mítico, especialmente quando compõem
narrativas que visam a afetar os interlocutores – pessoas que estão
participando pela primeira ou segunda vez de uma reunião de base,
moradores em assembleia, o poder público, o juiz ou desembargador
que porta a “caneta assassina”, jornalistas, estudantes etc. Não custa
lembrar Lévi-Strauss (1976), para quem os mitos dizem respeito a
15 Como quando se é pego por um feitiço, que traz o enfeitiçado para dentro de um
novo modo de conhecimento do mundo, do qual só compartilha quem também “já
foi pego”. Aqui, estou lembrando de Favret-Saada (1977). Não estou me referindo,
contudo, a uma memória de tipo amnemônica ou não reminiscente, a uma memória
como depositário de coisas e imagens que a mente acessa quando bem entende, como
bem indicado por Ingold (2005). As experiências coletivas do passado perduram e
atuam no presente, porque memória. Contudo, ao recorrer a essa noção de memória,
enquanto trabalho, o que quer dizer: não separado da consciência nem do tempo, mas
tampouco enquanto mero instrumento tático, deve-se ter o cuidado de não deslizar em
um presentismo. Reconhecer o passado enquanto atuante no presente e a memória en-
quanto trabalho não implica em um esfacelamento do tempo, que colapsaria todas as
experiências – passadas, presentes, futuras – em um mesmo plano de realidade virtual
(Ingold, 2005). O tempo persiste enquanto categoria fundamental, pois historicizar, ao
construir uma narrativa, é situar-se em um tempo, construir um tempo e reivindicá-lo.
16 Loera escreve sobre o mst: “Quando se pergunta a qualquer assentado sobre a
história do lugar, sempre fazem referência à primeira ocupação, e não quando se tor-
naram assentados. Essa possibilidade de brincar com a temporalidade lembra-nos que
as estratégias também consistem em brincar ou manipular o tempo, o tempo da ação.”
(2006, p.41)
Vida e grafias - miolo.indd 311 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
acontecimentos que, de maneira recorrente, atualizam problemas es-
truturais da sociedade referida e referenciada no mito, reposicionando
uma contradição fundamental e justificando posições políticas. No
caso, a contradição fundamental que parece estar sendo reposicionada
na espiral das ocupações é mais do que a entre o direito à propriedade
e o direito à moradia, ambos garantidos pela Constituição brasileira,
que entram em conflito escancarado diante de um processo de ocu-
pação/reintegração de posse.¹⁷ A contradição que a temporalidade
mítica das ocupações atualiza parece ser a do próprio direito, na forma
de lei, que versa, por definição, sobre o lícito e o ilícito. A contradição
imanente a um direito calcado no biopoder, cuja transgressão, ocupar,
é garantida pelo próprio direito à moradia, e cujo castigo para a trans-
gressão é a morte – despejo, reintegração de posse (Foucault, 1988,
p.145–158). Da qual, contudo, é possível e preciso escapar pela luta.
Nove dias depois do evento de pré-lançamento da candidatura
de Manoel del Rio, aconteceu uma reunião chamada pelo 7º Ba-
talhão da Polícia Militar, em que estavam presentes representantes
do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Eletropaulo, da
Prefeitura (um representante da Secretaria de Habitação e outro da
Subprefeitura da Sé), o proprietário do prédio e seus dois advogados,
moradores da Mauá, uma liderança da Frente e o corpo da Polícia
Militar. O 7º Batalhão da Polícia Militar fica na avenida Angélica,
1647. Quando dobrei a avenida Paulista e entrei na avenida Angélica,
um stencil discreto, no muro de um estabelecimento comercial, já dis-
sipava, no anonimato, um conselho que seria a síntese do dia, com os
dizeres: “Respire fundo.” Na sede do Batalhão, não fui autorizada a
entrar pelo policial que estava na portaria: “Ordem do comando.”
Reuniões como essa, convocadas pelo Batalhão e com o intuito
anunciado de evitar que aconteça uma reintegração de posse vio-
lenta, não são de praxe. Roberto, morador da Mauá que também não
conseguiu entrar porque se atrasou, me disse que, em dez anos de mo-
vimento, era a primeira vez que via um Batalhão da PM chamar uma
reunião como essa. Ao final da reunião, tivemos notícias: Osmar, da
Frente, disse-nos que a reintegração de posse já estava concedida em
regime especial – isto é, não aconteceria imediatamente – por conta
do número de famílias e da presença de crianças, idosos e pessoas com
deficiência. Sua avaliação da reunião – endossada por outros, que
saíam e se juntavam a nós, sob os guarda-chuvas – era de que o pro-
motor estava atuando de modo a forçar o acordo entre as partes. Não
se pode passar por cima do juiz – que já decidiu pela reintegração –, a
não ser que haja um acordo entre as partes.
17 O termo é inspirado em Loera (2006).
Vida e grafias - miolo.indd 312 3/9/15 7:38 PM
Histórias e narrativas envolvendo a ocupação Mauá
As partes, no caso, são o proprietário e o movimento, cuja relação
passa longe de caminhar para um acordo. Segue um diálogo entre
Osmar e eu. Ele começa: “Eu falei com o proprietário assim: ‘Você
quer reintegrar o prédio pra quê? Pra ficar abandonado, o prédio?
Por que você não suspende a ordem e negocia com a Associação a
compra do imóvel?’” Eu o instigo a continuar: “E aí?”, e ele responde:
“Ele não fala nada, ele fica mudo.”
Para Osmar, o proprietário “precisa falar quanto ele quer no
prédio e amortizar a dívida de iptu na negociação da compra”.
Compra que, por conta da dívida, só pode operar via Estado. Mas
além das partes, há outros personagens envolvidos: a Prefeitura muni-
cipal, o governo estadual e o governo federal. Osmar me explica:
“A Prefeitura tá vinculando o seguinte: pra você viabilizar a reforma
do prédio, você tem que tirar as famílias. Porque não dá pra você
fazer a reforma [com as famílias dentro do prédio]. Então, a Pre-
feitura fala o seguinte: ‘Eu posso oferecer o atendimento às famílias
desde que haja um compromisso assumido dos dois níveis de governo:
cdhu e governo federal, Ministério das Cidades.”
O cdhu, órgão do governo estadual, disponibilizou cerca de 20 mil
reais para a compra e reforma do prédio. O Ministério das Cidades,
do governo federal, dispõe de 65 mil. Mas “não dá, 85 mil acho que
não fecha a conta. Teria que ter mais uns 5 [mil] da Prefeitura, 90 mil
fecha. Aí a Prefeitura teria que oferecer o atendimento pra essas fa-
mílias, pra elas poderem alugar um local para ficarem até a reforma”,
ainda me explica Osmar. “Eles [a Prefeitura] não querem se compro-
meter em desapropriar e comprar o prédio.”
O encadeamento dos eventos é lógico: firma-se o acordo de
quanto de dinheiro cada órgão estatal irá aplicar no projeto; retira-se
as famílias e dá-se a elas atendimento provisório durante a reforma
do prédio; as mesmas famílias voltam a morar no prédio reformado,
destinado à Habitação de Interesse Social.
A Prefeitura, então, apresentou o argumento de que não dis-
punha nem disporia de sistema para cadastrar todas as famílias
em programas habitacionais antes de dois meses. Diante disso, foi
marcada uma próxima reunião para dali a dois meses, no final de
julho. “Pelo menos a gente pode respirar um pouco mais”, disse
Osmar, sob os guarda-chuvas, após a reunião, e continuou:
“O promotor chegou a uma conclusão: ‘Não temos meios, o oficial
de Justiça não tem data.’ Ele seguiu uma via correta: o argumento ju-
rídico. Porque no político eles não tão interessados, o proprietário, o
Vida e grafias - miolo.indd 313 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
Batalhão… Não adianta entrar na concessão Nova Luz, não é o que
tá em discussão. É o prédio Mauá. Aqui não é uma discussão ideoló-
gica. O debate ideológico é em outra esfera.”
Poucas semanas depois da reunião com o Batalhão, uma moradora da
Mauá, Evanilda, quando questionada sobre as diferenças existentes
entre os movimentos que compõem a Associação Mauá, disse-me que
“lá fora [da Mauá] é tudo a mesma coisa” e que “a diferença é só aqui
dentro”. Disse que há diferenças organizacionais, “de ideologia” e de
origem de cada movimento, mas que “lá fora é comunidade Mauá”.
Quando Osmar diz que não há espaço pra debate ideológico na reunião
do Batalhão, que o que está sendo discutido é o prédio Mauá, percebo
a mesma postura, de pensar o prédio Mauá enquanto uma coletivi-
dade inteiriça, coesa, diante de um antagonista claro: o proprietário
do prédio.
Considerações finais
Filadelfo (2008), em seu estudo sobre o mstc, propôs o resgate da
noção de segmentaridade, não exclusivamente como proposta por
Evans-Pritchard n’Os nuer (1940), mas como atualizada, por Deleuze &
Guattari (1996) e Goldman (2006), que
“propõem que a noção de segmentaridade não se restringe às socie-
dades de linhagem, que seu alcance deve ser ampliado, uma vez que
o princípio de segmentaridade é universal na constituição de relações.
Assim, tal princípio pode ser pensado como aquilo que orienta e, ao
mesmo tempo, explica relações contínuas e inseparáveis de compo-
sição e oposição.”
(Filadelfo, 2008, p.16)
O esforço em firmar-se enquanto coletivo na reunião com o Batalhão
pode ser visto como estratégico, exigido naquele espaço com vias a
garantir seus interesses (isto é, que o prédio seja destinado à Habi-
tação de Interesse Social para as famílias que nele moram) – o que foi
conseguido mediante, inclusive, um argumento técnico da parte da
Prefeitura. Independente da motivação para firmar-se coletivo e da
tática argumentativa, contudo, observo uma possível expressão, nesse
caso do princípio de segmentaridade como exposto por Filadelfo. E,
novamente, o trânsito aparece: trânsito entre esferas institucionais
(governo municipal, estadual e federal); entre programas e projetos
(o prédio Mauá estava no Projeto Nova Luz e, no Conselho, a con-
quista foi deixá-lo sob responsabilidade da Secretaria de Habitação);
Vida e grafias - miolo.indd 314 3/9/15 7:38 PM
Histórias e narrativas envolvendo a ocupação Mauá
entre padrões de argumentação (o “político e ideológico”; o jurídico;
o técnico). A ideia que desejei inspirar neste texto foi mostrar como o
trânsito existe, também por serem fluidas as fronteiras que delimitam
cada ambiente ou elemento por onde se transita.¹⁸
Venho percebendo no movimento de moradia, em alternância
ou concomitância, dois processos: o esforço em se diferenciar (quer
internamente – entre grupos, organizações, militantes vinculados a
partidos ou a regiões específicas da cidade – quer externamente – di-
ferenciar-se dessa gestão da prefeitura, fundamentalmente, e de uma
política habitacional que não inclui o trabalhador de baixa renda; e
todos os que fortalecem e endossam essa política, como o proprietário
da Mauá) e o esforço em se aproximar (de outros movimentos e, espe-
cificamente o que tentei mostrar neste texto, fortalecendo-se enquanto
Associação Mauá).
Pode-se dizer que tanto as ideias quanto os atores e seus projetos
políticos e modos de fazer sentido de suas ações no mundo não são
estanques, imutáveis, indisputáveis, mas, sim, passíveis de transfor-
mação; e suas relações, de ressignificação. A importância dos nexos a
partir dos quais as relações se estabelecem está contida em Stanley
Tambiah (1985), bem como a transcendência em se trabalhar com
dicotomias incomunicáveis. Um conceito que sumariza a importância
dos nexos em Tambiah é o de cosmologias, que são
“enquadramentos de conceitos e relações que tratam o universo ou
cosmos como um sistema ordenado, descrevendo-o em termos de
espaço, tempo, matéria e movimento, e povoando-o com deuses,
humanos, animais, espíritos, demônios e outros.”
(Tambiah, 1985, p.3, grifo nosso, tradução livre)
Ele propõe, ainda, que cosmologias e sistemas classificatórios “são
tanto pensados como vividos” (Tambiah, 1985, p.4, tradução livre) e,
enquanto prática, portanto, passíveis de mudança e afecção.
Aqui farei uma pequena digressão para recuperar a discussão
que Stanley Tambiah (2006) faz, a partir da polêmica entre Alasdair
McIntyre e Peter Winch, nos anos 1960, a partir das etnografias de
Evans-Pritchard sobre os Nuer e os Azande, e de Lévy-Bruhl e suas
18 Quero dizer com isso que, embora governo municipal e federal pareçam dois
lugares monolíticos, as pessoas que os compõem se cruzam, se movimentam, têm vín-
culos com instituições que influenciam ambos. Assim como o político e o técnico não
têm fronteiras claras: a capacitação de lideranças para entenderem o conceito de Ha-
bitação de Interesse Social, por exemplo, ou os trâmites legais envolvidos em processos
de desapropriação de imóveis ociosos, demonstra como decisões políticas e conheci-
mento técnico estão associados.
Vida e grafias - miolo.indd 315 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
ideias sobre racionalidades e formas de ordenamento do mundo.
Evans-Pritchard entendia que há a realidade da ciência, independente
de contextos, contra a qual a racionalidade de noções Zande como
bruxaria, magia e oráculos existia. Winch mantinha sua posição de
que não há realidade independente de jogos de linguagem e formas
de vida de uma dada comunidade. MacIntyre propunha uma viragem
às ideias de Winch: uma dialética no entendimento do outro, isto
é, propõe que o privilégio das categorias nativas não implicaria em
abdicar das do pesquisador; muito pelo contrário: os Azande não tra-
balhariam com noções como ciência e não ciência, e sequer trabalhariam
com noções equivalentes a elas.
O mote do que Tambiah chama do “debate iniciado por Lévy-
-Bruhl” é que a mentalidade primitiva não deveria ser considerada
como primeva, ou rudimentar, ou uma forma patológica da moderna
mentalidade civilizada, mas sim uma manifestação de processos e
procedimentos do pensar que seriam, como um todo e de uma forma
geral, diferentes das leis que governam o pensamento científico lógico
racional moderno. As representações coletivas do “pensamento
pré-lógico” preconizado por Lévy-Bruhl não engendravam regras se-
melhantes àquelas seguidas pela lógica moderna – tais como as leis de
contradição e as regras de dedução e prova.
Ainda segundo Tambiah (2006), Lévy-Bruhl propôs substituir
a ideia de que o pensamento primitivo seria ‘irracional’ ou teria se
equivocado na aplicação das leis do pensamento pela ideia de que ele
teria suas próprias características de organização, também dotado
de coerência e racionalidade. Estas características organizatórias
fundavam-se nas “leis de participação”. “Participação”, segundo
Lévy-Bruhl, significava uma associação entre pessoas e coisas, como
ocorre no pensamento primitivo, a tal ponto de atingir identidade
e consubstancialidade. O que o pensamento ocidental consideraria
como aspectos de realidade logicamente distintos, o primitivo seria
capaz de fundir em uma unidade mística. Assim, causalidade e ra-
cionalidade não se equivalem; a causalidade seria apenas uma forma
possível de dar sentido ao mundo e organizá-lo. Nesse sentido, uma
horda australiana não “possui” sua terra, de acordo com nossos
termos de propriedade, simplesmente porque sequer há a possibili-
dade de conceber terra e horda como passíveis de separação. Quando
um bororo se declara arara, é exatamente isso que ele quer expressar:
uma inexplicável identidade mística entre ele e o pássaro. Esse sentido
de participação implica uma união física e mística; não é uma mera
representação (metafórica). Na mente primitiva, a conexão entre
causa e efeito é imediata, e, portanto, não há espaço para ligações
mediadoras.
Vida e grafias - miolo.indd 316 3/9/15 7:38 PM
Histórias e narrativas envolvendo a ocupação Mauá
Em suma, uma das principais asserções de Lévy-Bruhl, segundo
Tambiah, é que a lógica da mentalidade mística e a da mentalidade
lógico-racional coexistem, na humanidade, em todo lugar, embora
seus pesos e importância possam diferir de modo ocasional.¹⁹ É essa
ideia de que distintos reinos de significado coexistem e que os grupos
sociais podem habitá-los circunstancialmente e transitar por eles que
desejo reter da leitura de Lévy-Bruhl por Tambiah, especialmente do
capítulo 5, “The multiple approaches of reality: the debate initiated
by Lévy-Bruhl”, do livro Magic, Science, religion and the scope of ratio-
nality. Transitar entre distintas províncias de significado e conjugar
diferentes modos de se relacionar com o mundo (notavelmente, a cau-
salidade e a participação) apontam para a inexistência de um único
modo de se tratar a natureza humana no Ocidente. Apontam, enfim,
para a não-contradição entre a universalidade do espírito humano e a
pluralidade de culturas/sociedades (Tambiah, 2006).
Essa é, portanto, uma tese epistemológica que se atrela ao debate
sobre o que é antropologia e qual é seu método por excelência. Lévi-
-Strauss (1986) aponta para a recusa de si e a identificação com o
Outro enquanto elementos basais para um programa da disciplina
antropológica, que ele reconhece anunciado por Rousseau. A recusa
de si entendida enquanto recusa de identificações forçadas e a identi-
ficação com o Outro só são possíveis, ainda segundo Lévi-Strauss, no
fim da autoproclamação da superioridade do homem, ou seja, com
o fim de uma razão dominante e geral, a saber, a “razão do Cogito”:
“Então, o eu e o outro, libertos de um antagonismo que só a filosofia
procurava estimular, recuperam sua unidade.” (Lévi-Strauss, 1986,
p.48) Disso podemos depreender que já no programa proposto por
19 É em relação a essa alegada copresença que podemos inserir alguns pontos do
diálogo entre Evans-Pritchard e Lévy-Bruhl, conduzido em 1934, alguns anos antes
da publicação de Witchcraft, Oracles and Magic Among the Azande (1937). Evans-Pritchard
apontou o perigo da dupla seleção pela qual os selvagens são descritos inteiramente
em termos de suas crenças místicas, ignorando muito de seu comportamento empiri-
camente observável no cotidiano; e os europeus, descritos inteiramente em termos de
pensamento científico lógico-racional, quando tampouco eles habitam esse universo
mental o tempo todo. Deveríamos evitar caricaturas tanto da mentalidade primitiva
quanto da moderna, e não representar os ocidentais como pensando cientificamente o
tempo todo, enquanto a atividade científica é exceção, e praticada em circunstâncias
específicas. Ainda segundo Tambiah (2006), a crítica de Evans-Pritchard corrobora a
premissa malinowskiana de que devemos ser especialmente sensíveis a situações nas
quais uma pessoa pode, num certo contexto, comportar-se de maneira mística, e então
mudar, noutro contexto, para uma enquadramento prático, empírico e cotidiano da
mente. Por exemplo, um grupo nuer que santifica seus ancestrais – em um momento
específico, esses objetos e seu espaço ao redor tornam-se sagrados e os espíritos dos
ancestrais estão imanentes ali; mas fora do palco dos rituais, os mesmos objetos são
tratados casual e factualmente. Portanto, parece que é esse contexto, no qual atitudes
sagradas são evocadas e em que ocorrem mudanças de código, que permanece para
nós como principal fenômeno a ser interpretado.
Vida e grafias - miolo.indd 317 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
Lévi-Strauss para a antropologia estava a dissolução de dicotomias e,
portanto, a comunicação entre a universalidade e as particularidades.
Entretanto, antes dessa apresentação programática de Lévi-
-Strauss, dois métodos erigiram-se em contraste no campo disciplinar
antropológico: o nomotético e o ideográfico. Ingold (2008) sumariza
as distinções entre os métodos em dois termos: a integração descritiva,
em referência ao método ideográfico, e a integração teórica, relativa
ao método nomotético. Esses métodos distintos dizem respeito, funda-
mentalmente, a entendimentos diferentes da relação entre o particular
e o geral. Ainda segundo Ingold, a integração descritiva prevê a des-
crição de fenômenos existentes em uma experiência imediata, em um
mundo contínuo e coerente em que a integração é ontologicamente
precedente à decomposição analítica, enquanto a integração teórica
entende o mundo como uma multidão de particulares, de ações e
interações humanas cujos nexos e características gerais só podem ser
abstraídas pelo analista.
Ao questionar a própria noção de tempo e de história, isto é, ao
lembrar que não é o tempo cronológico que define a história, Ingold
(2008) embaça a até então nítida diferenciação entre os dois métodos
e apreciada pelos defensores do método nomotético. Em uma pa-
lestra, ele diz que a descrição do antropólogo é a de um momento, em
um processo infinito, e continua:
“Nesse momento, entretanto, está comprimido o movimento do
passado que o trouxe à tona, e na tensão dessa compressão repousa a
força que o impulsionará ao futuro. É esse enlace entre um passado
generativo e um futuro potencial no momento presente, e não a lo-
calização desse momento em uma cronologia abstrata, que o faz
histórico.”
(Ingold, 2008, p.74)
Ingold reivindica um modo descritivo que recuse a distinção entre o
descritivo e o teórico, entre o nomotético e o ideográfico. Ele trabalha
com o princípio de que todo ato de descrição implica um movimento
de interpretação.
Movimento de moradia é tanto um conceito que opera no campo
quando um conceito analítico. É um conceito acionado por atores –
militantes, conselheiros, lideranças, pesquisadores – quando convém,
e geralmente erige um ator ou um polo de uma arena²⁰ (composta,
por definição, por atores antagonistas). Na atual etapa da pesquisa, vi
20 Estou me referindo ao conceito de arena de Victor Turner (2008) que, por definição,
é composta por atores antagonistas.
Vida e grafias - miolo.indd 318 3/9/15 7:38 PM
Histórias e narrativas envolvendo a ocupação Mauá
que o que é chamado movimento de moradia é maleável e seu significado
de coletividade (ou o limite da coletividade a que se refere) depende
de quem fala e de onde se situa: se militantes de uma ou outra or-
ganização e se em assembleia interna ou no Conselho Municipal de
Habitação; se lideranças em “reuniões de cúpula” ou em entrevistas a
estudantes universitários; se representantes do governo no Conselho
Gestor das zeis-Luz; se candidatos a vereadores em campanha de
pré-lançamento de candidatura; se militantes de outros movimentos
sociais.
Entendo a Mauá enquanto coletividade que contém, mantém e
atualiza diversas coletividades, ao mesmo tempo que se sustenta em
outras coletividades maiores. Isto é, na Mauá (e através dela) rela-
cionam-se diversas “tradições coletivas”, cujos loci são contingentes.
Essas coletividades definem-se pelo que fazem, pelo que dizem, e pelo
que insistem em (tentar) compartilhar e organizar. A partir de alguns
eventos de campo, pretendi ir-me espraiando em uma composição de
quadros possíveis de coletividades presentes na Mauá e em relação a
ela.
A recusa da separação entre a descrição e a teoria adotada por
Ingold tem, por trás, um entendimento de totalidade enquanto pro-
cesso e, portanto, (nos termos do próprio Ingold), open-ended. É por
isso que, ainda segundo Ingold (2008), um método que proponha
desmembrar a totalidade para estudar fragmentos isolados e depois
juntá-los (o método que Ingold chama de integração teórica) é um
método que deixa de lado a vida, ou a totalidade dos fenômenos –
sendo impossível recuperá-la. Sugiro que a historicização – enquanto,
como dito acima, reconhecimento de coletividade e de outras coleti-
vidades – seja um mecanismo que acione a legitimação do “direito à
moradia digna”, “direito a uma vida melhor”, ou ainda do “direito à
vida”. Legitimação essa perante interlocutores que não compartilham
da maior identificação que pareço encontrar, e que talvez seja o que
define a maior coletividade possível entre os moradores da Mauá, a
categoria política sem-teto. Embora tais interlocutores – como o juiz,
o proprietário da Mauá, ou leitores de jornais que tomaram contato
com a Mauá a partir da visibilidade causada pela gravação do clipe
d’Os Racionais – não se reconheçam nessa coletividade, reconhecem
a moradia como um direito e a dignidade (e, na relação estrutural
casa–vida, despejo–morte, a vida) como um valor universal. Concluo
lembrando que Osmar, quando do término da reunião com o Bata-
lhão da PM, disse que percebia uma “sensibilização pela causa da
Mauá, inclusive por parte do advogado do proprietário”. Talvez seja
esse um dos sentidos da política, quando pensada sob o amálgama
entre o pragmático e o simbólico, o trânsito, a fluidez das fronteiras.
Vida e grafias - miolo.indd 319 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
Fluidez que não implica, contudo, dissolução – para haver fluidez,
é necessário que haja fronteira, com o perdão da obviedade. A
multiplicidade, os diversos coletivos e as diversas posturas – ou seja,
as relações diferenciação–unificação – garantem as idiossincrasias
de cada unidade justamente por serem os processos de unificação
e diferenciação sempre realizados em relação a, isto é, assumidas
circunstancialmente.
Referências
Néstor Garcia Canclini, Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade, São
Paulo: edusp, 2000
Carta aberta da comunidade Mauá, “Em defesa ao Direito à Moradia Digna, manifes-
tamos nossa revolta diante da injusta decisão do Judiciário em despejar todas as
famílias moradoras do Edifício Mauá”, São Paulo: abril, 2012
John Comerford, Fazendo a luta: sociabilidade, falas e rituais na construção de organizações cam-
ponesas, Rio de Janeiro: Relume-Dumará: 1999
Gilles Deleuze, Cinema 1 – Imagem-Tempo, Rio de Janeiro: Brasiliense, 1985
–, Bergsonismo, São Paulo: Editora 34, 1999
Gilles Deleuze & Félix Guattari, “Platô 9: 1988 – micropolítica e segmentaridade”, in:
Mil platôs – capitalismo e esquizofrenia, v.3, São Paulo: Editora 34, 1996
Inácio Dias de Andrade, “Movimento social, cotidiano e política: uma etnografia da
questão identitária dos sem-teto”, dissertação de mestrado em Antropologia
Social pelo Programa de Pós-Graduação, São Paulo: Universidade de São Paulo,
2010
E Evans-Pritchard, The Nuer: A description of the modes of livelihood and political institutions of
a nilotic people, Oxford University Press, 1968
Jeanne Favret-Saada, Deadly words – Witchcraft in the Bocage, Cambridge University
Press: 1980
Carlos Filadelfo, “A coletivização como processo de construção de um movimento de
moradia: uma etnografia do Movimento Sem-Teto do Centro (mstc)”, disser-
tação de mestrado pelo Programa de Pós-Graduação, São Paulo: usp, 2008
Fórum Centro Vivo, Dossiê-denúncia. Violações dos direitos humanos no centro de São Paulo: pro-
postas e reivindicações para políticas públicas, São Paulo, 2006
Michel Foucault, História da sexualidade i – a vontade de saber, Rio de Janeiro: Edições
Graal, 1988
Heitor Frugoli, morador de Mauá, em declaração no Encontro de Formação do
MMRC, Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, São Paulo, 2012
Vicente Greco Filho, Direito Processual Civil Brasileiro, v.ii, São Paulo: Saraiva, 2007
Márcio Goldman, Como funciona a democracia: uma teoria etnográfica da política, Rio de
Janeiro: 7letras, 2006
Tim Ingold, “1992 debate. The past is a foreign country”, Key Debates in Anthropology,
Taylor & Francis E-library, 2005
–, “Anthropology is not ethnography”, Radcliffe-Brown Lecture, Social Anthropology.
Proceedings of the British Academy, 154, p.69–72, 2008
Vida e grafias - miolo.indd 320 3/9/15 7:38 PM
Histórias e narrativas envolvendo a ocupação Mauá
Claude Lévi-Strauss, O pensamento selvagem, São Paulo: cen & Editora da Universidade
de São Paulo, 1976
–, “Jean-Jacques Rousseau, fundador das Ciências do Homem”, Antropologia Estru-
tural Dois, Tempo Brasileiro, 1986
Nashieli Loera, A espiral das ocupações de terra, São Paulo: Pólis, Campinas: ceres &
unicamp, 2006
Nelson, morador de Mauá, em declaração no Encontro de Formação do MMRC,
Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, São Paulo, 2012
Roberta Neuhold, “Os movimentos de moradia e sem-teto e as ocupações de imóveis
ociosos: a luta por políticas públicas habitacionais na área central da cidade de
São Paulo”, dissertação de mestrado pelo Programa de Pós-Graduação da Facul-
dade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, São Paulo: usp, 2009
nepac (Núcleo de Pesquisa em Participação, Movimentos Sociais e Ação Coletiva),
“Em defesa do Conselho Municipal de Habitação”, Le Monde Diplomatique Brasil,
n.53, dezembro, 2011
Nathalia C Oliveira “Os movimentos dos sem-teto da Grande São Paulo (1995–
2009)”, dissertação de mestrado pelo Programa de Pós-Graduação, Campinas:
unicamp, 2010
Stella Zagatto Paterniani, “Política, fabulação e a ocupação Mauá: etnografia de uma
experiência”, dissertação de mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em An-
tropologia Social, Campinas: unicamp, 2013a
–, “Ocupação Mauá e poder de fabulação: considerações a partir de uma atividade
de formação”, Revista Lugar Comum, n.40, p.171–187, 2013b
Olivia de Campos Maia Pereira, “Lutas urbanas por moradia: o centro de São Paulo”,
tese de doutorado pelo Programa de Pós-Graduação do Instituto de Arquitetura
e Urbanismo, São Carlos: Universidade de São Paulo, 2012
Waldir Ribeiro, Estudo de Viabilidade de Revitalização do Edifício da Rua Mauá para Fins Ha-
bitacionais, São Paulo, junho de 2011
Taniele Rui, “Corpos abjetos: etnografia em cenários de uso e comércio de crack”, tese
de doutorado pelo Programa de Pós-Graduação do Instituto de Filosofia e Ciên-
cias Humanas, Campinas: Unicamp, 2012
Stanley J Tambiah, Culture, Thought, and Social Action – An Anthropological Perspective, Cam-
bridge, Mass: Harvard University Press, 1985
–, Magic, science, religion and the scope of rationality, Cambridge University Press, 2006
Paula Thomaz, “Eldorado dos Carajás, 15 anos depois”, Revista Carta Capital, 18 de
abril de 2011
Victor Turner, Dramas, campos e metáforas, Niterói: eduff, 2008
Agradeço a professora doutora Suely Kofes e a Hugo Ciavatta pela leitura e comentá-
rios de uma versão preliminar deste texto. Agradeço também aos participantes do GT
32, Etnografia e Biografia na Antropologia – Experiências com as Diversas Grafias
sobre a Vida Social, da 28ª Reunião da Associação Brasileira de Antropologia. As ela-
borações aqui contidas, contudo, são inteiramente de minha responsabilidade. Este
capítulo é uma versão resumida de alguns pontos e argumentos que estão em minha
dissertação de mestrado (Paterniani, 2013a).
Stella Zagatto Paterniani é mestra em Antropologia Social pela Universidade Estadual
de Campinas (2013) e doutoranda em Antropologia Social na Universidade de Brasília.
Interessa-se pelos temas: movimentos sociais, narrativas, tradução, direito à cidade,
teoria antropológica e Estado.
Vida e grafias - miolo.indd 321 3/9/15 7:38 PM
Antropologias nas cidades em
grafias literárias
Cristina Maria da Silva
“A literatura não diz nada aos seres humanos satisfeitos com
seu destino, de todo contentes com o modo como vivem a vida.
A literatura é alimento dos espíritos indóceis e propagadora da
inconformidade.”
(Vargas Llosa, 2009)
Este capítulo busca compreender trajetórias, experiências e narrativas
na cidade e sobre ela a partir da literatura brasileira contemporânea,
situando-se entre campos interdisciplinares ou transdisciplinares. Esse
é um campo de pesquisa, no qual o desafio é olhar para as narra-
tivas literárias que se esboçam e suas múltiplas faces, que têm desfeito
os cânones literários em suas divisões nítidas de gênero, e fazem-
-nos pensar nas próprias formas de conhecimento e nas demarcações
rígidas sobre os lugares de produção dos saberes. Referimo-nos aqui
às narrativas de Luiz Ruffato, João Gilberto Noll, Fernando Bonassi,
Bernardo Carvalho, Joca Reiners Terron, Férrez e Marcelino Freire.
Essas narrativas se constituem sem ter necessariamente uma “identi-
dade”, como se isso já não fosse mais possível ou esperado.
Os escritores se entrelaçam nas narrativas, nos contextos nos
quais elas se inscrevem. Mas diferentemente de outros tempos do
cenário literário brasileiro, talvez ainda não se tenha como pensá-las
em termos de grupos, escolas, geração falando e criando literatura.
Conseguimos pensar antes em “repertórios de escritores e de obras
que iluminam cortes e continuidades na ficção brasileira” (Schol-
lhammer, 2009, p.21). Existem antes aproximações pelas marcas da
própria constituição social e histórica. Essas narrativas e seus escri-
tores se entrelaçam, relacionam-se, mas menos por uma configuração
objetiva e mais pela matéria sob a qual se debruçam.
Diante do “campo literário” encontrado, percebi que essas nar-
rativas não surgem sozinhas no cenário literário; outros escritores a
Vida e grafias - miolo.indd 322 3/9/15 7:38 PM
Antropologias nas cidades em grafias literárias
propiciaram e são muitos os embates que as tornam possíveis. Essas
narrativas tomam várias formas, por isso as chamo de “narrativas
de/nas socialidades”, ou seja, são gestadas no conflito, vivem por
meio dele, são entremeadas em seus fios e rastros. Seus escritores estão
nas cidades, suas experiências são gestadas no que eles vivenciam, ob-
servam ou imaginam.
Sendo assim, passei a pensar esses múltiplos jogos de alteridades
da sociedade contemporânea nos escritores aqui relatados. Entre-
tanto, não buscando uma maneira de tentar abranger a totalidade
dessas narrativas, mas acompanhar partes de seus movimentos, do
que apontam, como exercício de pensamento e reflexão.
Entre fronteiras, travessias e conversações, podemos pensar nas
relações entre antropologia, etnografia e literatura e indagar: o que
seria um autor para a antropologia, o mesmo que um narrador para a
literatura? Talvez não o mesmo, mas ambos enfrentam os embates do
narrar, acionando sentidos e multiplicidades. Trilham de certo modo
os embates entre o real e a ficção, e entrar no texto, no cenário da
escrita, talvez seja tão difícil quanto entrar nos códigos de uma cultura.
O etnógrafo recria mundos no texto, que não deixam de ser
atravessados por suas inscrições, percepções e interpretações diante
do que é observado. A escritura literária capta a trama social re-
combinando seus sentidos. Não apenas imita a realidade vista, mas
decompõe suas estruturas de organização, mostra a realidade vivida
como arbitrária, contingente, recombina seus signos. Faz-nos ver múl-
tiplas perspectivas onde se enxerga finitude e determinação.
Saindo desse binômio, autor–narrador, que pouco esclarece
podemos pensar que quando lidamos com literatura, estamos lidando
com o informe, com o inacabado. No caso da literatura, como já nos
esclareceu Michel Foucault, estamos lidando com o avesso, com uma
nova disposição dos signos que nos faz perceber como a realidade
social e culturalmente criada é contingente, mutável e criada antes de
tudo por mãos e significações humanas.
“A literatura é apenas a reconfiguração, vertical, de signos que são
dados na sociedade, na cultura, em camadas separadas. A literatura
não se constitui a partir do silêncio. A literatura não é o inefável de
um silêncio, a efusão daquilo que não pode ser dito e que jamais se
dirá. A literatura, na realidade, só existe na medida em que não se
deixou de falar, de fazer circular signos. É porque existem signos em
torno dela, é porque ela fala, que algo como um literato pode falar.”
(Foucault, 2001, p.166–167)
As palavras são compartilhadas na literatura para exprimir não um
Vida e grafias - miolo.indd 323 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
sentimento único e nem mesmo para denunciar ou ser testemunha
diante do que quer que seja. As narrativas desse tempo que ten-
tamos ainda compreender. Revelam o esgarçar de uma ordem social,
desmontam os grandes discursos e desvelam sua fragilidade para
sustentar os sujeitos sociais em seus enredos e tramas em sociedade.
Esboçam as cidades em seus fragmentos de ações, nos rastros e passos
de seus personagens, e não em um território no qual se sintam pro-
tegidos e amparados. São grafias múltiplas que se dão em seus livros,
nos seus movimentos em blogs, vídeos, eventos. Escritores andari-
lhos por cidades, experiências vividas e observadas. Trata-se de uma
escrita literária movediça diante da qual a cidade e suas tramas se
constituem tanto quanto os escritores.
A cidade esfarela-se como rastros, desse modo, “a literatura
contemporânea não será necessariamente aquela que representa a
atualidade, a não ser por uma inadequação, uma estranheza histó-
rica” (Schollhammer, 2009, p.10). Ela percebe o presente, mas está
desconexa com suas lógicas, repete, refaz para acionar ou invocar
grafias da diferença, para recompor as cartografias urbanas de outra
maneira.
As cidades esboçadas em um romance ou em narrativas, sejam
quais forem as suas formas, “são imaginárias.” Para Ronaldo Fer-
nandes “é na cidade e por causa da cidade que o romance aparece,
floresce e se modifica”. No romance a cidade aflora para falar das
fisionomias individuais que estão atrás da realidade que se constrói
em um “mundo onde o valor de troca se impõe, o trabalho se aliena,
a produção em série se acelera e os choques sociais se aguçam” (Fer-
nandes, 2000, p.35). A escrita literária é a expressão dos conflitos
humanos, elas são portas e pontes de acesso a outras formas possíveis
de vida e de subjetividades.
Problematiza-se que as narrativas contemporâneas, aqui tra-
tadas, são essencialmente urbanas. “O espaço da narrativa literária
brasileira atual é essencialmente urbano, ou melhor, é a grande
cidade, deixando para trás tanto o mundo rural quanto os vilarejos
interioranos.” (Dalcastagnè, 2003, p.12–13) Regina Dalcastagnè fala
de “sombras da cidade no espaço da narrativa brasileira contempo-
rânea”, traçando um “mapa de deslocamentos”. Ou seja, não se trata
de desaparecimento das cidades, mas delas envoltas em sombras,
incertezas, dúvidas. As cidades são símbolos das sociabilidades e socia-
lidades, agregam o diverso, propiciam a convivência, mas também são
portadoras de conflitos e confusões. São “cidades literárias… feitas
de muitas ausências” (Dalcastagnè, 2003, p.12–13 e p.24–16). A cidade
que começa a ser delineada, de modo esparso e fragmentado nesses
romances e múltiplas narrativas só podem se erguer de fato durante o
Vida e grafias - miolo.indd 324 3/9/15 7:38 PM
Antropologias nas cidades em grafias literárias
processo de leitura. Daí a impossibilidade de um mapeamento efetivo
do espaço urbano no texto literário. Seria como mapear o olho de
quem vê.
Na crítica literária, essa questão da localização do texto na
tessitura urbana aparece polarizada ora como uma “ausência das
cidades” ou mesmo sob a égide da ideia de “crise” das cidades. No
entanto, cabe pensar se essas narrativas não tentam de fato capturar
ou são atingidas pela ideia de que as cidades são, sobretudo, invisíveis,
compostas por lados avessos, também, por socialidades e não somente
por projetos, leis e convenções. Claro que as cidades do romance são
imaginárias. Assim como todas as múltiplas formas que assumem as
narrativas literárias contemporâneas. Elas são uma maneira de ler
fragmentos de mapas, ou melhor, de croquis, da cidade, um modo de
construir sentidos pelos estilhaços do urbano. Elas são muitas, pois
muitos são os conflitos e os embates enfrentados pelo escritor e sua
matéria-prima: a experiência humana. Diante dessa literatura, que
nos põe diante de outras “geografias narrativas”, cabe lembrar das
palavras de Benjamin sobre a obra literária:
“Esta não pode ser compreendida se não se ultrapassar a simples fun-
cionalidade. Assim, diz ele, ao observar uma fogueira acesa podemos
ater-nos à lenha que arde, e à cinza resultante, mas numa perspectiva
mais profunda, a do alquimista, acrescenta ele, ‘é a própria chama
que permanece um enigma, isto é, o que está vivo’.”
(Benjamin apud Maffesoli, 1998, p.59)
Alguns dos escritores aqui relatados participaram do projeto chamado
Amores Expressos, em 2007, no qual cada escritor viajou para uma
cidade diferente e produziu um trabalho a partir da experiência vivida
naquela cidade. Esses autores são: Adriana Lisboa (Paris), Daniel
Galera (Buenos Aires), André de Leones (São Paulo), Lourenço Mu-
tarelli (Nova York), João Paulo Cuenca (Tóquio), Joca Reiners Terron
(Cairo), Cecília Giannetti (Berlim), Sérgio Sant’Anna (Praga), Rei-
naldo Moraes (Cidade do México), Paulo Scott (Sidney), Antônia
Pellegrino (Bombaim), Daniel Pellizzari (Dublin), Bernardo Carvalho
(São Petersburgo), Antonio Prata (Xangai), Chico Mattoso (Havana),
Amilcar Bettega (Istambul) e Luiz Ruffato (Lisboa).
A procura pela cidade como cenário das narrativas não é nova,
mas a cidade contemporânea talvez não congregue mais o sentido da
cidade que origina o romance. A cidade no romance substitui a natu-
reza como elemento fundamental da narrativa. Ela passa a ser cenário,
determinando o comportamento dos personagens (Fernandes, 2000,
p.19). As tramas contemporâneas nas cidades agregam o conflito, a
Vida e grafias - miolo.indd 325 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
própria concepção de cidade é conflituosa, paradoxal, pois se antes do
projeto cidade era vista como o lugar do progresso e das conquistas mo-
dernas, hoje ela é vista como lugar de crise desses ideários, sobretudo,
porque eles se atrelaram muito mais a uma utopia do que o sentido
metafórico do urbano. Michel de Certeau insinua que devemos olhar
para as retóricas ambulatórias, aquilo que faz andar, isso nos faria ver
as práticas microbianas de como as cidades se dão por passos, mais do
que por projetos arquitetônicos e administrativos.
“Se é verdade que as florestas de gestos manifestam, então sua cami-
nhada não poderia ser detida num quadro, nem o sentido dos seus
movimentos circunscritos num texto. A sua transumância retórica
traz e leva os sentidos próprios analíticos e coerentes do urbanismo:
é uma ‘errância do semântico’, produzida pelas massas que fazem
desaparecer a cidade em certas regiões, exageram-na em outras, dis-
torcem-na, fragmentam e alteram sua ordem no entanto imóvel.”
(Certeau, 2009, p.169)
As narrativas literárias folheiam as páginas das cidades, suas alte-
ridades e experiências, mas não a de uma cidade utópica, mas de
cidades e suas práticas urbanas, contraditórias, conflituosas, territórios
da condição humana.
As cidades literárias em seus múltiplos gêneros são imaginárias,
são recortes, imagens nem sempre reais, não caracterizam necessa-
riamente lugares, mas experiências. Ruas, esquinas, becos, imagens,
lugares da memória que delineiam com grafias múltiplas os embates
entre os indivíduos e a sociedade, antes de tudo o que prevalece é “o
lugar onde ocorrem as paixões humanas” (Fernandes, 2000, p.30).
Luiz Ruffato:
1961 – Cataguases (mg)
O escritor Luiz Ruffato tem uma intensa circulação no meio literário
e publicou vários de seus textos em antologias, ou os reorganizou
em outros livros. Carmem Pardo observou em seu artigo que Luiz
Ruffato em São Paulo apresenta um “capital simbólico”, certamente
de contatos, influências, na medida em que juntamente com outros es-
critores, como Nelson de Oliveira e Marcelino Freire, compartilham
um “espaço de inquietudes” na cidade de São Paulo, através de pro-
jetos comuns (Pardo, 2007, p.173).
“A minha história com a literatura começa com uma novela que
passava, que chamava-se O Feijão e o sonho, eu era um moleque, não
Vida e grafias - miolo.indd 326 3/9/15 7:38 PM
Antropologias nas cidades em grafias literárias
me lembro de quantos anos eu tinha, mas eu acredito que isso deva
ser década de [19]70, e todas as pessoas quando perguntavam para
mim o que eu queria ser na vida, eu dizia que eu queria ser escritor.
E a minha mãe chorava de infelicidade, porque essa novela mostrava
exatamente a dificuldade de um escritor de ganhar o seu feijão, então
primeiro eu fui procurar o feijão. Eu busquei trabalhar e deixar o
sonho um pouco de lado. Em momento algum eu tinha dúvida em
relação a isso, que eu queria ser escritor.”
(Ruffato, 2004)
O autor em questão ganha bastante visibilidade como escritor com
Eles eram muitos cavalos (2001), no qual narra um dia na cidade de São
Paulo. São pedaços da cidade nas novenas de Santo Expedito, em
favor das causas impossíveis, conversas dentro de um táxi, mesas
de bar. A cidade sendo entrecortada pelas experiências de seus su-
jeitos, composta pelas rotas de suas subjetividades e seus lugares de
passagem.
Outro trabalho que marca e destaca o escritor é a série organi-
zada com os nomes Inferno provisório: mamma, sono tanto felice (2005), O
mundo inimigo (2005), Vista parcial da noite (2006), O livro das impossibili-
dades (2008) e Domingos sem Deus (2011). Publicou em 2009, pelo Projeto
Amores Expressos, Estive em Lisboa e lembrei de você.
Através de Inferno provisório, o autor busca construir um perso-
nagem na literatura brasileira que, a seu ver, não existe: o operário.
A proposta é compreender o Brasil a partir da década de 1950, sob
o ponto de vista da classe operária, através do gênero romance. Os
traços da imigração italiana e das migrações também estão presentes,
não deixando de tocar no tema da língua e suas relações entre um
próprio e o outro, com os embates da alteridade. Esses personagens
presentes em sua memória são recuperados e transformados em per-
sonagens literários.
Em Domingos sem Deus, as narrativas se dão reconhecendo algumas
vezes que as cidades estão em “lugar nenhum”:
“Não era Roça ainda, pois que esta começava para além da fazenda
do seu Maneco Linhares, mas cidade também não, ermo cujo vizinho
mais perto não o alcançava os gritos desatinados da mãe em uma
tarde submersa no antes.”
(Ruffato, 2011a, p.16)
Aprendemos com Michel de Certeau que esta pode ser uma prática
do espaço. Em Luiz Ruffato estão presentes os traços de uma “socie-
dade em agonia”, uma cidade em frangalhos, permeada de migrações
Vida e grafias - miolo.indd 327 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
e memórias que percorrem o tecido do vivido. Na escrita evidenciam-
-se antagonismos presentes nas relações entre o “eu” e “outro”, ou
entre “eles” e um “nós”, alteridades irremediavelmente trincadas.
Os espaços, tempos e trajetos dos protagonistas de Ruffato são o da
migração e do desencantamento. Os espaços que suas narrativas
tratam são de fronteiras entre o mundo rural e urbano. Em um en-
trecruzamento de tempos, velozes e fugazes como o das metrópoles
e o lento e compassado movimento da memória das cidades interio-
ranas deixadas no passado na migração dos personagens: Rodeiro e
Cataguases.
“Rodeiro havia se tornado uma palavra oca, raro em raro pronun-
ciava, um quadro esmaecido evocando uma cena além do tempo, fora
do espaço, ‘De onde você é?’, ‘Não conheço não.’ No entanto, agora,
quando, pela primeira vez em mais de trinta anos, compartilhava
com alguém a existência de Rodeiro, a cidade emergia à sua frente,
a Igreja de São Sebastião, o coreto, o jardim, os saguis saltando nas
árvores, as charretes, o cheiro de mijo e bosta de cavalo, os boiões de
leite, a poeirama amarela, o canto melancólico dos carros de boi, as
caras vermelhas da italianada… E, de repente, experimentou uma
urgência em revolver sua história, abandonada nalgum recôndito
escuro da oficina, em meio ao lixo acumulando atrás da bancada, na
admirável bagunça daqueles intermináveis dias e noites, em que, sin-
tonizando programas de música antiga no rádio, relembrava, calças
curtas, suaves mãos afagando seus cabelos anelados, o silêncio dos
pastos infindos, o latido do Peralta na mata… E depois… a solidão…
a amargura…”
(Ruffato, 2011, p.64)
O espaço urbano é contornado por imaginários do rural de sonhos
desfeitos, de laços familiares, de desejos não realizados e amores
impossíveis.
“Se há algo que caracteriza esta literatura contemporânea é a
urbanidade. Nós nunca tivemos uma literatura que fosse tão prepon-
derantemente urbana. E, por ser urbana, exatamente por ser urbana,
as várias linhagens da urbanidade, elas são discutidas hoje. O que
caracteriza a nossa literatura além da urbanidade é ela não ter uma
característica própria. Ela não tem um caminho só. A diversidade é o
que caracteriza.”
(Ruffato, 2004)
Em Ruffato, o tempo é também lento, acionado por memórias e lem-
Vida e grafias - miolo.indd 328 3/9/15 7:38 PM
Antropologias nas cidades em grafias literárias
branças dos lugares de origem. Os cenários de seus personagens são
também as ruas de São Paulo, na estrada, nas cidades de Rodeiro,
Cataguases, nas metrópoles para onde os migrantes partiram em
busca de um “futuro melhor” e no “beco do Zé Pinto”, ali um “mi-
crocosmos da vida operária” (Ruffato, 2009) que ele tenta narrar. Na
literatura de Ruffato, está presente não só a questão das cidades, mas
o fracasso de um projeto de modernização, de uma concepção de pro-
gresso. Em sua “pauliceia para lá de desvairada” (Lajolo, 2007, p.102),
perpassada de imagens, de trechos aparentemente desconexos, de
vozes múltiplas” a cidade se monta em camadas urbanas, polifônicas
e ambivalentes como a metáfora do “romance-cebola” de Ruffato,
estruturada por acúmulos de vivências, antes de tudo do olhar do es-
critor (Ruffato apud Harrisson, 2007, p.11). A referência à metáfora
da cebola, também pode ser uma alusão à própria imagem da cidade
que se metamorfoseia durante o dia, oscilando entre o frio, a chuva e
o calor, fazendo com que seus habitantes estejam sempre preparados
para acompanhar essas oscilações climáticas que afetam o próprio
desencadeamento do cotidiano da cidade. Em entrevista a Heloisa
Buarque de Hollanda & Ana Lígia Matos, o autor diz:
“Eu queria que a precariedade de São Paulo fosse a precariedade da
forma do romance … Por exemplo, a insistência da construção de
capítulos estanques, que significariam a precariedade, a falta de per-
meabilidade das relações sociais. A precariedade das falas das pessoas,
que não conseguem se comunicar, porque a comunicação é efêmera
em São Paulo. A precariedade da arquitetura da cidade, a precarie-
dade da arquitetura do romance, a precariedade do próprio espaço
urbano. Quando o livro saiu e foi entendido como romance, eu me
senti à vontade para retomar o meu projeto. Foi um encontro meu
com a recepção da obra.”
(Ruffato, 2006)
Ruffato caminha pelas ruas da cidade, em suas andanças em busca
de matéria-prima para compor seus personagens vindos da memória,
mas também compostos pelas subjetividades colhidas pelas ruas e suas
observações das paisagens nas cidades. Caminha como se fosse o per-
sonagem para dar concretude àquilo que escreve.
“Eu não sei dirigir. Nunca aprendi a dirigir, não tenho interesse em
dirigir. Em São Paulo eu ando muito, ando de ônibus, ando de metrô,
ando a pé e eu penso que eu conheço razoavelmente bem São Paulo
por conta disso. E em todos os lugares, em todas as cidades que eu
vou, eu faço questão disso. Eu tô sempre caminhando, eu tô sempre
Vida e grafias - miolo.indd 329 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
vendo, observando porque é o meu trabalho mesmo quando eu não
estou trabalhando efetivamente. Mas essas peculiaridades, os cheiros,
a luz, as pessoas, enfim, tudo o que faz parte do universo da cidade
me interessa… Eu não ando com máquina fotográfica nem nada,
porque eu tenho certeza de que quando eu estiver morrendo e eu
quiser me lembrar de algum lugar se eu tivesse um foto eu veria a
foto, mas como eu não tenho foto, eu me lembro da cidade pelo o que
ela é, pelos cheiros dela… As pessoas, as vozes, as línguas. Eu tenho
uma boa memória, então os lugares onde eu passo eu faço muito essa
coisa de ser anônimo.”
(Ruffato, 2011)
João Gilberto Noll:
1946 – Porto Alegre (rs)
Para Noll, o cenário de seus protagonistas “são as ruas” (Noll, 2006,
p.19 e p.21), ou seja, o que está fora do espaço doméstico, familiar.
Seus personagens são escritores desejando viver fora das páginas de
suas obras, atores em crise, diretores de teatro, mendigos, andarilhos,
passeantes, retirantes, seres anônimos que seguem entre “instantes
ficcionais” compondo sua existência diante de fracassos, da solidão e
da sensação dos limites do corpo e de sua deterioração. Vivem “ru-
dimentos de ilusões” (Noll, 1989, p.30) em territórios desconhecidos,
seja do Rio de Janeiro, de Porto Alegre, Florianópolis, do interior de
Mato Grosso, ou de Londres (como em Lorde), ou da Califórnia e da
Itália (como em Berkeley em Bellagio). As cidades se montam em uma
“geografia rarefeita”, ou seja, são imagens que captam vivências en-
trecortadas por movimentos descontínuos e com falhas na memória
dos protagonistas que por elas circulam. As cidades como os corpos
estão fadados a exaustão.
Essa “geografia rarefeita”, falada em Rastros do Verão, “não é
decorrente apenas da pura percepção do espaço, mas também da
experiência do tempo, que, vivido fragmentariamente, não permite
ao narrador a apreensão da continuidade do percurso” (Otsuka, 2001,
p.101). Em A fúria do corpo, o protagonista percebe que um dia quando
viu o cais de uma pequena cidade, olhou para as embarcações e des-
cobriu que o homem nascera para partir e checar novas geografias
(Otsuka, 2001, p.297).
As narrativas esboçam encontros com homens, mulheres, garotos,
seres anônimos, muitas vezes, mas que passam pela narrativa e pouco
se fica sabendo sobre suas vidas. Há somente imprecisões de seres
avulsos que caminham como que em labirintite a “céu aberto” na
inscrição de suas experiências humanas. São nas palavras de Noll
Vida e grafias - miolo.indd 330 3/9/15 7:38 PM
Antropologias nas cidades em grafias literárias
“utopias ambulantes” lutando contra as mortificações da vida. Car-
regando “frangalhos do passaporte no bolso, sem ter país para ir,
endereço para dar” (Noll, 2003, p.120). Seus personagens têm consci-
ência da vida e suas agruras: “Os personagens sem dados biográficos,
meus protagonistas, são seres caminhando nesse sentido. Sabem que
viver é prazeroso, mas difícil.” Os narradores-personagens são an-
darilhos, caminham atabalhoados, a esmo, “sem documentos nem
língua nem memória”, um “amontoado de carne sem nome, destino
ou moradia” (Noll, 2004, p.33). Mesmo assim, Noll afirma: “Não me
sinto condoído com a miséria dos meus personagens. Me sinto mais
cúmplice deles, tomado por eles.” (Noll apud Magalhães, 1993, p.280)
O narrador revela alterbiografias de um extravio ou um organismo
humano já geneticamente extraviado em si:
“Os lapsos condenam. A mim, me salvam. Outro dia olhe um com
toda a paciência. Somos parecidos: a ambos faltam partes, e onde
a lacuna é norma, em nós pode saltar uma forma esdrúxula, um
réquiem ornado de idílios, um troco assim ou talvez assado … ambos
nascemos de uma abrupta desregulagem. Só ganhamos porque
botamos tudo a perder. Miramo-nos como gêmeos sobranceiros: sem
a herança da paternidade, vértice impensável, memórias de uma ge-
nética extraviada.”
(Noll, 2003, p.159)
Fernando Bonassi:
1962 – São Paulo (SP)
Fernando Bonassi (1962), da Mooca, Zona Leste de São Paulo, tra-
dicional bairro operário, é escritor, jornalista, roteirista, cineasta de
vários filmes de curta e longa metragem. Através do seu trabalho
jornalístico, se faz presente na sua obra, na medida em que dá tra-
tamento literário aos fatos cotidiano, ao exercer seu ofício, de certa
maneira. Ao escrever em sua coluna na Folha de S.Paulo, no Caderno
Ilustrada, quinzenalmente, tem como meta fazer com que:
“O cidadão paulistano identifique-se com as histórias e os persona-
gens no que eles têm em comum com a experiência geral da cidade.
Trata-se não apenas de fazer ficção da realidade, mas de revelar o
mundo simbólico que está por trás de nossas maneiras de agir.”
(Ruffato, 2006, p.1)
Bonassi, em sua prática literária, colhe “história na rua”, narra vio-
lências da vida social, seja a praticada por policiais ou mesmo a
Vida e grafias - miolo.indd 331 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
provocada pelos embates dos sujeitos diante dos insustentáveis pesos
sociais. Em uma matéria publicada em O Globo, há uma leitura da “di-
mensão política” no trabalho de Fernando Bonassi, feita pelo escritor
anteriormente apontado: Luiz Ruffato. Este aponta as narrativas de
Bonassi como uma referência para entendermos o Brasil contempo-
râneo, visto que seu trabalho dialoga com gerações anteriores à sua
e as transpõe, o que não o fixa na (geração anos 1990), mas o coloca
atento às preocupações de outras épocas e às ressonâncias do passado
no presente e no que possa ser o futuro, sobretudo ao pensar nas
marcas da ditadura militar.
“O escritor é um raro caso de ascensão social pelo talento … Filho da
classe média baixa, surgiu no panorama literário brasileiro no fim dos
anos [19]80, com a introdução de uma temática pouco retratada nas
páginas da prosa de ficção nacional: a dos que sobrevivem à margem
– não os bandidos, mas os trabalhadores, essa massa disforme im-
prensada entre sonhos de consumo e pesadelos da realidade imediata.
Geralmente rotulado como pertencente à chamada Geração 90,
Bonassi antecipa e ultrapassa as preocupações que norteiam autores
identificados a essa particularização … Sem dúvida, Bonassi opta por
um diálogo com a geração [19]70, que, com nomes como Ignácio de
Loyola Brandão, Ivan Ângelo, Rubem Fonseca, trouxe para o centro
da narrativa os dramas das populações marginalizadas das grandes
cidades. Mas há sua contribuição original: já não é um olhar de fora
para dentro, mas de dentro para fora. Essa mudança de foco, que iria
influenciar a ficção do fim da década de [19]90, é uma contribuição
inestimável”
(Ruffato, 2006, p.1)
Para Maurício Silva, a escrita de Fernando Bonassi tem as marcas de
uma “narrativa minimalista”, montada em uma estrutura mínima de
histórias independentes, mas que se entrelaçam. Sua criação ficcional
se configura tal qual um roteiro de cinema através de seus minicontos
que esboçam “identidades sequestradas”. Seus personagens são
principalmente:
“Pastores evangélicos, meio oficiais, ajudantes, auxiliares, serventes,
atletas adotados, aviões, garçons, vendedores de consórcio, ven-
dedores de carnê, vendedores de rifa, vendedores, pamonheiros,
catadores, guardadores, amoladores, operários-padrão, muambeiros,
macumbeiros, ambulantes, cobradores, oradores, faladores, boateiros,
aborteiros, garrafeiros, office-boys, putas de meio período, balconistas
de período integral, pedintes, ouvintes, coveiros, boias frias, garçons
Vida e grafias - miolo.indd 332 3/9/15 7:38 PM
Antropologias nas cidades em grafias literárias
por empreitada, cabos da pm, amigos de, filhos de, ladrões de toca-
-fitas, caseiros, seguranças, porteiros…”
(Bonassi, 1996, p.61)
Em sua narrativa 100 histórias colhidas na rua, “espreme a memória até
doer”, para não sucumbir às inúmeras violências da vida social, seja
a praticada por policiais ou mesmo a provocada pelos embates dos
sujeitos diante dos insustentáveis pesos sociais. Onde o narrador se
debruça surge um espelho raso, que “devolve o seu rosto sem qual-
quer deformação que conte uma história que seja” (Bonassi, 1996,
p.57 e p.115). Não há narrativa inteira, só estilhaços da vida e das
agruras humanas. Seres “carregando o seu corpo de um lado para
o outro” com marcas da violência silenciosa do incesto, do estupro,
dos abandonos, dos estridentes confrontos com a polícia. “A vida real
gritando nos classificados”, enfim, “mais um massacre bósnio no su-
búrbio brasileiro” (Bonassi, 1996, p.55, p.199 e p.207). Um cotidiano
de “sonhos estragados”, de perdas. Enquanto que vemos a:
“Névoa sobre a cidade como glaucoma: crianças suspensas; cães
omissos; aeroportos fechados; congestionamentos – engarrafamentos,
congestionamentos. Um inverno que entra matando mendigos
de todas as idades. Ninguém chega na hora de nada. O ar gelado
também demora a se transformar nos pulmões. Todo mundo está
com falta de ar.”
(Bonassi, 1990, p.83)
Bernardo Carvalho:
1960 – Rio de Janeiro (RJ)
Bernardo Carvalho escreveu e publicou, em 1993, Aberração (cole-
tânea de contos); em 1995, Onze (romance); em 1996, Os bêbados e os
sonâmbulos (romance); em 1998, Teatro (romance); em 1999, As ini-
ciais (romance); em 2000, Medo de Sade (romance); em 2002, Nove
noites (romance); em 2003, Mongólia (romance); em 2007, O sol se põe
em São Paulo (romance); e, em 2009, O filho da mãe (romance). Em seus
livros é bastante presente a questão das cidades. Em cada romance
essa problemática aparece de forma contundente. Aberração surge
em Nova York, onde foi correspondente da Folha de S.Paulo. Mongólia
é pautado em uma viagem que fez ao Deserto de Gobi na China.
Nove noites é parte de um trabalho de pesquisa e narra uma investi-
gação misteriosa sobre a morte de um antropólogo norte-americano
em uma aldeia indígena situada no Tocantins, no Brasil. O sol se põe
em São Paulo é construído entre o Japão e o Bairro da Liberdade em
Vida e grafias - miolo.indd 333 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
São Paulo. O filho da mãe é narrado em São Petersburgo. O tempo
e o espaço se transpõe na narrativa, fazendo com que a viagem do
escritor, como do narrador e de seus personagens, seja um desloca-
mento de lugares, mas de memórias e dos lugares da própria história
de cada um.
O autor fez parte do projeto Amores Expressos que engajou vários
autores, entre eles Luiz Ruffato, que viajaram por várias cidades para
escrever romances. Viajar e narrar estão entrelaçados em seus escritos.
Desta viagem, o escritor escreveu O filho da mãe. Ele conta que no ter-
ceiro dia que estava em São Petersburgo, passaria um mês ali, sofreu
uma tentativa de assalto, três sujeitos ao seu redor fazendo uma espécie
de coreografia, algo para ele “esquisitíssimo.” Um deles conseguiu
se aproximar, abriu sua mochila e retirou o computador, que estava
preso por uma tira na chave da mochila. Ao final, eles não chegaram a
lhe roubar, mas a experiência do medo fez com que ele ficasse “para-
noico”, com medo que lhe seguissem, descobrissem onde morava.
“Se para mim a experiência foi terrível, para o livro foi muito legal,
porque sem ela não traria essa patologia. Os protagonistas da história
são outsiders, tudo de um jeito estranho. Do ponto de vista do perse-
guido, daquele que tem que escapar. Em vez de achar a cidade bonita,
comecei a ver que ela foi construída por um sistema de poder abso-
luto. As esplanadas são enormes, as ruas, largas, enfim, tudo é visível.
Um militante da oposição, por exemplo, não tem como escapar.”
(Carvalho, 2009, p.18)
Na viagem algumas coisas se desfazem; entre elas, a identidade. “As
identidades são uma espécie de artifício para sobreviver… A verdade
está em algo móvel, que não é sedentário e está sempre em formação
ou desconstrução.” Se você desconfia das identificações, segundo Car-
valho, “qualquer que seja ela, o seu lugar no mundo fica muito mais
difícil. É mais penoso avançar sem criar tribos. Isso me interessa, a
vulnerabilidade e o lugar do ‘um sozinho’, no mundo.” (Carvalho,
2009, p.18)
No livro O sol se põe em São Paulo, Bernardo Carvalho traz logo de
início uma epígrafe de Paul Valéry “estranhos discursos, que parecem
feitos por um personagem distinto daquele que os diz e dirigir-se a
outro, distinto daquele que os escuta”. Há em Carvalho uma busca
ficcional pelo outro. O narrador, um escritor que nunca escreveu
nenhuma obra, deseja provar que a literatura:
“É uma forma de se adiantar aos fatos e de fazer por meio da ficção,
previsões que soariam disparatadas na boca de alguém que se dispu-
Vida e grafias - miolo.indd 334 3/9/15 7:38 PM
Antropologias nas cidades em grafias literárias
sesse a alardeá-las na vida cotidiana. Queria provar a tese de que a
literatura é (ou foi) uma forma dissimulada de profetizar no mundo da
razão, um mundo esvaziado de mitos; que ela é (ou foi) um substituto
moderno das profecias, agora que elas se tornaram ridículas, antes
que a própria literatura também se tornasse ridícula.”
(Carvalho, 2007, p.23)
O narrador é filho de imigrante japonês e constitui sua narrativa a
partir do encontro com uma japonesa, dona de um restaurante na Li-
berdade, na cidade de São Paulo. Ele tem a tarefa de ouvir e escrever
sobre a sua história. Trata das diferenças entre a cultura ocidental
e oriental. Os ocidentais seriam translúcidos, enquanto os orientais
seriam opacos. O contraste é o que nos define, ou melhor, o oposto é
o que mais se parece conosco (Carvalho, 2007, p.164). Sobre a Liber-
dade, o narrador afirma:
“A Liberdade é um desses bairros de São Paulo que, embora em
menor escala do que nas regiões mais ricas, e por isso mesmo de
um modo às vezes até simpático, ressalta no mau gosto da sua rala
fantasia arquitetônica o que a cidade tem de mais pobre e paradoxal-
mente mais autêntico: a vontade de passar pelo que não é. O pôr do
sol em São Paulo é reputado como um dos mais espetaculares, por
causa da poluição… Só fui entender que São Paulo era uma cidade
de monumentos – mas onde os monumentos não existiam; eram por
assim dizer invisíveis – no dia em que sonhei que dirigia um carro,
de monumento em monumento, pelas ruas vazias de uma tarde de
domingo, no inverno, uma estação que aqui não existe. Eram mo-
numentos que eu nunca tinha visto antes, e que só existiam no meu
sonho, em lugar onde na realidade se erguem os prédios mais de-
crépitos ou nas fantasias arquitetônicas mais tolas e não menos
pavorosas. São Paulo não se enxerga – ou não chamaria periferia de
periferia. Não é só eufemismo. Chamam-se excluídos aos oitenta por
cento da população. Não é à toa que é uma cidade de publicitários.
Em São Paulo, publicidade é literatura… É uma cidade que quer
estar em outro lugar e em outro tempo.”
(Carvalho, 2007, p.14)
Joca Reiners Terron:
1968 – Mato Grosso (ms)
Joca Terron (1968), de Cuiabá, Mato Grosso, tem sua experiência li-
terária entre suas origens e a vida em São Paulo. Escreveu o romance
Não há nada lá (2001); a novela Hotel Hell (2003), escrita inicialmente
Vida e grafias - miolo.indd 335 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
em um blog e publicada pela editora Livros do Mal, de Porto Alegre; o
livro de contos Curva de Rio Sujo (2003), pela editora Planeta do Brasil,
publicado com o mesmo título pela editora Palavra, em 2005, em
Lisboa. Organizou o livro de contos Antologia bêbada, em 2004, pela
Ciência do Acidente, e Sonho interrompido por guilhotina, em 2006, no Rio
de Janeiro, pela editora Casa da Palavra.
Terron abre o seu livro Hotel Hell com uma epígrafe de Shakes-
peare: “Nosso tempo está desnorteado, maldita a sina que me fez
nascer um dia para consertá-lo.” E a retomada dela pode levar à
pergunta: haverá conserto? É desse paradoxo que se nutre a literatura
contemporânea (como as próprias ciências sociais, talvez). É diante de
certa “impossibilidade de solução” que a literatura contemporânea,
partindo entre as décadas de 1970, 1980 e da “Geração 1990” se ali-
menta. Ela não quer responder, solucionar ou fixar nada, pois é bem
possível que haja pouco ou praticamente nada para fixar.
Joca Terron, em Hotel Hell (1968), fala de “um lugar onde existe
de tudo”, no qual personagens de todos os tipos aparecerem. É uma
metáfora das grandes cidades e das histórias que nelas se abrigam, das
mais reais às mais absurdas e fantásticas. Histórias que se reúnem sem
muito desenvolvimento, pois “nada se desenvolve propriamente”. O
Hotel é uma referência à cidade de São Paulo. Segundo o próprio es-
critor: “Enxergo o livro como um romance desmontável. São sessenta
fragmentos que se sustentam sozinho. Minicontos. Hotel Hell é uma
tentativa de traduzir por meio de mitos urbanos o absurdo de São
Paulo.” (Terron apud Machado, 2003)
“O grande personagem é a cidade de São Paulo, uma cidade ine-
briante e enlouquecida, na qual a realidade parece se movimentar
em círculos cada vez mais acelerados, nos quais a metrópole escava o
próprio túmulo. A São Paulo de Joca Terron é uma montanha-russa
fora de controle. Nessa pane, tudo se repete, de início ao fim temos
uma grande e agitada experiência, que faz muito barulho, mas só
oferece desconforto e insegurança, e retorna sempre ao mesmo lugar.”
(Castello, 2003)
Aparece um entrelaçamento de histórias e de vivências, nos quais:
“Todos os personagens são falsos ou artificiais. A novela é narrada por
múltiplas vozes, mas elas pertencem também a personagens temá-
ticos, de modo que estão desprovidas de qualquer seriedade e evocam
sempre um mesmo estado – o do artifício. É um mundo de miragens,
de ilusões sem conteúdo, e que abriga personagens sem rosto.”
(Castello, 2003)
Vida e grafias - miolo.indd 336 3/9/15 7:38 PM
Antropologias nas cidades em grafias literárias
Em seu trabalho Curva de Rio Sujo aparecem uma das marcas dessas
narrativas literárias de lidar com esquecimentos, que são como
rasuras da memória social, ou como essa memória funciona como
uma “curva de rio sujo”, ou como Terron afirma em outro momento:
“Preencho os espaços, mas o resultado é sempre o mesmo.” O nar-
rador revela, de certa maneira, um extravio: “Escreve para esquecer”,
e considera que “esquecer é uma função da memória tão importante
quanto recordar” (Terron, 2003, p.9).
Isto nos revela um dos traços da socialidade: suspender o ins-
tituído socialmente, apagá-lo, ou mesmo contar fazendo escolhas
entre o que foi vivido. O ser humano aparece como uma “construção
abandonada”, inacabada, incompleta (Terron, 2003, p.71). Será que
o sujeito, para se reinscrever diante da vida social, não precisaria
esquecer o que a vida social tenta impregnar nele? Rasurar as socia-
bilidades com as socialidades? Talvez seja relevante pensar que em
“redor do continente da memória, as ilhas e as penínsulas do esque-
cimento sempre existiram” (Gagnebin, 1999, p.4). Como aparece em
um dos comentários sobre o referido autor, é possível ver que:
“Escritores como Terron não estão preocupados nem com a repe-
tição, nem com a renovação, questões estéticas que passam a léguas
de distância de seu computador. O que buscam, sem se importar
muito com a qualidade dos meios, é expressar a confusão de seu
tempo.”
(Castello, 2003)
Férrez:
1975 – São Paulo (SP)
Férrez é Reginaldo Ferreira da Silva, mas adotou o nome Férrez
como nome literário. Nome que faz uma junção de Virgulino Fer-
reira (Ferre) e Zumbi dos Palmares (Z). Antes de se dedicar à escrita
trabalhou como: “Balconista, vendedor de vassouras, auxiliar-geral
e arquivista.” Seu primeiro livro foi Fortaleza da desilusão (1997), com
patrocínio da empresa Ética Manpower, onde trabalhava. Mas, o
lançamento de Capão pecado, (2000) romance que narra o cotidiano
violento do bairro do Capão Redondo, na periferia de São Paulo,
onde vive o escritor, foi de fato o que o tornou conhecido. Publica,
em 2009, Cronista de um tempo ruim. Sua literatura é marcada por trazer
essas vozes das margens ou vistas como marginais, o que vai se tornar
uma terminologia para avaliar seus escritos.
Ferréz (1975) traz as vozes da periferia de São Paulo através de seu
Capão pecado, traz uma escrita crua do cotidiano de Capão Redondo,
Vida e grafias - miolo.indd 337 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
“uma ficção da realidade”, como descrevia a própria nota do autor
na edição de 2005. Um cotidiano violento de “perdas constantes e
aparentemente intermináveis”. Onde os “bailes acabavam por causa
de morte ou por causa dos policiais” (Ferréz, 2005, p.18 e p.23). Perdas
instauradas desde a infância pelo tráfico, traições pela morte ou pelo
trágico. Um lugar onde o povo “só se unia para falar mal dos outros,
ou pra ver morto”. Difícil escapar do “holocausto, do inferno verda-
deiro e diário”, ou mesmo dele se esconder (Ferréz, 2005, p.36 e p.53).
Sentir-se preso mesmo livre, não há heróis, segue-se sem a crença na
existência deles, mas “não é culpa do lugar, é da mente” (Ferréz, 2005,
p.94). O narrador lembra da música do Tim Maia, “ah! Se o mundo
inteiro me pudesse ouvir”, parece querer com sua fala entender ou
afagar a existência diante do trágico que cai sobre o seu cotidiano, e
que nem mesmo as palavras conseguem traduzir ou acalentar.
Marcelino Freire:
1967 – Sertânia (pe)
Marcelino Freire nasceu em Sertânia, Pernambuco, em 20 de março
de 1967, e vive em São Paulo desde 1991. Em 2000, lançou Angu de
sangue, que traz contos com fortes traços do cotidiano de São Paulo e
foi publicado pela Ateliê Editorial. Em um desses contos é tratada a
questão do lixo e de como ele garante a sobrevivência e, ao mesmo
tempo, a condição de exclusão em sociedade:
“Lixo? Lixo serve pra tudo. A gente encontra a mobília da casa,
cadeira pra pôr uns pregos e ajeitar e sentar. Lixo pra poder ter sofá,
costurado, cama, colchão. Até televisão.
É a vida da gente o lixão. E por que é que agora querem tirar ele
da gente? O que é que eu vou dizer pras crianças? Que não tem mais
brinquedo? Que acabou o calçado? Que não tem mais história, livro,
desenho?
E o meu marido, o que vai fazer, nada? Como ele vai viver sem as
garrafas, sem as latas, sem as caixas? Vai perambular pela rua, roubar
para comer?
E o que eu vou cozinhar agora? Onde vou procurar tomate, alho,
cebola? Com que dinheiro vou fazer sopa, vou fazer caldo, vou in-
ventar farofa?
… a gente não quer nada que não esteja aqui jogado, rasgado,
atirado. A gente não quer outra coisa senão esse lixão para viver. Esse
lixão para morrer, ser enterrado. Para criar os nossos filhos, ensinar o
nosso ofício, dar de comer… não, eles nunca vão tirar a gente deste
lixão. Tenho fé em Deus, com a ajuda de Deus, eles nunca vão tirar a
Vida e grafias - miolo.indd 338 3/9/15 7:38 PM
Antropologias nas cidades em grafias literárias
gente deste lixo. Eles dizem que sim, que vão. Mas não acredito. Eles
nunca vão conseguir tirar a gente deste paraíso.”
(Freire, 2000, p.23–25)
Este livro foi adaptado para o teatro pelo Coletivo Angu de Teatro e
encenado no dia 3 de maio de 2007, em São Paulo, na 2 Mostra La-
tino-Americana de Teatro de Grupo no Centro Cultural São Paulo.
Publicou também Balé ralé em 2003, pela mesma editora. Organizou
a antologia Os cem menores contos brasileiros do século, com cem escritores
da nova geração contemporânea. Em 2006, publicou Contos negreiros,
livro vencedor na categoria Contos do Prêmio Jabuti 2006. Neste
livro retoma a questão do negro, em seus contos, que são cantos, la-
mentos que mostram como ressalta em uma das epígrafes escolhidas
de Marcelo Yuka, “que todo camburão tem um pouco de navio
negreiro.” O autor fala das violências urbanas, que perpassam o coti-
diano, e os muitos sujeitos e situações de escravidão no cotidiano das
cidades contemporâneas.
“Violência é o carrão parar em cima do pé da gente e fechar a janela
de vidro fumê e a gente nem ter a chance de ver a cara do palhaço
de gravata, para não perder a hora ele olha o tempo perdido no rolex
dourado.
Violência é a gente naquele sol e o cara dentro do ar-con-
dicionado uma duas três horas quatro esperando uma melhor
oportunidade de a gente enfiar o revólver na cara do cara plac.
Violência é ele ficar assustado porque a gente é negro ou porque
a gente chega assim nervoso a ponto de bala cuspindo gritando que
ele passe a carteira e passe o relógio enquanto as bocas buzinam
desesperadas…
Violência é você pensar que tudo deu certo e nada deu certo
porque você vê um policial ali perto e outro policial ali perto que-
rendo salvar o patrimônio do bacana apontando para nossa cabeça
um 38 e outro 38 à paisana.
Violência é acabarem com a nossa esperança de chegar lá no
barraco e beijar as crianças e ligar a televisão e ver aquela mesma dis-
cussão ladrão que rouba ladrão a aprovação do mínimo ficou para a
próxima semana.”
(Freire, 2005, p.31–32)
Essas narrativas se entrecruzam pelo o que escrevem ou descrevem,
ou mesmo pelas relações entre esses escritores, através de coletâneas,
antologias etc. Por exemplo, tem o livro: A alegria: catorze ficções e um
ensaio, publicado em 2002 pela PubliFolha.
Vida e grafias - miolo.indd 339 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
O tipo de escrita de autores como Marcelino Freire e outros da
literatura contemporânea provoca uma revisão dos lugares consa-
grados para autores, leitores e críticos. A literatura se apresenta de
fato como o “rumor da língua”, para lembrar da metáfora de Roland
Barthes (2004), diante dos encarceramentos por ela criados e sedi-
mentados pelas vivências sociais que a ritualizam e eternizam como
verdades irrefutáveis. Marcelino Freire exprime seu olhar nordestino
sobre a cidade de São Paulo, onde vive:
“Eu só tenho a minha inquietação. Meus contos para mim são cantos.
Contos negreiros é um livro abolicionista … Sou filho de sertanejo,
minha mãe batia panelas, adoro vexames, ladainhas, convivi num
cenário em que as mulheres não se contêm, cheias de ladainhas … A
paz fica bonita na televisão, é muito organizada, certinha, tadinha, ela
é muito branca. ‘A cidade se organiza para salvar a pele de alguém…’”
(Freire, 2006)
Marcelino Freire, ao ser indagado em entrevista sobre seu modo de
escrever, disse: “Eu não escrevo sobre violência, mas sob violência.”
O livro Angu de sangue, segundo o autor, é um ANGU DE SANGUE,
seja um ANGU de ANGU, a violência atinge o autor, ela coagula-
-se em seu próprio processo de escritura, fazendo com que ele não
esteja isento, separadas dos impasses e conflitos de sua época. Relata
o autor: eu “escrevo como quem bate panelas.” O romance sai
“quando eu não consigo guardar mais aquilo … eu escrevo.” Antes eu
anotava, “mas perdia os caderninhos, eu jogo tudo no caderninho”.
É preciso escrever, pois para o autor a frase segue no pensamento, ela
fica ali, enquanto não é escrita, “a frase ainda (segue) está doendo,
como numa casa de goteira”. Há uma urgência no falar, a cidade ar-
rebenta em si, ela insiste, obriga e impele o falar que urge. Viver em
São Paulo, em seus relatos, é guardar certo deslocamento, “aper-
reio” diante dos “ruídos das lembranças”. Estando em São Paulo, ele
diz: “Aqui sou nordestino”. Mas lá (em Pernambuco) “eu não sou de
Recife, nem de Sertânia (sou um paulistano).” (Freire, 2009).
Enunciações pedestres:
rastros e práticas urbanas
A etnografia tem caminhado entre as ficções sociais para se confi-
gurar como leitura e texto das culturas ou de suas artes de fazer. Ela
tenta captar rastros do vivido, entrelaça seus fios nas narrativas, entre
a ficção, o verdadeiro, o falso, tal como a construção literária, que
sendo em si uma trama, enovela a realidade espacial e temporal em
Vida e grafias - miolo.indd 340 3/9/15 7:38 PM
Antropologias nas cidades em grafias literárias
seu avesso. As cidades aparecem nessas narrativas, como aponta Noll,
como uma “geografia rarefeita” (Noll, 1990, p.22).
São ficções inventadas, registros que buscam uma veracidade,
mas que produzem recortes da cidade a partir, sobretudo, dos sentidos
dados pelos personagens, por suas paixões, o preço delas, pelas impo-
sições sociais e os conflitos diante destas. Nelas se tecem as biografias
da cidade, seus inúmeros rastros e formas que tentamos acompanhar
pelos movimentos da escrita literária. São entrecruzamentos de vidas,
flashes de enredos que se constituem em urbanidades que se montam
como um mosaico, peça por peça, pinceladas de cores, não consti-
tuindo propriamente uma forma para a experiência urbana, mas
múltiplos matizes de suas composições.
Escrever, aprendemos com Michel Foucault, é repetir o já dito da
linguagem, ou, em suas palavras: “Repetição contínua da biblioteca,
da impureza já letal da palavra.” Na escrita literária, esses signos
sociais são redispostos, compromete-se o código no qual a linguagem
está contida. A literatura existe na medida em que faz “circular esses
signos”, reconfigurando como eles se dão na cultura e na sociedade
em “camadas separadas” (Foucault, 2001, p.146 e p.167).
Em Simmel (1903) já sabemos que são muitas as adaptações da
personalidade diante das grandes cidades e a vida que elas produzem.
Os conteúdos individuais ganham uma reconfiguração impessoal, um
desenraizamento que altera a condução da vida e da mentalidade dos
indivíduos. Nas ficções literárias vemos as configurações, trajetos dos
personagens nas cidades e os impactos que elas causam em seus per-
cursos e em suas experiências.
As ficções das quais tratamos são urbanas, revelam experiências
desgastadas, metáforas da impossibilidade de reconstituição identi-
tária. Desvelam cidades de origem dos escritores, mas também cidades
de suas memórias de infância, de passagens, cidades visitadas, cidades
que são reconstruídas em seus projetos literários. São “cidades ácidas”,
com cartografias de pouca densidade. Esboçam-se cartografias esma-
ecidas na memória, o alheamento e o extravio encarna-se no corpo
e se estendem pela paisagem das cidades. Isso nos permite pensar a
cidade a partir das práticas urbanas, tendo em vista as caminhadas e os
rastros deixados pelas cidades, os trajetos (passando por aqui e não por
lá) (Certeau, 2009, p.163), os encontros e experiências que a compõem.
Da literatura esboça-se também um método, pensar as cidades
como experimentos das práticas urbanas, e em como as caminhadas
podem ser um fator de captura de seus movimentos, como também a
maneira para compreender seus sentidos e tramas.
Entre travessias e conversações, a antropologia e a literatura
podem se relacionar ao pensarmos nas urbanidades contemporâneas
Vida e grafias - miolo.indd 341 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
na medida em que lidam com múltiplas discursividades e vozes, em
que lidam com utopias e heterotopias (outras práticas do espaço, so-
bretudo, de pensamento e imaginação sobre as cidades) nas cidades e,
sobretudo, por refletirem sobre as ficções do vivido, narrativas sobre
narrativas das experiências.
Podemos lembrar da Antropología de las Calles, de Manuel Delgado,
na antropologia na cidade de Michel Agier e nas caminhadas na
cidade na Invenção do Cotidiano, em Michel de Certeau, quando aborda
que é preciso acompanhar as sintaxes espaciais das cidades para en-
tender suas cartografias, que se dão não apenas por traços e estruturas
fixas, mas por “geografias narrativas”, falas, registros, passos, minús-
culos movimentos difíceis de gerir. Traçar olhares antropológicos
que privilegiem outros acessos à concepção de cidade, para além dos
conceitos e planejamentos arquitetônicos, administrativos e políticos,
mas a partir dos trajetos-corpos que a percorrem e das geografias de
narrativas que a constituem como território, sobretudo do imaginário.
Em Certeau, há uma tentativa de olhar as cidades a partir das
práticas urbanas. Ele nos provoca com uma série de evocações lin-
guísticas como recursos metodológicos para pensar a cidade: “passos
perdidos”, “errância semântica”, “enunciações pedestres”, “sintaxes
espaciais”, “significantes espaciais” e “geografias de ações.” Ou seja, o
autor sinaliza que para olhar as cidades não temos como olhar apenas
para a linguagem dos poderes que as constituem cartograficamente
e a administram, mas percorrer seus movimentos contraditórios que
se combinam muitas vezes fora ou contornando essas demarcações
civilizatórias. Aponta para as “árvores de gestos” que desvelam as
metamorfoses dos espaços dadas pelos relatos, que são práticas dos
espaços.
“Estruturas narrativas têm valor de sintaxes espaciais… Os relatos,
cotidianos ou literários, são nossos transportes coletivos, nossa meta-
phorai. São nossas metáforas para pensar as práticas de espaços, suas
apropriações, os percursos e as constituições urbanas.
Essas aventuras narradas, que ao mesmo tempo produzem ge-
ografias de ações e derivam para os lugares comuns de uma ordem,
não constituem somente um ‘suplemento’ aos enunciados pedestres
e às retóricas caminhatórias. Não se contentam em deslocá-los e
transpô-los para o campo da linguagem. De fato, organizam as cami-
nhadas. Fazem a viagem, antes ou enquanto os pés a executam.”
(Certeau, 2009, p.183)
Nesse caminho que distingue e evidencia que ao lado da cidade
utópica se instaura uma cidade metafórica, ou seja, uma cidade de
Vida e grafias - miolo.indd 342 3/9/15 7:38 PM
Antropologias nas cidades em grafias literárias
muitos movimentos e práticas, muitas vezes contraditórias, vemos as
proposições de Certeau, mas encontramos também Manuel Delgado
ao pensar em uma visão antropológica partindo das ruas, uma dis-
tinção entre a polis e a urbs, ou seja, diante da cidade planejada e
concebida, pensamos também nas cidades praticas, usadas e passe-
adas. Em Michel Agier (2001), encontramos elementos para pensar
uma antropologia da cidade, deslocando as situações etnográficas do
objeto cidade, inatingível e normativo para os seus sujeitos e os modos
como eles fazem a cidade. Os escritores aqui relatados e suas nar-
rativas recompõem a existência da cidade e nos convidam a olhar o
espaço urbano em sua pluralidade e em seus paradoxos.
O caminhar se coloca como um espaço de enunciação, o passear,
o andar apressado, o vagar, o apropriar-se dos espaços para o lazer,
para o trabalho, para as diversas deambulações, tornam-se expressões
e pontos de partida para compreender “o que faz andar”, onde e como
se criam atalhos, desvios diante das proibições, como se vive e se con-
torna o lícito, o não lícito. Essa é a cidade metafórica, diante da qual “o
usuário da cidade extrai fragmentos do enunciado para atualizá-los em
segredo” (Barthes apud Certeau, 2009, p.165). É preciso saber o que faz
andar, exprime Certeau, pois o que faz “são relíquias de sentido e às
vezes seus detritos, os restos invertidos de grandes ambições. Pequenos
nadas, ou quase nadas simbolizam e orientam os passos. Nomes que no
sentido preciso deixaram de ser ‘próprios’” (Certeau, 2009, p.172).
Diante dessa literatura contemporânea abordada, é possível
pensar que existem marcas da experiência social atual, marcando o
jogo de formas, de composições da narrativa, como as ações e os sen-
tidos que perpassam as personagens. A cidade que se esboça é tecida
pelos passos dos personagens, ela não os abriga, não os protege das
adversidades. Esta surge como um “campo literário” aberto para as
ciências sociais pensarem a vida social, como também uma inspiração
para uma “etnografia ficcional” da contemporaneidade no avesso
de seus signos e no limite de suas contingências. Ela se aproxima dos
lugares e das relações, reinventa como se fosse realidade, faz-nos lembrar
do que Michel de Certeau aborda:
“Os lugares são histórias fragmentárias e isoladas em si, dos passados
roubados à legibilidade por outro, tempos empilhados que podem se
desdobrar mas que estão ali como histórias à espera e permanecem
em estado de quebra-cabeças, enigmas, enfim simbolizações enquis-
tadas na dor ou no prazer do corpo. ‘Gosto muito de estar aqui!’ é
uma prática de espaço este bem-estar tranquilo sobre a linguagem
onde se traça, um instante, como um clarão.”
(Certeau, 2009, p.176)
Vida e grafias - miolo.indd 343 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
Essa literatura rastreia as cidades, são práticas do espaço, roubam-lhes
os sentidos hegemônicos e forjam na memória, no esquecimento e nas
deambulações experiências urbanas. Permite que pensemos os limites
de nosso conhecimento sobre elas, relativizar seus movimentos hege-
mônicos, fazendo com que as práticas submergidas, tantas vezes pelos
traços definidores das cidades, apareçam e invoquem as cidades lem-
bradas, passeadas, usadas, vividas, experimentadas.
Referências
Michel Agier, Antropologia da cidade: lugares, situações, movimentos, São Paulo: Editora Ter-
ceiro Nome, 2011
Roland Barthes, O rumor da língua, São Paulo: Martins Fontes, 2004
Fernando Bonassi, 100 histórias colhidas na rua, São Paulo: Scritta, 1996
Fernando Bonassi, Modesto Carone et al., A alegria: 14 ficções e 1 ensaio, São Paulo: Pu-
blifolha, 2002
José Castello, “Clipagem, no mínimo”, disponível em http://www.ranchocarne.org/
ldm/clip_folhasp6.html, acesso em 5 de julho de 2006
Bernardo Carvalho, O sol se põe em São Paulo, São Paulo: Companhia das Letras, 2007
–, “Entrevista”, Revista da Cultura, São Paulo, edição 22, p.16–19, maio de 2009
Michel de Certeau, “Caminhadas pela cidade – relatos de espaços”, A Invenção do coti-
diano: artes de fazer, Petrópolis: Vozes, 2009
Regina Dalcastagnè, Sombras da cidade: o espaço na narrativa brasileira contemporânea, Juiz de
Fora: Ipotesi, v.7, n.2, p.11–28, julho–dezembro de 2003
Manuel Delgado, Sociedades movedizas: pasos hacia una antropología de las calles, Barcelona:
Editorial Anagrama sa, 2007
Férrez, Capão pecado, Rio de Janeiro: Objetiva, 2005
Ronaldo Costa Fernandes, “Narrador, cidade, literatura”, O imaginário da cidade,
Rogério Lima & Ronaldo Costa Fernandes (organização), Brasília: Editora da
Universidade de Brasília / São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2000
Michel Foucault, “Linguagem e literatura”, in: Roberto Machado, Foucault, a filosofia e a
literatura, Rio de Janeiro: Zahar, 2001
–, “Les héterotopies”, Les corps utopique suivi de les héterotopies, Clamecy- France: Nou-
velles Édition Lignes, 2009
Marcelino Freire, Angu de sangue, São Paulo: Ateliê Editorial, 2000
–, Contos negreiros, Rio de Janeiro / São Paulo: Record, 2005
–, “O que é ser escritor no meu país?”, mesa-redonda, Ouro Preto: Fórum das
Letras, Memória e Edição, 1–5 de novembro de 2006
Jeanne Marie Gagnebin, “Introdução”, História e narração em Walter Benjamin, São Paulo:
Editora Perspectiva, 1999
Marguerite Itamar Harrison, “Introdução”, Uma cidade em camadas: ensaios sobre o romance
Eles eram muitos cavalos de Luiz Ruffato, Vinhedo: Horizonte, 2007
Marisa Lajolo, “Uma pauliceia para lá de desvairada”, in: Marguerite Itamar Har-
rison (organização), Uma cidade em camadas: ensaios sobre o romance Eles eram muitos
cavalos de Luiz Ruffato, Vinhedo:Horizonte, 2007
Cassiano Elek Machado, “Joca Reiners Terron arromba as portas do fasto Hotel Hell”,
Folha de S.Paulo, Clipagem, 30 de agosto de 2003, disponível em http://cabra-
preta.org/ldm/clip_folhasp6.html, acesso em agosto de 2003
Maria Flávia Armani Magalhães, “João Gilberto Noll: um escritor em trânsito”, dis-
sertação pelo mestrado do Programa de Pós-Graduação em Teoria Literária,
Campinas: unicamp, 1993
Michel Maffesoli, Elogio da razão sensível, Petrópolis: Vozes, 1998
João Gilberto Noll, Hotel Atlântico, Rio de Janeiro: Rocco, 1989
Vida e grafias - miolo.indd 344 3/9/15 7:38 PM
Antropologias nas cidades em grafias literárias
Rastros do verão, Rio de Janeiro: Rocco, 1990
–,
O cego e a bailarina, Rio de Janeiro: Rocco, 1991
–,
Mínimos múltiplos comuns, São Paulo: Francis, 2003
–,
Lorde, São Paulo: Francis, 2004
–,
entrevista por Antonio Gonçalves Filho em O Estado de São Paulo, 17 de outubro,
–,
disponível em http://w11.doutromundo.com/site/noticias.php?id=29, acesso em
7 de outubro de 2005
Edu Teruki Otsuka, Marcas da catástrofe: experiência urbana e indústria cultural em Rubem
Fonseca, João Gilberto Noll e Chico Buarque, São Paulo: Nankin Editorial, 2001
Carmem Villarino Pardo, “Eles eram muitos cavalos no(s) processo(s) de profissiona-
lização de Luiz Ruffato”, in: Marguerite Itamar Harrison (organização), Uma
cidade em camadas: ensaios sobre o romance Eles eram muitos cavalos de Luiz Ruffato,
Vinhedo: Horizonte, 2007
Luiz Ruffato, entrevista exclusiva a Heloisa Buarque de Hollanda & Ana Lígia Matos,
Literatura como um projeto, ano iii, n.1, 10 de março de 2006, disponível em http://
www.pacc.ufrj.br/z/ano3/01/entrevista.htm
–, “Bonassi e a dimensão política da escrita”, O Globo, Prosa & Verso, Rio de
Janeiro, 21 de abril de 2006, disponível em http://www.jornaldapoesia.jor.br/lru-
fatto6.html, acesso em 27 de fevereiro de 2007
–, Entrevista por Edney Silvestre, Programa Espaço Aberto, Globo News, 20 de feve-
reiro de 2009, 21h30
–, Domingos sem Deus, Rio de Janeiro: Record, 2011a
–, “Amores expressos – Lisboa”, 20 de julho de 2011b, disponível em http://www.
youtube.com/watch?v=OEk-K4K2lvI, acesso em 26 de maio de 2012
–, Entrevista, Programa Encontros de Interrogação, Instituto Itaú Cultural 2004,
sob a curadoria de Claúdio Daniel, Frederico Barbosa & Marcelino Freire, dispo-
nível em http://www.youtube.com/watch?v=VzY_GsNT_YM&feature=relmfu,
acesso em 16 de maio de 2012
Karl Erik Schollhammer, Ficção Brasileira Contemporânea, Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2009
Cristina Maria da Silva, “Rastros das socialidades: conversações entre João Gilberto
Noll e Luiz Ruffato”, tese de doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em
Ciências Sociais, Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2009, dispo-
nível em http://cutter.unicamp.br/document/?code=000444748
Maurício Silva, “Literatura brasileira contemporânea na pós-modernidade: a nar-
rativa minimalista de Fernando Bonassi”, Anais do 11 Simpósio Nacional de Letras e
Linguística, Uberlândia: Instituto de Letras e Linguística da Universidade Federal
de Uberlândia, 2006, disponível em http://www.mel.ileel.ufu.br/Silel2006/
caderno/resumo/MauricioSilva.htm
Georg Simmel, “As grandes cidades e a vida do espírito (1903)”, Mana, Rio de
Janeiro, v.11, n.2, outubro de 2005, disponível em http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0104-93132005000200010&lng=en&nrm=iso,
acesso em 26 de junho de 2012
Alípio de Sousa Filho, “Foucault: o cuidado de si e a liberdade ou a liberdade é uma
agonística”, in: Durval Muniz de Albuquerque Jr, Alfredo Veiga-Neto & Alípio
de Sousa Filho (organização), Cartografias de Foucault, Belo Horizonte: Autêntica
Editora, 2008
Joca Reiners Terron, Hotel Hell, Porto Alegre: Livros do Mal, 2003a
–, Curvas de Rio Sujo, São Paulo: Editora Planeta do Brasil, 2003b
Mario Vargas Llosa, “Em defesa do romance”, Questões Literárias, n.37, outubro de
2009, disponível em http://revistapiaui.estadao.com.br/edicao-37/questoes-lite-
rarias/em-defesa-do-romance, acesso em 24 de abril de 2012
Cristina Maria da Silva é professora do Departamento de Ciências Sociais da ufce.
Membro efetivo da aba e biograph. Coordena o Grupo de Estudos e Pesquisas
Rastros Urbanos, registrado no Diretório do cnpq. Autora do livro Rastros das sociali-
dades: conversações com a literatura de João Gilberto Noll e Luiz Ruffato.
Vida e grafias - miolo.indd 345 3/9/15 7:38 PM
Entre relatos de vida,
fotografias e cartografias:
uma etnografia
em diferentes proximidades
Cristiane Santos Souza
Este texto constitui um exercício de reflexão sobre os usos e as possi-
bilidades das diferentes fontes e grafias no trabalho antropológico, em
especial na escrita etnográfica. No percurso do trabalho de campo
para a pesquisa do doutorado sobre trajetórias de experiências de mi-
grantes saídos do interior”¹ da Bahia para Salvador, entre os anos de
1940–1970, e de seus descendentes (os filhos e netos desses sujeitos),
com um olhar voltado, não só, mas especialmente, para as estratégias
por eles forjadas para se inserirem social e culturalmente nesse terri-
tório, produzi um considerável corpus empírico e etnográfico. Trata-se
de registros de observações, relatos biográficos, fotografias, repro-
dução de fotografias de álbuns de família e de outros tipos de acervos,
diferentes cartografias e desenhos. A composição desse acervo se deu
1 Inicialmente pensei em trabalhar apenas com os migrantes oriundos das cidades e
localidades dos municípios que conformam o Recôncavo Baiano – que me parecia ca-
racterístico na ocupação e configuração de muitos territórios pobres e “periféricos”
da cidade de Salvador, em especial do subúrbio ferroviário. Entretanto, a pesquisa
de campo deu luz a um conjunto, ainda mais diverso e complexo, de sujeitos. Esses
tinham suas origens migratórias em outros recantos do Estado e com elas contribu-
íram para a produção de um outro mapa simbólico e identitário da cidade; ou seja,
vivido e representado a partir de outras veredas. Pareceu-me promissor, nesse sentido,
reter a noção de interior, como categoria analítica, forjada enquanto identidade social.
Em Salvador, essa noção é evocada por muitos dos seus moradores, para definir todo e
qualquer lugar que se localize fora da capital, mesmo na faixa litorânea. O “interior”
é o local de origem, a “casa”, o lugar de onde se vem e para onde se pode voltar. Trata-
-se ainda de uma construção que se permite uma referência social e simbólica e que
aponta para as representações que os sujeitos fazem de si, mesmo ao negá-lo. Ademais,
a noção apresenta-se como uma referência por meio da qual se busca alimentar o ima-
ginário dos filhos e netos.
Vida e grafias - miolo.indd 346 3/9/15 7:38 PM
Entre relatos de vida, fotografias e cartografias
com os resultados de diferentes pesquisas levadas a efeito entre os
anos de 2001–2011 em Salvador, em particular no subúrbio ferrovi-
ário (campo empírico do trabalho). Essas pesquisas abordaram temas
como configurações territoriais, moradia, organização social e produ-
ções identitárias.²
As inquietações se colocam em diferentes termos. Em primeiro
plano, como articular essas diferentes fontes de pesquisa sem hierar-
quizá-las na construção das análises? Segundo: como trabalhar de
forma que esse material, em especial as imagens e as cartografias,
por assim dizer, não se restrinjam a material ilustrativo? No exercício
de buscar me apropriar desses “assaltos”, apresento nesse artigo um
breve arranjo (etno)gráfico a partir do material coletado, com vistas a
sinalizar para o que penso ser um caminho profícuo de apropriação
e reflexão desse material. Dessa forma, de maneira ainda experi-
mental, a tentativa deste capítulo é apresentar algumas possibilidades
analíticas.
Para tanto, dialogo com a trajetória da experiência de dona
Elizete e de sua família de origem. Os alinhavos que tecem esse escrito
tomam por eixos: 1. os relatos de vida de dona Elizete, produzidos
através de entrevista, conversas informais (com ela e com os membros
da família nuclear) e observações das interações no âmbito do espaço
doméstico; 2. as fotografias do acervo familiar, as que foram produ-
zidas por mim em campo ao me mover pelos lugares indicados nas
memórias evocadas por ela, e dos acervos fotográficos de instituições
públicas de pesquisa; 3. as cartografias produzidas a partir de relatos e
observações, com vistas a construir e indicar diferentes proximidades
com o que significou a experiência de dona Elizete na cidade.³
2 Refiro-me especificamente aos projetos: “Violência e masculinidade: conhecimento
e experiência de pesquisa na construção de novas perspectivas de inserção e ação
social entre jovens do subúrbio ferroviário de Salvador (ba)” – parte do Programa
Gênero, Reprodução, Ação e Lideranças (gral) –, promovido pela Fundação Carlos
Chagas em parceria com o SOS Corpo – Gênero e Cidadania: Instituto Feminista
para a Democracia, e desenvolvido em parceria com Universidade Estadual de Feira
de Santana; e “Memória dos movimentos sociais do subúrbio ferroviário de Sal-
vador, ba, 1970–1980”. Este último projeto foi realizado entre os anos de 2007–2011,
sob minha coordenação, no âmbito do Núcleo de Pesquisa e Estudo sobre Juven-
tudes, Identidades, Culturas e Cidadania (npeji/ucsal). Em 2010, com recursos
financeiros do South-South Exchange Programme for Research on the History of
Development (sephis), realizamos a coleta de 34 depoimentos e de um conjunto de
peças de audiovisual (programas de rádio, vídeos e fotografias). As entrevistas foram
estruturadas por temas, focando as histórias de vida e do “movimento”.
3 Existe um crescente debate em torno da apropriação, produção e uso das cartogra-
fias no âmbito das ciências sociais. Esse debate ganha fôlego, ainda mais a partir das
questões que atravessam as discussões mais atuais sobre os territórios de diferentes
grupos sociais e a dimensão política aí envolvidas. Ver, nesse sentido, o trabalho de
Henri Acselrad (2008).
Vida e grafias - miolo.indd 347 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
De imediato é importante dizer que o objetivo deste escrito não
é esgotar todas as dimensões que atravessam a trajetória de dona
Elizete, tampouco todas as questões que me atravessam quanto à
apropriação do material empírico coletado e da escrita etnográfica.
Diferentemente disso, o intuito é apresentar algumas pistas apre-
endidas sobre a forma como as memórias das experiências vividas
constroem e representam os territórios percorridos. Dito isso, é
importante sinalizar que este texto apresenta lacunas substanciais,
acerca do itinerário de dona Elizete, assim como, do contexto mais
amplo da sociedade baiana e soteropolitana da segunda metade do
século xx.⁴
O desejo de trabalhar com trajetórias de experiências de di-
ferentes gerações de migrantes e seus descendentes nascidos em
Salvador e de produzir uma cartografia que me levasse a um mapa
desses percursos me conduziu a inúmeros lugares – dentre eles, aos
que considerei aqui lugares de memória. Segundo Pierre Nora, esses
“são lugares, com efeito, nos três sentidos da palavra, material,
simbólico, funcional… Mesmo um lugar de aparência puramente
material, como um depósito de arquivos, só é lugar de memória se
sua imaginação o investe de uma aura simbólica.” (Nora, 1993, p.21)⁵
Penso que os lugares de memória e os agentes produtores dessas
memórias devem ser vistos a partir do vivido, do caráter dinâmico
deles. Dito de outra forma: entendo esses lugares como aqueles que
ocupam posições de centralidade e articulação de sentidos nas nar-
rativas dos sujeitos, nos passeios pelas lembranças e esquecimentos,
os quais estruturam as memórias de suas experiências. Nesse sentido,
a noção de lugares de memória parece-me útil para identificar as
marcas que esses sujeitos produziram, individual e coletivamente,
em suas trajetórias na configuração do território e na memória da
cidade. Dessa forma, compreendo-os como algo que se produz na
prática e a partir do olhar, da leitura e dos sentidos atribuídos pelos
agentes que com eles e neles se produzem – como memórias de experi-
ências vividas.
No trabalho em questão, o registro dos relatos orais possibilita
a análise das trajetórias pessoais e sociais dos sujeitos, através da
memória e das reminiscências dos deslocamentos desde a saída dos
4 Na capital baiana, a segunda metade do século xx caracterizou-se por um
momento de intensa imigração de população rural, ribeirinha e litorânea para espaços
que constituíram e se consolidaram na sua atual periferia.
5 Pierre Nora reflete sobre a separação entre memória e história no mundo contem-
porâneo, que, para ele, produz significados bem definidos. “A memória se enraíza no
concreto, no espaço, no gesto, na imagem, no objeto. A história só se liga a continui-
dades temporais, às evoluções e às relações das coisas. A memória é o absoluto, e a
história, o relativo.” (Nora, 1993, p.9)
Vida e grafias - miolo.indd 348 3/9/15 7:38 PM
Entre relatos de vida, fotografias e cartografias
seus “interiores” até Salvador e os percursos realizados na aventura por
encontrar um lugar social e simbólico na cidade e na vida social “baiana”.
Sendo assim, a memória de uma pessoa, por mais individual que
seja, perpassa diferentes lugares e memórias que são construídas a
partir de vivências semelhantes, mas com perspectivas diferenciadas.
A existência de memórias individuais leva em conta cada experiência
anteriormente vivida, conforme concebido por Maurice Halbwachs
(2006). Ademais, esse conjunto de memórias que traz à tona aspectos
semelhantes, ou que, da mesma forma, silencia outros aspectos que
permanecem nas entrelinhas, só é possível pela existência da chamada
memória coletiva.
No encalço dessas reflexões, reporto-me a Suely Kofes (1998), que
elabora uma profícua reflexão sobre a importância das histórias de
vida na análise social enquanto “relatos de vida”, consideradas como
narrativas que dispõem de uma lógica interna, situada na interação
da investigação e em suas possibilidades analíticas. Os “relatos de
vida”, dessa forma, ainda segundo Kofes, são fontes de informação
(uma experiência que ultrapassa o sujeito que relata); são também
evocação, que nos leva à subjetividade interpretativa do sujeito e a
uma reflexão por ele produzida, que já apresenta uma análise sobre a
própria experiência vivida. Essa perspectiva impõe ao investigador o
desafio de não incorrer em interpretações meramente objetivistas, de
um lado, que compreendem os relatos apenas como informações e,
por outro, subjetivistas, que os compreende exclusivamente como evo-
cações (Kofes, 1998, p.84). Da mesma forma, Michael Agier (1998), ao
estudar a trajetória de lideranças afro-baianas em diferentes espaços
da vida social de Salvador, nos finais dos anos 1970 e nos anos 1980,
sinaliza para a limitação de análises que encerram o uso e o aprovei-
tamento dos “relatos de vida” em uma oposição indivíduo/sociedade.
O autor reflete sobre as trajetórias, discursos e inserções institucionais
de lideranças negras em espaços religiosos, culturais, políticos e sindi-
cais em Salvador e vê na combinação desses três aspectos uma matriz
de compreensão do processo de identificação dessas lideranças e da
produção – se assim posso dizer –, de pertencimento e identidade.
Compreendo as imagens (fotográficas, desenhos etc) também
como relatos que constituem narrativas. Como pensar o universo das
imagens e sua relação com o olhar e o fazer antropológicos? Esta é
uma questão que vem sendo trabalhada pelos estudiosos da chamada
“antropologia visual”. Entretanto, esse é um campo que, apesar de
já ter certo caminho percorrido, ainda é pouco explorado pelas ciên-
cias sociais, especialmente, no que se refere às suas potencialidades
epistemológicas. Uma contribuição significativa nesse sentido está
nas reflexões de Milton Guran (2002, 1998 e 1995) sobre a fotografia
Vida e grafias - miolo.indd 349 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
eficiente e seu lugar enquanto campo e fonte de análise. Outra in-
teressante contribuição é o trabalho de Fabiana Bruno (2009). A
autora, a partir de um conjunto de imagens fotográficas produzidas
por pessoas idosas em diferentes momentos da vida, priorizou e
“deu confiança” a estas imagens, por estarem carregadas de me-
mórias no momento em que os sujeitos as evocam. Nesse percurso,
Bruno aponta para a necessidade de uma metodologia da estética
na Antropologia, ao que chamou de “fotobiografias”. Apesar de não
ter seguido os passos indicados pela autora na coleta das imagens,
coaduno a ideia de que as fotografias são elas mesmas carregadas
de memórias ao serem evocadas pelos sujeitos. Dito isso, sigo meus
passos guiada pelos relatos biográficos orais e imagéticos para aden-
trar no universo da experiência vivida por dona Elizete e das memórias
dos lugares por ela evocados em seus deslocamentos por Salvador.
No dia 19 de maio de 2011, como de costume, peguei o ônibus
para Pirajá no ponto do Orixás Center, um pequeno shopping locali-
zado no bairro do Politeama, próximo à minha residência, no Vale
dos Barris. Eram mais ou menos 10h30 da manhã. A expectativa da
minha parte era muito grande, pois nesse dia iria registrar em áudio
uma entrevista mais sistemática com dona Elizete. Após algumas
visitas e conversas com ela, seu marido e alguns dos seus filhos, já
sabia que a trajetória de sua experiência em Salvador seria a linha
condutora por onde seriam fiadas outras experiências.
Peguei o ônibus para Colinas de Pirajá depois de um longo
período de espera. Desci antes do final de linha do ônibus, em frente à
escola estadual Professora Alexandrina dos Santos Pita, na rua Elizio
Mesquita, e continuei meu percurso a pé pela rua Primeiro de Janeiro,
onde fica a casa de dona Elizete. Havia combinado de almoçar em
sua casa nesse dia. Nesta entrevista, dona Elizete – através das memó-
rias de infância dos seus primeiros anos na cidade da Bahia – sinalizou
alguns aspectos reveladores sobre a trajetória de sua família para se
inserir em Salvador. Seus relatos indicam, para além do âmbito fami-
liar, processos que conformam outras redes socioculturais acessadas
na “luta” cotidiana pela sobrevivência na capital baiana.
Como indiquei no registro subscrito, dona Elizete reside no bairro
de Pirajá – uma área contígua ao subúrbio ferroviário, ligada a ele
através do Parque São Bartolomeu/Pirajá, como podemos observar
no mapa 2, na página ???. Antes de estabelecer moradia em Pirajá,
6 Nas trajetórias estudadas, observo esse movimento por diferentes lugares da cidade
em busca de um espaço para firmar moradia – a busca da casa própria produziu di-
ferentes trajetos na vida dessas pessoas, que exerceram papel fundamental sobre suas
vidas e suas representações sobre si e a cidade.
Vida e grafias - miolo.indd 350 3/9/15 7:38 PM
Entre relatos de vida, fotografias e cartografias
Percursos pela cidade: experiência vivida e lugares de memória
Mapa 1
Salvador: regiões administrativas*
(Souza, 2002)
*Atualizado, em 2011, a partir das mudanças no zoneamento da cidade realizado
através do plano diretor urbano de Salvador de 2008, que insere a Ilha de Maré, ante-
riormente alocada na RA XVI – subúrbio ferroviário, na RA XVII – Ilhas
(disponível em http://www.desenvolvimentourbano.salvador.ba.gov.br/lei7400_pddu/
index.php, acesso em 20 de março de 2011)
Vida e grafias - miolo.indd 351 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
produziu um percurso, um escrito do “mundo”, por outros lugares da
cidade, como veremos adiante.⁶ Dona Elizete, uma senhora negra (ou
como ela se autoidentifica: “Eu sou preta”) nasceu no município de
Jiquiriçá, estado da Bahia, há 63 anos.⁷ Após o casamento, há quase
quarenta anos, com seu Haroldo – um senhor de 64 anos, natural
de Monte Gordo, município de Catu, no litoral norte do estado –,
mudou-se para Pirajá. Lá teve seus quatro filhos: Nelma (35), Haroldo
[o filho] (33), Dércio (32) e Elaine (28).
Muitos são os caminhos que ligam os bairros do subúrbio e o
bairro de Pirajá, especialmente entre as áreas que compreendem os
bairros do Lobato, Alto do Cabrito, Plataforma e Rio Sena. Até a
construção da avenida Afrânio Peixoto, conhecida pelos moradores
de Salvador como “avenida Suburbana”, nos anos 1970, a comuni-
cação e os deslocamentos entre as duas áreas aconteciam mediante
as caminhadas a pé ou de carros particulares por caminhos de “chão
batido”. Ou, ainda, por dentro da extensa área de Mata Atlântica ali
existente à época. Após sucessivas intervenções urbanísticas, a extensa
área de mata foi sendo reduzida sistematicamente por decorrência da
especulação e ocupação imobiliária. Porém, há ainda uma parte con-
siderável de floresta que conforma o que o Estado demarcou como
área de proteção ambiental – o parque São Bartolomeu/Pirajá.⁸
Eram diversas as conexões realizadas cotidianamente pelos diferentes
agentes para acessar o trabalho, os serviços de saúde e educação e
para a realização de atividades de subsistência: a pescaria e a extração
de frutas e ervas.
7 A condição racial de mulher negra e os efeitos do racismo brasileiro sobre o curso
da vida de dona Elizete é recorrente em seus relatos, especialmente, para emol-
durar suas lembranças dos tempos de namoro e noivado com seu Haroldo. Naqueles
períodos, dona Elizete se sentia em posição de desvantagem em relação às outras
mulheres, consideradas por ela “brancas”. Da mesma forma, seus relatos possibi-
litam inferir sobre as diferenças raciais presentes nas relações com os familiares de seu
Haroldo, junto aos quais vivenciou situações que afirmavam preferência por outro
perfil de mulher para se inserirem na rede familiar. A exemplo disso, ela lembra que os
irmãos de seu Haroldo casaram-se com mulheres “brancas”, mais “claras” e que ela
era a única “pretinha”. Preferi, neste artigo, não tratar mais detidamente das questões
raciais, do racismo e das escolhas matrimoniais no Brasil, tendo em vista a complexi-
dade dos temas que exigiriam uma reflexão à parte.
8 Uma das mais extensas e bonitas reservas de Mata Atlântica da cidade de Salvador
– área de proteção de mananciais que totaliza 1.550 ha. Ao redor da nascente do Rio
do Cobre, fica também o principal reservatório de água destinado ao abastecimento
de boa parte dos bairros desta região. O parque é também espaço reconhecido como
patrimônio cultural afro-brasileiro por ser o cenário de preservação e realização de
diferentes práticas religiosas de matrizes africanas. Foi cenário de muitas revoltas
– dentre elas, uma das muitas revoltas escravas de Salvador, onde se constituiu o qui-
lombo do Urubu. Sobre estas e outras revoltas negras em Salvador, ver João Reis
(2003).
Vida e grafias - miolo.indd 352 3/9/15 7:38 PM
Entre relatos de vida, fotografias e cartografias
Só há pouco tempo, após os serviços de melhoramento de infra-
estrutura em antigas ruas de chão batido, observou-se mudanças no
trânsito, entre essas duas regiões, com a melhoria da infraestrutura
(abertura e pavimentação de ruas) e a implementação de transportes
“complementar” (particulares), a exemplo de micro-ônibus da marca
Topic e Van, que atendem diariamente o bairro e grande região de
Pirajá – voltando, dessa forma, a dinamizar essa comunicação entre
essas regiões e ligando-as a outras partes da cidade.
O desenho traçado nos relatos de dona Elizete nos leva a um per-
curso narrativo, territorial e simbólico do seu encontro com Salvador.
“Ói, nós chegamos aqui em Salvador, o ano eu não me lembro, só me
lembro que nós chegamos à noite. Mucho bonito, encantador! Che-
gamos ali na Baiana [porto da Companhia Baiana de Navegação
– cbn]. Chegamos de barco! E meu pai que fazia viage [sic] aqui
pra Salvador, trabalhava, já conhecia ali a Conceição da Praia. Tinha
aqueles casarão que alugava pra famílias. Morava famílias também!”
Apesar de indicar no seu relato o esquecimento quanto ao ano de
chegada a Salvador – “o ano eu não me lembro” –, ao cruzar outros
aspectos lembrados por ela, não é difícil inferir que seus olhos estão
visualizando Salvador de finais dos anos 1950 e inícios dos 1960. Era
um momento de transição da vida social “baiana”, marcada pela es-
tabilização da reorganização política e econômica e, por outro lado,
de profundas mudanças na organização do espaço urbano da cidade.
Essa década e as duas seguintes caracterizam o período de aumento
nos fluxos migratórios entre o “interior” e a capital do estado, no
século xx. A partir da década 1970, as transformações urbanas se in-
tensificaram em Salvador, por exemplo, com a construção das avenidas
de Vale, caracterizadas por derrubadas de edificações habitacionais e
comerciais antigas, extração de áreas verdes, alargamento de ruas e re-
locações populacionais. Esses processos vão marcar a configuração da
cidade e a sua dinâmica sociocultural (Gordilho-Souza, 2000).
Naquele tempo, nos finais dos anos 1950, ainda, a Baía parecia
um jardim florido de barcos, saveiros, canoas e outros tipos de em-
barcações que atracavam para o derrame cotidiano de mercadorias e
pessoas, provenientes de diferentes partes do Estado, em especial do
Recôncavo Baiano.
A despeito de já existirem caminhos e estradas de rodagem por
onde se transitava de ônibus, carros e em lombos de animais para
acessar a cidade da Bahia, era comum a travessia “de barco” pela
Baía de Todos os Santos das pessoas que buscavam definitivamente
a capital do estado para fincar chão e das que mantinham desloca-
Vida e grafias - miolo.indd 353 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
Mapa 2
Trecho de Plataforma, São Bartolomeu e Pirajá
Vida e grafias - miolo.indd 354 3/9/15 7:38 PM
Entre relatos de vida, fotografias e cartografias
mentos permanentes de trabalho, comércio e serviços com a capital.
Mais do que isso, no percurso dessas embarcações, a interação e a
sinergia geradas constituía (e ainda hoje constitui) uma esfera social
onde encontros, reencontros e despedidas, trânsitos e trocas (mate-
riais, afetivas, cognitivas), papéis sociais e responsabilidades, práticas
e regras, e experiências sensitivas se realizavam cotidianamente. Em
suma, constituía o espaço no qual parte da experiência do deslo-
camento era vivida. Essas movimentações criaram e alimentaram
trajetos entre Salvador e outras “veredas” da Bahia de extrema im-
portância para a conformação da Salvador “moderna”.
Na imagem 1, “Vista da cidade de Salvador”, a seguir, em 1966,
aparecem em primeiro plano algumas embarcações: à esquerda,
veem-se as antigas edificações da “Baiana” [em destaque]. “Che-
gamos ali na Baiana” – esse é um momento reificado na trajetória
de alguns migrantes. Não parece difícil observar a configuração de
um lugar de memória aí. Junto a outros elementos que constituem o
cenário, forjava-se a primeira imagem da cidade, vista do mar. Era
no porto da “Baiana” que se encontravam os parentes que estavam
à espera. Dentre as pessoas com as quais mantenho vínculos de tra-
balho e amizade que têm nas trajetórias de suas famílias a experiência
vivida e narrada da migração, muitas indicavam em nossas conversas
informais de compartilhamento – antes mesmo da pesquisa sistemá-
tica –, referências de familiares que já haviam migrado em períodos
anteriores para a capital, formando ali uma rede de contatos e apoio,
por meio dos quais conheciam pessoas, trocavam experiências, com-
pravam e vendiam produtos produzidos nos mais diferentes recantos
do estado.⁹ A importância desse lugar nas lembranças de alguns dos
migrantes com os quais convivi durante a pesquisa remonta a diferentes
momentos entre as décadas de 1940 e 1980.
A produção literária que toma a cidade, desde os anos 1930, como
cenário, transita por esse lugar e todo o complexo que o envolve.
Jorge Amado, para efeito, alimenta nosso universo de representações
com imagens de Salvador das primeiras décadas do século xx e de
décadas posteriores. As imagens são evocadas nos diálogos de suas
personagens – muitas delas deslocadas do “interior” –, que costuram
lugares e sentidos a partir dos percursos que fazem pela cidade. Por
exemplo, são nos trapiches da região portuária da capital baiana, nas
primeiras décadas do século xx, por exemplo, que os Capitães de areia
se recolhiam ao descanso nas noites sombrias e narravam suas aven-
9 No livro A caminho da cidade (1973), Eunice Duram deslinda os mecanismos forjados
pelos migrantes saídos de áreas rurais a caminho da cidade e as redes de parentes e
amigos que vão se formando, e a base de apoio e solidariedade que se forma para a re-
cepção de novos membros.
Vida e grafias - miolo.indd 355 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
Imagem 1
Fotografia de “Uma vista da cidade de Salvador”,
(Biblioteca Universitária Reitor Macedo Costa/UFBA, “Vista da cidade de Salvador,
vendo-se do Elevador Lacerda”, 1966, série de documentação: 318, negativo: 170–11a)
Vida e grafias - miolo.indd 356 3/9/15 7:38 PM
Entre relatos de vida, fotografias e cartografias
Vida e grafias - miolo.indd 357 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
turas de “perambulações” pelas ruas do São Bento, da Chile, da Sé, da
Piedade, da Gamboa de Cima, da Carlos Gomes, do Campo Grande
e de tantas outras. Ou ainda, pela “cidade rica que se estendia do
outro lado do mar, na Barra, na Vitória, na Graça” (Amado, 1991,
p.85). Ao conduzir sua narrativa pelos percursos de Quincas Berro
D’água e do comandante Vasco Moscoso de Aragão, em “Os velhos
Marinheiros”, Amado vai nos revelando também parte da cidade,
seus habitantes, as relações entre eles forjadas, os conflitos e as estraté-
gias de sobrevivência no curso da vida.
Dona Elizete, por exemplo, migrou da sua cidade de origem, ainda
criança, com a família: “Eram meu pai [seu Erotildes], minha mãe
[dona Honorina], era cinco filhos: eu, Maria Eronildes, Maria José
[já falecidas], Maria Bernadete [reside hoje no Rio de Janeiro] e José.
Cinco filhos! Com meu pai e minha mãe, sete – família com sete
pessoas.” Seu pai “que fazia viagem … pra Salvador, trabalhava, já
conhecia ali a Conceição da Praia” e por isso mantinha uma rotina
permanente de trânsito (falas de dona Elizete). Salvador, desde a sua
fundação, manteve fortes ligações com o Recôncavo Baiano e toda
uma zona em seu entorno, uma região em que predominavam ativi-
dades agrícolas e extrativistas voltadas para o mercado externo, assim
como para o abastecimento da capital.
De fato, a circulação através da baía é uma prática que constitui
a própria história de formação e desenvolvimento de Salvador, de
sua região e, de certa forma, de outras regiões em seu entorno, que
através dela se ligavam em redes e fluxos territoriais, sociais e culturais
intensos. Nos trabalhos fotográficos e etnográficos produzidos por
Pierre Verger, desde os anos 1930 até finais das últimas décadas do
século xx, registra-se a intensa comunicação, trânsito de pessoas,
coisas, práticas culturais, sentidos na “rampa do mercado”, na área da
“Baiana”, como podemos observar na série a seguir:
Vida e grafias - miolo.indd 358 3/9/15 7:38 PM
Entre relatos de vida, fotografias e cartografias
(Acervo da Fundação Pierre Verger, disponível em http://www.pierreverger.org/fpv/
index.php?option=com_wrapper&Itemid=176, acesso em 24 de abril de 2012)
Vida e grafias - miolo.indd 359 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
(Acervo da Fundação Pierre Verger, disponível em http://www.pierreverger.org/fpv/
index.php?option=com_wrapper&Itemid=176, acesso em 24 de abril de 2012)
Vida e grafias - miolo.indd 360 3/9/15 7:38 PM
Entre relatos de vida, fotografias e cartografias
(Acervo da Fundação Pierre Verger, disponível em http://www.pierreverger.org/fpv/
index.php?option=com_wrapper&Itemid=176, acesso em 24 de abril de 2012)
Vida e grafias - miolo.indd 361 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
Na imagem 2, “Vista parcial da cidade de Salvador”, em 1966, vê-se
mais à frente o prédio da Alfandega (em destaque: local que abriga o
Mercado Modelo, na atualidade); logo à frente, a praça Cairu – nessa
época ainda ornada por arvoredos muito comuns a vários lugares
da região central da cidade –; ao lado, vê-se o Mercado Modelo (na
época), edifícios e casarões; à direita, observamos as edificações da
Marinha.¹⁰ Mais à frente, em plano intermediário, tem-se “o Ele-
vador” – o Elevador Lacerda; ao lado, à sua direita, os outros casarões
e a Igreja de Nossa Senhora da Conceição (em destaque). Mais acima,
em segundo plano, aparecem o palácio Rio Branco e o Bairro da Sé,
com suas edificações religiosas. Nela, seguindo as evocações das lem-
branças de dona Elizete, aparece em relevo azul o “casarão” onde ela
residiu nos primeiros anos com a família em Salvador. Esses lugares
são evocados por ela para constituir e dar sentido às próprias memó-
rias das experiências dos primeiros anos na cidade. No fragmento
abaixo, pude extrair os motivos que levaram a família a Salvador:
“Foi a situação financeira de meu pai, que tava muito ruim. Não dava
pra viver mais no interior e ele viajava muito pra Salvador, eu não
me lembro que trabalho era que ele fazia, eu não me lembro. Eu sei
que ele viajava pra Salvador. Aí ele achou melhor trazer a família pra
Salvador.”
(Dona Elizete)
Essa itinerância era bastante onerosa e difícil de manter em muitos
aspectos: administrar os poucos recursos – ou quase nenhum –, as
saudades e os cuidados cotidianos com os filhos. Ao que tudo indica,
“trazer a família pra Salvador” pareceu a seu Erotildes a melhor al-
ternativa naquele momento. Na cidade, foram residir na Conceição
da Praia, na rua da Preguiça. A Conceição, área portuária, uma pai-
sagem de velhos casarões, era um lugar de efervescência na cidade em
séculos anteriores – o centro comercial. As edificações e monumentos,
além de outros sinais, fazem incidir sobre o lugar, ainda hoje, uma
aura de antiguidade dos tempos de “prosperidade”.¹¹
10 Entre os acervos consultados, me deparei com inúmeras fotografias antigas de Sal-
vador que têm como foco essa parte da cidade – porém, muitas delas sem datação.
Entre estas, a que mais se aproximava do período de chegada e permanência de dona
Elizete nessa área da cidade datava de 1966.
11 Ver Kátia Mattoso (1978) sobre a história de Salvador no século xix. Essa autora
apresenta em finos detalhes a dinâmica sociocultural das 11 freguesias urbanas que
formavam Salvador; indica informações preciosas sobre o perfil dos habitantes destas
áreas e as dinâmicas populacionais que as caracterizavam.
Vida e grafias - miolo.indd 362 3/9/15 7:38 PM
Entre relatos de vida, fotografias e cartografias
Imagem 2
Fotografia da “Vista parcial da cidade de Salvador”
(Biblioteca Universitária Reitor Macedo Costa/Universidade Federal da Bahia/
UFBA, “Vista parcial da cidade de Salvador, vendo-se o Elevador Lacerda e a Igreja
da Conceição da Praia”, 1966, série de documentação: 241, negativo: 167–6a)
Vida e grafias - miolo.indd 363 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
Na “Conceição” habitavam, à época, uma infinidade de “tipo[s]” de
pessoas, como enfatiza dona Elizete:
“Não sei nem como é que eu devo dizer! Esse povo assim, como é!?
Prostituta!? Era prostituta que morava. E aí meu pai levou família
pra morar ni [sic] um casarão desse. Eu me lembro que minha mãe
chorava. Ela diz[ia] que não queria criar os filhos dela ali. Eu não
entendia, porque eu gostava de tudo, achava bonito, vinha do inte-
rior! Agente passeava, eu tinha na base de 6 anos, 6 pra 7 anos; e meu
irmão caçula tinha – era mais novo do que eu – tinha 5 anos. Aí nos
vivemos ali.”
A presença [d]“esse povo assim! Como é? Prostituta” aparece como
ponto de articulação das memórias de dona Elizete ao lembrar de
sua mãe nesse contexto. No jogo da memória de dona Elizete – das
lembranças e dos esquecimentos, ao pensar sobre esses tempos –, sua
mãe aparece primeiro abraçada com seu pai em frente à “casa do
Cabrito”. Depois aparece sozinha, em uma foto 3×4 congelada no
Registro Geral, emitida em 1983.
A meninice de dona Elizete não entendia as representações sociais
ligadas à vida na Conceição, das quais as lágrimas de sua mãe sinali-
zavam não querer compartilhar. A “mãe chorava”. Era medo de quem
“não queria criar os filhos ali” – especialmente as filhas mulheres. Defi-
nitivamente: “Não queria criar os filhos ali, não queria, não queria, as
Imagem 3
Foto de dona Honorina e seu Erotildes:
pose em frente à “casa do Cabrito”, nos anos 1980
(Acervo de família de dona Elizete, material coletado no trabalho de campo, 2012)
Imagem 4
Dona Honorina em uma 3 × 4
(Acervo de dona Elizete, material coletado no trabalho de campo, 2012)
Vida e grafias - miolo.indd 364 3/9/15 7:38 PM
Entre relatos de vida, fotografias e cartografias
meninas ficando mocinha [sic], não queria.” Dona Honorina parecia
temer pela reputação e pelo destino das filhas: mulheres negras, vindas
do interior, como outras tantas que figuravam naquele espaço e que
haviam sido marcadas em suas trajetórias pela marginalização e a
prostituição. Esse receio vinha das práticas constituídas historicamente
ali e dos discursos em relação a outros territórios da cidade, como
analisado no trabalho de Gey Espinheira (1984) sobre a prostituição
no Centro histórico de Salvador. Espinheira sinalizou o perfil da po-
pulação residente no local e apontou para o aspecto característico da
migração, indicando os locais de origem, os períodos de chegada na
cidade e o jogo e os confrontos cotidianos, além das estratégias for-
jadas para se estabelecerem na cidade.
De toda sorte, a interdição desse território não impedia que as
“pessoas de família” estivessem ali, convivendo e produzindo o coti-
diano do lugar, assim como, da mesma forma, se deixando produzir
por ele. Mas, naquele momento, dona Elizete “gostava de tudo,
achava bonito, vinha do interior!”, e lá a vida estava difícil.
“Meu pai era sapateiro, sapateiro, quer dizê: ele consertava sapato. E
minha mãe era costureira, aí ela costurava pras vizinha lá do prédio.
Ela costurava e meu pai trabalhava de sapateiro, né!? De limpar
sapato, botar meia-sola, essas coisa! E minha mãe costureira! Aí
minha mãe conseguiu um lugar pra trabalhar, pra fazer farda de tra-
balho. Aí meu pai não deixou, tinha um ciúme dela, não queria que
ela saísse, morria de ciúme.”
(Dona Elizete)
Dispor de ofícios especializados em Salvador, em finais dos anos 1950
do século xx, possibilitou aos pais de dona Elizete e a toda família
se aproximarem de um universo social e cultural muito diferente do
que eles haviam trazido do interior, e também de se afastar do uni-
verso social que observavam entre “essa gente assim”. Sua “mãe era
costureira, aí ela costurava pras vizinha lá do prédio”. Através disso,
ela pôde continuar trabalhando, como fazia no seu interior.¹² Cos-
turar para as vizinhas estabelecidas social e economicamente não foi a
única forma de trabalho: “Ela conseguiu um lugar pra trabalhar, pra
fazer farda de trabalho.” Porém, o “ciúme” que seu Erotildes sentia a
impediu de deixar a casa para trabalhar na fábrica. A alternativa en-
contrada por dona Honorina, como destaca dona Elizete, foi “levar
as roupa cortada pra casa, e ela costurava as calça, as camisa. Ela cos-
12 Ser “do prédio” aparece como marca de distinção na narrativa de dona Elizete
para caracterizar as mulheres que formavam a clientela de sua mãe naquela época.
Vida e grafias - miolo.indd 365 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
turava as farda e levava. Isso era a vida que nós tivemos ali. Ninguém
era registrado.”
Seu Erotildes parecia temer que a esposa pudesse ser associada
às “prostitutas” que viviam e circulavam pelas ruas da Conceição
– o mesmo receio que sua esposa tinha em relação às filhas. Sapa-
teiro, pôde instalar “na Preguiça… o ponto dele, que trabalhava de
consertar sapato”. Já conhecedor dos espaços da cidade e de suas di-
nâmicas, afinal, “ele viajava muito pra Salvador”, escolheu a Ladeira
da Preguiça, próxima à residência, espaço de grande circulação e
intenso comércio à época. A Preguiça também aparece como um
lugar de memória na narrativa de alguns migrantes. Na canção do
poeta e músico baiano, Gilberto Gil (1971), a Ladeira da Preguiça
aparece como referência das lembranças e saudade de casa e de sua
gente. A partir dela, olha para outros lugares da cidade e para as prá-
ticas depreendidas por seus agentes. A Preguiça reporta-se a diferentes
sentidos – o não trabalho, a festa, descanso permanente, o descanso
paradisíaco –, que reificam aspectos identitários de uma “baianidade”
vista a partir do Recôncavo e performatizada na Cidade da Bahia.
Porém, a historiografia destaca que esse lugar, durante as primeiras
décadas do século xix, foi construído para viabilizar a ligação entre
as duas áreas da cidade: a baixa e a alta, com a finalidade de fazer
transportar as mercadorias que vinham do porto e deveriam chegar
aos diferentes pontos e abastecer a cidade. Esse trabalho, à época, era
realizado pelos negros escravizados, muitos dos quais demonstravam
resistência ao duro trabalho que era carregar grandes “fardos” de
mercadorias.
Da mesma forma que outros lugares, a Ladeira da Preguiça, em
diferentes momentos, é ritualizada e reatualizada através das lem-
branças de diferentes agentes. Salvador é uma cidade que se configura
geograficamente em duas. Entretanto, social e culturalmente, não só
de duas se configura a Cidade da Bahia, mas em muitas, muitas dessas
escondidas e invisibilizadas aos olhares dos holofotes que trazem à
cena a “cidade da festa e da alegria”.
Como deixa assinalado dona Elizete em sua narrativa, “ninguém
era registrado”, ao se referir a si e aos seus irmãos, o que era muito
comum entre as pessoas nas cidades do interior do estado da Bahia.
O “registro” (certidão de nascimento), na época, não constituía
uma obrigatoriedade para que pudessem, por exemplo, acessar o
ensino formal. Por outro lado, para acessar esse e outros serviços em
Salvador, o “registro” era um pré-requisito. Dona Honorina, uma
mulher que dispunha de conhecimentos forjados em uma educação
formal, reconhecia e queria que os filhos também dispusessem do
mesmo. Por isso, fez questão de registrá-los logo ao chegar na cidade.
Vida e grafias - miolo.indd 366 3/9/15 7:38 PM
Entre relatos de vida, fotografias e cartografias
Com o registro em mãos, as filhas foram matriculadas na escola esta-
dual Permínio Leite, localizada no bairro Dois de Julho. José, o filho
caçula, era então muito pequeno para frequentar a escola.
Apesar dos receios da mãe, dona Elizete e seus irmãos “ficava[m]
por ali passeando, não tinha[m] medo de nada, toda hora saía[m]…
Ficava[m] no meio do povo [e] depois voltava[m] pra casa”, em espe-
cial nos períodos de festas, vez ou outra, possibilitadas pelos passeios
com o pai.
Dona Elizete: “Aí eu conheço aquilo tudo, o Mercado Modelo, pas-
seava, subia e descia o Elevador [Lacerda]. Ia passear mais meu pai
lá por cima. Conhecia aquilo tudo. Andava olhando as vitrine; época
de São João botava aquelas fogueirona na vitrine, com aquelas chama
assim, aquelas coisa linda que enfeitava as vitrine. E a gente olhando.
Carnaval a gente saía com meu pai pra passear. Mucho bonito! …
Aí nós frequentávamos ali a Igreja de Nossa Senhora da Conceição.
A festa da Conceição… A gente ficava por ali passeando, não tinha
medo de nada, toda hora saía… Ficava no meio do povo, depois
voltava pra casa. Foi um momento mucho, mucho [sic] legal mesmo
aqueles anos que nos passamos ali! Eu amei aqueles anos morando
ali.”
Cristiane: “Seu pai também gostava?”
Dona Elizete: “Meu pai não reclamava, não; gostava. Minha mãe era
que reclamava.”
Cristiane: “E seu pai resolveu mudar por causa dela, ou não?”
Dona Elizete: “Resolveu procurar um lugar pra se mudar porque
minha mãe falava: ‘Não queria criar os filhos ali, não queria, não
queria, as meninas ficando mocinha, não queria.’
Ficava conversando com ele, queria sair. Aí ele conseguiu uma
casinha de aluguel no Cabrito e carregou agente.”
Entretanto, sua mãe reafirmava que “não queria criar os filhos ali” e
seu pai “conseguiu uma casinha de aluguel no Cabrito”. A mudança
para o Cabrito possibilitou à dona Elizete deslindar outras Salvador e
construir, dessa forma, outras percepções e representações sobre ela,
como veremos na seção seguinte.
“Para o Cabrito foi de barco”:
fincando pé e constituindo pertenças
Dona Elizete: “Para o Cabrito foi de barco. Não me lembro onde foi
que o barco ancorou, não me lembro!”
Cristiane: “A senhora lembra da viagem?”
Vida e grafias - miolo.indd 367 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
Dona Elizete: “Lembro!”
Cristiane: “Conta como foi?”
Dona Elizete: “A viagem foi linda! Eu ficava brincando com o meu
irmão. Tinha visto tampa de garrafa, tampinha de garrafa pela
primeira vez… Aí a gente catava tudo… o pessoal já tomava refri-
gerante. Era Gasosa, Guaraná e Sukita. O rapaz passava vendendo
‘gasosa, guaraná e sukita!’ E eu mais meu irmão catando as tampinha
[sic]… Eu me lembro que chegamos de noite. No outro dia, minha
mãe mandou a gente ir na venda. Aí minha irmã [a mais velha, Maria
Eronildes] foi: ‘Me dê uma quarta de farinha’, e papai ria. No inte-
rior comprava a quarta – era umas vasilhinha de madeira, chamava a
quarta. E aqui em Salvador era meio quilo e um quilo. Aí ela: ‘Me dê
meia quarta de farinha.’ [risos]”
Após três anos morando na Conceição, dona Elizete mudou-se com
a família para o bairro do Cabrito, no subúrbio ferroviário de Sal-
vador – uma região de muitos portos naturais. Chegaram lá de barco.
É provável que o barco tenha ancorado na Enseada do Cabrito, pois
a referência a esse lugar como ponto de embarque e desembarque
aparece em outros relatos sobre o período.
O barco reaparece e mais uma vez é o lugar que possibilita a
viagem, a entrada em outros territórios, que abre caminho à outra
vida, que viabiliza a passagem, que constrói memórias. O “barco”
se apresenta em diferentes momentos na narrativa de dona Elizete
e de outros sujeitos como um objeto ritual, de iniciação no universo
social e cultural da cidade. Ao mesmo tempo, no caso dela, o “barco”
também se constitui como eixo de condução da própria narrativa
e do que ela revela de sua memória. A mudança para esse lugar foi
reveladora a dona Elizete, já na infância, das multiplicidades e das di-
ferenças da vida na Cidade da Bahia. A descoberta de outra cidade, o
estranhamento diante do novo, do incomum. O Cabrito era diferente,
“porque quando nós chegamos uma noite, tudo escuro, só tinha mato.
E lá no interior nós morávamos na cidade. Não morava na roça.
Nós viemos de Jiquiriçá e fomos morar ali na Conceição. Dali, nós
mudamos pro Cabrito, a casa não tinha luz… Que diferença! Muito
diferente, tudo escuro!”
O subúrbio, à época, era uma das áreas de expansão urbana da
cidade, onde explodiam novos espaços de moradia, através dos pro-
gramas habitacionais do Estado (inocopp, urbis etc).¹³ A região
também foi cenário de grandes loteamentos particulares que ali-
mentaram, durante décadas, a especulação imobiliária. Ademais, o
Vida e grafias - miolo.indd 368 3/9/15 7:38 PM
Entre relatos de vida, fotografias e cartografias
subúrbio foi palco de um sem número de invasões, cuja história é ana-
lisada nos trabalhos de Ângela Gordilho-Souza (1990); Milton Moura
(1990); Gey Espinheira (1985); e Raquel Mattedi (1979). Ou seja, era
uma região não só de novos espaços habitacionais, mas de um forte
movimento social por moradia na capital baiana.
No jogo entre diferentes tempos – o presente observado por dona
Elizete em suas breves incursões ao Centro da cidade trazem as me-
mórias das experiências vividas nos tempos de sua meninice: a região
que envolve a área do Porto, da Conceição da Praia, avenida Sete de
Setembro, Piedade, Centro Histórico e suas adjacências.
O percurso ao sair de seu interior para “mora[r] ali na Conceição”
e depois para Cabrito – um lugar que guardava uma vida interiorana
característica da vida na roça –, era muito diferente e gerava grande es-
tranhamento, mesmo para o olhar de uma criança. A relação que dona
Elizete tinha com a roça era através das memórias de seus pais.
Dona Elizete: “Minha mãe foi logo capinando. Tinha área na casa e
ela foi logo capinando, aí plantou. Aquilo que ela colhia ela botava
pra vender: quiabo, chuchu, coentro… Ela vendia. Minha mãe foi
uma guerreira, viu! Uma trabalhadeira mesmo. Trabalhou muito.”
Cristiane: “Ela vendia por ali mesmo?”
Dona Elizete: “Era. As pessoas vendia assim nas casa, né! A gente
chamava quitanda. Aí o que ela colhia ela entregava nas quitanda. E
servia pra nossa alimentação, né? Aquilo que ela plantava. E a escola
ela tinha dentro de casa. Ela botou logo a escola e ensinava aquelas
crianças. Foi o que mais!? Quero me lembrar do Cabrito! Aos poucos
nós fomos nos acostumando, aprendendo a pegar ganhamun, a ma-
riscar – a gente ia pra maré mais meu pai mariscar –, fazia aquelas
moqueca de peixe. Aí a vida foi se abrindo pra gente … Mas tinha a
queixa de minha mãe, porque a gente morava de aluguel, não tinha
casa própria.”
No Cabrito, dona Honorina continuou trabalhando como costu-
reira; também lecionava, além de fazer outros trabalhos para garantir
o sustento da família. “Minha mãe foi uma guerreira, viu! Traba-
lhou muito.” A luta de dona Honorina se dá em diferentes frentes
de batalha, segundo o relato de dona Elizete: “Foi logo capinando”,
abrindo trincheiras; “plantou”, e o que “colhia ela botava pra vender”
nas “quitandas” da própria vizinhança. As “quitandas” se revelam
13 Os conjuntos habitacionais da Habitação e Urbanização da Bahia sa (urbis) e
do Instituto de Orientação Cooperativas Habitacionais da Bahia (inocoop), muitos
deles financiados pelo Banco Nacional de Habitação (bnh).
Vida e grafias - miolo.indd 369 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
nas paisagens das casas em muitos bairros pobres de Salvador e de
outras grandes cidades. Esses pequenos estabelecimentos comerciais
se prestam para gerar renda, para algumas famílias complementar;
para outras, única. Entre os sujeitos com os quais trabalhei, o dinheiro
gerado com a venda das mercadorias era destinado à compra do pão,
ao transporte etc. Dona Elizete, por exemplo, assim como sua mãe,
montou e mantém uma quitanda na varanda de sua casa, onde co-
mercializa doces, temperos, “geladinhos” (suco congelado em um
saquinho) e salgados.
Tudo parecia “muito diferente, tudo escuro”; mas a luz, ou
melhor, as portas para ultrapassar as dificuldades lhes foram apre-
sentadas e “aos poucos nós fomos nos acostumando”. Era o contato
com o sistema do lugar do qual deveriam se apropriar para sobreviver
(Godoi, 1998). A “guerreira” – mulher que vai à luta, que não se
acomoda e sempre busca “melhorar” a sua vida e a dos outros. Na
figura materna, esse é um papel fortemente reafirmado em várias
trajetórias que analisei. Uma mãe lutadora, “guerreira”, que batalha
para melhorar a vida dos filhos, para lhes possibilitar uma vida
melhor; com um parâmetro construído a partir da negação da sua
própria vida – uma vida insuficiente e, de certa forma, sofrida, difícil
e árida.
A mudança para essa parte da cidade, no início dos anos 1960, fez
seu Erotildes mudar também sua “banquinha pra consertar sapato”
para a Feira de Água de Meninos. Quando ocorreu o incêndio que
destruiu toda a feira, em 1964, ele não seguiu com seu ponto para São
Joaquim, junto com os outros feirantes. Segundo dona Elizete, ele
“ganhava pouco. Tempo de festa era tanto trabalho, tanto conserto,
mas os pessoal ia pegar os sapato e não pagava [sic]. Era muito sofri-
mento!” Dona Elizete, nesse momento do relato, passa a considerar
o trabalho de sapateiro do pai como um “bico”, uma forma que este
encontrava para ajudar a “manter” a família. Ao reportar-se a essas
lembranças, dona Elizete o faz com muito pesar.
Nos seus relatos, a afirmação da necessidade do trabalho e da
agregação são aspectos que circunscrevem a vida da família. Na ado-
lescência, com 14 anos, ela foi trabalhar em uma fábrica de doces,
no bairro da Massaranduba. Suas irmãs já trabalhavam lá há alguns
anos. Ao mostrar sua foto com 18 anos (a seguir), dona Elizete se
lembra dos tempos do seu itinerário de barco todos os dias, saindo do
atracadouro de plataforma e emoldurado por palmeiras imperiais,
onde conheceu seu Haroldo – “foi amor à primeira vista”.
Tempos depois, por convite de “seu Francisco” – zelador da igreja
[católica] e do Panteom de Labatur”, este parte dos ícones erguidos
em comemoração às lutas de Independência do Brasil na Bahia, em
Vida e grafias - miolo.indd 370 3/9/15 7:38 PM
Entre relatos de vida, fotografias e cartografias
Imagem 5
Dona Elizete aos 18 anos
(Acervo de dona Elizete, material coletado no trabalho de campo, 2012)
Pirajá, seu Erotildes foi empregado na Prefeitura. Nesse emprego,
como Elizete destaca: “Ele ficou sendo funcionário público, com
a graça de Deus e da Igreja”, e sua mãe pôde ter uma “benção”,
“porque aí ele tinha o ordenado dele no final do mês”.
Nesse ínterim, continuava “a queixa de minha mãe, porque a
gente morava de aluguel, não tinha casa própria”. Em inícios dos
anos 1980, seu Erotildes soube que estava acontecendo uma invasão:
“O terreno não foi comprado, não. Era tudo invadido, o terreno
[era] da União Fabril. Aí todo mundo invadiu. Aí meu pai também
invadiu. Fizemos nossa casinha. Aí saímos do aluguel e viemos para
casa própria.”¹⁴
Na imagem 6, observamos parte do terreno invadido pelo pai de dona
Elizete nos anos 1980. Aparecem os escombros dos alicerces da antiga
construção da casa do Cabrito, derrubada por dona Maria José, uma
das irmãs mais velhas de dona Elizete, após o falecimento de seu Ero-
tildes no início dos anos 2000. A área do terreno, ao longo do tempo,
foi sendo gradativamente expandida com os sucessivos aterros e com a
compra de um terreno ao lado por um dos sobrinhos de dona Elizete,
ampliando-o. A casa de dona Maria José fica a poucos metros desses
14 Nos conflitos e na disputa pela propriedade das terras que conformam o terri-
tório do subúrbio ferroviário de Salvador, figuram diferentes agentes. De um lado, a
Companhia Progresso e União Fabril, pertencentes à família Catharino, à Leste Ferro-
viária e à Marinha brasileira; de outro, as famílias que, no processo de ocupação, estão
vivendo em pequenas parcelas/lotes, frutos de compras sem documentação, invasão e
usucapião há mais de três gerações. Entre estas famílias encontra-se a de dona Elizete.
O terreno de Pirajá, onde foi construída a casa, foi comprado de um parente sem
título. A disputa entre a União Fabril e os moradores de Plataforma está há 7 anos na
justiça. Ver, nesse sentido, Antonia Garcia (2009).
Vida e grafias - miolo.indd 371 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
escombros. Vale salientar que a referência à casa do Cabrito é muito
importante para dona Elizete e para outros entes familiares. Penso
que a casa do Cabrito – hoje apenas um amontoado de escombros – é
também um lugar de memória nos termos que compreendo. A foto-
grafia deixa revelar na parte externa do terreno, delimitada pelo muro
de alvenaria (construído em 2006), a presença de árvores frutíferas ca-
racterísticas da região.
A referencialidade a essa “casa” é de reconhecimento e de per-
tença identitária também para as gerações de filhos e netos já nascidos
na cidade. Lá residem – nas árvores, nos trechos aterrados, nos es-
combros da antiga casa de seus pais –, as marcas das memórias dos
tempos iniciais em Salvador, da infância e juventude e da luta pela
sobrevivência e por dias melhores na cidade.
A trajetória da experiência de dona Elizete ao chegar a Salvador,
a despeito de indicar semelhanças em relação à trajetória de outros
migrantes, apresenta algumas especificidades que ajudam a pensar as
recorrências em outras trajetórias, que não abordarei pontualmente
neste texto. Dona Elizete não chegou sozinha à cidade. Veio com a
família: pai, mãe e irmãos. Da mesma forma que outros migrantes,
ela chegou criança. Seus pais, porém, tinham ofícios especializados e
ela não foi morar em outra rede familiar, como criada ou empregada
doméstica (no caso das mulheres), nem na construção civil como “faz
tudo” (no caso dos homens). A subalternização na dinâmica da vida
urbana não era fruto de uma relação de trabalho ou dependência em
determinadas redes, a priori. Foi se configurando mediante as condi-
ções e possibilidades no jogo da vida na cidade.
A mãe de dona Elizete era escolarizada, como vimos. Isso lhe
possibilitou criar e ocupar lugares diferenciados na rede de prestações
de serviços que requeriam certo letramento. Na casa do Cabrito,
ela criou um espaço para lecionar para as crianças do bairro. Ela
valorizava os estudos e buscava formas de inserir seus filhos nas
redes educacionais na cidade. Dona Elizete não continuou na escola.
Parou na quarta série. Não fez a prova de admissão – avaliação que
definia quem podia seguir para a quinta série. Em seus termos: “Não
era muito boa com os estudos”, por isso os deixou para dedicar-se
apenas ao trabalho. Suas irmãs mais velhas fizeram admissão e es-
tudaram alguns anos mais. A prova de admissão rodeia a memória
dos migrantes que compartilham a experiência da infância na
cidade, com os quais convivi durante a pesquisa de campo. Dona
Elizete se lamenta ao lembrar desse momento, ao olhar para sua vida
atualmente. Entretanto, se sente realizada pelos filhos e sobrinhos
que deram continuidade aos estudos, alguns dos quais foram para
a universidade. Apesar de não ser letrado, seu Erotildes detinha o
Vida e grafias - miolo.indd 372 3/9/15 7:38 PM
Entre relatos de vida, fotografias e cartografias
Imagem 6
Foto das ruínas da antiga Casa do Cabrito
(Pesquisa de campo, 2011, foto produzida pela autora)
Vida e grafias - miolo.indd 373 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
conhecimento sobre os sentidos da vida em Salvador, afinal já fre-
quentava a capital, e foi através dele que os filhos tiveram o contato
com o mundo cultural da cidade e que aprenderam a dominar e
manipular os diferentes sentidos do lugar.
A relação construída com a Igreja Católica e o trânsito em suas
redes lhes deram possibilidades de inserção no mundo do trabalho
e da educação formal que até hoje se faz presente junto às novas ge-
rações. Entre outros migrantes, observei a importância dessas redes
religiosas (entre os católicos e os do candomblé) na experiência e nas
formas de inserção que vão ter na capital. No caso de dona Elizete,
o contato de seu pai com as redes da Igreja – primeiro na Igreja da
Nossa Senhora da Conceição da Praia e depois na Igreja de São
Bartolomeu – foram fundamentais para os rumos seguidos pela
família. Através dessas conexões, circularam pela cidade, constru-
íram amizades, conseguiram informações e trabalhos, e, depois, no
caso de seu Erotildes, um emprego no qual se aposentou.
Nas palavras de dona Elizete e nas imagens evocadas por ela,
foi possível traçar um percurso narrativo que forja um mapa de
sua memória, que nos possibilita construir diferentes proximidades
na trajetória de sua experiência. Da mesma forma, nos conduz a
horizontes históricos e culturais que configuravam e configuram a
Salvador em diferentes tempos.
Referências
George Brito, “Comunidade disputa com empresa posse de Plataforma”, Jornal A
Tarde, caderno Cidade, Salvador, 19 de setembro de 2011, p.A4
Henri Acselrad (organização), Cartografias sociais e territórios, Rio de Janeiro: Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e
Regional, 2008
Michel Agier, “Lugares e redes – as mediações da cultura urbana”, in: Ana Maria Nie-
meyer & Emília Pietrafesa de Godoi (organização), Além dos territórios, Campinas:
Mercado de Letras, 1998a
–, “El Sujeto a pesar de si mismo: relato de vida, genealogía e identidad em los
medios afro-bahianenses (Brasil)”, in: Thierry Lulle, Pilar Vargas & Lucero
Zamudio (coord), Los usos e la historia de vida em las ciências sociales ii, Santafé de
Bogotá: Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social de la Universidad Ex-
ternado de Colombia, p.171–191, 1998b
Vida e grafias - miolo.indd 374 3/9/15 7:38 PM
Entre relatos de vida, fotografias e cartografias
Jorge Amado, Velhos marinheiros: duas histórias do cais da Bahia, São Paulo: Martins, 1961
–, Capitães de areia, Rio de Janeiro: Record, 1991
Thales Azevedo, “Classes sociais e grupos de prestígio”, Cultura e situação racial no Brasil,
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1966
–, As elites de cor numa cidade brasileira, Salvador: ufba, 1996
Ecléa Bosi, Memória e sociedade: lembranças de velhos, São Paulo: Companhia das Letras,
1994
Jorge Luis Borges, “História das Noites”, Obras completas, v.3, São Paulo: Globo, 1999
Pierre Bourdieu, “A ilusão biográfica”, in: Marieta de M Ferreira & Janaína Amado
(organização), Usos e abusos da história oral, Rio de Janeiro: Fundação Getúlio
Vargas, 2006
Fabiana Bruno, “Fotobiografia: por uma metodologia da estética em Antropologia”,
tese de doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Multimeios, Campinas:
Universidade Estadual de Campinas, 2009
Eunice Duran, A caminho da cidade: a vida rural e a migração para São Paulo, Coleção
Debates Ciências Sociais, São Paulo: Editora Perspectiva, 1973
Gey Espinheira, Divergência e prostituição: uma análise sociológica da comunidade prostitucional
do Maciel, São Paulo: Tempo Brasileiro / Salvador: Fundação Cultural do Estado
da Bahia & Secretaria de Educação e Cultura, 1984
–, “Urbanização, segregação – a expansão de Salvador”, Debates cenpes, Salvador,
v.2, n.6, 1985
Ana Fernandes & Marco Aurélio A F Gomes, “Idealizações urbanas e a construção da
Salvador moderna: 1850–1920”, Espaços e Debates, xi, n.34, 1991
Milton Guran, “Fotografar para descobrir, fotografar para contar”, Cadernos de Antropo-
logia e Imagem, Rio de Janeiro: uerj, nai, 2000.1, p.155–165, 1995
–, “A ‘fotografia eficiente’ e as ciências sociais”, in: Luiz Eduardo Robinson Achutti
(organização), Sobre o fotográfico, Porto Alegre: Prefeitura da Cidade de Porto
Alegre & Unidade Editorial, 1998, p.87–99
–, “Da bricolagem da memória à construção da própria imagem entre os Águdas
do Benin”, Afro-Ásia, Salvador, n.28, p.46–76, 2002
Antônio dos Santos Garcia, Desigualdades raciais e segregação urbana em antigas capitais:
Salvador, cidade de Oxum e Rio de Janeiro, cidade de Ogun, Rio de Janeiro: Garamond,
2009
Emília Pietrafesa Godoi, “O sistema do lugar: história, território e memória no
sertão”, in: Ana Maria Niemeyer & Emília Pietrafesa Godoi (organização), Além
dos territórios, Campinas: Mercado de Letras, 1998
Ângela Gordilho-Souza, “Invasões e intervenções públicas: uma política de atribuição
espacial em Salvador, 1946–1989”, dissertação de mestrado em Planejamento
Urbano Regional, Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1990
–, Limites do habitar: segregação e exclusão na configuração urbana contemporânea de Salvador e
perspectivas no final do século xx, Salvador: edufba, 2000
Maurice Halbwachs, A memória coletiva, São Paulo: Centauro, 2006
Suely Kofes (organização), “Experiencias sociales, interpretaciones individuales: po-
sibilidades y limites de lãs historias de vida em lãs ciências sociales”, in: Thierry
Lulle, Pilar Vargas & Lucero Zamudio (coordenação), Los usos e la historia de vida
em las ciências sociales i, Santafé de Bogotá: Centro de Investigaciones sobre Diná-
mica Social de la Universidad Externado de Colombia, 1998, p.82–101
–, Uma trajetória, em narrativas, Campinas: Mercado de Letras, 2001
–, “Histórias de vida, biografias e trajetórias”, Cadernos do ifch, n.31, Campinas:
unicamp, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, 2004
Maria Raquel Mattoso Mattedi, “As invasões em Salvador: uma alternativa
habitacional”, dissertação de mestrado em Sociologia pelo Programa de Pós-
-Graduação em Ciências Sociais, Bahia: Universidade Federal da Bahia, 1979
Kátia Mattoso, Bahia: a cidade do Salvador e seu mercado no século xix, São Paulo:
hucitec / Salvador: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 1978
Milton Moura, “Notas sobre o verbo invadir no contexto social de Salvador”, Cadernos
do ceas, Salvador: ceas, n.125, 1990
Vida e grafias - miolo.indd 375 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
–, “Organizações populares, cultura e habitação em Salvador”, in: Ângela Gor-
dilho-Souza (organização), Habitar contemporâneo, novas questões no Brasil dos Anos 90,
Salvador: faufba, 1997
Pierre Nora, Entre memória e história: a problemática dos lugares, São Paulo: puc-sp, n.10,
1997
Donald Pierson, Brancos e pretos na Bahia: um estudo de contato racial, São Paulo: Compa-
nhia Editora Nacional, 1971
Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, Dinâmica sociodemográfica
da Bahia: 1890–2000, Salvador: sei, 2003
Guaraci A Souza, “Construção do espaço metropolitano: efeitos sobre as condições de
trabalho e habitação”, Revista Força do Trabalho e Emprego, n.2, 1988
Guaraci A Souza & Valter Faria (organização), Bahia de todos os pobres, Petrópolis: Vozes,
cebrap, 1980
Cristiane S Souza, Ediane L Santana & Haroldo S Barbosa, “Under the wings of life,
on the arms of history: feminine leadership, formation and action in social mo-
vements”, Global South Sephis E-magazine, p.33–39, 2012, disponível em http://
sephisemagazine.org/past/vol8-no1-january-2012.html, acesso em 5 de fevereiro
de 2012
Cristiane S Souza, “Percepção e produção estética: configuração do modo de vida em
Novos Alagados no subúrbio ferroviário de Salvador”, dissertação de mestrado
pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, Bahia: Universidade
Federal da Bahia, 2002
–, “Imagens e representações da cidade: as inquietações e emoções dos moradores
de Novos Alagados no subúrbio ferroviário de Salvador / ba”, in: Francisco
Alcides Nascimento (organização), Sentimentos e ressentimentos em cidades brasileiras,
v.1, Teresina: edufpiufpi / Imperatriz: Ética Editora, 2010, p.123–158
–, “No percurso da luta por moradia: memória e estratégias de inserção social na
metrópole baiana”, 7 Seminário Nacional do Centro de Memória da unicamp–cmu:
Memória, cidade e Educação das sensibilidades, Campinas: Centro de Memória da
unicamp, 2012
Luís Henrique Dias Tavares, A Independência do Brasil na Bahia, 2ª edição, Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 1982
Trabalho apresentado na 28ª Reunião Brasileira de Antropologia, realizada entre os
dias 2 e 5 de julho de 2012, em São Paulo (SP), no Brasil.
Cristiane Souza é doutora em Antropologia Social pela Universidade Estadual de
Campinas (2013), mestre em Antropologia pela Universidade Federal da Bahia (2002)
e graduada em Ciências Sociais por esta mesma universidade (1999). Atualmente, é
professora da área de antropologia da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira (unilab), instituição federal de cooperação internacional
com os países de língua oficial portuguesa. Suas principais áreas e temas de atuação
são: antropologia, trajetórias de vida, biografias, migração e deslocamentos, relações
raciais e de gênero, culturas afro-brasileiras, movimentos sociais e educação.
Vida e grafias - miolo.indd 376 3/9/15 7:38 PM
Fotografia como resíduo
biográfico:
memória familiar,
cultura urbana e sociabilidade
(1920–1960)
Alexandre Araujo Bispo
“Uma história de vida não é feita para ser arquivada ou guardada
numa gaveta como coisa, mas existe para transformar a cidade onde
ela floresceu.”
(Ecléa Bosi, 2003, p.199)
Em 2007, comprei uma coleção de fotografias no Antiquário Brasil
Antigo, no Centro de São Paulo. O conjunto, guardado em uma caixa
de papelão, fora adquirido pela dona da loja em meados de 2005, per-
manecendo, a partir de então, praticamente intacto. A proprietária da
loja me informou que vendeu algumas imagens avulsas. É interessante
pensar as razões pela qual a coleção não atraiu compradores. Silvain
Maresca (2003) mostra como o circuito de arte contemporânea, bem
como museus e instituições culturais nos eua e Europa ligadas à
arte, começaram a interessar-se pelo que ele chama de “fotografia de
família”.
No processo de manipulação das fotos, notei que a figura reinci-
dente de uma mulher, Cleonice Maria Heine, estruturava a relação
entre as várias imagens. Dediquei-me no mestrado a descobrir,
por meio desses restos materiais: quem foi essa mulher e por que
acumulou tantas imagens fotográficas de si mesma? Quem podia con-
sumir essa quantidade de fotografias entre os anos 1920 e 1960 em São
Paulo? Por que seu consumo aumentou na década de 1940? O que
essa coleção poderia informar sobre a sociedade do momento em que
ela viveu e sobre as convenções visuais amadoras daquele período?
Vida e grafias - miolo.indd 377 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
O estudo dos materiais – fotografias, tipos de papéis, revelações,
formatos, dimensões e embalagens – me permitiu olhar para a his-
tória da cidade de São Paulo entre os anos 1920 e 1960 de um ângulo
inusitado, isto é, a partir desses resíduos que sobraram após a morte
de Cleonice. Essa personagem revelou-se uma informante, agente de
práticas e representações ligadas ao consumo de imagens, de espaços
e paisagens do turismo nascente no estado paulista.
Este texto está dividido em quatro partes. Na primeira, mostro
como Cleonice teve contato com imagens fotográficas desde criança;
essas imagens foram objeto de troca entre ela e seus familiares cons-
tituindo o que chamei de “circuito afetivo”. Na segunda, mostro
como o ambiente urbano paulista vinha se tornando, desde fins do
século xix, um importante mercado consumidor de fotos, atendendo
aos novos desejos de autorrepresentação de indivíduos e grupos das
camadas médias emergentes, ou seja, trata-se aqui de um “circuito
comercial”. Na terceira parte, trato do tema da sociabilidade, mais
diretamente do lazer e do turismo, pois Cleonice consumiu fotogra-
fias em diferentes momentos da vida relacionados às paisagens dos
arredores da capital, praias e montanhas paulistas. Na quarta, discuto
alguns dos procedimentos metodológicos de tratamento da fonte do-
cumental, bem como a classificação e a busca por padrões formais e
temáticos, suas especificidades e limites analíticos. Ao final assinalo
algumas razões do desinteresse de colecionadores privados ou públicos
por este tipo de artefato e suas implicações para o conhecimento das
práticas de consumo visual naquele período, ainda pouco estudadas.
Fotografia e memória familiar
Filha do imigrante alemão Germano Heine e da brasileira Ida Heine,
que figuram em um carte cabinet entre em meados dos anos 1910, Cle-
onice tinha um irmão, cujo nome era o mesmo de seu pai, e alguns
parentes do município de Brusque, em Santa Catarina, e também da
cidade de São Paulo. Sobre sua história no Sul do país sei pouco, mas
desde que começa a ser fotografada na capital paulistana, nos primór-
dios dos anos 1920, sua experiência pessoal corre paralela a uma série
de transformações na cultura urbana e visual nascente nessa cidade.
Desde 1839, quando do surgimento do daguerreótipo, o tema
dos retratos de indivíduos e grupos ganhou destaque na produção de
imagens técnicas. A partir da invenção do papel de gelatina de prata,
em 1873, e com a chegada do filme em rolo, em 1888, houve ampla
aceitação desse tema e, ainda hoje, eles continuam tendo grande im-
portância (Carvalho & Lima, 1994).¹ Como notou Walter Benjamim:
“Nenhuma obra de arte é contemplada tão atentamente em nosso
Vida e grafias - miolo.indd 378 3/9/15 7:38 PM
Fotografia como resíduo biográfico
Foto 1
Dona Ida Heine, Germano e Cleonice em retrato de 1927
(Redução das dimensões originais: 12 × 7,5 cm)
1 Trata-se de uma chapa metálica de cobre, estanho ou zinco, recoberta de fina
lâmina de prata, a qual era tornada sensível à luz uma vez recoberta com sais de
prata. Após a exposição na câmera obscura, a chapa era revelada, fixada e lavada.
Fez grande sucesso em todo mundo. O processo foi criado por Daguerre, porém não
permitia cópias. Em razão dessa especificidade, o daguerreótipo é antes um objeto fo-
tográfico e menos uma fotografia (Kossoy, 2002).
Vida e grafias - miolo.indd 379 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
Foto 2
Carnaval na Escola Alemã da Vila Mariana, em 1940
(João Alt, dimensões originais: 17 × 24 cm, reprodução: 13,5 × 10,5 cm)
Vida e grafias - miolo.indd 380 3/9/15 7:38 PM
Fotografia como resíduo biográfico
Vida e grafias - miolo.indd 381 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
Vida e grafias - miolo.indd 382 3/9/15 7:38 PM
Fotografia como resíduo biográfico
tempo como a imagem fotográfica de nós mesmos, de nossos parentes
próximos, de nossos seres amados.” (Benjamin, 1994, p.103) Essa ca-
racterística descrita pelo autor é marcante na coleção que analisei,
pois, além de Cleonice, sua família também foi motivo de descrição
fotográfica. Pelas imagens que guardou, foi possível recuperar um
circuito afetivo de troca de retratos nos quais figuram seus primos,
tios, irmão, cunhada, sobrinho e amigos. Cleonice aparece em aproxi-
madamente oitocentas fotografias, só ou acompanhada, e os retratos
fotográficos estavam presentes em sua família desde que ela era ainda
muito criança, como mostra a foto 1.
Por um lado, algumas imagens da coleção cmh – sigla usada
para substituir a repetição do nome da personagem, bem como para
identificar a coleção – foram herdadas. Por outro, é seu consumo
pessoal que fez com que acumulasse, a partir dos anos 1940, grande
parte dos itens deste acervo pessoal. Daqueles primeiros tempos, ela
guardou tanto imagens suas quanto de seus parentes, como da prima
Laís e Brunhilde de Brusque ou dos tios alemães que a receberam jun-
tamente com sua mãe e seu irmão na capital paulistana.
O motivo pelo qual Cleonice, sua mãe e seu irmão mudaram-se
para São Paulo pode ter sido a morte precoce de seu pai. Esse deslo-
camento definirá o destino da pequena família retratada na foto 1. A
relação com esses parentes possibilitou a aproximação das crianças
Heine com a comunidade germânica paulistana, permitindo aos
irmãos estudarem, desde que aqui desembarcaram na famosa Escola
Alemã da Vila Mariana² (foto 2).
Ter acesso à escola foi fundamental na vida adulta de Cleonice,
que em 1945 já fazia parte do quadro de funcionários da Cia de Ani-
linas, Produtos Químicos e Material Técnico (foto 3).³ Esta empresa
pertencia desde os anos 1920 ao empresário alemão John Jürgens,
dado indicativo da rede de relações da jovem na capital que crescia e
se transformava em ritmo vertiginoso. Ao exercer uma atividade pro-
fissional, Cleonice Heine ampliará sua rede de sociabilidade a partir
do contato com o amigo e futuro chefe, Conrado José Velloso de
Ao lado, no detalhe da foto 2, Cleonice.
2 A Deutsche Schule foi fundada em 1901 por imigrantes alemães. No momento
em que foi tirada a foto, a escola já estava em vias de mudar de nome. Já em fins dos
anos 1930, durante o governo de Getúlio Vargas, houve a nacionalização forçada das
escolas estrangeiras (Wernet, 1989). A partir de 1942, com a perseguição a membros do
partido nazista na capital, a Deutsche viria a se chamar Colégio Benjamin Constant
(Dietrich, 2007).
3 A fábrica desta empresa ficava em Cubatão, porém um de seus escritórios locali-
zava-se à rua Brigadeiro Tobias, 388, no Centro de São Paulo. Sobre a história da
empresa, ver Peralta (1979) e Pinto (2009).
Vida e grafias - miolo.indd 383 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
Souza Filho e sua família. A proximidade dela com este homem é um
tanto nebulosa, mas altamente produtiva e motivadora de consumo
tanto de imagens quanto de paisagens.
A entrada de Cleonice no mundo do trabalho tem relação com as
mudanças no papel social das mulheres das camadas médias urbanas
que, com maior acesso à formação escolar, passaram a ser alocadas na
crescente área do comércio e serviços em expansão desde o início do
século xx (Besse, 1999). Nos anos 1940, contudo, persistiam desigual-
dades salariais e morais, embora aumentasse o número de mulheres
no mercado de trabalho.
O exercício de uma profissão – recepcionista ou secretária – pode
ter relação com seu tio, um provável empreendedor alemão da indús-
tria fotográfica de São Paulo (foto 4). Observe que na imagem atrás
dele há várias informações escritas, ainda que cortadas, que denotam
ser ele um profissional da ampla área da produção e comercialização
Foto 3
Cleonice no dia da despedida do sr Brenn, da Cia de Anilinas e Produtos Químicos,
em 30 de janeiro de 1945
(Redução das dimensões originais: 9 × 11,5 cm, Laboratório da Fotoptica)
Vida e grafias - miolo.indd 384 3/9/15 7:38 PM
Fotografia como resíduo biográfico
de fotografia. Aparecem termos como “amador”, “ampliação”,
“artigos” e, finalmente, “photo”. A indústria fotográfica, por sua vez,
estava ligada ao setor químico sobre o qual os alemães exerceram
enorme influência na capital. Assim, alguns episódios fotografados
da vida de Cleonice, ou de sua família, apontam para relações mais
complexas, na qual se misturam à história da cidade e à experiência
social urbana dos imigrantes e seus descendentes naquele momento.
Esses restos de materiais e vestígios biográficos da vida desta
mulher fornecem pistas acerca da dinâmica da relação entre família,
laços afetivos e cultura urbana. A posição do seu tio, embora difícil
de afirmar realmente qual seja, é intrigante, em especial pelo fato de
ser estrangeiro e ligar-se de alguma maneira à bem-sucedida indús-
tria fotográfica paulistana, dado o cenário em que se fez fotografar.
Em parte, essa imagem explica a sensibilidade para o consumo de
imagens fotográficas de Cleonice.
Foto 4
O anônimo marido de dona Lina, tio das crianças Heine, em foto encontrada na
coleção Germano Heine – este personagem aparece algumas vezes, principalmente na
coleção do irmão de Cleonice
(Redução das dimensões originais: 7 × 9 cm)
Vida e grafias - miolo.indd 385 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
Fotografia e cultura urbana
Tal como a família, a cidade foi e ainda é um tema importante na
evolução histórica da fotografia – ver, por exemplo, Rouillé (2009),
Frehse (2004), Bellavance (1997) e Lima & Carvalho (1997). Na
América do Sul, o Brasil tem papel inaugural: em 17 de janeiro de
1840 foi produzido o primeiro daguerreótipo, em que figurava o Paço
da Cidade do Rio de Janeiro, e isso apenas seis meses após o anúncio
oficial da invenção da técnica na França.⁴ Para além de ser apenas um
entre outros assuntos visuais, foi nas cidades que a técnica fotográfica
sofreu grande desenvolvimento, sobretudo pelo gradativo aumento do
consumo de retratos, então o “ganha pão” dos estúdios fotográficos
instalados no Centro de São Paulo (Carvalho & Lima, 1994; e Lima
1991).
Mais tarde, com o aprimoramento da fotografia instantânea e a
criação da Kodak por George Eastman em 1888, fotografar tornou-
-se uma tarefa fácil e relativamente acessível a um grande número de
pessoas. Essa ampliação do acesso a câmeras portáteis permitiu dis-
tinguir duas categorias de fotógrafos amadores.⁵ De um lado, aqueles
preocupados em legitimar a fotografia como arte, os pictorialistas, e,
de outro, o consumidor privado cuja vida em família, quer seja no
âmbito doméstico ou público, é seu principal tema (Joschke, 2004,
p.54). Este segundo tipo aparece ostensivamente na coleção montada
por Cleonice. É na cidade ainda que os produtos e serviços para
atendê-los crescem proporcionalmente ao interesse dos amadores por
registrar o mundo visível.
Entre as fotografias acumuladas por Cleonice, a cidade aparece
mais como lugar onde se compram serviços fotográficos do que como
o tema figurado nas fotos. Foi possível recuperar por meio da análise
de suas imagens dados que contextualizam as representações como
os carimbos dos estabelecimentos comerciais (figura 1, a seguir). Estas
informações impressas no verso das fotos revelam endereços na zona
central de São Paulo. Vale destacar o fato de o fotógrafo João Alt
divulgar dois endereços: o comercial, em rua concorrida, e o residen-
cial, nas imediações. Algo da dinâmica do trabalho destes profissionais
se revela neste carimbo, e seu cotejamento com outros documentos
4 Essa imagem é atribuída ao abade francês Louis Compte (Júnior, 2003, p.39).
5 Ao contrário destes, a produção profissional sobre a cidade dedicou-se a documentar
as transformações urbanas que, em São Paulo, se intensificaram já nas ultimas décadas
do século xix. O fotógrafo mais destacado é, sem dúvida alguma, Militão Augusto de
Azevedo, cujas imagens nos ajudam a compreender a importância do registro urbano
no processo de modernização da cidade. Sobre o seu trabalho há alguns estudos, entre
os recentes: Araujo (2010) e Campos (2007). Guilherme Gaensly foi outro fotógrafo que
produziu grande quantidade de imagens urbanas (ver Gaensly, 2011).
Vida e grafias - miolo.indd 386 3/9/15 7:38 PM
Fotografia como resíduo biográfico
poderá revelar que a publicação dos dois endereços fosse prática
comum entre outros profissionais, não apenas fotógrafos, mas também
médicos e advogados.
Figura 1
Carimbo comercial circulado em 1940, do fotógrafo João Alt
(Verso da foto 3)
Comparativamente ao século xix, cuja evolução tecnológica di-
versificou a produção fotográfica, diferenciando papéis, formatos e
suportes de montagem de fotografias como álbuns, por exemplo, o
século xx, especialmente em relação ao consumo amador, aparece
mais homogêneo em termos materiais. A partir dos exemplares en-
contrados na coleção cmh, pode-se generalizar alguns padrões
convencionais disponíveis no mercado de fotografias instantâneas,
quanto também às dimensões praticadas pelo comércio no período de
1920 a 1960: 5 × 6; 6 × 6; 6 × 9; 8,5 × 6,5; 34 × 29; 23 × 16; 13,5 × 9;
9 × 12; 8,5 × 6; 8 × 13,5; 10 × 21; 7,5 × 10,5; 7 × 11,5. As lojas ofe-
reciam para os pequenos formatos o serviço de ampliações, como
revelaram algumas embalagens da Papelaria léo, que possuía três
endereços entre os anos 1930 e 1950: rua Anhangabaú, 89; rua São
Bento, 275–276; e avenida Tiradentes, 8. Estas ampliações dos “me-
lhores negativos” permitiriam aos consumidores “ver melhor”. A
léo tinha ainda “preços de se tirar o chapéo” [sic], propaganda que
assinala o aquecimento e concorrência do mercado de fotografias
para amadores privados, do qual essa papelaria se dizia “amiga”. Esta
empresa revelou muitas fotos para Cleonice, especialmente alguns
clichês feitos no litoral paulista.
A localização dessa papelaria remete à própria vocação comercial
da região central, pois foi no entorno da léo que se instalaram os
principais estabelecimentos fotográficos desde o século xix entre as
ruas: “S Bento, n.27” no estabelecimento “E Pons e Comp”; na “rua
do Carmo, 74”; na “Photographia Allemã” de “Carlos Hoenen &
Vida e grafias - miolo.indd 387 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
Foto 5
Cleonice, a terceira mulher à direita, com duas amigas andando em rua do Centro da
cidade; à sua direita, o sr Conrado Velloso de Sousa Filho, inicialmente colega de tra-
balho, e mais tarde, seu patrão, 1939
Foto 6
Cleonice em praia não identificada em Santos, 1929
(Dimensões: 6,5 × 11 cm, papel Velox)
Vida e grafias - miolo.indd 388 3/9/15 7:38 PM
Fotografia como resíduo biográfico
Comp” (Kossoy, 2002, p.179); ou na “rua Direita 1”, de “Alberto Hens-
chel⁶ e Co” (Lima, 1991, p.64–68).
Em decorrência dos gradativos avanços da indústria da imagem,
a fotografia veio a substituir outras formas de memória, como os
diários e as cartas (Von Simson, 1998). Em 1940 verificou-se um
aumento no consumo de fotos por Cleonice. Na viagem que fez a
Itatiaia (rj), em 1946, ela guardou uma série de 76 imagens, maior
número em toda a coleção e quase um filme de rolo inteiro. Tal
acúmulo corresponde ao incremento do mercado fotográfico naquela
década, e os motivos das fotos a partir de então serão basicamente os
deslocamentos ao litoral e ao campo, mas as revelações serão feitas na
capital. Esses passeios serão feitos em companhia da família Souza,
cuja convivência permitirá a Cleonice uma mobilidade enorme se
considerarmos os constrangimentos sociais às quais estavam expostas
as mulheres solteiras pelo menos até essa década (Besse, 1999). Na foto
5, ela é representada andando no Centro de São Paulo, segurando
o chapéu, acompanhada de colegas de trabalho. A sociabilidade
advinda da relação com estes colegas, sobretudo o homem à sua es-
querda, lembra que o lazer é uma forma de relação que “ultrapassa a
necessidade de descanso do tempo de trabalho, possibilitando meios
de aprofundamento e reforço de laços de identificação e lealdade que
garantem a rede básica de sociabilidade” (Magnani, 1996, p.31). Em
complementação ao ambiente urbanizado do Centro de São Paulo
Cleonice vai à praia e ao campo, destinos que estavam sendo remo-
delados para atender aqueles que, como ela, buscavam paisagens
naturais e clima diferente da vida na cidade.
Fotografia e relatos de espaço:
lazer e turismo nas praias e montanhas
Um dos aspectos que mais chamam a atenção no colecionismo foto-
gráfico dessa personagem são os seus deslocamentos espaciais. Ela foi
uma consumidora de paisagens e, na forma como legendou suas fotos,
deixou entrever os cuidados dispensados à identificação dos lugares e
datas em detrimento dos nomes das pessoas que figuram nas imagens.
Tal atitude já era esperada, posto que os ambientes onde circularam
originalmente essas imagens reuniam pessoas que se conheciam,
não sendo necessário identificar seus nomes. Foram 46 localidades
diferentes nesses quarenta anos iniciais. Na capital, há imagens da
6 Famoso fotógrafo alemão nascido em 1827, em Berlim, e que fundou sua primeira
loja em São Paulo em 1882, ano de sua morte. O estabelecimento chamou-se Photo-
graphia Imperial.
Vida e grafias - miolo.indd 389 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
Freguesia do Ó (1929), Taipas (1934), Água Branca (1939), Jabaquara
(1939), Santo Amaro (1939), Interlagos (1945), São Miguel Paulista
(1959), entre outros. Todos esses lugares possuíam, até os anos 1950,
atrativos campestres, pois conformavam ainda os arredores rurais da
cidade. O gosto pessoal de Cleonice por passeios com essas caracterís-
ticas pode ter sido influenciado pela importância que os alemães, por
influência do movimento romântico, em fins do século xix, davam
à contemplação da natureza: “Bosques, montanhas, lagos e mares.”
(Correa, 2010, p.175) Em São Paulo, por exemplo, a atuação do Partido
Nacionalista envolvia, entre outras, as práticas de recreação por meio
de um programa de “excursões campestres”. Estas eram fomentadas
por escolas como o colégio Porto Seguro, localizado no centro de São
Paulo, e a Escola Alemã da Vila Mariana (Dietrich, 2007, p.246–247).
Desde 1929, quando surge sua mais antiga imagem da praia (foto
6), este se tornará um destino visitado quase anualmente por ela,
gerando uma diversidade de representações desse espaço: caminho
do mar, orla marinha e movimentação de banhistas, monumentos
históricos, hotéis e pensões, passeios ou roteiros turísticos, sempre
marcados por enquadramentos que cortam, excluem, mas também
permitem visualizar a presença de elementos involuntários, para além
do tema central.
O enriquecimento da capital paulista advindo da economia ca-
feeira modelou o litoral como destino balneário de turismo. Tal fato
deu ensejo a uma cultura de valorização da natureza e do corpo que
permitiu a pessoas de diferentes classes sociais o contato com o sol,
praias e paisagens naturais. Odete Seabra indica que, em decorrência
do processo de enriquecimento de Santos no começo dos anos 1920,
a exploração balneária da cidade fazia com que suas ruas estivessem
“sempre cheias de gente, as praias concorridíssimas, os clubes de
regatas com suas sedes sempre repletas, em toda parte enfim, a cidade
entoava de vida” (1979, p.14–15). Durante a década de 1930, com
efeito, a praia tornava-se um destino cada vez menos exclusivo às
elites (que primeiro a ocuparam) e atraíam uma “população urbana
constituída por artesãos, profissionais liberais e por um proletariado
industrial” (1979, p.16). Na foto 6, ao fazer a crítica externa das condi-
ções de produção da imagem, fica claro que a fotografia é um arranjo
cultural, uma escolha do fotógrafo que pode nos levar a crer que a
praia fosse completamente vazia. Nesse caso, desconfiar do visível fo-
tográfico é fundamental.
Entre os anos 1920 e 1960, ocorrem grandes mudanças no sistema
de comunicação entre a capital e o litoral: a primeira pista da Via
Anchieta foi entregue em 1948, e a segunda, em 1953; na orla surge
uma rede de hospitalidade como as pensões Stela Maris, na praia José
Vida e grafias - miolo.indd 390 3/9/15 7:38 PM
Fotografia como resíduo biográfico
Foto 7
Cleonice, à direita, sorrindo junto à família Sousa na Praia José Menino entre os dias 5
e 15 de dezembro de 1942
(Ampliação das dimensões originais: 6,5 × 9 cm, revelação: Papelaria LÉO, papel Agfa
Lupex)
Menino (foto 7) e A Holandeza, em Bertioga, e os hotéis Lido e Umu-
arama, em Bertioga. Em 1946, com a criação do Serviço Social do
Comércio (sesc), Cleonice torna-se comerciária. Respectivamente
em 1952 e 1959, ela vai acompanhada da família Sousa à colônia de
férias do sesc Bertioga, inaugurada em 1948. O surgimento desse
empreendimento revela como o lazer era ainda algo caro e restrito a
alguns. Cleonice já o praticava independentemente do sesc, como
mostra a foto 6 – e muitas outras não exibidas aqui (Bispo, 2012, p.71).
Outra mudança importante no litoral foi a verticalização da orla
da praia que em Santos aconteceu paralela à capital paulistana já a
partir dos anos 1940. Os agentes transformadores deste espaço foram
tanto pessoas como Cleonice (turista), quanto os especuladores imobili-
ários, que por meio das construtoras, algumas das quais localizadas no
Centro de São Paulo, como a andraus,⁷ modificavam os espaços e
7 O nome ocian é a sigla que identifica, desde 1946, a Organização Construtora
e Incorporadora Andraus Ltda. Essa empresa estava sediada na capital paulista na
avenida Ipiranga, 795, nas imediações do local de trabalho de Cleonice. O empresário
Roberto Andraus erigiu no litoral 22 prédios e 1.350 apartamentos. O empreendi-
mento foi considerado, à época, um dos projetos mais modernos do litoral e reunia
uma infraestrutura de água, luz, esgoto, sistema próprio de tratamento de esgoto, tele-
fone etc (Vieira, 2008).
Vida e grafias - miolo.indd 391 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
Foto 8
A orla da praia de Cidade Ocian vista do apartamento do sr João Velloso, em 1959
(Ampliação das dimensões originais: 8,5 × 11 cm)
as paisagens litorâneas paulistas, delimitando suas qualidades balneá-
rias. Em 1957, Cleonice começa a frequentar uma segunda residência
na inédita praia de cidade Ocian, em Praia Grande. O bairro nasceu
da construção de um empreendimento residencial de frente para
o mar. A intensa movimentação de banhistas nesta praia dois anos
depois pode ser vista em uma foto tomada da varanda do imóvel ad-
quirido pelo sr João Velloso de Sousa Filho que, desde 1945, era seu
chefe na Sociedade Química Brasileira Ltda (foto 8).
Nos detalhes 8a, 8b e 8c é possível ver dois elementos importantes
na dinâmica de ocupação das praias: os automóveis que exerceram in-
fluência definitiva no turismo no Brasil a partir dos anos 1950 (Boyer,
2003; e Silva, 2003) e o loteamento do espaço litorâneo representado
pelo posto de informações sobre a venda de imóveis da construtora
Andraus (detalhe 8a). Aspectos da urbanização recente podem ser
vistos nas pequenas árvores (8b), na pavimentação e no monumento
ao Deus Netuno (8c).
As segundas residências na praia modificaram a ocupação e o
consumo das paisagens litorâneas, e Cleonice já não frequentava mais
as pensões – prática comum até o início dos anos 1950, sob a qual
sua documentação é riquíssima. Uma imagem rara a representa na
Vida e grafias - miolo.indd 392 3/9/15 7:38 PM
Fotografia como resíduo biográfico
Vida e grafias - miolo.indd 393 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
Vida e grafias - miolo.indd 394 3/9/15 7:38 PM
Fotografia como resíduo biográfico
Vida e grafias - miolo.indd 395 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
cozinha do apartamento no edifício São Jorge bloco A (foto 9). Vale
destacar aqui que o registro fotográfico de espaços considerados de
algum modo íntimos da casa, como cozinhas, banheiros e quartos de
dormir, são incomuns nos arquivos domésticos que possuem fotogra-
fias analógicas (Leite, 1993), e esse padrão se repete na coleção cmh.⁸
O efeito dessa imagem na coleção faz pensar também em qual era o
lugar social de Cleonice em relação à família Sousa, então algo difícil
de precisar. Embora não se possa afirmar nada, pode-se dizer, a partir
do que sobrou de sua experiência, que a uma mulher como ela, sol-
teira, cabia idealmente cuidar da família. Adicionalmente, ela talvez
tenha sido uma empregada ou uma agregada da família Sousa. É
certo que posteriormente tornou-se afilhada do casal a partir de 1960,
ano de seu batismo na Igreja Católica. Embora sua posição seja pro-
blemática, na medida em que faltam dados, sua afinidade produtiva
com os Souza lhe permitiu deslocamentos de sociabilidade também
ao interior do estado, que no sistema turístico emergente oferecia
outras paisagens.
Como o litoral foi-se remodelando para atender àqueles pri-
meiros turistas em busca de lazer e paisagens naturais, também o
campo montanhoso paulista começou a ser frequentado por essa
família extensa, porém só a partir da década de 1940 (foto 10).
Em 1943, Cleonice e a família Sousa foram passar férias em Serra
Negra e Lindoia, cidades que emergiram, enquanto estâncias turís-
ticas, da relação com o enriquecimento do planalto; portanto, em
certa medida, são parte da cultura urbana em curso na capital paulis-
tana. Estas localidades ofereciam paisagens e elementos naturais como
a água e o clima ameno, além de alguma infraestrutura hoteleira que
começa a se expandir nessa década e que foi crescendo para atender
àqueles que acorriam da capital. Na foto 10, Cleonice figura em uma
atividade comum ao turismo campestre, normalmente recomendada
com moderação por médicos que, à época, prescreviam as águas
desses lugares para o tratamento de doenças reumáticas e de pele.
Mais tarde, em 1955, o grupo sai em passeio de férias a Campos
do Jordão (foto 11), cidade que por suas águas e clima frio atendeu
durante os primeiros quarenta anos do século xx os acometidos de
doenças pulmonares, sobretudo tuberculosos (Silva, 2003; e Nogueira,
1950). O grupo está diante do hotel Toriba construído pelo escritório
de Ramos de Azevedo que ficava na capital, e inaugurado em 1941.
O surgimento deste alojamento demarca a nova vocação da cidade
8 É possível que com a revolução digital esses interditos tenham se modificado, até
porque neste caso não há mais o processo de revelação, então um serviço que poderia
impor constrangimentos.
Vida e grafias - miolo.indd 396 3/9/15 7:38 PM
Fotografia como resíduo biográfico
Foto 9
Cleonice no apartamento em Cidade Ocian, Praia Grande, em 1959
(Redução das dimensões originais: 8,5 × 13,5 cm)
Vida e grafias - miolo.indd 397 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
Foto 10
Cleonice no caminho para a cachoeira grande, em Serra Negra, 1943
(Dimensões: 6 × 9 cm, papel Agfa Lupex)
para o turismo que começava a ganhar relevância em detrimento da
recepção de doentes que buscavam na natureza e no clima da cidade
sua cura.⁹ Quando Cleonice ali esteve, o curismo já era algo em re-
lativo desuso e nessas duas viagens (1943 e 1955) não há indícios de
que sua visita tenha sido motivada por doença dela ou de algum dos
membros de sua rede de sociabilidade. Merece destaque o fato de a
fotografia produzir representações que estruturam a subjetividade
visual de Cleonice como sujeito, indivíduo único (foto 10) e membro
do grupo com que mantém relação afetiva (foto 11, entre outras). Tais
fotos não apenas ilustram episódios da biografia de Cleonice, mas
conferem uma forma à viagem (Sontag, 2004; e Urry, 1999).
O tratamento da fonte documental
O trabalho de organização e descrição desse conjunto de materiais
residuais e biográficos foi fundamental para se chegar aos temas:
memória familiar, cultura urbana e deslocamentos de lazer e turismo.
9 Quem conseguiu captar a tensão que se estabeleceu entre doentes e turistas na-
queles anos foi Oracy Nogueira. Como afirma uma mulher tuberculosa por ele
entrevistada: “Esses sãos têm o mundo todo para passear. Nós somente podemos viver
neste pedacinho de terra. No entanto, eles vêm justamente aqui para nos fazer concor-
rência e nos causar dificuldade!” (Nogueira, 1950, p.37)
Vida e grafias - miolo.indd 398 3/9/15 7:38 PM
Fotografia como resíduo biográfico
Foto 11
Cleonice, à extrema esquerda, com parte da família Velloso no Hotel Toriba, Campos
do Jordão 1955
(Ampliação das dimensões originais: 6 × 9 cm, papel Leonar)
Antes de apresentar o modo como construí o corpus, todavia, quero
comentar os termos “coleção” e “arquivo”, tais como os utilizo.
Segundo Heloiza Bellotto & Ana Maria de Almeida Camargo, uma
coleção é a “reunião artificial de documentos que, não mantendo
relação orgânica entre si, apresentam alguma característica comum”
(1996, p.17). Tal definição acentua o caráter documental da coleção, o
que limita o tratamento específico do material fotográfico, que deveria
ter, segundo essa concepção, o sentido probatório que nem sempre a
fotografia carrega. Como a fotografia é documento, representação e
autorrepresentação, o ato de colecioná-la pode ser entendido como
uma atividade que obedece a regras de organização baseadas na
produção de efeitos estéticos (Barbuy, Lima & Carvalho, 2002, p.14;
Carvalho & Lima, 2000; e Carvalho & Alencar, 2010). Essa atividade
ordenadora possibilitada pelo colecionismo traria um retorno psico-
lógico prazeroso ao seu praticante (Muaze, 2006, p.37). Esta acepção
ampliada de coleção chama a atenção para as marcas e as intenções
que o colecionador deixa na organização que faz dos itens colecio-
nados. Tais marcas ficam como restos de suas práticas e com sua
morte tudo se torna residual.
O motivo das imagens reunidas por Cleonice é basicamente ela
mesma. Isso revela que colecionar fotografias de si talvez tivesse como
efeito biográfico fixar identidades no tempo: mulher trabalhadora,
Vida e grafias - miolo.indd 399 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
secretária/recepcionista (fotos 3 e 5), criança, irmã e filha (fotos 1 e
6), estudante (foto 2), madrinha, amiga, veranista e turista (fotos 7, 9,
10 e 11). A coleção, desse ponto de vista, pode ser considerada uma
plataforma de encenação de múltiplos papéis sociais, cujo efeito mais
evidente é de se estar diante de uma fotobiografia.
O termo “arquivo”, por sua vez, segundo o Dicionário de termino-
logia arquivística significa: “Conjunto de documentos que, independente
da natureza ou do suporte, são reunidos por acumulação ao longo
das atividades de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas.”
(Belloto & Camargo, 1996, p.5) Assim sendo, o material resultante
das práticas de memória de cmh é uma coleção, e não um arquivo
pessoal, pois para ser um arquivo pessoal seriam necessários outros
documentos (certidões de nascimento, casamento, óbito, registros
escolares e de trabalho etc), além de somente fotografias. Ocorre
que não se pode abrir mão de certos procedimentos da arquivística
para tratar coleções fotográficas familiares. Finalmente, o sentido de
arquivar, como prática de memória, está presente na forma como
Cleonice guardou suas lembranças. Mais precisamente o que ela
legou foi um “arquivo de vida”, à medida que seus materiais revelam
suas intenções autobiográficas (Artières, 1998).
As anotações feitas ou não por ela no próprio objeto fotográfico
que carrega a imagem foram fundamentais para recuperar datas,
eventos e lugares aos quais as fotos se referem – sobre a fotografia
como artefato, ver Edwards (2004) e Carvalho & Alencar (2010). A
organização dessas informações gerou uma cronologia extratificada:
tabela que ordena e relaciona cronologicamente as informações ex-
traídas da frente e do verso das fotos como nomes de pessoas, datas e
Tabela 1
Cronologia extratificada
Data Local Qtd. Evento Código
s.d. Não identificado 1 Retrato A01
dos pais de
Cleonice
8/7/1940 Edifício Martinelli, 1
24˚ andar,
Galerias Fotográficas,
São Paulo, Centro
Retrato de Cleonice A0117
Vida e grafias - miolo.indd 400 3/9/15 7:38 PM
Fotografia como resíduo biográfico
lugares. Mostro a seguir a forma como sistematizei os dados: na pri-
meira coluna, estão informações de datação: mês, dia e ano – quando
não há esses dados, aparece a sigla “s.d.” (sem data); na segunda
coluna, quando possível, estão identificados o lugar (cidade, bairro,
praia ou campo) e o local (casa de parentes, hotel, empresa, escola,
estabelecimentos comerciais); a quantidade de fotos está indicada na
terceira coluna e foi útil para separar unidades e séries, permitindo
uma classificação codificada dos itens; na quarta coluna – “evento”
–, recupero dados relativos ao conteúdo da imagem; finalmente, a
quinta coluna informa a notação classificatória empregada na identi-
ficação. Esta codificação permite saber a localização e o conteúdo de
uma determinada imagem, por exemplo: A01 são os pais de Cleonice;
A0117 é ela fotografada pelo retratista Guilherme Golanda, estabele-
cido no Centro de São Paulo no 24° andar do edifício Martinelli, nas
chamadas Galerias Fotográficas.
A criação da tabela serviu também para organizar e facilitar a
manipulação das fotos já que, ao começar a manuseá-las, notei a apa-
rência caótica de envelopes e retratos soltos, o que tornava a atividade
de observação, análise e interpretação dos conteúdos dos registros
impraticável (foto 12).
No processo de organização do material, procurei os “traços”
da biografia da personagem na fotografia (Barthes, 1984, p.51). Na
tentativa de encontrar esses sinais pessoais, sobretudo naqueles em
que Cleonice não estava presente (como a primeira referência ao seu
nome no verso da série de retratos do seu batismo e primeira comu-
nhão em 27 de junho de 1960). Toda e qualquer marcação nas fotos
e envelopes foram consideradas como indícios. No verso das fotos de
sua prima Laís apareciam os nomes de Cleonice e de sua mãe Ida.
Ida não seria nomeada em qualquer outra foto, mas estava aí uma
pista importante, confirmada posteriormente em um documento
de batismo.¹⁰ Cleonice ainda poderia estar presente em momentos
visualmente improváveis, como na foto 2. Para a tarefa de organi-
zação foi útil entender que a solidão é um método. Adicionalmente, a
abordagem indiciária forneceu caminhos para pôr em ordem certos
eventos valorizando traços e sinais aparentemente insignificantes
(Ginzburg, 2003). Assim, como um detetive, procurei indícios, e no
10 Conforme pesquisa feita no Registro de Batizados da Igreja de São Judas Tadeu
– Jabaquara, 1960, p.83, n.2707, 7–5–18–9, armário 28, n.17, acervo da Cúria Me-
tropolitana de São Paulo. Agradeço ao Jair, funcionário do arquivo, que foi muito
solícito e paciente comigo.
Foto 12
A coleção CMH em processo de organização, meados de 2010 (foto do autor)
Vida e grafias - miolo.indd 401 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
Vida e grafias - miolo.indd 402 3/9/15 7:38 PM
Fotografia como resíduo biográfico
Vida e grafias - miolo.indd 403 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
processo de organização agi como um bricoleur cuja atividade tem por
substrato materiais “pré-constrangidos” (Lévi-Strauss, 1970), previa-
mente produzidos e utilizados. Essas inspirações permitiram olhar
para os contextos de produção, circulação e funções sociais das foto-
grafias colecionadas por Cleonice.
Para poder ver melhor, o scanner foi fundamental, tanto na identi-
ficação de Cleonice (foto 2), como para ampliar os pequenos formatos
que predominam no arquivo de si por ela formado. Isso quer dizer
que o tratamento de fotografias históricas, em especial de formatos
amadores, não raro bem pequenos, teve enormes ganhos com a intro-
dução desse equipamento na pesquisa.
Em alguns importantes trabalhos sobre fotografia de família, o
uso de “relatos orais”complementam a apreensão dos conteúdos ma-
nifestos na imagem (Carvalho, 2011; Bruno, 2009; Silva, 2008; Leite,
1998, 2001; e Von Sinson, 1998). Uma vez que eu não tinha essa pos-
sibilidade, as legendas – feitas ou não por Cleonice – e carimbos de
origem comercial tiveram importância como componentes narrativos
no processo de interpretação e análise. Tais anotações foram conside-
radas enquanto elementos constituintes do objeto fotografia, uma vez
que esta não deve ser estudada apenas como uma imagem impressa.
Essas legendas apontam para o aspecto relacional da fotografia, pois
ela é uma forma de comunicação e interação entre pessoas e, como
tal, vem acompanhada de rastros de conversa, de diálogo; enfim, de
sua trajetória no contato com os agentes. Daí ela ser resíduo social
e biográfico, produtora de sociabilidades e subjetividades. Mesmo
quando Cleonice está sozinha na imagem, há aí interação social (fotos
9 e 10) e, ao observá-la, nós a vemos por meio do olhar do fotógrafo.
Trata-se aqui de sustentar que esta coleção, como sua antiga
proprietária, tem uma trajetória biográfica; ela um dia esteve no
âmbito estritamente doméstico e, com a morte de sua proprietária,
entrou no circuito estético das antiguidades, readquirindo valor de
mercado, mas não apenas isso. Tal deslocamento mantém relação
com os sentidos originais que já possuía e a esses sentidos são aco-
plados novos, como a pesquisa de interesse antropológico. Como sua
antiga colecionadora, a coleção doméstica, enquanto objeto de afetos,
tem uma biografia, e neste capítulo procurei mostrar que essas duas
dimensões se cruzam na pesquisa e são indissociáveis. Ao buscar Cle-
onice nesse emaranhado de rastros e indícios, o que vi foram aspectos
da sociedade paulistana entre 1920–1960. Foi nessa sociedade que
ela construiu e arrumou uma imagem para si mesma e para nós, os
outros (Artières, 1998). Assim, tratou-se de recuperar aspectos tanto
da biografia de Cleonice, quanto da biografia da coleção que um dia
lhe pertenceu.
Vida e grafias - miolo.indd 404 3/9/15 7:38 PM
Fotografia como resíduo biográfico
Considerações finais
Minha intenção neste texto foi mostrar que a documentação foto-
gráfica acumulada por uma pessoa comum, dependendo de suas
condições de conservação e diversidade temática, pode franquear um
acesso privilegiado ao passado, caso se queira seguir os “passos per-
didos” dos atores considerando suas práticas sociais (Certeau, 1996).
Nesse sentido, a “coleção” ou o “arquivo de si” resultantes das prá-
ticas da personagem estudada permitem não só recuperar episódios
de sua história pessoal – memória familiar –, mas também abrigar
essa mesma história na sociedade que a viu florescer. Esse objetivo
só se realizou porque, ao trabalhar com documentos antigos, e isso é
ainda mais verdadeiro com fotografias, torna-se fundamental fazer
a crítica externa das condições de produção do artefato. Isso implica
em duvidar do que se observa nas fotografias, como vimos na foto 6.
Nessa imagem, a praia vazia corresponde não à realidade balneária
do momento, mas à posição ocupada pelo fotógrafo em relação ao
tema. No âmbito dessa crítica, as legendas foram importantes por tra-
zerem informações sem as quais seria difícil compreender muitos dos
conteúdos representados. Elas são, assim, partes do relato visual.
Vale ressaltar ainda que a coleção cmh é uma entrada para
compreender a dinâmica da cultura urbana do período baseada no
consumo de fotografias, de espaços e paisagens. Procurei fazer isso
sem descolar os episódios da biografia de minha informante do con-
texto social que tornou possível a construção visual de sua história de
vida, seja porque havia um comércio intenso que atendia ao aque-
cido mercado dos amadores privados, ávidos por consumo visual,
seja porque entre os membros da própria família Heine existia um
circuito afetivo que punha em circulação representações de como
essa entidade passou a organizar seus afetos por meio de imagens téc-
nicas. Retomando a epígrafe, é possível dizer que os materiais visuais
colecionados por Cleonice não mudaram a cidade que ela adotou
como sua, mas mudaram a minha compreensão da cultura urbana
paulistana que emergiu no período analisado, como ainda me possi-
bilitaram, por meio da organização e interpretação dos restos de sua
experiência social singular, descobrir o mundo ainda pouco conhecido
do consumo dos fotógrafos amadores privados, seus temas de predi-
leção como a família, o lazer e o turismo.
Muito embora a fotografia amadora produzida e consumida
no âmbito privado seja uma importante fonte de informações sobre
cultura visual, esta recebeu ainda pouco tratamento no campo dos
estudos de fotografias históricas no Brasil. Entre as razões desse de-
sinteresse, pode-se destacar o fato de não haver políticas de aquisição
Vida e grafias - miolo.indd 405 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
de coleções com as características do conjunto estudado depositadas
em instituições privadas e públicas, o que estimularia o surgimento de
novos trabalhos. Infelizmente, a formação de acervos institucionais
ainda se concentra na acumulação de materiais que pertenceram
a pessoas célebres como políticos, artistas, cientistas e fotógrafos. É
exemplar, nesse aspecto, o Instituto Moreira Salles que vem cons-
truído um enorme acervo sobre iconografia fotográfica brasileira.
A ausência de ações políticas de preservação de conjuntos foto-
gráficos pertencentes a famílias e pessoas sem notoriedade termina
por negar a importância das práticas sociais destes sujeitos que ha-
bitaram e habitarão um mesmo e único “mundo comum” (Arendt,
1972). Como bem frisou a pesquisadora Fabiana Bruno ao comentar
este trabalho na reunião do gt32 da 28ª aba, já foram produzidas
tantas fotografias que nós, pesquisadores, devemos nos voltar para
elas, olhá-las e estudá-las.
Acervos consultados
Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo
Registro de Batizados da Igreja de São Judas Tadeu – Jabaquara, 1960, p.83, n.2707,
7–5–18–9, armário 28, n.17
Acervo GEDES/SESC Memórias
Revista do Comerciário, n.32, julho de 1959
Referências
Íris de Morais Araújo, Militão Augusto de Azevedo: fotografia, história e antropologia, Alameda,
2010
Hannah Arendt, “A crise da educação”, Entre o passado e o futuro, São Paulo: Perspec-
tiva, 1972
Philippe Artières, “Arquivar a própria vida”, Estudos Históricos, n.21, Rio de Janeiro:
Fundação Getúlio Vargas, p.9–34, 1998
Heloisa Barbuy, Solange Ferraz de Lima & Vânia Carneiro de Carvalho, “O sistema
documental do Museu Paulista: a construção de um banco de dados e imagens
num museu universitário em transformação”, in: Cecília Helena de Salles Oli-
veira & Heloisa Barbuy (organização), Imagem e produção de conhecimento, São Paulo:
Museu Paulista & usp, 2002
Roland Barthes, A Câmara Clara: notas sobre a fotografia, Rio de Janeiro: Nova Fronteira,
1984
Cristiana Bastos, “Banhos de princesas e de lázaros: termalismo e estratificação
social”, Anuário Antropológico 2010–2011, dezembro de 2011, p.107–126
Guy Bellavance, “Mentalidade urbana, mentalidade fotográfica”, Cadernos de Antropo-
logia e Imagem, n.4, p.17–29, Rio de Janeiro: uerj, 1997
Heloisa Liberalli Belotto & Ana Maria de Almeida Camargo, Dicionário de terminologia
arquivística, São Paulo: imesp, 1996
Walter Benjamin, “Pequena história da fotografia”, Magia, técnica, arte e política, São
Paulo: Brasiliense, 1994
Vida e grafias - miolo.indd 406 3/9/15 7:38 PM
Fotografia como resíduo biográfico
Susan Besse, Modernizando a desigualdade: reestruturação da ideologia de gênero no Brasil 1914–
1940, São Paulo: edusp, 1999
Ecléa Bosi, “Memória da cidade: lembranças paulistanas”, Estudos Avançados, v.17, n.47,
p.198–211, 2003
Marc Boyer, História do turismo de massa, Bauru: edusc, 2003
Fabiana Bruno, “Fotobiografia: por uma metodologia da estética em antropologia”,
tese de doutorado pelo Instituto de Artes, Campinas: Universidade Estadual de
Campinas, 2009
Ana Maria de Almeida Camargo, “Arquivos pessoais são arquivos”, Revista do Arquivo
Público Mineiro, v.45, n.2, julho–dezembro, Belo Horizonte, p.28–39, 2009
Eudes Campos, “A cidade de São Paulo e a era dos melhoramentos materiais – obras
públicas e arquitetura vistas por meio das fotografias de autoria de Militão
Augusto Azevedo, datadas do período 1862–1863”, Anais do Museu Paulista – His-
tória e Cultura Material, Nova série, v.15, n.1, janeiro–junho, p.11–114, 2007
Vânia Carneiro de Carvalho & Michele de Oliveira Alencar, “Por histórias das foto-
grafias – do índice ao artefato”, in: Maria Lucia Bressan Pinheiro (organização),
Registros fotográficos, patrimônio e memória da usp, São Paulo: Editora da Universidade
de São Paulo, 2010
Vânia Carneiro de Carvalho, Solange Ferraz Lima, Maria Cristina Rabelo de Car-
valho & Tânia Francisco Rodrigues, “Fotografia e história: ensaio bibliográfico”,
Anais do Museu Paulista – História e Cultura Material, Nova série, v.2, janeiro–de-
zembro, 1994
Michel de Certeau, A invenção do cotidiano: artes do fazer, Petrópolis: Vozes, 1996
Sílvio Marcos de Souza Correa, “Germanidade e banhos medicinais nos primórdios
dos balneários no Rio Grande do Sul”, História, Ciências, Saúde – Manguinhos, v.17,
n.1, janeiro–março, p.165–184, 2010
Heloise Costa, “Pictorialismo e imprensa: o caso da revista O Cruzeiro (1928–1932)”, Fo-
tografia: usos e funções no século xix, São Paulo: edusp, 1998
Eduardo Alves Covas, “O olhar fotográfico de Francisco Brandão”, dissertação de
mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Multimeios do Instituto de Artes
da Universidade Estadual de Campinas, Campinas: unicamp, 2005
Ana Maria Dietrich, Caça às suásticas: o partido nazista em São Paulo sob a mira da Policia Po-
lítica, São Paulo: Associação Editorial Humanitas/Imprensa Oficial do Estado de
São Paulo & fapesp, 2007
Elizabeth Edwards & Janice Hart, Photographs objects histories – on the materiality of images,
London: Routledge, 2004
Guilherme Gaensly, Guilherme Gaensly (1843–1928), São Paulo: Cosac Naify, 2011
Carlo Ginzburg, “Sinais, raízes de um paradigma indiciário”, Mitos, emblemas e sinais,
São Paulo: Companhia das Letras, 2003
Patrícia de Filippi, Solange Ferraz de Lima & Vânia Carneiro de Carvalho, Como tratar
coleções de fotografias, São Paulo: Arquivo do Estado & Imprensa Oficial do Estado,
2002
Fraya Frehse, “Vir a ser transeunte, civilidade e modernidade nas ruas da cidade de
São Paulo (entre o início do século xix e o início do século xx)”, tese de douto-
rado pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras, São Paulo: Universidade de São Paulo, 2004
Christian Joschke, “Aux origines dês usages sociaux de la photographie: La photogra-
phie amateur en Allemagne entre 1890 et 1910”, Actes de la Recherche em Sciences
Sociales, n.154, p.53–65, 2004
Rubens Fernandes Júnior, “De volta à luz: fotografias da coleção do imperador dom
Pedro ii”, Catálogo de exposição, São Paulo: Banco Santos / Rio de Janeiro: Fun-
dação Biblioteca Nacional, 2003
Boris Kossoy, Origens e expansão da fotografia no Brasil – século xix, Rio de Janeiro:
Funarte, 1980
–, Dicionário histórico-fotográfico brasileiro, São Paulo: Instituto Moreira Salles, 2002
–, “O mundo portátil: estética e ideologia da representação fotográfica”, in: Maria
Vida e grafias - miolo.indd 407 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
Lucia Bressan Pinheiro (organização), Registros fotográficos, patrimônio e memória da
usp, São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2010
Miriam Lifchitz Moreira Leite, “Retratos de família: imagem paradigmática no
passado e no presente”, in: Etienne Samain (organização), O fotográfico, São Paulo:
hucitec & cnpq , 1998, p.35–40
–, Retratos de família: leitura da fotografia histórica, São Paulo: Editora da Universidade
de São Paulo, 2001
Solange Ferraz de Lima, “O circuito social da fotografia: estudo de caso – II”, in: An-
nateresa Fabris (organização), Fotografia: usos e funções no século XIX, São Paulo:
EDUSP, 1991
Solange Ferraz de Lima & Vânia Carneiro de Carvalho, Fotografia e cidade: da razão
urbana à lógica do consumo – álbuns de São Paulo (1887–1954), Campinas: Mercado das
Letras, 1997
José Guilherme Cantor Magnani & Lillian de Lucca Torres, Na Metrópole: textos de antro-
pologia urbana, São Paulo: edusp & fapesp, 1996
Sylvain Maresca, “A reciclagem artística da fotografia amadora”, Cadernos de Antropo-
logia e Imagem, ufrj, n.17, p.203–217, 2003
Stélio Marras, A propósito de águas virtuosas: formação e ocorrências de uma estação balneária no
Brasil, Belo Horizonte: ufmg, 2004
Jussara Marques Oliveira Marrichi, “Uma breve exposição sobre o emprego das pala-
vras caldas, cidade termal, cidades balneárias e estâncias hidrominerais para os
estudos urbanos brasileiros”, Anais do 26 Simpósio Nacional de História, São Paulo:
anpuh, julho 2011, p.1–18
Ana Maria Mauad, “Sob o signo da imagem: a produção da fotografia e o controle
dos códigos de representação social da classe dominante, no Rio de Janeiro, na
primeira metade do século xx”, tese de doutorado em História, Niterói: Univer-
sidade Federal Fluminense, 1990
Benedictus Mário Mourão, A água mineral e as termas: uma história milenar, São Paulo:
Abinam, 1997
Mariana de Aguiar Ferreira Muaze, “O império do retrato: família, riqueza e re-
presentação social no Brasil oitocentista (1840–1889)”, tese de doutorado pelo
Centro de Estudos Gerais do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Niterói:
uff, 2006
Oracy Nogueira, Vozes de Campos do Jordão: experiências sociais e psíquicas do tuberculoso pul-
monar no estado de São Paulo, Editora da Revista de Sociologia, 1950
Inez Garbuio Peralta, “O impacto da industrialização sobre o desenvolvimento de
Cubatão”, tese de doutorado em História Econômica, São Paulo: usp, 1979
Adriana Maria Pinheiro Martins Pereira, “A cultura amadora na virada do século
xix: a fotografia de Alberto de Sampaio (Petrópolis/Rio de Janeiro, 1888–
1914)”, tese de doutorado em História Social pelo departamento de História da
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, São Paulo: Universidade de
São Paulo, 2010
Celma do Carmo Pinto & Guiomar Roebellen, Fábrica de Anilinas, Prefeitura Municipal
de Cubatão, 2009
Maria Manuela Quintela, “Saberes e práticas termais: uma perspectiva comparada
em Portugal (Termas de S Pedro do Sul) e no Brasil (Caldas da Imperatriz)”, His-
tória, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, p.239–260, 2004
–, “Curar e recrear em águas termais: um diálogo etnográfico entre Portugal
(Termas de São Pedro do Sul e Termas da Sulfúrea) e Brasil (Caldas da Impera-
triz)”, Anuário Antropológico 2010–2011, dezembro de 2011, p.169–194
André Rouillé, Fotografia entre documento e arte contemporânea, São Paulo: senac, 2010
Odette Carvalho de Lima Seabra, “A muralha que cerca o mar: uma modalidade de
uso do solo urbano”, dissertação de mestrado pelo Programa de Pós-Graduação
em Geografia, São Paulo: usp, 1979
Lygia Segala, “Coleção fotográfica de Marcel Gautherot”, Anais do Museu Paulista –
História e Cultura Material, Nova Série, n.2, v.13, julho–dezembro, 2005
Vida e grafias - miolo.indd 408 3/9/15 7:38 PM
Fotografia como resíduo biográfico
Armando Silva, Álbum de família: a imagem de nós mesmos, São Paulo: Editora senac &
Edições sesc sp, 2008
Maria da Glória Lanci Silva, “Os cenários do lazer: turismo e transformação da
paisagem urbana”, tese de doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Ar-
quitetura e Urbanismo, São Paulo: Universidade de São Paulo, 2003
Susan Sontag, Sobre a fotografia, São Paulo: Companhia das Letras, 2004
Claude Lévi-Strauss, “A ciência do concreto”, O pensamento selvagem, São Paulo: Com-
panhia Editora Nacional & Editora da Universidade de São Paulo, 1970
Flora Sussekind, Cinematógrafo de letras: literatura, técnica e modernização no Brasil, São Paulo:
Companhia das Letras, 1987
John Urry, O olhar do turista: lazer e viagens na sociedades contemporâneas, Studio Nobel:
sesc, 1999
Imário Vieira, “Turismo de segunda residência em Praia Grande (sp)”, dissertação de
mestrado pelo Programa de Pós-Graduação do Departamento de Geografia, São
Paulo: Universidade de São Paulo, 2008
Olga Rodrigues von Simson, “Imagem e memória”, in: Etienne Samain (organização),
O fotográfico, São Paulo: Editora Huciteq , 1998
Augustin Wernet, “As escolas alemãs no estado de São Paulo: um pequeno histórico”,
Manual de Informações para o Professor Alemão, doc.16, Biblioteca da Faculdade de Fi-
losofia, Ciências e Letras da usp, 1989
Este trabalho é uma versão modificada do texto apresentado no GT Etnografia e Bio-
grafia na Antropologia: Experiências com as Diversas Grafias sobre a Vida Social,
originalmente exposto na 28ª aba no gt 32, realizada entre os dias 2 e 5 de julho de
2012, em São Paulo.
Alexandre Araujo Bispo é mestre (2012) e doutorando em Antropologia Social pela
Universidade de São Paulo. Bacharel em Ciências Sociais pela Universidade de São
Paulo. Desenvolve pesquisas sobre a relação entre biografia, cultura material, cultura
visual, fotografia e memória. Membro do grupo de pesquisa cnpq Coletivo asa:
Arte, Saberes e Antropologia, liderado pela professora doutora Fernanda Arêas
Peixoto. É diretor da Divisão de Ação Cultural e Educativa do Centro Cultural São
Paulo; membro do conselho editorial da revista Omenelick 2 Ato: Afro-brasilidades e Afins.
Fez curadoria das exposições Vontade de saber erotismo 2008; Negro imaginário 2008 e Afro
como ascendência arte como procedência (sesc Pinheiros, 2012).
Vida e grafias - miolo.indd 409 3/9/15 7:38 PM
Posfácio
Imagem,
sopro de um abismo narrativo
Fabiana Bruno
Outro dia fiz aniversário. O presente era um álbum, com arranjos
diferentes. Ao desenrolar o pacote, fui vendo alguns objetos acomo-
dados nos meios das páginas em branco. Um marcador de livros,
um bordado e as páginas em branco que me saltavam aos olhos. De
fato, tenho trabalhado nisso ao longo de quase uma década, tempo
suficiente para a colmatação de muitas questões. Então, enquanto tra-
balho, as histórias alheias tomam conta de minha imagem, me fazem
cicatrizes (perpétuas), um tipo de escrita no corpo e na alma, que
cortam e cavam, demarcam o meu fazer. Pus-me a pensar: quantas
narrativas se pode fazer emergir de páginas ainda vazias? E essa
questão logo me pôs em movimento, me deixando entrever e sentir
que os álbuns, as fotobiografias e todas as narrativas participam efeti-
vamente de “montagens de vida”. Com o passar dos dias, o presente
de aniversário foi-se formatando em outras versões de leituras.
Enquanto assimilava o álbum de páginas vazias e conteúdos
avulsos, refletia sobre a polissemia da experiência e sua afeição às his-
tórias humanas, capazes de instigar o olhar persecutório da ciência.
Na antropologia, essa intenção se declara no fio do tempo, um tempo
inflexível por seu anacronismo entre passado, presente e futuro e pela
própria maneira como as sociedades humanas se veem, se apaixonam
ou refusam diante do mistério abismal que é a vida. Minhas experiên-
cias no campo da antropologia da imagem me fazem pensar que, para
além do método, está o desejo de aproximar-se e tecer com o outro
uma relação, uma experiência de vida. Seguramente, diante da possi-
Vida e grafias - miolo.indd 410 3/9/15 7:38 PM
Posfácio
bilidade de contato com outro não dispomos de uma narrativa linear,
enredada e muito menos datada e cronológica.
Neste ponto, poderíamos dizer, nos aproximamos muito mais da
experiência de tempo e narrativa de uma imagem, pois a imagem
se firma, participa, como “um ato” (e não um objeto) de pesquisa
voltada ao conhecimento antropológico. Atribuindo às imagens o
lugar de onde se pode tirar, como nos diria Didi-Huberman (2003),
“emoção e bocados de memória, imaginação e bocados de verdade”,
o movimento seria como aquele de quem procura, nos termos de
Aby Warburg (2000), “o fluxo invisível” daquilo que se passa entre
as coisas e as tornam “tesouros sobreviventes”. As imagens, para as
narrativas, são sempre questões, possuem vida, se movimentam e se
metamorfoseiam.
Cremos nisso porque as biografias, durante muito tempo, se dis-
puseram prioritariamente a demarcar a gênese, o amadurecimento e
a morte – esta última, aliás, mais raramente, salvaguardadas algumas
variáveis históricas –, figuras como tempos elegíveis para uma com-
posição, para uma boa história, para uma história ritual de vida, de
vida válida. Será mesmo que toda biografia deve ter um começo, um
meio e um fim? E o que fazer com os dias perdidos, os nossos vazios
temporais, as nossas lacunas, aqueles tempos ordinários em que a vida
e a morte parece esquecerem-se de nós? Havemos de pensar sobre os
dias mortos, os dias ordinários, as “centelhas” (Walter Benjamin) ou
as “pequenezas”(Manoel de Barros). Como fazer ver essas experiências
de vida?
Tornando-nos sensíveis a aceitar que toda e qualquer biografia
encerra tanto o singular como o coletivo de um tempo de seus perso-
nagens, e essencialmente, das vicissitudes humanas. Entre biografia,
etnografia e narrativas antropológicas, vivem as imagens, a flanar pelo
fio do tempo, a nos segredar sobre as experiências singulares de que
são capazes de protagonizar, ao serem provocadas a contar sobre o
homem e suas vicissitudes; sobre o homem, o ato de viver e o ato de
narrar. Não demandam decifração para as histórias, mas participam
de seus “valores expressivos” e requerem uma compreensão, sem
redução de sua complexidade, exposta, mostrada, tal como nos apre-
sentamos, para as cenas ordinárias do experimento que é a vida.
No limite de uma condição hipotética, podemos crer que a
ciência não se faz sem a criação e, sendo assim, sem homens e sem
as histórias humanas não encontramos nem a etnografia, nem a an-
tropologia. Nessa perspectiva, a contribuição do Grupo de Trabalho
sobre o tema “Etnografia e biografia na antropologia: experiências
com as diversas ‘grafias’ sobre a vida social”, durante a 28ª Reunião
da Associação Brasileira de Antropologia, e da coletânea de artigos
Vida e grafias - miolo.indd 411 3/9/15 7:38 PM
Vida & grafias
proposta neste livro, trouxe um exercício de vigor para a abertura de
novos caminhos na produção de pesquisas etnográficas e biográficas.
Do ponto de onde falo, enxergo nesta obra uma tenacidade que
alarga horizontes e lança vetores, em uma proposta para novos tons,
sons, cores e vozes, envolta em campo antropológico, que entendo,
revela um vínculo efetivo e declarado com as histórias, as imagens e as
biografias humanas.
Referências
G Didi-Huberman, L’image survivante: Histoire de l’Art et Temps des Fantômes selon Aby
Warburg, Paris: Les Éditions de Minuit, 2002
–, Images Malgré Tout, Paris: Editions de Minuit, 2003
A Warbourg, Atlas Mnemosyne, Madrid: Ediciones Akal, 2010
Fabiana Bruno é pesquisadora da imagem no campo da antropologia e da arte. É
mestre e doutora em Multimeios (Instituto de Artes da unicamp), pós-doutora pela
eca-usp e atualmente é pesquisadora vinculada ao Departamento de Antropologia
do ifch-Unicamp, onde ministra disciplinas e desenvolve pesquisa apoiada pela
capes.
Vida e grafias - miolo.indd 412 3/9/15 7:38 PM
Vida e grafias - miolo.indd 413 3/9/15 7:38 PM
Vida e grafias - miolo.indd 414 3/9/15 7:38 PM
Depois, no fim do dia, haverá mais um café na mão desses que não aparecem nas
fotos mas que conheço tão bem. É fim da tarde, estaremos em uma escadinha de
cimento que sai da cozinha. Há uma lamparina acesa nas nossas costas. Fica acesa
até as sete, sete e meia da noite. Teremos o copo de café na mão, esquentando nossa
mão, e o tomamos aos golinhos, para que dure, para que não tenhamos de nos le-
vantar, não ainda, da escadinha, para que possamos continuar a olhar o nada em
frente, espantados que ficamos que esse dia também, como os outros, termine.
(Elvira Vigna, Por escrito)
Lamparina do esp. lamparilla s.f. 1 Pequena lâmpada 2 Pequeno recipiente com
um líquido iluminante (óleo, querosene etc) no qual se mergulha um pequeno disco
de madeira, de cortiça ou de metal traspassado por um pavio que, aceso, fornece luz
atenuada
(Novo Aurélio – o dicionário da língua portuguesa)
Vida e grafias - miolo.indd 415 3/9/15 7:38 PM
Esta obra foi composta em Baskerville
e impressa em papel Pólen Soft 80g/m² e cartão Supremo 250g/m²
pela Vozes para a Lamparina editora em março de 2015
Vida e grafias - miolo.indd 416 3/9/15 7:38 PM
Você também pode gostar
- Uma Histria Do Skate No BrasilDocumento14 páginasUma Histria Do Skate No BrasilCelso CabralAinda não há avaliações
- Macrocosmo 14Documento62 páginasMacrocosmo 14wilkerlins1822Ainda não há avaliações
- História Do Skate No Brasil - Do Lazer A EsportivizaçãoDocumento14 páginasHistória Do Skate No Brasil - Do Lazer A EsportivizaçãocleitoneletricAinda não há avaliações
- Língua Portuguesa para Escriturário - Bando Do Brasil - 2018 (Documento121 páginasLíngua Portuguesa para Escriturário - Bando Do Brasil - 2018 (Lana SilvaAinda não há avaliações
- Skate TrabalhoDocumento20 páginasSkate TrabalhoAgnes SeixasAinda não há avaliações
- Andrade, - José - Carlos - Dos S. - O - Espaço - Cênico - Circense PDFDocumento206 páginasAndrade, - José - Carlos - Dos S. - O - Espaço - Cênico - Circense PDFChungungo DeRío100% (1)
- Livro Dispersões - Artigos Selecionados Por Comitê Da ANPAP para Publicação No Livro - 2021Documento27 páginasLivro Dispersões - Artigos Selecionados Por Comitê Da ANPAP para Publicação No Livro - 2021Caroline Alciones de Oliveira LeiteAinda não há avaliações
- Projeto de Vida - Professor Fabio JuniorDocumento77 páginasProjeto de Vida - Professor Fabio JuniorVictor AugustoAinda não há avaliações
- Simulado Com D06 e D14.Documento6 páginasSimulado Com D06 e D14.HENRIQUE K4Ainda não há avaliações
- Relatos e Imagens Da Cracolândia - Modos de Vida e Resistência Na RuaDocumento14 páginasRelatos e Imagens Da Cracolândia - Modos de Vida e Resistência Na RuaPatrice SchuchAinda não há avaliações
- O Falso Sol (No Formato Livro)Documento48 páginasO Falso Sol (No Formato Livro)Emerson VellosoAinda não há avaliações
- Skate 360 Roles Teoricos Pelas Ruas Da CDocumento160 páginasSkate 360 Roles Teoricos Pelas Ruas Da CeduardaAinda não há avaliações
- Universidade Federal de Santa Catarina Centro de Filosofia E Ciências Humanas Programa de Pós-Graduação em Antropologia SocialDocumento125 páginasUniversidade Federal de Santa Catarina Centro de Filosofia E Ciências Humanas Programa de Pós-Graduação em Antropologia SocialThiago Felipe dos ReisAinda não há avaliações
- Futuro Ancestral - 4a Prova - Indd 1 Uturo Ancestral - 4a Prova - Indd 1 07/10/22 13:31 07/10/22 13:31Documento17 páginasFuturo Ancestral - 4a Prova - Indd 1 Uturo Ancestral - 4a Prova - Indd 1 07/10/22 13:31 07/10/22 13:31veruscka.6costaAinda não há avaliações
- 30.simuladdo Geral GabaritoDocumento9 páginas30.simuladdo Geral GabaritoPriscilaAinda não há avaliações
- Skate Na EscolaDocumento33 páginasSkate Na Escolapablotmartins100% (1)
- Haviacpulesnocaminhoasmarcascupularesnasgravurasrupestresdo Rio Grandedo Nortee ParabaDocumento34 páginasHaviacpulesnocaminhoasmarcascupularesnasgravurasrupestresdo Rio Grandedo Nortee ParabaWillian LealAinda não há avaliações
- CASTRO, Iná. GOMES, Paulo César. CORRÊA, Roberto Lobato. (Orgs.) - Explorações GeográficasDocumento182 páginasCASTRO, Iná. GOMES, Paulo César. CORRÊA, Roberto Lobato. (Orgs.) - Explorações GeográficasBeatriz TavaresAinda não há avaliações
- Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul Instituto de Artes Departamento de Artes VisuaisDocumento36 páginasUniversidade Federal Do Rio Grande Do Sul Instituto de Artes Departamento de Artes VisuaisyyykauanAinda não há avaliações
- Saresp - 9º Ano - Língua PortuguesaDocumento11 páginasSaresp - 9º Ano - Língua PortuguesaAlice MartinsAinda não há avaliações
- Livro Dispersões Com CréditosDocumento472 páginasLivro Dispersões Com Créditosivinii100% (1)
- 10 Questões de Português CESGRANRIO - Com Gabarito - Português em FocoDocumento6 páginas10 Questões de Português CESGRANRIO - Com Gabarito - Português em FocoLetícia Ferreira100% (1)
- 09 Spe Er17 Ef 64 Manual ArtDocumento20 páginas09 Spe Er17 Ef 64 Manual ArtJosi DacpAinda não há avaliações
- Anais Da II ExposiçãoDocumento102 páginasAnais Da II Exposiçãorbs432hz.freelancerAinda não há avaliações
- Avila Fs Me Prud - Território CircenseDocumento131 páginasAvila Fs Me Prud - Território Circensegallaccio1Ainda não há avaliações
- Geologia Da Engenharia 4ed 2023Documento269 páginasGeologia Da Engenharia 4ed 2023Ricardo ÁvilaAinda não há avaliações
- Castro, Maria Eugênia de - Astrologia Uma Novidade de 6000 Anos PDFDocumento416 páginasCastro, Maria Eugênia de - Astrologia Uma Novidade de 6000 Anos PDFElaine PetroffAinda não há avaliações
- Caderno de Questões-Espcex NovaconcursosDocumento131 páginasCaderno de Questões-Espcex NovaconcursosRENAN GAMESAinda não há avaliações
- Arqueiria Canale PDFDocumento34 páginasArqueiria Canale PDFJosé Roberto Romeiro Abrahão100% (1)
- Superinteressante - Ed. 431 - Setembro2021Documento68 páginasSuperinteressante - Ed. 431 - Setembro2021Tamiris ArtnerAinda não há avaliações
- Livro CordaniDocumento365 páginasLivro CordaniRubens Felipe Filho100% (2)
- Intertexatualidades Tempo Ciência e Sociedade ParabolicamaráDocumento7 páginasIntertexatualidades Tempo Ciência e Sociedade ParabolicamaráSheila AlmeidaAinda não há avaliações
- Cláudio Sudario Lopes FilhoDocumento60 páginasCláudio Sudario Lopes Filho123798Ainda não há avaliações
- Planeta Simbiotico - Lynn MargulisDocumento136 páginasPlaneta Simbiotico - Lynn MargulisBeatriz Demboski Búrigo100% (6)
- Caderno Ibfc 01Documento12 páginasCaderno Ibfc 01Beca DekaAinda não há avaliações
- Escotismo e ComunidadeDocumento42 páginasEscotismo e ComunidadeVanessa Gonçalves OrfanóAinda não há avaliações
- Pre-Projeto - 6 VersaoDocumento18 páginasPre-Projeto - 6 VersaoBeatrizAinda não há avaliações
- 6º Ano ARTE RUPESREDocumento9 páginas6º Ano ARTE RUPESREMenezes de MeloAinda não há avaliações
- D6 (1º Ano - L.P)Documento20 páginasD6 (1º Ano - L.P)Deborah CostaAinda não há avaliações
- CPDOC2005 Nilcemar NogueiraDocumento131 páginasCPDOC2005 Nilcemar NogueiraLucinda ArnedoAinda não há avaliações
- AnarquitexturaDocumento186 páginasAnarquitexturarizoma_netAinda não há avaliações
- Aula 4 - Surfando Nas Quatro Rodas - 7 AnoDocumento24 páginasAula 4 - Surfando Nas Quatro Rodas - 7 Anonameless.1112yAinda não há avaliações
- A História Do CircoDocumento97 páginasA História Do CircoJéferson CunhaAinda não há avaliações
- Caderno - Dino Museu Ciência e Vida - CECIERJDocumento40 páginasCaderno - Dino Museu Ciência e Vida - CECIERJRemy BrancoAinda não há avaliações
- Capítulos Expressões Da PandemiaDocumento8 páginasCapítulos Expressões Da PandemiaFernanda Pereira MedeirosAinda não há avaliações
- BRANDÃO, Leonardo. A Cidade e A Tribo Skatista. Juventude, Cotidiano e Práticas Corporais Na História Cultural. Ebook PDFDocumento160 páginasBRANDÃO, Leonardo. A Cidade e A Tribo Skatista. Juventude, Cotidiano e Práticas Corporais Na História Cultural. Ebook PDFjulio brottoAinda não há avaliações
- Marras, Taddei 2022 O Antropoceno ISBN 978-85-8054-577-7Documento307 páginasMarras, Taddei 2022 O Antropoceno ISBN 978-85-8054-577-7iagoAinda não há avaliações
- Apostila Com Esxperiências para Dia-A-Dia Do ProfessorDocumento84 páginasApostila Com Esxperiências para Dia-A-Dia Do ProfessorerivelpaivaAinda não há avaliações
- 2016 CésarAugustoFloresBeckerDocumento212 páginas2016 CésarAugustoFloresBeckerDoug FirminoAinda não há avaliações
- Plano de Aula Dia Do Circo e Do TeatroDocumento4 páginasPlano de Aula Dia Do Circo e Do TeatroAntonio Ferreira De Souza FilhoAinda não há avaliações
- Cronicas PaleontoDocumento100 páginasCronicas PaleontoGuilherme Nobre DoretoAinda não há avaliações
- Cenas MusicaisDocumento169 páginasCenas MusicaisNani OliveirasAinda não há avaliações
- Avaliação Diagnóstica 7 Ano - 2Documento4 páginasAvaliação Diagnóstica 7 Ano - 2daniela peixotoAinda não há avaliações
- A Suspensão Da RealidadeDocumento3 páginasA Suspensão Da RealidadeArlen MaiaAinda não há avaliações
- Introdução - Os Microcontroladores e Suas AplicaçõesDocumento19 páginasIntrodução - Os Microcontroladores e Suas Aplicaçõesecsk50% (2)
- As Dez VirgensDocumento34 páginasAs Dez Virgensgaby_marrie60% (5)
- Apostila de Medicina Nuclear 2014 PDFDocumento51 páginasApostila de Medicina Nuclear 2014 PDFNathália CassianoAinda não há avaliações
- Questionario Grau 4Documento7 páginasQuestionario Grau 4tensergio1967Ainda não há avaliações
- Cronograma Proerd 2023.2 002Documento3 páginasCronograma Proerd 2023.2 002Janbrito212Ainda não há avaliações
- Manual Usuario Asena GHDocumento20 páginasManual Usuario Asena GHJosiel MarlosAinda não há avaliações
- Min Fin 816369Documento28 páginasMin Fin 816369Eduardo Sebastiaõ Monteiro MonteiroAinda não há avaliações
- Stihl MS 210 - 230 - 250Documento60 páginasStihl MS 210 - 230 - 250Paulo CezarAinda não há avaliações
- Os CavaleirosDocumento8 páginasOs CavaleirosLucas VieiraAinda não há avaliações
- Manual jkw5 Rev Nov 18 PDFDocumento6 páginasManual jkw5 Rev Nov 18 PDFEnzio Jorge RicardoAinda não há avaliações
- O Livre ArbítrioDocumento4 páginasO Livre ArbítriopcfiuzalimaAinda não há avaliações
- Planejador Bora Organizar - Larissa Sassi - Agosto de 2021Documento5 páginasPlanejador Bora Organizar - Larissa Sassi - Agosto de 2021Claudia MinaAinda não há avaliações
- Uma Virgem para Lorde Black (Er - Islay RodriguesDocumento363 páginasUma Virgem para Lorde Black (Er - Islay RodriguesLí SilvaAinda não há avaliações
- O Bom Pai e Os Maus FilhosDocumento4 páginasO Bom Pai e Os Maus Filhosraquel luzAinda não há avaliações
- 11Documento2 páginas11Diego CiênciaAinda não há avaliações
- Sonhos - Helena Petrovna BlavatskyDocumento19 páginasSonhos - Helena Petrovna Blavatsky777AprendizAinda não há avaliações
- 2.26 Versao Finalizada-Transporte Distribuicao 29-04-15Documento60 páginas2.26 Versao Finalizada-Transporte Distribuicao 29-04-15nuncafalhaAinda não há avaliações
- Apostila Tiro DefensivoDocumento40 páginasApostila Tiro DefensivoIsaacpontes100% (2)
- 19.10 Dialogos Ed10 - Web PDFDocumento72 páginas19.10 Dialogos Ed10 - Web PDFbrendaAinda não há avaliações
- Condutas NutricionaisDocumento10 páginasCondutas NutricionaisKelli MajorAinda não há avaliações
- Ficha de Aferição Da LeituraDocumento4 páginasFicha de Aferição Da LeituraDavid Carpinteiro100% (2)
- Deus em EspinozaDocumento2 páginasDeus em EspinozaigorandradeytAinda não há avaliações
- Izabel CavalletDocumento82 páginasIzabel CavalletCarmen Lidia KollenzAinda não há avaliações
- Seminário de Parasitologia - Teníase e Cisticercose - SarahDocumento19 páginasSeminário de Parasitologia - Teníase e Cisticercose - SarahSarah Marjorie100% (1)
- Dark Souls RPGDocumento18 páginasDark Souls RPGIZANAGI YTAinda não há avaliações
- As Parábolas de Jesus para Crianças Livro para ColorirDocumento19 páginasAs Parábolas de Jesus para Crianças Livro para Colorirsouzawellinton026Ainda não há avaliações
- Dietas Com Diferentes Fontes de Fibra para Genatipos OvinosDocumento166 páginasDietas Com Diferentes Fontes de Fibra para Genatipos OvinosRodrigo VolpatoAinda não há avaliações
- Pannar MIlhoDocumento4 páginasPannar MIlhoZidilson NeloAinda não há avaliações
- O Anatomista (Revista) PDFDocumento81 páginasO Anatomista (Revista) PDFRhiannonDangelo100% (1)
- HINOS para ConjuntoDocumento92 páginasHINOS para ConjuntoMony Vasc VascAinda não há avaliações
- História dos Testes Psicológicos: Origens e TransformaçõesNo EverandHistória dos Testes Psicológicos: Origens e TransformaçõesAinda não há avaliações
- 21 dias para curar sua vida: Amando a si mesmo trabalhando com o espelhoNo Everand21 dias para curar sua vida: Amando a si mesmo trabalhando com o espelhoNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (57)
- O homem é aquilo que ele pensa: Saúde, Felicidade e Abundância Através do Domínio do pensamentoNo EverandO homem é aquilo que ele pensa: Saúde, Felicidade e Abundância Através do Domínio do pensamentoNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (16)
- Limite zero: O sistema havaiano secreto para prosperidade, saúde, paz, e mais aindaNo EverandLimite zero: O sistema havaiano secreto para prosperidade, saúde, paz, e mais aindaNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (21)
- Pense Como Um Gênio: Os Sete Passos Para Encontrar Soluções Brilhantes Para Problemas ComunsNo EverandPense Como Um Gênio: Os Sete Passos Para Encontrar Soluções Brilhantes Para Problemas ComunsNota: 4 de 5 estrelas4/5 (27)
- Carnavais, malandros e heróis: Para uma sociologia do dilema brasileiroNo EverandCarnavais, malandros e heróis: Para uma sociologia do dilema brasileiroNota: 4 de 5 estrelas4/5 (1)
- Pensamento Positivo: a arte de transformar seu pensamento negativo em positivoNo EverandPensamento Positivo: a arte de transformar seu pensamento negativo em positivoAinda não há avaliações
- Sincronicidade e entrelaçamento quântico. Campos de força. Não-localidade. Percepções extra-sensoriais. As surpreendentes propriedades da física quântica.No EverandSincronicidade e entrelaçamento quântico. Campos de força. Não-localidade. Percepções extra-sensoriais. As surpreendentes propriedades da física quântica.Nota: 5 de 5 estrelas5/5 (5)
- Poder e Alta Performance: O manual prático para reprogramar seus hábitos e promover mudanças profundas em sua vidaNo EverandPoder e Alta Performance: O manual prático para reprogramar seus hábitos e promover mudanças profundas em sua vidaNota: 2.5 de 5 estrelas2.5/5 (9)
- Bíblia sagrada King James atualizada: KJA 400 anosNo EverandBíblia sagrada King James atualizada: KJA 400 anosComitê de tradução KJANota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (18)
- Análise do Comportamento Aplicada ao Transtorno do Espectro AutistaNo EverandAnálise do Comportamento Aplicada ao Transtorno do Espectro AutistaNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (13)
- Superando o Ciúme Retroativo: Um Guia Para Superar el Passado da Sua Parceira e Encontrar a PazNo EverandSuperando o Ciúme Retroativo: Um Guia Para Superar el Passado da Sua Parceira e Encontrar a PazNota: 5 de 5 estrelas5/5 (7)
- Contos que curam: Oficinas de educação emocional por meio de contosNo EverandContos que curam: Oficinas de educação emocional por meio de contosNota: 5 de 5 estrelas5/5 (8)
- Nutrição Aplicada ao Esporte: Estrategias nutricionais que favorecem o desempenho em diferentes modalidadesNo EverandNutrição Aplicada ao Esporte: Estrategias nutricionais que favorecem o desempenho em diferentes modalidadesNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- Mulher do reino: Seu propósito, seu poder e suas possibilidadesNo EverandMulher do reino: Seu propósito, seu poder e suas possibilidadesNota: 5 de 5 estrelas5/5 (6)
- História das religiões: Perspectiva histórico-comparativaNo EverandHistória das religiões: Perspectiva histórico-comparativaAinda não há avaliações
- Inteligência do carisma: A nova ciência por trás do poder de atrair e influenciarNo EverandInteligência do carisma: A nova ciência por trás do poder de atrair e influenciarNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (9)
- Piaget, Vigotski, Wallon: Teorias psicogenéticas em discussãoNo EverandPiaget, Vigotski, Wallon: Teorias psicogenéticas em discussãoNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (21)
- Guia Completo das Terapias Alternativas: Métodos terapêuticos naturais que proporcionam saúde integralNo EverandGuia Completo das Terapias Alternativas: Métodos terapêuticos naturais que proporcionam saúde integralNota: 4 de 5 estrelas4/5 (15)
- NIKOLA TESLA: Minhas Invenções - AutobiografiaNo EverandNIKOLA TESLA: Minhas Invenções - AutobiografiaNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (15)
- Tudo tem uma explicação: A biologia por trás de tudo aquilo que você nunca imaginouNo EverandTudo tem uma explicação: A biologia por trás de tudo aquilo que você nunca imaginouNota: 4 de 5 estrelas4/5 (5)