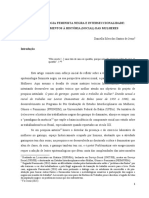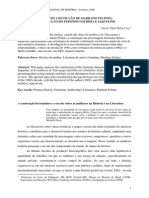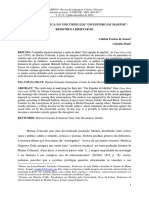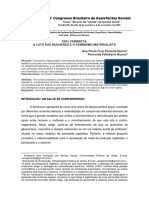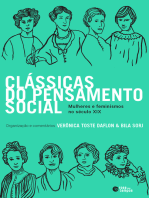Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Fichar - História Das Mulheres Ciro Flamariom Cardoso & Ronaldo Vainfas-Dominios Da História (PDF) (Rev)
Enviado por
calu24020 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
10 visualizações31 páginasFichamento
Título original
Fichar - história das mulheres; Ciro Flamariom Cardoso & Ronaldo Vainfas-Dominios da História (pdf)(rev)
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoFichamento
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
10 visualizações31 páginasFichar - História Das Mulheres Ciro Flamariom Cardoso & Ronaldo Vainfas-Dominios Da História (PDF) (Rev)
Enviado por
calu2402Fichamento
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 31
12
HISTÓ RIA DAS MULHERES
Rachel Soihet
Mulheres como objeto da histó ria
P arafraseando Lucien Febvre — para quem o conhecimento
histó rico deve ter como referê ncia “os homens, nunca o
Homem” — torna-se inadequado falar-se, hoje, em uma “histó ria
da mulher”. Diversas em sua condiçã o social, etnia, raça, crenças
religiosas, enfim, na sua trajetó ria marcada por inú meras
diferenças, cabe, portanto, abordar-se a “histó ria das mulheres”. A
grande reviravolta da histó ria nas ú ltimas dé cadas, debruçando-se
sobre temá ticas e grupos sociais até entã o excluídos do seu
interesse, contribui para o desenvolvimento de estudos sobre as
mulheres. Fundamental, neste particular, é o vulto assumido pela
histó ria cultural, preocupada com as identidades coletivas de uma
ampla variedade de grupos sociais: os operá rios, camponeses,
escravos, as pessoas comuns. Pluralizam-se os objetos da
investigaçã o histó rica, e, nesse bojo, as mulheres sã o alçadas à
condiçã o de objeto e sujeito da histó ria.
Ainda que escassos, alguns historiadores chegam, antes da
citada reviravolta, a desenvolver estudos sobre as mulheres.
Michelet deté m-se nesse tipo de enfoque, realçando, de forma
coerente com o pensamento dominante no seu tempo, a
identificaçã o deste sexo com a esfera privada. Na medida, poré m,
em que a mulher aspire à atuaçã o no â mbito pú blico, usurpando
os papé is masculinos, transmuta-se em força do mal e da
infelicidade, dando lugar ao desequilíbrio da histó ria. Respeitada,
poré m, a identificaçã o mulher natureza, em oposiçã o à quela de
homem cultura, Michelet vê na relaçã o dos sexos um dos motores
da histó ria.1
A histó ria positivista, a partir de fins do sé culo XIX, provoca
um recuo nessa temá tica, em funçã o de seu exclusivo interesse
pela histó ria política e pelo domínio pú blico. Privilegiam-se as
fontes administrativas, diplomá ticas e militares, nas quais as
mulheres pouco aparecem.
A Escola dos Annales, por sua vez, busca desvencilhar a
historiografia de idealidades abstratas, preferindo voltar-se para a
histó ria de seres vivos, concretos, e à trama de seu cotidiano, em
vez de se ater a uma racionalidade universal. Embora as mulheres
nã o fossem logo incorporadas à historiografia pelos Annales, estes,
poré m, contribuem para que isto se concretize num futuro
pró ximo. O marxismo considera a problemá tica que divide
homens e mulheres uma contradiçã o secundá ria, que encontrará
resoluçã o com o fim da contradiçã o principal: a instauraçã o da
sociedade sem classes com a mudança do modo de produçã o. Nã o
se justifica, portanto, uma atençã o especial do historiador para a
questã o feminina. A partir da dé cada de 1960, correntes
revisionistas marxistas, engajadas no movimento da histó ria
social, apresentam uma postura diversa ao assumirem como
objeto de estudo os grupos ultrapassados pela histó ria, as massas
populares sem um nível significativo de organizaçã o, e, també m,
as mulheres do povo.2
O desenvolvimento de novos campos como a histó ria das
mentalidades e a histó ria cultural reforça o avanço na abordagem
do feminino. Apó iam-se em outras disciplinas — tais como a
literatura, a lingü ística, a psicaná lise, e, principalmente, a
antropologia — com o intuito de desvendar as diversas dimensõ es
desse objeto. Assim, a interdisciplinaridade, uma prá tica
enfatizada nos ú ltimos tempos pelos profissionais da histó ria,
assume importâ ncia crescente nos estudos sobre as mulheres.3
A onda do movimento feminista, ocorrida a partir dos anos
60, contribuiu, ainda mais, para o surgimento da histó ria das
mulheres. Nos Estados Unidos, onde se desencadeou o referido
movimento, bem como em outras partes do mundo nas quais este
se apresentou, as reivindicaçõ es das mulheres provocaram uma
forte demanda de informaçõ es, pelos estudantes, sobre as
questõ es que estavam sendo discutidas. Ao mesmo tempo,
docentes mobilizaram-se, propondo a instauraçã o de cursos nas
universidades dedicados ao estudo das mulheres. Como resultado
dessa pressã o, criaram-se nas universidades francesas, a partir de
1973, cursos, coló quios e grupos de reflexã o, surgindo um boletim
de expressã o focalizando o novo objeto: Penélope. Cahiers pour
l’histoire des femmes. Multiplicaram-se as pesquisas, tornando-se
a histó ria das mulheres, dessa forma, um campo relativamente
reconhecido em nível institucional. Na Inglaterra, reuniram-se os
historiadores das mulheres em torno da History Workshop e, nos
Estados Unidos, desenvolveram-se os Women’s Studies, surgindo
as revistas Signs e Feminist Studies.4
Tais estudos estenderam-se, ainda nos anos 70, a outras
partes da Europa e do mundo, incluindo o Brasil. Esse
reconhecimento, no entanto, ainda é frá gil, nã o se podendo
afirmar que as relaçõ es entre os sexos sejam vistas como uma
questã o fundamental da histó ria.
Questõ es teó rico-metodoló gicas
A emergê ncia da histó ria das mulheres como um campo de
estudo nã o só acompanhou as campanhas feministas para a
melhoria das condiçõ es profissionais, como envolveu a expansã o
dos limites da histó ria. No artigo citado, Joan Scott enfatiza a
importâ ncia das contribuiçõ es recíprocas entre a histó ria das
mulheres e o movimento feminista. Os historiadores sociais, por
exemplo, supuseram as “mulheres” como uma categoria
homogê nea; eram pessoas biologicamente femininas que se
moviam em contextos e papé is diferentes, mas cuja essê ncia,
enquanto mulher, nã o se alterava. Essa leitura contribuiu para o
discurso da identidade coletiva que favoreceu o movimento das
mulheres na dé cada de 1970. Firmou-se o antagonismo homem
versus mulher que favoreceu uma mobilizaçã o política importante
e disseminada.
Já no final da dé cada, poré m, tensõ es se instauraram, quer
no interior da disciplina, quer no movimento político. Essas
tensõ es teriam se combinado para questionar a viabilidade da
categoria das “mulheres” e para introduzir a “diferença” como um
problema a ser analisado. A fragmentaçã o de uma idé ia universal
de “mulheres” por classe, raça, etnia e sexualidade associava-se a
diferenças políticas sé rias no seio do movimento feminista. Assim,
de uma postura inicial em que se acreditava na possível
identidade ú nica entre as mulheres, passou-se a uma outra em
que se firmou a certeza na existê ncia de mú ltiplas identidades.
Scott acentua, ainda, que o enfoque na diferença desnudou
a contradiçã o flagrante da histó ria das mulheres com os
pressupostos da corrente historiográ fica polarizada para um
sujeito humano universal. Assim, as especificidades reveladas pelo
estudo histó rico desses segmentos demonstravam que o sujeito da
histó ria nã o era uma figura universal. Dessa forma, os estudos
sobre as mulheres dã o lugar à derrocada daqueles pressupostos
que norteavam as ciê ncias humanas no passado.
Um outro aspecto a ser ressaltado refere-se ao predomínio
de imagens que atribuíam à s mulheres os papé is de vítima ou de
rebelde. De acordo com Mary Nash, o debate em torno da opressã o
da mulher e seu papel na histó ria teria se inaugurado na dé cada
de 1940, por iniciativa da historiadora norte-americana Mary
Beard, que, na sua obra Woman as force in history, aborda a
questã o da marginalizaçã o da mulher nos estudos histó ricos.
Beard atribui as escassas referê ncias à mulher ao fato de a grande
maioria dos historiadores, sendo homens, ignorarem-na
sistematicamente. Esse argumento provocou uma ré plica do
historiador J.M. Hexter, para quem a ausê ncia das mulheres deve-
se ao fato de elas nã o terem participado dos grandes
acontecimentos políticos e sociais. Simone de Beauvoir em sua
pioneira obra, O segundo sexo, assume postura similar à de
Hexter, ao argumentar que a mulher, ao viver em funçã o do outro,
nã o tem projeto de vida pró pria; atuando a serviço do patriarcado,
sujeitando-se ao protagonista e agente da histó ria: o homem.5
Até a dé cada de 1970, muito se discutiu acerca da
passividade da mulher, frente à sua opressã o, ou da sua reaçã o
apenas como resposta à s restriçõ es de uma sociedade patriarcal.
Em oposiçã o à histó ria “miserabilista” — na qual se sucedem
“mulheres espancadas, enganadas, humilhadas, violentadas, sub-
remuneradas, abandonadas, loucas e enfermas...” — emerge a
mulher rebelde. Viva e ativa, sempre tramando, imaginando mil
astú cias para burlar as proibiçõ es, a fim de atingir os seus
propó sitos.
Surge daí a importâ ncia de enfoques que permitam superar
a dicotomia entre a vitimizaçã o ou os sucessos femininos, buscando-
se visualizar toda a complexidade de sua atuaçã o. Assim, torna-se
fundamental uma ampliaçã o das concepçõ es habituais de poder —
para o que cabe lembrar a importâ ncia das contribuiçõ es de Michel
Foucault. Hoje é praticamente consensual a recomendaçã o de uma
revisã o dos recursos metodoló gicos e a ampliaçã o dos campos de
investigaçã o histó rica, atravé s do tratamento das esferas em que há
maior evidê ncia da participaçã o feminina, abarcando as diversas
dimensõ es da sua experiê ncia histó rica. Tais recomendaçõ es
convergem para a necessidade de se focalizar as relaçõ es entre os
sexos e a categoria de gê nero.
A questã o do gê nero
Gê nero tem sido, desde a dé cada de 1970, o termo usado
para teorizar a questã o da diferença sexual. Foi inicialmente
utilizado pelas feministas americanas que queriam insistir no
cará ter fundamentalmente social das distinçõ es baseadas no sexo.
A palavra indica uma rejeiçã o ao determinismo bioló gico implícito
no uso de termos como “sexo” ou “diferença sexual”. O gê nero se
torna, inclusive, uma maneira de indicar as “construçõ es sociais”
— a criaçã o inteiramente social das idé ias sobre os papé is
pró prios aos homens e à s mulheres. O “gê nero” sublinha també m
o aspecto relacional entre as mulheres e os homens, ou seja, que
nenhuma compreensã o de qualquer um dos dois pode existir
atravé s de um estudo que os considere totalmente em separado.
Vale frisar que esse termo foi proposto por aqueles que defendiam
que a pesquisa sobre as mulheres transformaria
fundamentalmente os paradigmas da disciplina; acrescentaria nã o
só novos temas, como també m iria impor uma reavaliaçã o crítica
das premissas e crité rios do trabalho científico existente. Tal
metodologia implicaria nã o apenas “uma nova histó ria das
mulheres, mas uma nova histó ria”.6
A maneira como esta nova histó ria iria incluir e apresentar a
experiê ncia das mulheres dependeria da maneira como o gê nero
poderia ser desenvolvido como uma categoria de aná lise. Tornam-
se explícitas as preocupaçõ es de articular o gê nero com a classe e
a raça. O interesse por estas categorias assinala nã o apenas o
compromisso do historiador com uma histó ria que inclua a fala
dos oprimidos, mas també m que esses pesquisadores consideram
que as desigualdades de poder se organizam, no mínimo,
conforme estes trê s eixos.
Um outro aspecto que se ressalta dos estudos sobre gê nero
reside na rejeiçã o ao cará ter fixo e permanente da oposiçã o biná ria
— masculino versus feminino — que, por tanto tempo, alimentou
as demandas feministas. Para isso, enfatiza-se a importâ ncia de
uma desconstruçã o autê ntica, nos termos de Jacques Derrida;
revertendo-se e deslocando-se a construçã o hierá rquica, em lugar
de aceitá -la como ó bvia ou como estando na natureza das coisas
— antevendo-se para o futuro a transcendê ncia dessa dualidade
cultural.
Dentre os historiadores que frisam a necessidade de se
ultrapassar os usos descritivos do gê nero, buscando-se a
utilizaçã o de formulaçõ es teó ricas, destaca-se a já citada Joan
Scott, que tece uma sé rie de consideraçõ es a respeito. Argumenta
que, no seu uso descritivo, o gê nero é , apenas, um conceito
associado ao estudo das coisas relativas à s mulheres, mas nã o
tem a força de aná lise suficiente para interrogar e mudar os
paradigmas histó ricos existentes. Já Maria Odila da Silva Dias
discorda da necessidade da construçã o imediata de uma teoria
feminista, pois, a seu ver, mais cabe ao pensamento feminista
destruir parâ metros herdados, do que construir marcos teó ricos
muito nítidos. Assim, para melhor integrar a experiê ncia das
mulheres em sociedade, sugere partir de conceitos provisó rios e
assumir abordagens teó ricas parciais, pois, segundo a mesma, o
saber teó rico implica també m um sistema de dominaçã o.7
Pretendendo fazer uma histó ria de gê nero temos a obra A
história das mulheres no Ocidente, surgida em fins de 1991, sob a
direçã o de Georges Duby e Michelle Perrot, que busca incorporar
muitas das inovaçõ es apresentadas. A obra cobre o período que
vai desde a Antigü idade até nossos dias, assumindo os autores a
periodizaçã o habitual da histó ria ocidental. Os autores, apó s
afirmarem ser esta prá tica a ú nica possível, questionaram, poré m,
a sua pertinê ncia conceitual; ou seja, se aos principais marcos da
histó rica tradicional — como o Renascimento, a Reforma, as
guerras mundiais — correspondem os acontecimentos decisivos
na histó ria das mulheres e das relaçõ es entre os sexos. Ao que
responde negativamente Silva Dias, uma das críticas de tal
postura. Considera insensatas obras de histó ria universal das
mulheres, alegando que a adoçã o da moldura da histó ria
evolutiva, linear, implica a incorporaçã o de categorias de
dominaçã o que a crítica feminista pretende neutralizar e a
historiografia contemporâ nea já abandonou.8
Mulheres numa perspectiva micro-histó rica: alguns
enfoques
O desenvolvimento da histó ria das mulheres, articulado à s
inovaçõ es no pró prio terreno da historiografia, tem dado lugar à
pesquisa de inú meros temas. Nã o mais apenas focalizam-se as
mulheres no exercício do trabalho, da política, no terreno da
educaçã o, ou dos direitos civis, mas també m introduzem-se novos
temas na aná lise, como a família, a maternidade, os gestos, os
sentimentos, a sexualidade e o corpo, entre outros. Serã o
analisadas a seguir as principais contribuiçõ es historiográ ficas
relativas a algumas dessas temá ticas.
Ação e luta das mulheres
No tocante à s pesquisas sobre a açã o e luta das mulheres,
configuram-se duas vertentes. Uma preocupada com os
movimentos organizados com vistas à conquista de direitos de
cidadania — os movimentos feministas — e a outra com
manifestaçõ es informais que se expressam em diferentes formas
de intervençã o e atuaçã o femininas.
O primeiro caso mereceu espaço nas abordagens iniciais
relativas à s mulheres. Em geral, apresentam-se como uma
histó ria das mulheres notá veis, atravé s de uma abordagem
biográ fica. Numa perspectiva positivista, focalizam-se algumas
mulheres excepcionais que se destacam no campo da política, da
cultura e da religiã o. É este o mé todo utilizado pelas feministas do
sé culo XIX em suas revistas e diversos dicioná rios. Buscam
apresentar modelos femininos alternativos à imagem do
tradicional feminino — passivo, fú til, sem maior iniciativa. A
feminista alemã Louise Otto, no prefá cio de sua obra
Einflussereiche Frauen aus dem Volke (Mulheres influentes do
povo), publicada em 1869, critica os crité rios de seleçã o dos
bió grafos masculinos de seus sujeitos femininos. Fazem-no,
segundo ela, nã o por sua açã o consciente e refletida, mas pelos
laços que as uniam aos grandes homens, seja pelo nascimento
seja pela beleza. Em contraponto a esta postura, dispõ e-se a
apresentar mulheres que nã o tiveram necessidade desses
atributos para se destacarem — apesar das circunstâ ncias
desfavorá veis que excluíam o sexo feminino das atividades
pú blicas, das quais contudo participaram em sua é poca.
Eleni Varikas assinala que a funçã o dessas biografias,
mesmo que nã o explicitada, foi a de provar a capacidade feminina,
idê ntica à masculina, de fazer a histó ria, de construir a civilizaçã o.
Segundo ela, isto nã o implicou, poré m, um questionamento dessa
forma de “fazer histó ria”. Donde reproduzem a definiçã o é pica da
histó ria, opondo aos feitos dos homens à queles das mulheres. Por
outro lado, aponta aspectos positivos nessas iniciativas das
mulheres, decorrentes de uma tentativa de subversã o subterrâ nea
dos modelos recebidos, o que sugere a busca de outros valores,
alé m de se constituírem numa arma na defesa do gê nero contra as
tradiçõ es misó ginas. E, hoje, quando a biografia tem despertado
interesse crescente, tem surgido obras desse tipo, buscando
compreender o condicionamento social e sexual das mulheres
focalizadas e a interaçã o entre sua vida pú blica e privada. Por
exemplo, certas biografias sobre Mary Woolstonecraft, autora da
primeira denú ncia sistemá tica das condiçõ es de subordinaçã o
feminina, condizem com esta perspectiva.9
Num outro tipo de abordagem, destacam-se aquelas obras
que creditam especial atençã o ao momento da Revoluçã o
Francesa, quando as mulheres se vê em despojadas da cidadania
por uma ordem que ajudaram a fundar. As reivindicaçõ es se
mantê m latentes, manifestando-se em outros momentos críticos
da histó ria francesa, quando vislumbram a possibilidade de
brechas no sistema de poder. No tocante aos movimentos
feministas da virada do sé culo, alguns autores ressaltam o seu
moralismo, a diversidade de correntes, suas aspiraçõ es em torno
da igualdade de direitos, e, em especial, do voto.10
Um aspecto original dos movimentos de mulheres nesse
período é tratado por Gisela Bock, que analisa seu papel no
estabelecimento dos Estados-providê ncia ou welfare states, fato
ignorado nos estudos sobre o assunto. Assim, alé m das
reivindicaçõ es relativas aos direitos políticos, esses movimentos
feministas reivindicariam, com ê nfase, os direitos sociais e a
proteçã o social, especialmente no que tange à s mã es e à
maternidade. Uma preocupaçã o essencial desses movimentos
recaiu sobre as necessidades e interesses das mulheres das
classes inferiores e sobre a pobreza feminina. Reivindicam o
direito das mã es a uma renda, opondo-se à coexistê ncia entre
maternidade e emprego, ao menos, durante a gravidez e primeiros
anos da criança. A partir da dé cada de 1960, continua Bock, as
feministas nã o retomaram essa bandeira, que se revelou
enganosa. Hoje, a libertaçã o, a justiça e a igualdade sã o pensadas
mais em termos de uma açã o positiva no domínio profissional e da
divisã o das tarefas domé sticas com os homens, do que com o
“reconhecimento pú blico da maternidade como funçã o social”.11
O movimento liderado pela dra. Bertha Lutz no Brasil, nas
dé cadas de 1920 e 1930, foi objeto de alguns estudos. O referido
movimento, que examino em trabalho anterior, teve como alvo o
acesso das mulheres à cidadania plena e, apesar de limitaçõ es,
comuns aos demais movimentos feministas da é poca, algumas de
suas propostas, como a dos direitos civis, só recentemente vê m
sendo implementadas. Branca Moreira Alves, igualmente, focaliza-
o em estudo de 1980, e, instigada pelo movimento em que militava
na dé cada de 1970, enfatiza o cará ter conservador do movimento
liderado por Lutz, pelo mesmo nã o questionar a opressã o da
mulher no seio da família. No tocante à luta empreendida pela
conquista do voto, considera que este só foi concedido “quando
assim interessou à classe dominante”.12
Uma outra contribuiçã o à histó ria do feminismo no Brasil
deve-se a Miriam L. Moreira Leite que elabora uma biografia sobre
Maria Lacerda de Moura, abrangendo o período 1919-1937. A
pesquisadora ressalta as reflexõ es de Lacerda de Moura sobre os
diversos aspectos da condiçã o feminina, assim como suas
avançadas posiçõ es, similares em muitos aspectos à s das
feministas a partir da dé cada de 1960. Tal aspecto, aliado ao seu
aguçado espírito crítico, manteve-a numa posiçã o algo marginal,
afastando-se do movimento hegemô nico na é poca, liderado por
Lutz.13
No tocante à atuaçã o informal das mulheres, a segunda
vertente de nossa aná lise, destacam-se as abordagens posteriores
à irrupçã o da histó ria social e da histó ria cultural — quando
alguns historiadores se voltaram para o enfoque do cotidiano e de
manifestaçõ es no plano pú blico até entã o desconsideradas. Nesse
particular, ressalta o pioneirismo de abordagens como as de
Natalie Zemon Davis, Michelle Perrot e Arlette Farge que, em seus
trabalhos, tê m buscado desmitificar concepçõ es veiculadas sobre
a mulher como submissa, dó cil, mostrando as atitudes de
resistê ncias por estas desenvolvidas em seu duro cotidiano. Davis,
estudando o sé culo XVI, assinala habilmente a capacidade de
grupos aparentemente destituídos de poder em forjar autoridade
dentro das brechas existentes. Mostra como as mulheres tiravam
proveito das imagens de fraqueza e histeria que lhes eram
atribuídas para ampliar seu poder e liberdade na família e em
diferentes situaçõ es comunitá rias. Seguindo uma pista assinalada
por E.P. Thompson, acerca da liderança feminina nos motins de
alimentos, outros historiadores sugerem, igualmente, que a
atuaçã o das mulheres lhes teria conferido uma base de poder na
comunidade.14
Focalizando as mulheres da classe trabalhadora francesa, no
sé culo XIX, mostra Perrot o papel por elas desempenhado nos
motins, nos quais intervinham coletivamente. Suas intervençõ es
assemelhavam-se aos “charivaris”, em que as mulheres, aliadas
aos marginais, estavam na vanguarda e aos gritos, batendo
panelas e caldeirõ es protagonizavam ruidosas aglomeraçõ es.15 No
Brasil, alguns estudos buscam exumar as formas sub-reptícias
assumidas pelas mulheres, face à opressã o que sobre elas incidia.
Nessa perspectiva destaca-se o estudo de Silva Dias, Cotidiano e
poder em S. Paulo no século XIX, no qual procura reconstruir a
histó ria das mulheres que aí viviam, durante o incipiente processo
de urbanizaçã o do período. Alerta que, embora institucionalmente
informal e socialmente pouco valorizada, sua presença era
ostensiva na cidade. Igualmente, no meu trabalho Condição
feminina e formas de violência. Mulheres pobres e ordem urbana,
sã o inú meras as situaçõ es apresentadas nas quais se evidenciam
as iniciativas e estraté gias de resistê ncia das mulheres pobres no
Rio de Janeiro, entre 1890 e 1920. Um outro estudo na mesma
linha é o de Mô nica Pimenta Velloso sobre as mulheres negras de
origem baiana que se estabeleceram, com seus conterrâ neos, no
Rio de Janeiro nos fins do sé culo XIX e início do XX. Líderes de
suas comunidades — numa inversã o do esquema dominante que
atribuía ao homem este papel — recorrendo a inú meras
estraté gias para garantir a sobrevivê ncia de seu grupo e de sua
cultura, terminaram por fazer sentir sua influê ncia també m entre
os dominantes, como é o caso do carnaval.16
Nesse espaço cabe mençã o à s “visioná rias”, mulheres de
origem humilde, que se sobressaíram enfrentando a intolerâ ncia
reinante em seu tempo, à s vezes ao preço de sua pró pria vida. Sã o
abordadas pelos historiadores Laura de Mello e Souza e Luiz Mott.
Mello e Souza focaliza beatas portuguesas nos sé culos XVI e XVII,
que associavam ao misticismo, pró prio de sua é poca,
características da cultura popular. Os inquisidores, homens
imersos em outras coordenadas culturais, nã o apenas lhes
negaram a santidade, como també m reservaram-lhes um desfecho
trá gico, ao identificarem-nas à s bruxas. Já Luiz Mott deteve-se na
rica trajetó ria da visioná ria Rosa Egipcíaca. De origem africana,
esta veio para o Brasil em 1725 com seis anos, onde fez-se
escrava, mais tarde prostituta e, por força de suas visõ es místicas,
tornou-se beata. Dominando a leitura e a escrita — fato raro entre
as mulheres de sua é poca — fundou no Rio de Janeiro o
Recolhimento de Nossa Senhora do Parto. Seus devotos nã o se
limitaram aos populares, mas incluíram, també m, membros da
elite; chegou a ser exaltada pelo alto clero do Brasil, que a nomeou
“a maior santa do cé u”. A interpenetraçã o cultural era sua tô nica.
Rezava em latim, sabendo cantar comoventes hinos litú rgicos,
embora nã o dispensasse seu cachimbo. Igualmente, nã o poucas
vezes louvava seu Divino Esposo, Jesus Cristo, dançando ao ritmo
do batuque. Terminou por atrair o braço da Inquisiçã o, sendo
presa e enviada para Lisboa.17
També m importa lembrar as mulheres reclusas em
conventos e recolhimentos que conseguiram reverter alguns dos
propó sitos punitivos e supostamente opressivos destas
instituiçõ es. Nã o poucas perceberam que ali se desenhava a
possibilidade de uma vida autô noma, frente aos rigores da família
e da sociedade, inclusive permitindo o exercício do poder.
Inú meras foram aquelas que, a fim de expressar sua devoçã o,
enfrentavam a oposiçã o da política metropolitana ao
enclausuramento de mulheres, preocupada com a questã o do
povoamento. Os trabalhos de Susan Soeiro e de Leila Mezan
Algranti pautam-se nesta linha.18
Mulheres e trabalho
Os efeitos da industrializaçã o e da modernizaçã o, no que
tange ao trabalho das mulheres, tê m sido amplamente discutidos,
assumindo um vulto significativo na historiografia anglo-saxô nia.
Uma importante contribuiçã o nesse particular decorreu das
pesquisas de J. Scott e Louise A. Tilly, presentes no seu clá ssico
trabalho “Women’s Work and the Family in Nineteenth Century
Europe”. As autoras criticam as posturas evolucionistas que
assumem a existê ncia de uma ú nica e similar experiê ncia para
todas as mulheres, assim como as concepçõ es mecanicistas,
segundo as quais a mudança numa esfera corresponderia,
necessariamente, à mudança nas demais. Referem-se
especificamente aos trabalhos de Engels e William Goode,
alinhados, respectivamente, com o marxismo e o liberalismo.19
Criticam o economicismo de Engels, quando este afirma que
a inserçã o feminina na indú stria moderna libertaria a mulher
trabalhadora da opressã o familiar, argumentando que às
mulheres excluídas de participaçã o na produçã o social restaria o
papel de servas do lar. Quanto a Goode, contrapõ em-se ao seu
otimismo — presente nas suas afirmaçõ es acerca do status
elevado da mulher ocidental nos dias de hoje, devido à sua grande
participaçã o no trabalho fora do lar. Scott e Tilly lembram que as
concepçõ es de Goode representam uma universalizaçã o das
experiê ncias e valores específicos da classe mé dia. As mulheres
dos segmentos populares sempre trabalharam, tanto na cidade
como no campo.
Tais crenças de que as mulheres nã o trabalhavam, ou de
que o trabalho pesado nã o era pró prio do sexo feminino, foram
pró prias do período vitoriano, momento de supervalorizaçã o da
esfera pú blica. Pautavam-se tais estereó tipos na invisibilidade
atribuída ao trabalho domé stico e ao cuidado com as crianças,
que apareciam como algo instintivo e emanado do amor. Nos
Estados Unidos, historiadores do trabalho feminino enfatizam a
variedade de trabalhos essenciais e nã o-remunerados realizados
pelas mulheres, tais como o trabalho domé stico, a atividade no
campo, costura, cozinha e a criaçã o de filhos. Muitas adaptaram
ao novo contexto urbano estraté gias rurais de acré scimos à renda
familiar, criando e vendendo galinhas, ovos e vegetais. Faziam o
parto, vigiavam crianças para mulheres que trabalhavam fora de
casa, manufaturavam e vendiam bebidas alcoó licas,
mascateavam, penhoravam e ainda aceitavam pensionistas.
Apesar disso, introjetavam a visã o dominante e nã o reconheciam
suas atividades como trabalho, mesmo quando recebiam
remuneraçã o. Pesquisadoras descobriram que muitas dessas
mulheres respondiam aos censos que nã o trabalhavam.20
No início do sé culo XIX, nas primeiras fá bricas tê xteis, as
mulheres predominavam entre os 4% de norte-americanos que
nelas trabalhavam; mais tarde afastaram-se do trabalho
industrial, ao contrá rio da Europa, onde constituíam a maioria
nas indú strias. Uma forte razã o para o seu afastamento foi a
oposiçã o masculina; quer como maridos, quer como
trabalhadores, buscaram proteger seus privilé gios na chefia da
família e monopolizar os melhores trabalhos. As mulheres
empregadas, apenas 20% em torno de 1900, passaram a atuar,
em sua maior parte, no setor de serviços e de escritó rio. Os
historiadores das mulheres tê m assinalado o papel dos sindicatos
na exclusã o da mulher. Alice Kessler-Harris mostra que muitos
sindicatos funcionaram como clubes masculinos, cujos membros
consideraram que a presença feminina impediria sua liberdade. E
o assé dio sexual, tanto por parte de supervisores quanto dos
colegas de trabalho, constituiu uma sé ria afronta que as mulheres
trabalhadoras tiveram que suportar e que contribuiu para que se
sentissem indesejadas nos “espaços dos homens”. Igualmente, na
França, Madeleine Rebé rioux registra problema similar. Ela
explica o baixo índice de sindicalizaçã o das operá rias, com relaçã o
ao do homens, desde fins do sé culo XIX, nã o apenas devido à
sobrecarga de suas tarefas familiares, mas, principalmente, devido
à hostilidade dos líderes sindicais à sua entrada nessas
entidades.21
No que tange à s mulheres escravas norte-americanas, novas
contribuiçõ es tê m demolido inú meros estereó tipos, como, por
exemplo, o de que estas se acomodavam com mais facilidade à
escravidã o. As pesquisas tê m demonstrado que as mulheres,
sujeitas à s mesmas condiçõ es que o escravo homem em termos de
trabalho pesado e puniçõ es, reagiam de forma idê ntica, tanto em
termos de resistê ncia cotidiana, como de imediata rebeliã o.
Jacqueline Jones e Deborah White detalham o pesado trabalho
requerido da escrava. Alé m dos trabalhos no campo e domé stico
para os senhores, també m delas dependia a vida familiar dos
escravos. Consideram-na a principal responsá vel pela guarda da
cultura africana e, assim, pela preservaçã o da identidade cultural
desses grupos. Diversas acadê micas feministas negras tê m trazido
à tona uma rica histó ria do ativismo político da mulher negra,
começando com o movimento antiescravista e continuando na
campanha pelos direitos civis.22
Na França, os estudos sobre o trabalho feminino
progrediram, de início, em razã o das contribuiçõ es de soció logas
como Madelaine Guilbert e Evelyne Sullerot. Esta ú ltima tomou a
iniciativa de realizar uma histó ria do trabalho feminino, desde a
Antigü idade até nossos dias, buscando trazer à tona as suas
especificidades.23 As historiadoras Anne Martin-Fugier e
Genevieve Fraisse trazem elementos decisivos sobre a condiçã o
das domé sticas, setor fundamental de emprego e de aprendizagem
femininos, peça mestra do contato sociocultural. Domé sticas e
operá rias tê m merecido mais atençã o do que aquelas do setor
terciá rio, embora algumas pesquisas interessantes venham
surgindo neste â mbito. Deve-se ressaltar ultimamente, també m na
França, a preocupaçã o de historiadores e soció logos de nã o
separar o trabalho assalariado do trabalho domé stico.24 Rose
Marie Lagrave desenvolve uma reflexã o acerca da educaçã o e do
trabalho feminino no sé culo XX, na qual assinala a persistê ncia
das mulheres nas posiçõ es mais desvalorizadas. O aumento atual
na taxa de atividade das mulheres em toda a Europa deve-se, em
grande parte, à progressã o de empregos precá rios, como o
trabalho em tempo parcial — o uso do computador na pró pria
residê ncia, por exemplo, é hoje uma dessas modalidades. Estes
trabalhos parciais sã o apresentados como sendo uma escolha,
quando, na verdade, resultaram de um constrangimento que lhes
impede uma profissã o em termos integrais. Um aspecto positivo
desse tipo de aná lise é o de possibilitar a desmitificaçã o das
versõ es de uma histó ria das mulheres calcadas em sua promoçã o
social no sé culo XX.25
També m no Brasil as primeiras abordagens sobre o trabalho
feminino deram-se nos terrenos da sociologia e antropologia. Hoje,
poré m, a historiografia brasileira tem dado mostras de extrema
fecundidade neste campo, assinalando sua presença de modo
marcante. Inclusive, de acordo com tendê ncias mais recentes, o
cotidiano das mulheres dos segmentos populares, no qual o
privado mescla-se com o pú blico, penetrou com ê nfase nestas
abordagens. Como se tem feito com os demais subalternos, busca-
se trazer à tona as tá ticas de sobrevivê ncias e de resistê ncias
desenvolvidas pelas mulheres. Nessa perspectiva destaca-se o
estudo já citado de Maria Odila da Silva Dias, que discorre sobre
mulheres pobres, chefes de família, vivendo precariamente do
trabalho temporá rio em atividades malvistas pelos poderosos,
como o artesanato caseiro e o comé rcio ambulante. A autora
ressalta a luta dessas mulheres pela sobrevivê ncia, em meio a
redes de solidariedade e de vizinhança que se improvisavam e
modificavam continuamente; essenciais frente ao sistema de
poder e à estrutura de dominaçã o que as oprimiam.
Igualmente, no meu citado Condição feminina, busquei
mostrar mulheres que, alé m da sua labuta cotidiana do trabalho
domé stico e do cuidado com os filhos, ainda produziam para o
mercado, em sua maioria, exercendo tarefas extensivas à atividade
domé stica. O trabalho era uma atividade ligada visceralmente à s
referidas mulheres, o que se pode depreender dos instrumentos
por elas utilizados para agredir seus oponentes, de acordo com os
processos criminais consultados: vassoura, copo, tampa de
panela, garfo, ferro de engomar, tesoura, enxada, pá de lixo,
guardiã o de mó vel etc. As diversas modalidades de trabalho das
mulheres pobres em Minas colonial sã o objeto da abordagem de
Luciano Figueiredo. Sandra Lauderdale Grahan, por sua vez, debruça-
se sobre as relaçõ es entre patrõ es e criadas no Rio de Janeiro, de
1860 até 1910. Explica esse relacionamento em termos do
atendimento aos padrõ es das exigê ncias de trabalho e obediê ncia, em
troca de proteçã o. Maria Izilda Santos de Matos examina tais
relaçõ es em Sã o Paulo e Santos, entre 1890 e 1930.
Reconstró i a dura rotina de trabalho dessas mulheres, via de regra
mal remuneradas, e busca apontar as ambigü idades dessa
convivê ncia. Fuga, indolê ncia, mau humor, entre outros, foram
algumas das tá ticas utilizadas para afirmarem sua insatisfaçã o,
intervindo na moldagem cotidiana dessas relaçõ es.
Ainda, Maria Izilda realiza uma aná lise extremamente
acurada e original sobre a costura de sacaria para o café ,
realizada à mã o e na pró pria moradia por mulheres de Sã o Paulo e
Santos, entre 1890 e 1930. Desmitifica a autora as concepçõ es
acerca do cará ter residual desse tipo de atividade, assinalando o
crescimento desse setor informal de forma integrada ao
desenvolvimento capitalista. Embora desse margem à forte
exploraçã o, tal atividade permitia às mulheres uma certa
autonomia, uma das explicaçõ es para sua disponibilidade face à
mesma. Podiam administrar seu tempo e o ritmo do trabalho,
longe dos condicionamentos da fá brica, compatibilizando-os com
as ocupaçõ es familiares e comunitá rias. O que nã o lhes impediu,
contudo, de desenvolver modalidades surdas de resistê ncia e
mesmo de organizar associaçõ es, participando de movimentos
grevistas. Mudanças no sistema produtivo, aliadas à s campanhas
higienistas contrá rias à poluiçã o do espaço domé stico pelos odores
e poeira pró prios do ambiente fabril, teriam contribuído para a
extinçã o dessa modalidade de trabalho.26
No tocante à mulher operá ria, alguns trabalhos se destacam
a partir do pioneirismo de Heleieth Saffioti, em fins da dé cada de
1960, que discorre sobre a marginalizaçã o, com o advento do
capitalismo industrial, de um grande contingente de mulheres do
sistema de produçã o de bens e serviços. O estudo de Alice Rosa
Ribeiro, por seu turno, demonstra a demanda e a presença maciça
de mulheres nas indú strias, ultrapassando a presença masculina,
de 1870 até 1920. Apó s essa data, segundo revela Maria Valé ria
Junho Pena, predomina uma tendê ncia diversa, de expulsã o das
mulheres do mercado de trabalho industrial. Tal tendê ncia,
segundo Margareth Rago, foi acompanhada da vitó ria de
concepçõ es duvidosas que enfatizavam a fragilidade de corpo das
operá rias e os perigos morais que as espreitavam nas fá bricas.
Formulado ao final do sé culo XIX, estes mitos sobre a sexualidade
feminina se mantiveram vigentes até meados da dé cada de 1960.27
Mulheres, família e maternidade
A histó ria da família conta, desde a dé cada de 1970, com
trabalhos significativos, como os de Philippe Ariè s, Jean Louis
Flandrin, Le Roy Ladurie, André Burguiè re e Edward Shorter,
entre outros. Deve-se a estes um melhor conhecimento acerca da
posiçã o da mulher, a partir de novos achados sobre seus papé is
nessa instituiçã o. Via de regra os comportamentos femininos nã o
se amoldavam aos padrõ es normativos. Debates se estabeleceram
sobre as repercussõ es do processo de industrializaçã o,
urbanizaçã o e modernizaçã o na estrutura familiar. A mudança da
família “tradicional”, extensa, típica do período pré -industrial,
para a família nuclear seria a resultante desse processo. Nestes
nú cleos, segundo algumas interpretaçõ es, a participaçã o da
mulher no processo produtivo resultaria num maior igualitarismo
entre o casal.
Edward Shorter é um dos paladinos dessa corrente, ao
afirmar que, desde a primeira revoluçã o industrial, as mulheres
lançaram-se com enorme entusiasmo ao mercado de trabalho. E
seu acesso aos recursos econô micos modificaria, em seu proveito,
a relaçã o de forças no seio da família. Joan Scott e Louise Tilly
contrapõ em-se a Shorter, quanto ao determinismo do capitalismo
na autonomia feminina. Nesse sentido, realçam o papel
desempenhado pelas mulheres na economia familiar pré -
industrial que lhes teria dado grande margem de poder; sendo
tratadas com deferê ncia e tendo preponderante influê ncia nas
questõ es familiares. Por outro lado, mesmo com a
industrializaçã o, a vasta maioria das mulheres nã o teria
trabalhado imediatamente em fá bricas, mas nas costumeiras
tarefas femininas. Posteriormente, a elevaçã o dos padrõ es de vida
e crescentes salá rios teriam capacitado os trabalhadores homens
a sustentar suas famílias. Num movimento inverso ao das
mulheres da burguesia, muitas das trabalhadoras preferiram
manter-se no lar, perdendo o controle sobre as finanças do casal;
ocorrendo, portanto, um retrocesso em relaçã o à sua situaçã o
anterior.28
Outros estudos tê m mostrado que a mudança dos modos de
produçã o nã o determina, automaticamente, uma transformaçã o
nos padrõ es familiares. A instauraçã o do socialismo nã o teria
representado a libertaçã o das mulheres como pensavam Engels e
outros marxistas. Mark Poster refere-se à autonomia relativa da
família em relaçã o à s mudanças econô micas, bem como à
persistê ncia da variá vel “poder” no seio das famílias, mesmo nos
regimes socialistas.29
No seu estudo “La sé paration de corps de 1837 à 1914”,
Schanapper registra que coube à s mulheres a maioria dos pedidos
de separaçã o: cerca de 80%; espancamentos e injú rias eram os
motivos invocados, na maior parte das vezes. També m, com base
em documentaçã o criminal, destaca-se o trabalho de Anne-Marie
Sohn, relativo à família e papé is femininos atravé s da
criminalidade, abrangendo o período final do sé culo XIX até a
dé cada de 1930. Anne Martin-Fugier voltou-se para o estudo da
mulher burguesa em Paris, focalizando seus papé is familiares e
sociais, entre 1880 e 1920.30
No Brasil, devem-se a Gilberto Freyre as primeiras
abordagens sobre a família brasileira. O modelo patriarcal teria se
estendido do início da colonizaçã o até o sé culo XIX. Freyre deté m-
se, minuciosamente, na abordagem dos papé is femininos; as
mulheres brancas sã o dadas como submissas, embora fiquem
evidenciadas manifestaçõ es de seu poder — o que é revelado, por
exemplo, nos maus-tratos infligidos à s escravas suspeitas de
atrair a atençã o de seus maridos. Em que pese as generalizaçõ es
de Freyre, quando assume a família patriarcal como o ú nico
modelo, deve-se acentuar o seu pioneirismo e sensibilidade ao
focalizar questõ es como a sexualidade, o corpo e o cotidiano, só há
pouco objeto do interesse dos historiadores.31
Embora reconhecendo os privilé gios do marido no modelo
patriarcal, pesquisas recentes tê m relativizado a sujeiçã o
feminina, ao trazer à tona algumas de suas rebeldias e
transgressõ es. També m, nã o raro, mulheres assumiam o mando
da casa, gerindo negó cios e propriedades; e entre os segmentos
populares, as mulheres desfrutaram de inequívoca liberdade de
movimentos. Mesmo entre as mulheres casadas, segundo Eni de
Mesquita, nã o poucas foram aquelas que trouxeram situaçõ es de
conflito para o casamento, sugerindo um distanciamento entre a
normatizaçã o e as vivê ncias concretas. Por outro lado, apó s a
dé cada de 1970, estudos demonstraram diversas formas de
organizaçã o familiar entre os diferentes segmentos sociais — no
início do sé culo XIX, por exemplo, a família patriarcal nã o chegava
a representar 26% dos domicílios; predominando nos demais
outras formas de composiçã o. Donald Ramos indica que em Vila
Rica, à s vé speras da Inconfidê ncia, grande parte dos lares eram
chefiados por mulheres; fato igualmente observado por Elizabeth
Kusnetsof em Sã o Paulo, aí devido à freqü ente movimentaçã o da
populaçã o masculina.32
Em se falando de família seria oportuna uma referê ncia aos
trabalhos sobre a maternidade. Uma obra importante é aquela de
Yvone Kniebiejler e Catherine Fourquet, que trata da histó ria das
mã es desde a Idade Mé dia até nossos dias. No Brasil, Mary Del
Priore mostra criativamente como as mulheres na Colô nia
reverteram em seu favor uma limitaçã o que lhes foi imposta pelos
mé dicos e moralistas, com vistas aos interesses do povoamento.
Apenas a casa, a maternidade e a família eram os lugares que
definiam como possíveis para as mulheres. Se, de um lado, as
mulheres obedeceram a este processo de ordenamento da
sociedade colonial, por outro, uniram-se aos filhos, o que lhes
garantiu, alé m do respaldo afetivo e material, o exercício, dentro
de seu lar, de um poder e uma autoridade que raramente
dispunham no restante da vida social.33
A outra face da maternidade, simbolizada nos males
provocados ou na sua recusa, está igualmente presente em alguns
trabalhos. Cabe lembrar, nesse sentido, a lucidez de Simone de
Beauvoir, em fins da dé cada de 1950, em perceber e denunciar os
encargos da veneraçã o generalizada da maternidade. Alerta para
os perigos que espreitam os filhos, a partir das crenças da
exemplaridade de toda mã e, que em sua maioria procura
compensar atravé s destes todas as suas frustraçõ es. Jean Louis
Flandrin, no começo dos anos 80, assinala a presença na Europa,
até o sé culo XVIII, da prá tica do infanticídio. Esta era uma das
formas de as mã es livrarem-se de um bastardo que denunciaria o
seu pecado. Tais ocorrê ncias també m resultavam, em parte, de
razõ es econô micas e do fato de a criança ainda nã o ser objeto de
sacralizaçã o. Tais motivaçõ es concorreriam para formas de
infanticídio disfarçado, presentes no descuido e negligê ncia dos
casais para com os filhos, o que dava ensejo a elevado nú mero de
acidentes e à prá tica do aleitamento mercená rio.34
Uma abordagem original sobre o aborto é a de Angus
McLaren, que vê o aborto, cada vez mais praticado pelas mulheres
casadas em fins do sé culo XIX, como uma forma de feminismo
popular. Era levado a efeito por mulheres que recusavam os
horrores do infanticídio mas que també m se dispunham a reagir
ao peso de nascimentos nã o desejados. Tanto o infanticídio como
o aborto foram focalizados no meu estudo já referido. Examinei o
discurso mé dico de fins de sé culo XIX e início do XX, que exige o
agravamento da pena com relaçã o à quelas que incorriam na
prá tica do infanticídio. As devassas, adú lteras e as intelectuais —
características indesejá veis para as mulheres naquele momento —
eram apontadas como as ú nicas capazes de realizar tal crime.
Analisando os processos criminais, pude verificar que tais
hipó teses mé dicas nã o correspondiam à realidade. A maioria das
mulheres que recorriam ao infanticídio eram recé m-vindas da
á rea rural e empregadas domé sticas. Abandonadas pelos
parceiros, temiam a perda do emprego, ú nica referê ncia na cidade
grande.35
Mulher e sexualidade
Na dé cada do ressurgimento do movimento feminista e da
consolidaçã o da histó ria das mulheres como ramo autô nomo, a
reflexã o de Juliet Mitchell obteve grande repercussã o. No artigo
“Mulheres. A Revoluçã o Mais Longa”, escrito em 1966, Mitchell
afirma que a libertaçã o feminina condicionava-se à transformaçã o
das quatro estruturas em que se integra a mulher: produçã o,
reproduçã o, socializaçã o e sexualidade. Embora ressalte o cará ter
determinante das exigê ncias econô micas, enfatiza a necessidade
de estas serem acompanhadas por políticas coerentes para os
outros trê s elementos. Estas políticas, em conjunturas
particulares, podem até ocupar o papel dominante na açã o
imediata. Naquele momento no Ocidente, o aspecto sexual parecia
constituir o elo mais fraco. A sexualidade feminina, alvo de tabus
e ignorada pelas diversas abordagens, torna-se o centro das
atençõ es. As pesquisas sobre a temá tica assumem maior vulto em
fins da dé cada de 1970, despontando os Estados Unidos na
liderança dessas abordagens.36
Ainda em 1966, naquele país, dentre os estudos sobre os
estereó tipos de feminilidade da classe mé dia no sé culo XIX,
Barbara Welter publicou o trabalho The cult of true womanhood.
Nele relata como ministros e outros moralistas tentaram impor
uma ideologia da “verdadeira feminilidade”, prescrevendo para a
mulher quatro virtudes: piedade, pureza (no seu significado
sexual), domesticidade e submissã o. Segundo Welter a ideologia
teria funcionado, pelo menos entre a classe mé dia urbana, para
definir os limites de respeitabilidade para as mulheres e para
estigmatizar à s que deles se desviassem. Seu artigo provocou
inú meras críticas, principalmente por utilizar literatura normativa
— como, por exemplo, sermõ es — para tirar conclusõ es acerca das
atitudes femininas.37
Vá rias discussõ es ocorreram em torno dos significados da
expressã o True womanhood (verdadeira feminilidade). Uma das
vertentes desse debate centrou-se nos aspectos ligados à
sexualidade feminina Contrapondo-se à afirmaçã o de Welter
acerca da assunçã o pelas mulheres da crença em sua fraca
sensualidade. Tais estudos rejeitam a “naturalizaçã o” atribuída à
sexualidade humana, quer em termos da maior inclinaçã o
masculina para o sexo ou do menor vigor sexual feminino. Na
verdade, concluem pela estreita vinculaçã o da sexualidade com as
normas culturais que a formam.38
Outras pesquisas confirmaram os enganos decorrentes de se
considerar a literatura prescritiva sobre a moral feminina vitoriana
como índice do comportamento sexual feminino. Nesse sentido,
destaca-se o estudo de Carl Degler, que apresenta o relato de um
mé dico sexó logo da virada do sé culo, acerca dos freqü entes
orgasmos de muitas mulheres “vitorianas”. Ressalta-se,
igualmente, o trabalho de Peter Gay, que apresenta testemunhos
femininos de plenitude eró tica com mandos e amantes, algumas
narrando em detalhes suas experiê ncias.39
Dentre os estudos sobre relaçõ es homossexuais femininas,
destaca-se à quele sobre a comunidade lé sbica de Buffalo; tais
mulheres, temendo perseguiçõ es, construíram para si um novo
tipo de comunidade — base do movimento de libertaçã o das
lé sbicas dos anos 70.40 Na historiografia francesa, na qual sã o
mais raros os trabalhos sobre a sexualidade feminina, destaque-se
a abordagem de Marie-Jo Bonnet sobre a lé sbicas. A pesquisadora
utiliza-se de textos literá rios e de prá ticas mé dicas para a aná lise
de atitudes dessa natureza no sé culo XIX.41
O descortínio da intimidade amorosa de mulheres, que
viviam romances homossexuais, na Bahia do sé culo XVI, é objeto
da abordagem de Ligia Bellini, que se pautou na consulta aos
documentos inquisitoriais. Assim, reconstró i o cotidiano das
mulheres da é poca, narrando modos de sentir e de amar no
passado. Deté m-se nos impasses dos moralistas cató licos em
definir tais comportamentos, face ao desconhecimento corrente na
é poca acerca do funcionamento da sexualidade feminina. Tal
comportamento contrastava com as postulaçõ es acerca dos papé is
femininos, conforme a aná lise desenvolvida por Lana Lage da
Gama Lima dos Discursos político-morais de Souza Nunes, letrado
do sé culo XVIII. No campo intelectual, este revela-se
extremamente avançado para os padrõ es brasileiros do momento
ao afirmar a igualdade de capacidades e aptidõ es entre homens e
mulheres. No que tange à sexualidade, poré m, exigia que a mulher
fosse “virtuosa, honesta, honrada e discreta”, qualidades que,
como esclarece a autora, confundiam-se com o recato. Tal fato
reforça os cuidados, referidos acima, para nã o confundir normas
prescritas com as prá ticas dos sujeitos concretos.42
A menor sensibilidade sexual da mulher “normal” — que
subordina sua sexualidade à maternidade, em contraposiçã o
à quelas dotadas de erotismo intenso que se afiguravam como
altamente perigosas, dada como criminosas, loucas, prostitutas —
constituiu-se, durante o sé culo XIX e parte do XX, na visã o
dominante apregoada por autoridades como filó sofos, mé dicos e
juristas. Essa nã o era uma concepçã o nova, pois em grande
medida já se apresentava no ideá rio cristã o, apenas atualizava-se
com o respaldo da ciê ncia, sinô nimo de verdade nos novos
tempos. A aná lise desses discursos tem sido alvo da produçã o
historiográ fica també m no Brasil. Nessa linha ressalta a
abordagem pioneira de Magali Engel que se deté m na aná lise do
discurso mé dico sobre a prostituiçã o no Rio de Janeiro, no período
1840-1890. Aponta a autora a fidelidade desses discursos aos
princípios cristã os, em que pese o seu tom anticlerical. Para evitar
a prostituiçã o, a mulher deveria ser submetida a uma educaçã o
que incluísse princípios morais, que buscasse o fortalecimento do
sentimento de pudor e que impedisse a indolê ncia, a vaidade e a
ambiçã o. Outros trabalhos reservam um espaço a essas
representaçõ es. As concepçõ es de Lombroso, dos positivistas
comteanos e dos mé dicos acerca da sexualidade feminina foram
por mim analisadas no já citado trabalho. Margareth Rago refere-
se, igualmente, ao discurso mé dico, alé m de deter-se no
pensamento do jurista Viveiros de Castro. Discorre sobre o
“direito ao prazer”, postulado pelos anarquistas à s mulheres, alé m
de apontar para algumas visõ es tradicionais na imprensa operá ria.
També m Luiz Carlos Soares vale-se de teses mé dicas como de
documentaçã o policial, literatura de viajantes e romances de
é poca na sua abordagem sobre a prostituiçã o. A relaçã o
estabelecida pelo pensamento psiquiá trico entre sexualidade femi-
nina e loucura emerge da abordagem de Maria Clementina Pereira
Cunha, que assinala a crença na incurabilidade das mulheres
imorais ou onanistas.43
Em alguns desses trabalhos, sã o apresentadas situaçõ es em
que as prá ticas sexuais das mulheres contrapunham-se aos
discursos analisados. Este é o caso daquele de Martha Abreu, que
em seguida a uma minuciosa aná lise dos discursos jurídicos sobre
a moralidade das mulheres pobres, volta-se para o exame de
processos de defloramento. Com base nessa documentaçã o, traz à
tona as contradiçõ es vividas por essas mulheres frente à s normas
e valores morais que os juristas lhes pretendem impor, diversos
daqueles que correspondem ao seu universo cultural. Por outro
lado, Joana Maria Pedro analisa o processo de construçã o de
imagens idealizadas de mulheres e veiculadas pela imprensa de
Desterro/Florianó polis, a partir do ú ltimo terço do sé culo XIX.
Assinala o seu significado político, apontando a íntima relaçã o
entre o comportamento sexual das mulheres da elite com a honra
familiar e a hierarquia social; já que qualquer “deslize” no seu
comportamento expunha tais grupos à exclusã o do poder, num
contexto economicamente estagnado. A relativa introjeçã o dessas
imagens pelas mulheres dos segmentos elevados contrasta com as
prá ticas daquelas das camadas populares, fornecendo argumentos
para a sua repressã o.44
Rastreando o feminino
A escassez de vestígios acerca do passado das mulheres,
produzidos por elas pró prias, constitui-se num dos grandes
problemas enfrentados pelos historiadores. Em contrapartida,
encontram-se mais facilmente representaçõ es sobre a mulher que
tenham por base discursos masculinos determinando quem sã o as
mulheres e o que devem fazer. Daí a maior ê nfase na realizaçã o de
aná lise visando a captar o imaginá rio sobre as mulheres, as
normas que lhes sã o prescritas e até a apreensã o de cenas do seu
cotidiano, embora à luz da visã o masculina. Nos arquivos pú blicos
sua presença é reduzida. Destinadas à esfera privada, as
mulheres por largo tempo estiveram ausentes das atividades
consideradas dignas de serem registradas para o conhecimento
das geraçõ es subseqü entes. Fala-se das mulheres, sobretudo,
quando perturbam a ordem pú blica, destacando-se, nesse caso, os
documentos policiais, aliados aos processos criminais. Constituem-
se numa fonte privilegiada de acesso ao universo feminino dos
segmentos populares, inclusive atravé s dos seus pró prios
depoimentos. També m os jornais nã o devem ser esquecidos.
Os arquivos privados, de acordo com Michelle Perrot, sã o
mais generosos. Referem-se aos Livres de raison, espé cie de “atas”
da vida familiar, nos quais as mulheres anotavam o dia-a-dia
domé stico. As cartas, os diá rios íntimos, sã o exemplos de outros
registros femininos, que, quando encontrados, sã o da maior
importâ ncia para o historiador. Impressiona o alto índice de
destruiçã o dessa documentaçã o. Nã o poucas foram aquelas que os
rasgaram ou os queimaram, temendo ser objeto de zombadas. As
obras literá rias, a escrita religiosa — cató lica ou protestante —
també m aparecem como formas de expressã o feminina.
Encontram-se arquivos de mulheres nos Estados Unidos, na
França e em Amsterdã .
Mais comuns sã o os objetos por elas deixados — entre
outros, dedais, jó ias, roupas, bibelô s, caixas, missais e as
fotografias, fruto do encargo que lhes foi atribuído de transmitir a
histó ria da família. Hoje busca-se com esse material constituir
uma arqueologia feminina da vida cotidiana. Ressalta-se, també m,
a histó ria oral, instrumento dos mais adequados para registrar a
memó ria feminina, na medida em que o acesso feminino à escrita
nã o se deu no mesmo ritmo dos homens.
As dificuldades de penetrar no passado feminino tê m levado
os historiadores a lançarem mã o da criatividade, na busca de
pistas que lhes permitam transpor o silê ncio e a invisibilidade que
perdurou por tã o longo tempo neste terreno. Assim, có pias
heliográ ficas arquitetô nicas foram utilizadas para interpretar as
relaçõ es de poder na vida domé stica, tal como relatos de
assistentes sociais para investigar relaçõ es domé sticas ou diá rios
de mé dicos para conhecer o comportamento das mulheres durante
o parto. Enfim, acompanhando a renovaçã o teó rica dos estudos
histó ricos, refinaram-se os mé todos, as té cnicas, desenvolvendo-se
a inventividade com relaçã o à s fontes, o que tem possibilitado
maior intimidade com aqueles segmentos e a ampliaçã o dos
horizontes da histó ria.
Você também pode gostar
- É possível ser feliz no casamento?: discurso médico e crítica literária feminista no Brasil ModernoNo EverandÉ possível ser feliz no casamento?: discurso médico e crítica literária feminista no Brasil ModernoAinda não há avaliações
- História Das Mulheres - Cultura e Poder Das MulheresDocumento24 páginasHistória Das Mulheres - Cultura e Poder Das MulheresJoão HenriqueAinda não há avaliações
- SOIHET - Rachel-História Das Mulheres e História de GêneroDocumento7 páginasSOIHET - Rachel-História Das Mulheres e História de GêneroBruna PerrottiAinda não há avaliações
- RAGO Margareth-As Mulheres Na Historiografia BrasileiraDocumento10 páginasRAGO Margareth-As Mulheres Na Historiografia Brasileiracmyk graficarápida100% (1)
- Gênero e Ciências Humanas - Neuma AguiarDocumento22 páginasGênero e Ciências Humanas - Neuma AguiarKeyla MoreiraAinda não há avaliações
- PEDRO, Joana. Relações de Gênero Como Categoria Transversal Na Historiografia ContemporâneaDocumento4 páginasPEDRO, Joana. Relações de Gênero Como Categoria Transversal Na Historiografia ContemporâneaAna BeatrizAinda não há avaliações
- Descobrindo o gênero historicamenteDocumento6 páginasDescobrindo o gênero historicamenteDirce SokenAinda não há avaliações
- RAGO Margareth-As Mulheres Na Historiografia BrasileiraDocumento11 páginasRAGO Margareth-As Mulheres Na Historiografia BrasileiraVivianSantosAinda não há avaliações
- Apontamentos Aula 27Documento3 páginasApontamentos Aula 27Paul Jardim Martins AfonsoAinda não há avaliações
- História Das Mulheres (Rachel Sueht)Documento7 páginasHistória Das Mulheres (Rachel Sueht)sarizacaetanoAinda não há avaliações
- As mulheres na historiografiaDocumento144 páginasAs mulheres na historiografiaNestor Mascarenhas Júnior100% (1)
- O Feminismo e A Igualdade de Gênero No Antigo Egito Uma Utopia Da Emancipação Feminina (Artigo) Autor Gregory Da Silva BalthazarDocumento17 páginasO Feminismo e A Igualdade de Gênero No Antigo Egito Uma Utopia Da Emancipação Feminina (Artigo) Autor Gregory Da Silva BalthazarFabricio ViniciusAinda não há avaliações
- Artigo - Teoria II - Epistemologia Feminista Negra e Interseccionalidade - Versão FinalDocumento19 páginasArtigo - Teoria II - Epistemologia Feminista Negra e Interseccionalidade - Versão FinalDaniella Silva dos Santos de JesusAinda não há avaliações
- Ser Mulher Na Idade MédiaDocumento10 páginasSer Mulher Na Idade Médiajosetadeumendes1772Ainda não há avaliações
- Mulheres na historiografiaDocumento21 páginasMulheres na historiografiaCamila MotaAinda não há avaliações
- Feminismo como crítica culturalDocumento13 páginasFeminismo como crítica culturalVanessaGasparinAinda não há avaliações
- Marilene FelintoDocumento10 páginasMarilene FelintoBrett PeckAinda não há avaliações
- (Elsa Dorlin) Uso de Sexo e Raça Nos Estudos de Gênero PDFDocumento18 páginas(Elsa Dorlin) Uso de Sexo e Raça Nos Estudos de Gênero PDFCeiça FerreiraAinda não há avaliações
- 01 o Uso e o Abuso Da Antropologia - Reflexões Sobre o Feminismo e o Entendimento InterculturalDocumento40 páginas01 o Uso e o Abuso Da Antropologia - Reflexões Sobre o Feminismo e o Entendimento InterculturalDani MachadoAinda não há avaliações
- Dialnet OSufragioFemininoPorEmmaGoldman 7947029Documento26 páginasDialnet OSufragioFemininoPorEmmaGoldman 7947029Saulo Henrique NunesAinda não há avaliações
- Identidade Genero RevisadoDocumento14 páginasIdentidade Genero RevisadoEraldo LimaAinda não há avaliações
- Antropologia-E-Sexualidade Miguel Vale de AlmeidaDocumento21 páginasAntropologia-E-Sexualidade Miguel Vale de Almeidatorugobarreto5794Ainda não há avaliações
- A Presença Da Mulher Na Literatura e NaDocumento9 páginasA Presença Da Mulher Na Literatura e NaPatricia FreitasAinda não há avaliações
- A mulher na Literatura Brasileira: Uma primeira abordagemDocumento38 páginasA mulher na Literatura Brasileira: Uma primeira abordagemMarcia FerreiraAinda não há avaliações
- Genero, Historia Das Mulheres e Historia Social - Louise TillyDocumento34 páginasGenero, Historia Das Mulheres e Historia Social - Louise TillyTatiane Souza100% (1)
- ZOLIN, Lúcia Osana. Os Estudes de Gênero e A Literatura de Autoria Feminina No BrasilDocumento7 páginasZOLIN, Lúcia Osana. Os Estudes de Gênero e A Literatura de Autoria Feminina No BrasilJurema Silva Araújo0% (1)
- ARQUIVO ArtigoprofessorasCarolinaBragaDocumento16 páginasARQUIVO ArtigoprofessorasCarolinaBragamichelbAinda não há avaliações
- Materialismo Histórico Estudos Culturais e FeminismoDocumento15 páginasMaterialismo Histórico Estudos Culturais e FeminismoNaiade BianchiAinda não há avaliações
- O Papel Da Mulher Na Igreja Catolica A Partir Do Consilio Vaticano II 1962 1965Documento12 páginasO Papel Da Mulher Na Igreja Catolica A Partir Do Consilio Vaticano II 1962 1965UEGMORRINHOSAinda não há avaliações
- O Genero, A Historia Das Mulheres e A MemoriaDocumento6 páginasO Genero, A Historia Das Mulheres e A MemoriaLuísa CoimbraAinda não há avaliações
- Sobre História e Historiografia Das MulheresDocumento20 páginasSobre História e Historiografia Das MulheresDesiree DiasAinda não há avaliações
- História Das Mulheres e Questões de Gênero Rachel SoihetDocumento4 páginasHistória Das Mulheres e Questões de Gênero Rachel Soihetjacqueline lewandowskiAinda não há avaliações
- Teorias Feministas: Perspectivas PluraisDocumento37 páginasTeorias Feministas: Perspectivas PluraismrvfAinda não há avaliações
- MUNIZ, Diva Do Couto Gontijo. Feminismos, Epistemologia Feminista e História Das MulheresDocumento14 páginasMUNIZ, Diva Do Couto Gontijo. Feminismos, Epistemologia Feminista e História Das MulheresRosenilson SantosAinda não há avaliações
- A mulher na visão do patriarcado brasileiroDocumento14 páginasA mulher na visão do patriarcado brasileiroCláudio Zarco100% (1)
- Cópia de Dicionário Crítico de Gênero - Relações de GêneroDocumento4 páginasCópia de Dicionário Crítico de Gênero - Relações de GêneroCintia FsAinda não há avaliações
- Cláudia de Lima Costa Situando o Sujeito Do FeminismoDocumento38 páginasCláudia de Lima Costa Situando o Sujeito Do FeminismoÉrika OliveiraAinda não há avaliações
- Da Luz e Nascimento. o Debate em Torno Da Emancipação Feminina No Recife 1870-1920Documento30 páginasDa Luz e Nascimento. o Debate em Torno Da Emancipação Feminina No Recife 1870-1920Piêtra PorpinoAinda não há avaliações
- A Imagem Simbólica Do Unicórnio em Um Espinho de Marfim - Resistir e Libertar-SeDocumento13 páginasA Imagem Simbólica Do Unicórnio em Um Espinho de Marfim - Resistir e Libertar-SeRafael DiasAinda não há avaliações
- Antropologia e Gênero: Diálogo Com Os ClássicosDocumento7 páginasAntropologia e Gênero: Diálogo Com Os ClássicosLarissa PelucioAinda não há avaliações
- ANDREA LISLY GONÇALVES - Gênero e História Das Mulheres Na Historiografia PDFDocumento3 páginasANDREA LISLY GONÇALVES - Gênero e História Das Mulheres Na Historiografia PDFIngrid PimentelAinda não há avaliações
- 287-Article Text-554-1-10-20191114Documento6 páginas287-Article Text-554-1-10-20191114Antônio NascimentoAinda não há avaliações
- Maria Firmina dos Reis e a luta das mulheres e negros no Brasil do século XIXDocumento24 páginasMaria Firmina dos Reis e a luta das mulheres e negros no Brasil do século XIXAlice SalesAinda não há avaliações
- História das Mulheres de Michele PerrotDocumento9 páginasHistória das Mulheres de Michele PerrotLiliane ManoAinda não há avaliações
- Abrindo As Frestas: Ilustrações Sobre Prostituição No Periodismo Do Rio de Janeiro (1910-1935)Documento29 páginasAbrindo As Frestas: Ilustrações Sobre Prostituição No Periodismo Do Rio de Janeiro (1910-1935)Wellington R. de OliveiraAinda não há avaliações
- ARQ_2825f0b1-e87e-4af3-8ba6-7935312b2ca1Documento9 páginasARQ_2825f0b1-e87e-4af3-8ba6-7935312b2ca1Luis eduardo SantosAinda não há avaliações
- LIMEIRA DA SILVA - A Natureza de Um ProblemaDocumento12 páginasLIMEIRA DA SILVA - A Natureza de Um ProblemaVictor Rafael Limeira da SilvaAinda não há avaliações
- A desconstrução dos papéis de gênero em Pele de HomemDocumento15 páginasA desconstrução dos papéis de gênero em Pele de HomemDaniMarinoAinda não há avaliações
- Literatura Brasileira e FeminismoDocumento9 páginasLiteratura Brasileira e FeminismoGF GabryAinda não há avaliações
- História Das Mulheres ArtigoDocumento29 páginasHistória Das Mulheres ArtigoElanny BraboAinda não há avaliações
- 000027C9Documento75 páginas000027C9Gu FerreiraAinda não há avaliações
- Minha História Das MulheresDocumento5 páginasMinha História Das MulheresCristina FrotaAinda não há avaliações
- Identidade de gênero e sexualidadeDocumento14 páginasIdentidade de gênero e sexualidadeLuana MendonçaAinda não há avaliações
- Micropolítica da Abolição: diálogos entre a crítica feminista e o abolicionismo penalNo EverandMicropolítica da Abolição: diálogos entre a crítica feminista e o abolicionismo penalAinda não há avaliações
- Clássicas do pensamento social: Mulheres e feminismos no século XIXNo EverandClássicas do pensamento social: Mulheres e feminismos no século XIXAinda não há avaliações
- Mulheres Filosófas: Participação, História e VisibilidadeNo EverandMulheres Filosófas: Participação, História e VisibilidadeAinda não há avaliações
- Interseccionalidades: pioneiras do feminismo negro brasileiroNo EverandInterseccionalidades: pioneiras do feminismo negro brasileiroNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- A crise da masculinidade: Anatomia de um mito persistenteNo EverandA crise da masculinidade: Anatomia de um mito persistenteAinda não há avaliações
- Pensamento Feminista Brasileiro: Formação e contextoNo EverandPensamento Feminista Brasileiro: Formação e contextoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Modelo Keynesiano Determinação Renda Curto PrazoDocumento25 páginasModelo Keynesiano Determinação Renda Curto PrazoJully SchimidtAinda não há avaliações
- Laudo Técnico ESD#2021001 012748Documento21 páginasLaudo Técnico ESD#2021001 012748Alexandre Pinelli100% (1)
- Capa de Um Projeto de MarketingDocumento4 páginasCapa de Um Projeto de MarketingDebora NetoAinda não há avaliações
- INSS - Carta de Concessão de Aposentadoria por Tempo de ContribuiçãoDocumento6 páginasINSS - Carta de Concessão de Aposentadoria por Tempo de ContribuiçãoCristofer CavalcanteAinda não há avaliações
- Comprovativo 370Documento1 páginaComprovativo 370UniCâmbio S.AAinda não há avaliações
- Pagamento de parcela de consórcioDocumento1 páginaPagamento de parcela de consórcioRafael FernandesAinda não há avaliações
- Introdução A Contabilidade - APSDocumento3 páginasIntrodução A Contabilidade - APSmoniqueAinda não há avaliações
- Prova de Engenharia Econômica com 10 questões sobre juros simples e compostosDocumento2 páginasProva de Engenharia Econômica com 10 questões sobre juros simples e compostosHimsky MassaokaAinda não há avaliações
- Controlo de Gestão 0620-DiapositivosDocumento86 páginasControlo de Gestão 0620-DiapositivosFátima AntunesAinda não há avaliações
- Contrato Curso de TatuagemDocumento3 páginasContrato Curso de TatuagemLucas Bianca Tostes100% (2)
- ABNT - NBR - 5665-Cálculo Do Tráfego Nos ElevadoresDocumento12 páginasABNT - NBR - 5665-Cálculo Do Tráfego Nos ElevadoresPedro PavaAinda não há avaliações
- Av1 - 1 TentativaDocumento7 páginasAv1 - 1 TentativaivissonAinda não há avaliações
- Território BrasileiroDocumento5 páginasTerritório BrasileiroThaylizze GoesAinda não há avaliações
- Formas de Cooperação - Cooper. A ParceriaDocumento38 páginasFormas de Cooperação - Cooper. A ParceriaAna NevesAinda não há avaliações
- Relatório Empíricus AmbevDocumento11 páginasRelatório Empíricus AmbevLuan TifaAinda não há avaliações
- OMKK85913Documento324 páginasOMKK85913paulo valentiniAinda não há avaliações
- Emergência do capitalismo e crise do mercantilismoDocumento4 páginasEmergência do capitalismo e crise do mercantilismoLucas Henrique Santos PolidorioAinda não há avaliações
- Geradores de VaporDocumento37 páginasGeradores de VaporSergio CastilloAinda não há avaliações
- TCP Plano de Marketing - 20 30Documento116 páginasTCP Plano de Marketing - 20 30divilhenaAinda não há avaliações
- História Do UrbanismoDocumento30 páginasHistória Do UrbanismoTatianaAinda não há avaliações
- Segunda Lista de ExercíciosDocumento9 páginasSegunda Lista de ExercíciosCALEBE DE SOUSA OLIVEIRAAinda não há avaliações
- Boleto SetemDocumento1 páginaBoleto SetemGraziela Fontes LimaAinda não há avaliações
- Renciamento de Projetos - Formação - ExercíciosDocumento32 páginasRenciamento de Projetos - Formação - ExercíciosMauricio Da SilvaAinda não há avaliações
- Instituições Moçambicanas e MacroeconomiaDocumento13 páginasInstituições Moçambicanas e MacroeconomiaEldes Francisco Lotes LotesAinda não há avaliações
- Quem Somos - FEBRACIS CoachingDocumento1 páginaQuem Somos - FEBRACIS CoachingLuiz Fernando PantojaAinda não há avaliações
- Viabilidade Econômica Da Produção de Carvão Com Manejo Florestal para Pequenos Produtores Da CaatingaDocumento11 páginasViabilidade Econômica Da Produção de Carvão Com Manejo Florestal para Pequenos Produtores Da CaatingaAntonio OliveiraAinda não há avaliações
- Ventilador de Teto Turbo Silence E Controle Remoto EficiventDocumento1 páginaVentilador de Teto Turbo Silence E Controle Remoto Eficiventguilherme farkasAinda não há avaliações
- Ed. 04 - Mar-Abr-2006 - Revestimento de Gesso SarrafeadoDocumento4 páginasEd. 04 - Mar-Abr-2006 - Revestimento de Gesso SarrafeadoBoris Lixo EletronicoAinda não há avaliações
- ApostilaDocumento112 páginasApostilalucio luizAinda não há avaliações
- 1 SMDocumento5 páginas1 SMJoão Pedro VicenteAinda não há avaliações