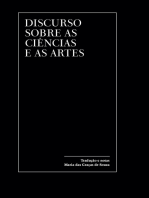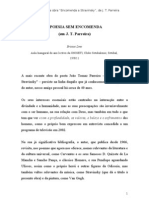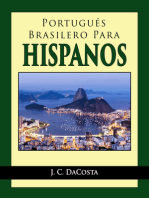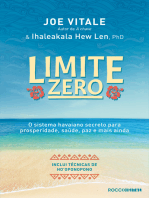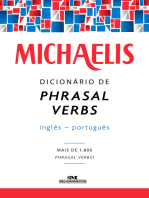Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Antropologia e Poesia
Enviado por
porfirio.iagopTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Antropologia e Poesia
Enviado por
porfirio.iagopDireitos autorais:
Formatos disponíveis
ANTROPOLOGIA E POESIA
Por Michel Deguy*
[Publicado na revista INIMIGO RUMOR 7]
Suprimir ao acaso dez ou vinte séculos de história não afetaria de modo
sensível nosso conhecimento da natureza humana. A única perda irreparável
seria a das obras de arte que esses séculos teriam visto nascer. Pois os homens
só diferem e mesmo só existem por suas obras.
Claude Lévi-Strauss,
Regarder Écouter Lire
A obra de Claude Lévi-Strauss, imensa, consiste, é sabido, em coletâneas de
estudos, artigos, conferências. Nela é abordada freqüentemente a música, às vezes a
pintura, mais raramente a literatura, mais raramente ainda a poesia. Les Chats de
Baudelaire, ou tal soneto de Pessoa (Ulisses) foram o objeto de análises exaustivas, logo
famosas, com Jakobson. Em suas entrevistas com Éribon, Lévi-Strauss conta essa
colaboração (De près et de loin, 1988, p. 230). Nas que ele fez com Charbonnier (Plon,
1961), das quais cerca de um terço trata de arte, não há muito mais do que duas páginas
relativas à poesia (p. 117-119). Quando Baudelaire é citado ao longo da obra, se posso
dizer isso, é mais como crítico de arte do que como poeta. O comentário das Colchiques
de Apolinaire é retomado em Le Regard éloigné (1983, p. 291-299). O das Voyelles de
Rimbaud, em Regarder Écouter Lire (1993, p. 127-137). De modo geral, as reflexões
sobre a criação artística predominam sobre a análise das obras; e dentro da perspectiva
segundo a qual o grande antropólogo mostra como o espírito humano bricola novos
mitos com fragmentos de outros mitos. O breve capítulo 21 de Regarder Écouter Lire,
onde o autor conta a gênese das últimas frases do finale de L’Homme nu, diz algo sobre
a “semelhança em miniatura” (p.148) que se pode “observar” entre as “transformações”
inconscientes em ação no mito e na escrita literária. A oposição entre mito e poesia é
interrogada em L’Anthropologie structurale (1958, p.232). O simbolismo fonético é
repetidas vezes sublinhado — por exemplo em Le Regard éloigné, página 20, que faz
eco à página 106 de L’Anthropologie structurale. No volume II do livro que tem esse
título, Claude Lévi-Strauss emite reservas sobre a crítica literária de inspiração
estruturalista (p.322-325), e ataca o “caráter profundamente retórico da arte
contemporânea” (p. 325-330).
A questão é o pouco convívio (público) de Lévi-Strauss com a poesia em poemas?
Não se trata de nenhuma recriminação. Mnemósine me livre! Tenho certeza ao menos
que mencionei as passagens mais importantes referentes a essa relação de Lévi-Strauss
com a poesia, da qual anuncio uma releitura? De modo algum. Basta com notar que tal
seqüência ou tal capítulo, por exemplo o décimo-oitavo do Regard éloigné, que declara
tomar como objetos a pintura e Max Ernst, interessa, “de fato”, quero dizer
centralmente, à poesia; vou explicitar isso.
O que me interessa mais, de qualquer modo, é menos levantar os lugares abertos
especialmente para poemas e para o poético, exíguos nessa obra formidável, porque não
é seu objeto, do que escutar atentamente o tom das grandes páginas do tipo “ouverture”
ou “finale” que entram em ressonância com os interesses da poética — se posso me
permitir isso, em direção contrária, evidentemente, à escuta científica que Lévi-Strauss
espera e requer que seja concedida a seus livros.
***
É de bom tom — tornou-se pedagogicamente correto —, desde há uns dois ou três
lustros, mandar de volta com um suspiro os anos estruturalistas para seu passado pré-
sessenta e oito, dispensar com um lamento hipócrita a teoria — metida com “terror” na
valise da palavra “terroria” — como se a análise e explicação, a distinção das constantes
e das variáveis, o acribológico discernimento dos níveis fonéticos, morfêmicos e
semânticos tivessem desconhecido a poesia a ponto de desencorajarem sua leitura fresca
e jubilosa — contra-reforma empreendida, é sabido, em nome dos valores do retorno, do
afeto, da imediatez, que sei eu... Não é nada disso. A análise dos Chats não pode ter
estragado Les Chats, nem a do soneto de Pessoa, Ulisses nem Lisboa. Ao contrário, elas
aumentaram seu valor, encareceram o precioso, entesouraram a preciosidade intrínseca
à poesia. Assim como a profunda e bela “leitura” do Boléro, na contestação de uma
observação de Pousseur (L’Homme nu, p.590 sqq.), só pode ter bonificado a recepção
de Ravel.
Parece-me, entretanto, que o tratamento estruturalista reservado localmente aos
textos poéticos (para não dizer nada, é claro, do lugar que abre para a poesia “em sua
vida” o homem Lévi-Strauss, que podemos supor grande e afetuoso nesse homem de
cultura por excelência; nem da tonalidade afinal de contas poética das grandes páginas
de sabedoria pensativa, com as quais eu gostaria de concluir) é um tratamento que os
simplifica; e enredado ele próprio numa certa contradição.
Pois, por um lado, ele reconduz a verdade do poético ao somático, se posso dizer
isso, limitando a leitura de tal poema através do filtro estruturalista a processos como o
do “simbolismo fonético”, afinal de contas destinado a uma “explicação científica”
futura segundo o progresso das ciências neuronais, e essa amputação do poético
decapitado da complexidade de nível superior (na escala das frases, das estrofes, da
composição de uma obra), será que ousarei chamá-la de cientificista, une-se, contra sua
vontade, a uma propensão contemporânea a privatizar o pensamento que vou evocar
daqui a pouco digressivamente e, por outro lado, ele disjunta excessivamente (quantas
vezes eu deveria acrescentar: “parece-me”?) o lado do mito e da música do lado do
filosofema e do poema (pode-se dizer do pensamento não-selvagem?), em favor da
polissemia do termo “tradução”; ao que virei em seguida.
***
É uma opinião, que, sustentada, propagada, ideologizada e reivindicada por muitos
educadores, animadores, terapeutas e gente de seita, tende a tornar-se doxa geral,
favorável à superstição, favorecida pelo cientificismo de vulgarização e pela economia
de consumo e de comunicação, segundo a qual o pensamento é o corpo: sema-soma.
Segundo a qual pensar, enquanto atividade mental e psíquica, é, para cada um, o pensamento de seu
pensar-em.
O pensamento, sendo psíquico, é corporal; e é “o meu”: idiota, privado, valendo
absolutamente, equivalente a qualquer outro, como expressão de minha personalidade,
expansão de minha espontaneidade criadora, secreção singular — e, por isso mesmo,
valendo tanto quanto “minha pessoa”, a qual vale infinitamente, i.e., absolutamente.
A “filosofia”, e especialmente tal ou tal “grande sistema filosófico” interessa,
portanto, muito menos (para dizer a verdade, cada vez menos, até nada mais), do que tal
ginástica, ou técnica de pensamento, entenda-se de controle de respiração. Como se o
pneumático retomado à letra de uma arquianalogia esquecida fosse um caso pulmonar.
Falar-se-á indiferentemente de nervo ou de sangue, de plexo ou de humor. Os
pensadores são trocados pelos gurus, massagistas, cinesioterapeutas cósmicos. Ou
melhor: os gurus são os pensadores. Caso de concentração, entendida como ritmo
cardíaco, vazio mental, etc. O “transcendental” deixou (pura ignorância) o contexto
kantiano para designar a “meditação yoga”. É o mesmo engano, a mesma credulidade
que faz alguns “sonharem” aumentar sua memória com pílulas, aprender inglês por
injeção direta no neuronal, ou prótese, adquirir a sabedoria pela regulação dos
leucócitos. Vejam os filmes de ficção científica e os prospectos publicitários. Eu pinto
caricaturalmente para ir depressa.
Nietzsche disse “a alma é o corpo”; mas não que o pensamento é o corpo. A
instância específica do pensar, pensar por reflexão, raciocínio, argumentação, por
compreensão e saber do que foi pensado; do pensar cujo correlato se chama em geral a
verdade, se quisermos lembrar o título de Malebranche, do pensar por “sistema de
idéias” segundo sua organização “dialética” intrínseca (ver Platão), é subestimada,
omitida ou desprezada. O que não deixa de ter conseqüências no tocante à literatura e
à poesia. A esfera da cultura é contaminada e ameaçada por essa credulidade e essa
pretensão. Meu propósito aqui não é refutar; é, mais propriamente, alertar. Nós —
aqueles que insistimos em, e por, essa “instância”, que está certamente instanciada no
psíquico-mental, mas cuja relativa autonomia, subsistindo apenas pela resolução de
distingui-la do mental, sem nenhuma “prova” realista de caráter científico de sua
existência à parte (autonomia que só se sustenta, portanto, pela decisão de identificar
pensar e falar, falar e escrever logicamente, em linguagem de língua “natural”) devemos
afirmar — nós (digo) não recusamos a confusão do pensar e do pensar-em corporal
senão por fidelidade ao “dualismo” cartesiano, prevenidos contra a simplificação
mentalista-somática pela filosofia — e nada mais: pela distinção modal da cogitatio e da
extensio que não consiste em absoluto num realismo substancialista da res cogitans. A
fidelidade da filosofia... a ela mesma. Círculo virtuoso. E a nenhuma crença religiosa ou
ideológica. Fidelidade à experiência desse pensamento-que-escreve-a-filosofia e à
tradição de saber(es) desse conhecimento.
(A psicanálise terá sido — provavelmente a contragosto! — responsável por esse
fim do pensamento. Pois ela trata, por um lado, do e com o inconsciente, os
“pensamentos” de tal ou tal sujeito “doente” e, em geral, a tópica da psique. E, por outro
lado, ela é meta-psicologia, isto é, pensamento pensante. Mas esses dois lados desabam,
e o segundo é tido como “não-científico”.)
Por um efeito desconcertante, o estruturalismo vem apoiar essa redução.
***
“O espírito de Rimbaud fornecia provavelmente às sinestesias um terreno fértil”
(Regarder Écouter Lire, p.134). “Seria possível que a sensibilidade visual de Rimbaud
desse a precedência à luminância sobre o cromatismo, ou, mais precisamente, que ela
pusesse a oposição do claro e do escuro (que se tem por arcaica) antes daquela entre
luminosidade e tonalidade, como, parece, diversas línguas ou culturas exóticas,
notadamente na Nova Guiné; e talvez também em sânscrito, em grego antigo, em velho
inglês” (Regarder Écouter Lire, p. 132).
Lévi-Strauss restitui as vogais ao corpo pelo “simbolismo fonético”, graças a
meditações científicas. Rimbaud antecipa ou acompanha e, afinal de contas, verifica
pesquisas científicas. E o que pode haver de verdade efetiva no movimento de poetizar
seria inconsciente. O poema é interessante “para a ciência”; sua “observação”, marginal
para o sábio antropólogo, pertence ao movimento geral dessa curiosidade das ciências
exatas, ainda que “humanas”, que, de todo modo, não pode sair da caverna (o finale de
L’Homme nu retoma de passagem a encenação platônica). “As ciências humanas só
podem pretender a uma homologia formal, não-substancial, com o estudo do mundo
físico e da natureza viva. É no momento em que elas tendem a aproximar-se mais do
ideal do saber científico que se compreende melhor que elas prefiguram apenas, nas
paredes da caverna, operações que outras ciências validarão mais tarde, quando elas
tiverem enfim apreendido os verdadeiros objetos cujos reflexos escrutamos” (p.575).
Assim, o respeito e a admiração do sábio pelas obras humanas, e entre elas alguns
poemas, não levam em conta o pensamento do poema. Eles desviam-se do pensamento
do poema, não buscam compreendê-lo. É pelo minucioso confronto com as ciências
botânicas (de Rousseau até hoje) que o enigma floral das colchiques (“filhas de suas
filhas”) é resolvido na análise do poema de Apollinaire. Ele não leva em conta a lógica
retórica, a figuralidade própria do poema, a que é possibilitada (i.e., pensada) pela
figuração tropológica profunda, esquematística, desse modo de pensamento — neste
caso, o jogo inteiro da apofonia, que não é apenas fonética, mas “generalizada”. Há aí
uma recusa na qual eu gostaria de me demorar um instante.
Não é que a poesia seja de algum modo suspeita de não interessar “o espírito
humano” cujo funcionamento mitológico é o objeto último da antropologia. Antes, ela
entra perfeitamente na jurisdição (despótica e esclarecida ou, se preferirem, firme e
clarificadora) do regime estruturalista que enuncia como princípio geral a escrutação de
analogias entre as diferenças — e credita precisamente na conta do padre Castel, por
exemplo, que ele poderia ter compreendido bem, se tivesse sido um leitor
contemporâneo, que o soneto de Rimbaud “repousa nas homologias percebidas entre
diferenças” (loc.cit., p.134). Mas eu paro no capítulo 18 do Regard éloigné, que me
parece crucial neste ponto de minha leitura. Por quê?
Porque ele se intitula “Uma pintura meditativa” e, portanto, atribui o mérito a uma
obra que não é de linguagem de ser capaz de meditação, quer dizer, de pensamento —
crédito que não é outorgado de primeira aos poemas, que, obras de linguagem, poderiam
ser não menos obras de pensamento, se elas não interessassem apenas, ou
principalmente, a lingüística. Ora, eis o ponto: acontece que nessas páginas é menos a
obra pictural de Ernst que é comentada (e quão louvada!) do que seu preceito de 1934 (o
da aproximação de dois elementos opostos, num plano oposto a sua “natureza”) apoiado
e exemplificado pela famosa fórmula de Isidore Ducasse, que está no coração da arte
poética moderna, e sem que esse poeta seja mencionado, como se ela pertencesse ao
pensamento pictural de Ernst, ao mesmo tempo em que é tratada, à moda colchique,
como adivinhação estruturalmente solúvel. Há aqui algo de injusto que eu busco
desenredar.
Portanto, 1. O texto poético em geral (o dos poemas exemplares) é certamente da
ordem da operação intelectual que interessa à abordagem estruturalista do “espírito
humano”. É inclusive, fica-se tentado a dizê-lo, pensamento selvagem estrutural avant
la lettre; de qualquer modo, ou inconsciente ou insciente, na maioria dos casos
reconduzido ao somático — esperando as ciências neuronais! — pelo fonetismo.
Relação/diferença/homologia, as palavras-chave valem para o que faz o poema e
aplicam-se a seu estudo.
2. “O método estruturalista procede, como é sabido, pela evidenciação e pela
exploração sistemática das oposições binárias que prevalecem entre elementos
fornecidos pela observação, fonemas dos lingüistas ou mitemas dos etnólogos” (ibid., p.
328).1 E toda a página dá graças a Max Ernst, mas a uma frase de Ernst (a de seu
famoso preceito), por ter sabido enunciar o grande jogo — “o duplo jogo de oposição e
de correlação, por um lado entre uma figura complexa e o fundo sobre o qual ela se
perfila, por outro lado entre os elementos constitutivos da própria figura.”
Ora, a frase foi declarada, no início do jogo do estruturalismo, o elemento do mito,
não do poema!2 A estreiteza do campo de atenção voltada para a poesia talvez venha
daí.
3. Entretanto, a fórmula (o texto) de Lautréamont (não-nomeado) é analisada como
um “enigma” local, rimbaudiano ou apollinairiano, que coloca em jogo alguns
elementos. Trata-se de “dissipar a incongruência de sua reunião”, “dissecando sua
relação”. Segue-se uma análise ao mesmo tempo laboriosa e simples (328-329) que
“resolve a equação: máquina de costura + guarda-chuva, sobre mesa de dissecação = 1”.
Então “a aproximação inesperada torna-se fortuitamente motivada”: o terceiro elemento
(dissecação: e dir-se-ia que tudo se joga na polissemia de dissecação) “fornece a chave
que permite analisar seu conceito”.
Vários aspectos desse caso deixam perplexo. Se é para chegar a esse resultado que
toda aproximação é justificável, ele é fraco; sim, toda incongruência é regularizável.
Mas existe algo de mais ordinário do que, num sótão, num porão, ou num quarto de
despejo “reais”, constatar a proximidade de qualquer coisa com qualquer coisa? Que o
poema, “sem sabê-lo”, obedeça — como uma palavra a seu ‘inconsciente”— a alguma
pré-restrição, paronomástica ou outra, mais profunda, não duvidamos disso. A insciente
infalibilidade poética (outrora chamada inspiração) recebe retrospectivamente uma
“explicação científica”, ela própria à espera de uma “mais científica” (neuronal
genética, ou que sei eu)... Isso alivia, provavelmente (prazer em toda resolução de toda
adivinhação), mas não substitui a paráfrase hermenêutica que “iria no sentido” do
propósito explícito do poema.
“Resolvendo a equação”, por detecção de uma mediação entre os opostos binários,
quaisquer que sejam, o analista contraria (contradiz) não a significação, mas o sentido
do aforismo. Pois tratava-se menos de mostrar que não houve acaso (tudo abole o acaso,
retrospectivamente), do que — para o poeta — de buscar figurar (e, neste caso, por uma
boutade qualquer, deboche ”improvisado”, com sua sombrinha, sua costuradeira, sua
gaveta de necrotério) a potência de inovação da proposição poética que abre a expansão
do possível no mundo, o lance de dados de uma liberdade que fala.
Dito de outra maneira, a operação intelectual da aproximação (comparação) é mais
complexa do que a que o estruturalista se propõe a resolver. Sua condescendência para
com a retórica em geral o faz subestimar a riqueza, a radicalidade lógicas da operação
“poesia”.
Assim, as três observações seguintes, que concernem a relação da poesia com dois
de seus próximos mais chegados, quero dizer o mito e a música, indagam-se se toda a
problemática aqui não simplifica essa “manobra” chamada poesia — segundo um dito
de Mallarmé —, manobra que o poeta de Valvins gostava também, por litotes cortês, de
chamar de “sugestão”.
Ei-las.
1. Uma página da Anthropologie structurale (237) distingue a poesia do mito pelo
critério da traduzibilidade. Aquela seria uma forma de linguagem extremamente difícil
de traduzir: o valor deste, ao contrário, “persiste a despeito da pior tradução”. Mas
parece que, nesse nível de generalidade, é possível quiasmar os predicados da
apreciação sem grande risco de erro. Pois a poesia é traduzível (adjetivo verbal) e suas
obras-primas migram de uma língua para outra num regime geral de metamorfose — a
última metamorfose da qual nós, “modernos”, possamos gozar ainda após a morte dos
deuses e dos heróis — contínuo e continuado, cujas transações aumentam a “cultura”
humana.3
Quanto à língua do mito, por sua parte, ela não é mais traduzível do que a do
poema: numerosos são os trechos onde o antropólogo, acusando-se de não falar as
línguas de seus “informantes”, línguas dos mitos que recolhe, queixa-se de não poder
medir o que ele perde tratando-os em sua própria língua.
2. Mas sobretudo, a matéria poética, reduzida à significância (incluindo o
semântico) consiste para a análise estrutural nessas unidades “que intervêm
normalmente na estrutura da língua, a saber os fonemas, os morfemas e os
semantemas”. A isso ele opõe o nível de complexidade superior ao da “expressão
lingüística”, lá onde “as grandes unidades constitutivas devem ser buscadas no nível da
frase”. Minha observação toma um partido clássico na guerra dos cem anos em torno da
poesia; o partido da complexidade; o interesse do poema, seu sentido, se quiserem — do
qual é verdadeiro dizer que para ele também, e não apenas para o mito, cada grande
unidade constitutiva, nas escalas sucesssivas ascendentes de sua complexidade, desde a
“palavra total refeita” (Mallarmé) até o volume e a obra, tem a natureza de uma relação
— culmina na frase. O pensamento do poema (que se pode também chamar de seu
impensado, como fazem os filósofos) é indivisível na frase; jaz na compleição frástica,
em cuja escala somente começam a jogar sua lógica tropológica, suas isotopias
temáticas narrativas, e sua potência referencial; e a jogar o que está em jogo.
3. Trata-se agora da relação com a música. A música não tem significação, mas
sentido. Quando a poesia busca livrar-se da significação (por inveja da “música”?), ela
perde seu sentido. Com isso quero dizer, como simples lembrete, que a música não é
uma língua, mas uma linguagem — graças a isso todo o mundo a entende. Por falta de
dupla articulação lingüística e de estrutura saussuriana de signo, ela não tem sentido por
significação. Que alívio! Ela adquire sentido por uma outra relação com a existência
(ela “acompanha a vida”).
Quando a poesia se revira na e contra a significação, na qual ela é feita, rasgando a
frase, na aporia, com seu próprio risco, ela perde sentido4. Quando por exemplo se diz
de uma escrita experimental “extremamente contemporânea” que “isso não quer dizer
nada”, não se faz alusão a uma dificuldade especial, extrema, das significações e do
sentido (aquela do “duro de pensar”, de compreender, que nos reservam tais páginas de
Hegel ou de Heidegger). A leitura inquieta-se mais que os escritores (“scripteurs”)—
produtores tratem a língua como uma cor ou uma música, uma matéria, uma jazida de
“significância”, uma “pasta”: as palavras como argila de onde podem “sair” sentido e
“não-sentido”. A língua está aqui como uma “linguagem”, não já aqui com sentido, no
sentido, não feita para o sentido. Não é, portanto, de modo algum porque é difícil; é
outra coisa.
A multivocidade de “traduzível” em Lévi-Strauss, no uso do critério de
traduzibilidade, favorece distinções, transições, maciças na “bricolagem” (a montagem)
das generalidades, o trânsito das noções. Pois traduzível ora designa, segundo o uso
comum, o comércio das línguas, as transações de uma literatura a outra entre áreas
lingüísticas; ora quer dizer o mesmo que transposição “em geral”. E certamente a
metaphora (o transporte) se faz de múltiplas maneiras. É o princípio dos princípios.
Traduzível quer dizer agora transformável, no sentido matemático do “grupo de
transformação” (p.578), fora da esfera da significação de linguagem vernacular.
Ora, não é porque a música é traduzível apenas nessa acepção matemática (dela
mesma nela mesma em “transposição” intrínseca) que ela não se relaciona com o
sentido imanente à esfera da significação de linguagem - segundo o uso trivial, de certa
maneira pré-lingüístico, que sinonimiza sentido e significação. Eu diria de bom grado,
em divergência com a página 578 de L’Homme nu: a música não está sozinha. Ela está
desde o início com o logos, a palavra-pensamento humana, que não apenas é o meio de
sua elaboração (na “cabeça” do músico que (se) fala do que ele faz) mas na recepção, no
comentário, na interpretação, na transação das musas.
Ela acompanha a vida, ela troca (nesse sentido ela é traduzível-em, na acepção
mais geral da traduzibilidade) com a questão do sentido da existência, da qual se ocupa
cada homem, em sua experiência do belo, do bom e do verdadeiro, para a qual ela
fornece exemplos, comparações, equivalências... Não há o lado mito-e-música,
“estanques” (p. 80), e de outro lado filosofemas e poemas às voltas com a significação e
a miragem do sentido por significação, por semiose “saussuriana”.
O ser do texto poético não se reconduz inteiro a seu “ser lingüístico” (p. 578).
Talvez então não seja suficiente trabalhar apenas com o duo do sentido e do som.
“Entre” o som e o sentido há a significação, e em sua triangulação saussuriana. A
antropologia, então, não faria funcionar sistematicamente o bastante, em proveito da
poesia, a diferença entre sentido e significação, nem o vetor da referencialidade, da
potência próxima das frases sobre as coisas; quer dizer, da representação. A significação
mediana mediadora jaz, certamente, na significância, mas cuja materialidade não é
exclusivamente fônica. A significância é tão complexa, envolvida, mista de sonoridade
e de significado sob a análise, que em toda escala ínfima desta a sua duplicidade se
encontra.
Hegel colocava a poesia no alto da hierarquia estética ao fim de um processo des-
materializante do devir-signo. O significante é mesmo “material”, mas é um “imaterial”,
segundo um neologismo pós-moderno. Ele não é um “symbolon”, pois diferentemente
de uma metade de placa grega quebrada procurando sua metade, as “metades” do signo
são heterogêneas entre si. Nenhuma semelhança material é requerida para significar: a
onomatopéia por exemplo é mais propriamente o que reina entre os animais, garantindo
a comunicação. E o “cratilismo em geral” é mais propriamente um efeito esporádico e
secundário nos textos.
Será um efeito dessa obscura compleição se a divisão se encontra então marcada
demais entre, de um lado, o mito e a música (esferas estanques em intratraduzibilidade)
e, do outro, filosofema e poema, “sempre à espreita de uma gnose que [lhes]5 permitiria
a instalação num domínio reservado e interdito ao saber científico” (p.577)?
***
O que Lévi-Strauss chama de bom grado de seus devaneios, ou seja todas as
generalidades não-etnológicas (não-“científicas”) a que ele se entrega, se abandona, não
raro, nos finales ou em apartes amargos e cruéis, polêmicos, freqüentemente
autobiográficos, são sublimes. Claro, como elas vêm muitas vezes do fato de ele deixar-
se levar pelo humor ou pela memória sobre o terreno dos filósofos para responder-lhes,
com uma violência, um desprezo ou uma altivez intratáveis, ele nega seu caráter
“filosófico”. “Nada de surpreendente, portanto, em que os filósofos possam sentir-se
fora do jogo: eles estão mesmo” (L’Homme nu, p. 620). Isso está no próprio movimento
de humildade em que ele acusa seu pensamento de desleixo ou de insuficiência e se
dirige recriminações que ninguém teria ousado pensar em dirigir-lhe. Ele nega que isso
seja algum pensamento realmente interessante. A beleza, suntuosa, desses finales, a
sombria beleza desses apartes são as de uma sabedoria clássica. Sua gramática, seu
fraseado, sua eurritmia, seu furor soberano, seu frio desprezo e seu discernimento
implacável nas dobras da eloqüência clara, seu respeito rigoroso das grandes divisões
clássicas (forma e matéria, categorias da retórica... mas a lista, aqui, seria demasiado
longa) fazem-no contestar a literatura e a estética modernas (“o insuportável tédio que
exsudam as letras contemporâneas”, L’Homme nu, p. 573) e, de passagem, as pretensões
vaidosas da poesia. Entretanto, nós os lemos como um grande texto, como um imenso
poema em prosa que tem a beleza do sentido, a música do sentido. Eu disse “sublime”
porque, projetado muitas vezes ao ponto mais alto por comparações ousadas com as
escalas da astrofísica, o ponto de vista é aquele, sideral e siderante, do ponto fora de
universo. Nada dá literalmente a última palavra da famosa tetralogia. Para esse olhar
superior — “distanciado”, “de perto e de longe” — inteiramente desligado, desiludido,
identicamente humilde e soberano, que coincide com o começo ou o fim distantes
bilhões de anos, não há, acima dele, nada. Ora, o ponto de vista da poesia não é
justamente mesmo, “muito longe muito perto”? Quero dizer, seu “amor taciturno e
sempre ameaçado”, segundo o verso famoso de Vigny, pelas coisas de nossa terra, pelo
infinito detalhe das condições humanas infinitamente respeitado. Ou antes, como dizia
Valéry, não há detalhe na execução. E minha leitura emociona-se com isso, perturba-se,
principalmente porque minha incompetência é grande, e minha ignorância tão
devoradora que minha leitura isola essas prosas de sabedoria mortal, ouve apenas a elas
e as liga como numa oração fúnebre cujas passagens “científicas” somem no fundo e
não fazem mais do que rumor não muito distinto — totalmente ao contrário, portanto,
da boa audição desejada pelo autor.
Ódio à vaidade, ódio ao “eu” idólatra dos filósofos e dos escritores, humildade
equivalentemente misantrópica (eis o que os homens estão fazendo com a terra e com
seus mundos!) e filantrópica (esplendor microscópico dos mitos tão bem agenciados!
Eis tudo o que os homens souberam fazer!), discernimento rigoroso da catástrofe
iminente que precipita talvez o Nada terminal, não se comparam senão com esse amor
erudito, ou com sua implacável vitória arrancada a cada argumento com, quer dizer,
contra, os adversários enfatuados, ignorantes, azedos, incompreensivos — os
“filósofos”, os ideólogos, os vulgarizadores. “[A tetralogia das Mythologiques] antecipa
o crepúsculo dos homens, após o dos deuses que devia permitir o advento de uma
humanidade feliz e liberada” (L’Homme nu, p. 620).
Reconhecemos essa figura: é a do sábio erudito, a do sophos. O círculo virtuoso, a
ronda feliz da melhor relação possível, acopla o sábio-etnólogo (o sophos mitólogo) e o
bom selvagem ou, se preferem, os homens do pensamento selvagem. A relação é ótima,
porque une os dois extremos feitos um para o outro, fraternais por serem o mais
possível outros: do sábio-erudito com o homem nu: irmãos, amigos, por serem os
mesmos (a saber: homens) numa diferença tal que não se possa imaginar uma maior,
i.e., “absoluta”. De um lado o conhecimento humildemente rigoroso, “científico”, que
recebe tudo, e em particular o objeto do seu saber, do outro; e de seu lado o ser humano
do pensamento selvagem que, como Deus, não pode nem enganar-se nem enganar-nos
porque ele mostra e diz o que sabe fazer e dizer. Bom círculo político: de onde são
excluídos os semi-hábeis, os que crêem saber e perturbam tudo por ignorância e
pretensão; a multidão dos indivíduos-sujeitos, da opinião: os que se crêem algo, e que
“têm-o-direito-de”. Sujeitos modernos, filosofantes.
Tal é a figura do doce despotismo esclarecido. Paz do conhecimento. Nada de
contenda. Nada de vendetta.
No fim dos fins (L’Homme nu, p.621), “entre o ser e o não-ser não cabe ao homem
escolher. Um esforço mental consubstancial a sua história e que só cessará com seu
apagamento da cena do Universo impõe-lhe assumir as duas evidências contraditórias
cujo choque faz funcionar seu pensamento e, para neutralizar sua oposição, gera uma
série ilimitada de outras distinções binárias que, sem nunca resolverem essa antinomia
primeira, apenas, em escalas cada vez mais reduzidas, reproduzem-na e perpetuam-na:
realidade do ser [...] realidade do não-ser [...]”.
O ser é contrariedade; nosso ser (nossa vida) é contrariada — a condição é trágica,
não-dialética. Ora, quero agora sublinhar, é assim que fala também o filósofo (Reiner
Schürmann): “O império da ilusão [...] consiste primeiramente no fato de a verdade do
ser ter sido limpa de sua adversidade intrínseca [...]. O ser só pôde passar por fiável
uma vez desembaraçado dos antagonismos trágicos [...]. O eclipse do ser em sua
verdade conflituosa começa com o phueïn do ente” (Des hégémonies brisées, T.E.R.,
1997, p. 668). A aquiescência à “discordância originária” (p. 671) é o começo e o fim
do filosofar.
***
Do mínimo detalhe (a relação tênue) ao mais espetacular conflito, tudo está
disposto em antinomia. Na via aporética, o pensamento organiza a paradoxalidade. A
“resolução” — que não é a dissolução — da “antinomia” é o paradoxo.
A partir desse ponto o programa do pensamento é duplo: “teoricamente” primeiro,
tomar toda a medida (difícil) da contrariedade; medida “oximórica” — e o poema está
aqui também para isso, paroxização de paradoxalidade assumida. Depois (ao mesmo
tempo...), “praticamente”: tomar medidas, como se diz, para pesar simultaneamente (ou
alternadamente) nos dois pólos antipódicos.
*Michel Deguy é poeta, filósofo e ensaísta
Tradução de Paula Glenadel
NOTAS
1 Todos os sublinhados nas citações são de minha responsabilidade (M.D.).
2 Às páginas 232-233 da Anthropologie structurale (Paris, Plon, 1958).
3 Operação patrimonial da valorização (mais-valia) “cultural” do capital-cultura (s) da
humanidade, que perde talvez no caminho o valor arcaico da cultura... Mas não quero
aqui retomar essa questão.
4 Não se trata de “proibir” os impasses. São impasses para “o senso comum”. O destino
e o gênio de certos poetas é o de se engajarem, e o de nos engajarem nisso, para aí
perecerem. Evoco aqui as glossolalias de Artaud.
5 Sou eu que acrescento aqui a poesia: Claude Lévi-Strauss escreve nesse momento
apenas sobre a filosofia: “que lhe permitiria ..., etc”.
Você também pode gostar
- Erro, Ilusão e LoucuraDocumento274 páginasErro, Ilusão e LoucuraLetricia VentinAinda não há avaliações
- Sobre Surrealismo e FilosofiaDocumento19 páginasSobre Surrealismo e FilosofiaDiogo CardosoAinda não há avaliações
- Rousseau: Escritos sobre a política e as artesNo EverandRousseau: Escritos sobre a política e as artesNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- RESENHA - Rudiger Safranski Nietzsche Biografia de Uma Tragedia - Sandra EricksonDocumento6 páginasRESENHA - Rudiger Safranski Nietzsche Biografia de Uma Tragedia - Sandra EricksonTúlio Madson Galvão100% (1)
- Poesia (e) filosofia: por poetas filósofos em atuação no BrasilNo EverandPoesia (e) filosofia: por poetas filósofos em atuação no BrasilNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Carnaval e NietzscheDocumento6 páginasCarnaval e NietzscheAnísia Dias NetaAinda não há avaliações
- 1 SMDocumento20 páginas1 SMVitória SchoeppingAinda não há avaliações
- Pages From MILLIET, Sérgio. Diário Crítico de Sérgio Milliet VII, 1982. EDUSP - Livraria Martins, 1981-7 PDFDocumento3 páginasPages From MILLIET, Sérgio. Diário Crítico de Sérgio Milliet VII, 1982. EDUSP - Livraria Martins, 1981-7 PDFMax AdvertAinda não há avaliações
- Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homensNo EverandDiscurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homensAinda não há avaliações
- Nietzsche - Aristófanes Na Crítica A SócratesDocumento15 páginasNietzsche - Aristófanes Na Crítica A SócratesLuiz Carlos de Oliveira e SilvaAinda não há avaliações
- Carta a D'Alembert sobre os espetáculos teatraisNo EverandCarta a D'Alembert sobre os espetáculos teatraisAinda não há avaliações
- Nietzsche e Machado de AssisDocumento26 páginasNietzsche e Machado de Assisrodrigosa1832Ainda não há avaliações
- Abby Warburg - Etienne SamainDocumento23 páginasAbby Warburg - Etienne SamainDiana Proença MódenaAinda não há avaliações
- O Riso de Henri Bergson A AntropologiaDocumento24 páginasO Riso de Henri Bergson A AntropologiaAnderson Vicente100% (1)
- GUMBRECHT - Atmosfera, Ambiencia StimmungDocumento27 páginasGUMBRECHT - Atmosfera, Ambiencia Stimmungjpbaiano100% (1)
- GUMBRECHT - Atmosfera, Ambiencia Stimmung (Cap. 1) PDFDocumento27 páginasGUMBRECHT - Atmosfera, Ambiencia Stimmung (Cap. 1) PDFjpbaianoAinda não há avaliações
- Goldman Levi Strauss A Ciencia e As Outras CoisaDocumento30 páginasGoldman Levi Strauss A Ciencia e As Outras CoisaAdriana Cristina de Oliveira Souza SoaresAinda não há avaliações
- Dias, Rosa-Maria - Nietzsche e Foucault - A Vida Como Obra de ArteDocumento14 páginasDias, Rosa-Maria - Nietzsche e Foucault - A Vida Como Obra de ArteIdalina FreitasAinda não há avaliações
- JORGE - E - Literatura e Pos - Etnografia - CópiaDocumento19 páginasJORGE - E - Literatura e Pos - Etnografia - CópiaJoice FreitasAinda não há avaliações
- Voz, Escuta e ReencantamentoDocumento13 páginasVoz, Escuta e ReencantamentoLaura CampolinaAinda não há avaliações
- Creer y Procesionar LatourDocumento18 páginasCreer y Procesionar LatourIrma Leticia Requena QuezadaAinda não há avaliações
- CAMPOS, Haroldo de - O Sequestro Do BarrocoDocumento61 páginasCAMPOS, Haroldo de - O Sequestro Do BarrocoNil Castro Nil100% (9)
- Revista Kriterion - Arte e Conhecimento em A Gaia CiênciaDocumento10 páginasRevista Kriterion - Arte e Conhecimento em A Gaia Ciênciaapi-3855723Ainda não há avaliações
- LEVI-STRAUSS, Claude. O Cru e o CozidoDocumento553 páginasLEVI-STRAUSS, Claude. O Cru e o CozidoDenny Junior100% (2)
- PAZ, Octavio - O Arco e A Lira (Resumo e Comentários)Documento36 páginasPAZ, Octavio - O Arco e A Lira (Resumo e Comentários)Juscelino Alves de Oliveira100% (3)
- O Pensamento Trágico de Clément Rosset - Rogério de AlmeidaDocumento27 páginasO Pensamento Trágico de Clément Rosset - Rogério de Almeidafabio_tmasudaAinda não há avaliações
- Michel Deguy - Entrevista Sobre PoesiaDocumento10 páginasMichel Deguy - Entrevista Sobre PoesiaLittlejecaAinda não há avaliações
- Guimarães Rosa e o Canto Da DesrazãoDocumento9 páginasGuimarães Rosa e o Canto Da DesrazãoBruna Novaes100% (1)
- Arte e PsicanaliseDocumento2 páginasArte e PsicanaliseArlan PintoAinda não há avaliações
- António Franco Alexandre (Ensaio - O Diabo Na Caixa)Documento20 páginasAntónio Franco Alexandre (Ensaio - O Diabo Na Caixa)micaelenseAinda não há avaliações
- Analise Do Poema O CorvoDocumento15 páginasAnalise Do Poema O CorvoSandra MendesAinda não há avaliações
- Arrojo - A Que São Fieis TradutoresDocumento13 páginasArrojo - A Que São Fieis TradutoresBruno PeixotoAinda não há avaliações
- Poiesis 17 EDI Mnemosyne WARBURGDocumento23 páginasPoiesis 17 EDI Mnemosyne WARBURGNara AmeliaAinda não há avaliações
- O Amor Como Vertigem e Êxtase - Um Poema de Gonçalves Dias Analisado À Luz Do Pensamento de Alfonso López QuintásDocumento7 páginasO Amor Como Vertigem e Êxtase - Um Poema de Gonçalves Dias Analisado À Luz Do Pensamento de Alfonso López QuintásLincoln Haas HeinAinda não há avaliações
- Apresentação Da ObraDocumento8 páginasApresentação Da ObraJosé Brissos-LinoAinda não há avaliações
- Helena Martins, Tradução e Perspectivismo, Revista de Letras, 2012Documento15 páginasHelena Martins, Tradução e Perspectivismo, Revista de Letras, 2012Daniel SilvaAinda não há avaliações
- A Ciência Do Concreto FichamentoDocumento5 páginasA Ciência Do Concreto FichamentoAdma DaninAinda não há avaliações
- Deleuze, A Arte e A FilosofiaDocumento170 páginasDeleuze, A Arte e A FilosofiaEmilene Lul100% (3)
- Assim Falou Zaratustra Surpreende Sempre e Muitas Vezes Desanima o LeitorDocumento3 páginasAssim Falou Zaratustra Surpreende Sempre e Muitas Vezes Desanima o LeitorMárcio WunderAinda não há avaliações
- A Arte e o Belo em NietzscheDocumento7 páginasA Arte e o Belo em NietzscheErica Costa100% (1)
- Nietzsche.. A Vida e A Metáfora - Eric BlondelDocumento46 páginasNietzsche.. A Vida e A Metáfora - Eric BlondelAlexandre SantannaAinda não há avaliações
- Introduao Ao Estudo Do SimbolismoDocumento24 páginasIntroduao Ao Estudo Do SimbolismoJohnAinda não há avaliações
- MARTON S Reflexões Sobre A Linguagem em NietzscheDocumento8 páginasMARTON S Reflexões Sobre A Linguagem em NietzscheJonathan TeixeiraAinda não há avaliações
- A Psicanálise de Mãos Dadas Com A ArteDocumento2 páginasA Psicanálise de Mãos Dadas Com A ArteSofia CorsoAinda não há avaliações
- Bras Joao MauricioDocumento12 páginasBras Joao MauricioluizAinda não há avaliações
- A Morte No Imaginário de Um Poeta Do Ultrarromantismo - Uma Leitura Da Obra Poética de Alvares de AzevedoDocumento25 páginasA Morte No Imaginário de Um Poeta Do Ultrarromantismo - Uma Leitura Da Obra Poética de Alvares de AzevedoTalita FernandaAinda não há avaliações
- Ascânio LopesDocumento3 páginasAscânio Lopesapi-3697810100% (1)
- Cenários de Resposta - Unidade 1 - OrtónimoDocumento46 páginasCenários de Resposta - Unidade 1 - OrtónimoBeatriz MarquesAinda não há avaliações
- A Propriedade Do Conceito Eduardo Viveiros de CastroDocumento54 páginasA Propriedade Do Conceito Eduardo Viveiros de CastroJeronimo Amaral de Carvalho100% (2)
- Poesia e Metapoesia em PessoaDocumento12 páginasPoesia e Metapoesia em PessoaRaquel CardosoAinda não há avaliações
- Arte Depois Da Filosofia: Joseph I OsuthDocumento25 páginasArte Depois Da Filosofia: Joseph I Osuthana mariaAinda não há avaliações
- ROSENFELD, Anatol - Texto e Contexo IDocumento254 páginasROSENFELD, Anatol - Texto e Contexo IDor Mundana100% (1)
- A Pedra No CaminhoDocumento3 páginasA Pedra No CaminhoNivea BorgesAinda não há avaliações
- Caderno de Apoio A Pratica Pedagogica Advinhas Charadas Parlendas Proverbios e Trava-LinguasDocumento47 páginasCaderno de Apoio A Pratica Pedagogica Advinhas Charadas Parlendas Proverbios e Trava-LinguasAna Paula Rocha100% (1)
- Históricos Do Teste Psicológico MIRIAM-2Documento6 páginasHistóricos Do Teste Psicológico MIRIAM-2Milton CameraAinda não há avaliações
- Liceniado em Admistração E Gestão Da Educação Pela Universidade Pedagógica. Mestrando em Avaliação Educacional Pela Universidade Prdagógica de MaputoDocumento15 páginasLiceniado em Admistração E Gestão Da Educação Pela Universidade Pedagógica. Mestrando em Avaliação Educacional Pela Universidade Prdagógica de MaputoAmandio Cunna's CunnaAinda não há avaliações
- Relatório Extração Solido LiquidoDocumento15 páginasRelatório Extração Solido LiquidoJessyka NicollyAinda não há avaliações
- Encapsulamento de Resíduos SólidosDocumento9 páginasEncapsulamento de Resíduos Sólidossimoesrosadutra100% (1)
- Meu Relatório Da Prática 7 (QUI-110)Documento9 páginasMeu Relatório Da Prática 7 (QUI-110)Rodrigo Antônio Pires VieiraAinda não há avaliações
- Doses de Medicamentos Mais Utilizados em PediatriaDocumento7 páginasDoses de Medicamentos Mais Utilizados em Pediatrianveras100% (7)
- Dez Coisas Que Tornam A Oração EficazDocumento3 páginasDez Coisas Que Tornam A Oração EficazFelipe MottaAinda não há avaliações
- A Filosofia Do SucessoDocumento4 páginasA Filosofia Do SucessoAcacio AmaroAinda não há avaliações
- BG11 Teste Evol Classif 2011Documento5 páginasBG11 Teste Evol Classif 2011Ana Fonte100% (1)
- Lista de Dilatacao LinearDocumento3 páginasLista de Dilatacao LinearMeigga JulianeAinda não há avaliações
- Folder-Curso-Grupos de Crescimento EspiritualDocumento3 páginasFolder-Curso-Grupos de Crescimento EspiritualMauriPerkowskiAinda não há avaliações
- Apostila ConstitucionalizaASALo Do DireitoDocumento228 páginasApostila ConstitucionalizaASALo Do DireitoJosé Almeida100% (2)
- Recepção Dos Conceitos AgostinianosDocumento193 páginasRecepção Dos Conceitos AgostinianosWallace Johnson100% (1)
- Erro de TipoDocumento9 páginasErro de TipoRebeca AlmeidaAinda não há avaliações
- Febrapils - Código de Conduta e Ética (2014-17)Documento5 páginasFebrapils - Código de Conduta e Ética (2014-17)José Flávio da Paz100% (1)
- Atividade Objetiva 4 - Antropologia - Identidade e DiversidadeDocumento10 páginasAtividade Objetiva 4 - Antropologia - Identidade e DiversidadeFabiola RodriguesAinda não há avaliações
- DocumentoDocumento135 páginasDocumentoAirton FélixAinda não há avaliações
- Oracao de Sao BentoDocumento1 páginaOracao de Sao BentoEduardo Luis SouzaAinda não há avaliações
- Germinacao e Quebra de Dormencia Das Especies Sucupira Branca Olho de Boi e Jatoba Do CerradoDocumento8 páginasGerminacao e Quebra de Dormencia Das Especies Sucupira Branca Olho de Boi e Jatoba Do CerradoJorgeDigo100% (1)
- 2°-Relatório - Lei de OhmDocumento11 páginas2°-Relatório - Lei de OhmJosé EduardoAinda não há avaliações
- Introducao BotanicaDocumento14 páginasIntroducao Botanicajohnnylarah100% (1)
- 7 Up Modo Subjuntivo 2021Documento11 páginas7 Up Modo Subjuntivo 2021jair barruetaAinda não há avaliações
- MPA - Calendário Eclesiástico 2023Documento5 páginasMPA - Calendário Eclesiástico 2023Darlan CostaAinda não há avaliações
- HEATHER (TRADUÇÃO) - Conan GrayDocumento1 páginaHEATHER (TRADUÇÃO) - Conan GrayCarla GomesAinda não há avaliações
- Sintonia Perfeita (Serie The Re - Amanda Maia-1Documento951 páginasSintonia Perfeita (Serie The Re - Amanda Maia-1Sofia Almeida100% (2)
- Norma 1 Final Pavimentos Determinacao de Deflexoes Utilizando o Curviametro Procedimento PDFDocumento12 páginasNorma 1 Final Pavimentos Determinacao de Deflexoes Utilizando o Curviametro Procedimento PDFCarlos DiasAinda não há avaliações
- Kilza SettiDocumento103 páginasKilza SettiAline MagalhãesAinda não há avaliações
- Servidor Linux para CIDDocumento26 páginasServidor Linux para CIDAdriano AlvesAinda não há avaliações
- Gramática fácil: Para falar e escrever bemNo EverandGramática fácil: Para falar e escrever bemNota: 4 de 5 estrelas4/5 (18)
- Pense Como Um Gênio: Os Sete Passos Para Encontrar Soluções Brilhantes Para Problemas ComunsNo EverandPense Como Um Gênio: Os Sete Passos Para Encontrar Soluções Brilhantes Para Problemas ComunsNota: 4 de 5 estrelas4/5 (27)
- Provérbios: Manual de sabedoria para a vidaNo EverandProvérbios: Manual de sabedoria para a vidaNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (15)
- Inglês Para todos - Aprender Inglês Sem Mistério (Vol 1): 12 histórias com textos bilingue inglês português para iniciantesNo EverandInglês Para todos - Aprender Inglês Sem Mistério (Vol 1): 12 histórias com textos bilingue inglês português para iniciantesNota: 4 de 5 estrelas4/5 (107)
- O homem é aquilo que ele pensa: Saúde, Felicidade e Abundância Através do Domínio do pensamentoNo EverandO homem é aquilo que ele pensa: Saúde, Felicidade e Abundância Através do Domínio do pensamentoNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (16)
- O cemitério das palavras que eu nunca disse: Poemas de uma garota não tão comum sobre o cotidianoNo EverandO cemitério das palavras que eu nunca disse: Poemas de uma garota não tão comum sobre o cotidianoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (10)
- Carnavais, malandros e heróis: Para uma sociologia do dilema brasileiroNo EverandCarnavais, malandros e heróis: Para uma sociologia do dilema brasileiroNota: 4 de 5 estrelas4/5 (1)
- História dos Testes Psicológicos: Origens e TransformaçõesNo EverandHistória dos Testes Psicológicos: Origens e TransformaçõesAinda não há avaliações
- Pensamento Positivo: a arte de transformar seu pensamento negativo em positivoNo EverandPensamento Positivo: a arte de transformar seu pensamento negativo em positivoAinda não há avaliações
- Limite zero: O sistema havaiano secreto para prosperidade, saúde, paz, e mais aindaNo EverandLimite zero: O sistema havaiano secreto para prosperidade, saúde, paz, e mais aindaNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (21)
- Superando o Ciúme Retroativo: Um Guia Para Superar el Passado da Sua Parceira e Encontrar a PazNo EverandSuperando o Ciúme Retroativo: Um Guia Para Superar el Passado da Sua Parceira e Encontrar a PazNota: 5 de 5 estrelas5/5 (7)
- Patologias do social: Arqueologias do sofrimento psíquicoNo EverandPatologias do social: Arqueologias do sofrimento psíquicoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- Dicionário de phrasal verbs: inglês-portuguêsNo EverandDicionário de phrasal verbs: inglês-portuguêsAinda não há avaliações
- Fé cristã e pensamento evolucionista: Atualizações teológico-pastorais a um tema desafiadorNo EverandFé cristã e pensamento evolucionista: Atualizações teológico-pastorais a um tema desafiadorJoel Portella AmadoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Dúvidas de Inglês, Expressões e Phrasal VerbsNo EverandDúvidas de Inglês, Expressões e Phrasal VerbsAinda não há avaliações
- Piaget, Vigotski, Wallon: Teorias psicogenéticas em discussãoNo EverandPiaget, Vigotski, Wallon: Teorias psicogenéticas em discussãoNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (21)
- Introdução a Sociologia: Marx, Durkheim e Weber, referências fundamentaisNo EverandIntrodução a Sociologia: Marx, Durkheim e Weber, referências fundamentaisNota: 5 de 5 estrelas5/5 (3)
- Nutrição Aplicada ao Esporte: Estrategias nutricionais que favorecem o desempenho em diferentes modalidadesNo EverandNutrição Aplicada ao Esporte: Estrategias nutricionais que favorecem o desempenho em diferentes modalidadesNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- NIKOLA TESLA: Minhas Invenções - AutobiografiaNo EverandNIKOLA TESLA: Minhas Invenções - AutobiografiaNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (15)
- Contos que curam: Oficinas de educação emocional por meio de contosNo EverandContos que curam: Oficinas de educação emocional por meio de contosNota: 5 de 5 estrelas5/5 (8)
- Guia Completo das Terapias Alternativas: Métodos terapêuticos naturais que proporcionam saúde integralNo EverandGuia Completo das Terapias Alternativas: Métodos terapêuticos naturais que proporcionam saúde integralNota: 4 de 5 estrelas4/5 (15)