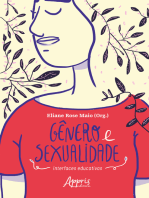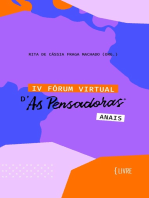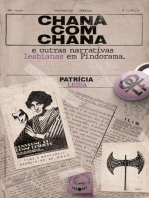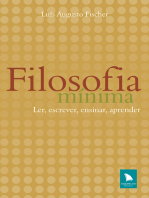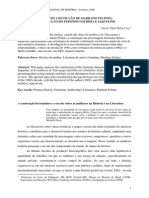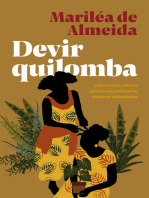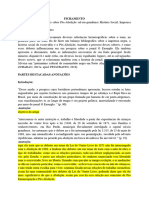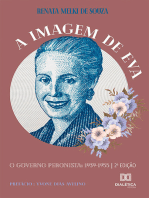Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A_distopia_de_ontem_e_a_realidade_de_ho
Enviado por
Roberta VeigaDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A_distopia_de_ontem_e_a_realidade_de_ho
Enviado por
Roberta VeigaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Entrevista
“A distopia de ontem é a realidade de hoje”:
uma entrevista com Susana Bornéo Funck
Anselmo Peres Alós,
um dos organizadores da presente edição da revista Letras, entrevista Susana Bornéo
Funck, professora aposentada da UFSC e uma das fundadoras
do GT Mulher e Literatura da ANPOLL
Anselmo Peres Alós (APA). Professora Susana, eu gostaria, antes de
qualquer coisa, de agradecer muito pelo seu aceite em conceder essa
entrevista para o número especial da Letras que estamos organizando,
centrada na temática Corpo, trauma e memória na literatura e nas artes das
Américas. Essa temática dialoga um pouco com o trabalho que você de-
senvolveu ao longo de sua trajetória como pesquisadora. Por ora, en-
tretanto, quero deixar essa possibilidade de diálogo em suspenso, e lhe
solicitar para falar um pouco do início da institucionalização da teoria e
da crítica literária feminista nas Universidades brasileiras, em especial
no que diz respeito ao papel da ANPOLL e do GT Mulher e Literatura,
já que muitos dos pesquisadores em formação nos Programas de Pós-
-Graduação em Letras atualmente não possuem essa dimensão histórica
da formação e consolidação da área de investigação Mulher e Literatura
no campo dos estudos literários no Brasil.
Susana Bornéo Funck (SBF). É um prazer, Anselmo, poder
dialogar com você e, neste espaço, revisitar minha trajetória
acadêmica e brincar um pouco de “testemunha ocular da
história”, como no Repórter Esso da minha infância e juventude.
Pois bem, quando ingressei na carreira universitária, em 1984,
como professora de literaturas de língua inglesa na Universida-
de Federal de Santa Catarina, não havia na área de Letras ne-
nhum interesse visível no que então era chamado “a questão da
mulher”. Feminismo era uma palavra muito carregada, para não
dizer um palavrão. A literatura ainda era vista como neutra em
termos ideológicos, e o rigor teórico paralisava qualquer desvio
para arenas não puramente estéticas, embora a crítica literária
feminista já estivesse mobilizada em outros países. Nos Estados
Unidos, por exemplo, após o pontapé inicial de Kate Millett1 em
1970, a “política sexual” começava a matizar vários programas
acadêmicos em maior ou menor escala. No Brasil, o tópico “mu-
lher” aparecia apenas nas Ciências Sociais e, mesmo assim, muito
timidamente. Vale mencionar aqui a importante contribuição da
socióloga Eva Blay já na década de 1970 e dos quatro volumes
de Perspectivas Antropológicas da Mulher, publicados entre 1980 e
1984, pela editora Zahar, no Rio de Janeiro.
Anselmo
Peres Alós Por ocasião do I Encontro da recém fundada Associação de Pós-
-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística (ANPOLL), reali-
386 zado em Curitiba em 1986, houve uma reunião para a criação de
Grupos de Pesquisa (GTs), da qual tive oportunidade de partici-
par. Sugeri então “A Mulher na Literatura”, procurando um ter-
mo não muito agressivo ou perturbador. A aceitação foi ótima,
e a colega Ana Lúcia Almeida Gazzola, já com boa experiência
universitária na UFMG, aceitou organizar o GT como sua primei-
ra coordenadora. A história do GT é longa e bem-sucedida2, tra-
jetória que seria impossível resgatar neste espaço. Mas gostaria
de sublinhar que foram muitas as mudanças em nossos aportes
teóricos e metodológicos. Se, no início, nos pautávamos pelo res-
gate e pela representação, logo tivemos que negociar com novas
correntes do pensamento feminista, como o conceito de gêne-
ro, a teoria queer, a interseccionalidade, as teorias decoloniais.
E chegamos a um impasse: o nome do GT dá conta de todas as
nossas pesquisas? Ou já estamos distantes daquela visão singular
da “mulher” e da “literatura”? Esse é o debate que anima atual-
mente nossas discussões.
Queria ainda aproveitar a pergunta para falar, tão brevemente
quanto possível, de uma atividade que se desenvolveu paralela-
mente ao GT: a dos seminários nacionais (internacionais desde
2003) Mulher e Literatura. Tudo começou em 1985, quando orga-
1 Autora de Sexual Politics (New York: Doubleday, 1969). Há tradução para o português: Política sexual.
Trad. Alice Sampaio, Gisela da Conceição e Manuela Torres. Lisboa: Dom Quixote, 1970.
2 Uma retrospectiva do GT A Mulher na Literatura pode ser conferida em STEVENS, Cristina (Org.).
Mulher e Literatura - 25 anos: raízes e rumos. Florianópolis: Editora Mulheres, 2010.
Letras, Santa Maria, v. 29, n. 59, p. 385-402, jul./dez. 2019
nizamos na UFSC, sob os auspícios da Fulbright, um encontro
regional sobre Mulher e Literatura com a participação de três
professoras visitantes. Ex-alunas nossas, professoras da UFPB,
encamparam a ideia e organizaram, em 1987, o I Encontro Nacio-
nal Presença da Mulher na Literatura, repetido em 1988 na UFRGS
(em Porto Alegre)3 e, em 1989 (em Florianópolis). Com o enorme
sucesso dessas primeiras edições, resolvemos intercalar o even-
to com os encontros nacionais da ANPOLL, visando a ampliação “A distopia
do público acadêmico, já que o GT se restringia a participantes de ontem é a
de programas de pós-graduação. Já tivemos esse Seminário na realidade de
UFF (1991), na UFRN (1993), na UFRJ (1995), novamente na UFF hoje”
(1997), na UFBA (1999), na UFMG (2001), na UFPB (2003), na UERJ
(2005), na UESC (2007), na Universidade Potiguar em Natal/RN 387
(2009), na UnB (2011), na UFC (2013), na UCS (2015), novamen-
te na UFBA (2017) e na UFS (2019). Pela amplitude geográfica e
pelo grande número de publicações, em livros, anais e revistas
dos trabalhos desenvolvidos nesses encontros, é de se enfatizar
sua importância na consolidação dos estudos sobre a mulher e a
literatura no Brasil4.
APA. Saindo desse contexto mais amplo da cena feminista na academia
brasileira, você poderia falar um pouco da sua trajetória como pesqui-
sadora no campo das literaturas de língua inglesa? Aproveito para des-
tacar que foi a partir de seu trabalho que descobri a ficção de Angela
Carter, que me acompanha até hoje. Também gostaria que você falasse
um pouco sobre seu trabalho com a ficção especulativa e as narrativas
distópicas de autoria feminina, uma vez que seu trabalho de pesquisa,
salvo engano de minha parte, é anterior ao boom tradutório brasileiro
de autoras como Margaret Atwood, Ursula LeGuin e Octavia Butler que
estamos presenciando atualmente (no qual a paulistana Editora Morro
Branco tem um papel considerável).
3 Os trabalhos apresentados na edição de 1988 foram reunidos e publicados em um número especial
da revista Organon (volume 16, de 1989), da UFRGS, sob organização de Rita Schmidt. A edição completa
da revista está disponível em: <https://seer.ufrgs.br/organon/issue/archive>.
4 Para conhecer um pouco da produção bibliográfica resultante das atividades do GT Mulher e Lite-
ratura, bem como dos eventos daí resultantes, consultar <http://www.amulhernaliteratura.ufsc.br/anais.
html>, bem como <http://www.amulhernaliteratura.ufsc.br/livros.html>. Ver também <http://www.ieg.ufsc.
br/livros_eletronicos.php>.
Letras, Santa Maria, v. 29, n. 59, p. 385-402, jul./dez. 2019
SBF. Pois então, Anselmo, eu me descobri feminista quando fazia
minha pós-graduação na Universidade do Texas em Arlington.
Mas, devo confessar, fui uma feminista bastante relutante. Quan-
do, em uma disciplina de história contemporânea, o professor
me pediu uma resenha de Sisterhood Is Powerful: An Anthology of
Writings from the Women’s Liberation Movement (organizada por
Robin Morgan, e publicada em New York, pela Handom House,
em 1970), fiquei estarrecida com o radicalismo das várias auto-
ras. Afinal, eu era casadíssima, mãe de duas crianças, trabalhava
Anselmo para poder estudar, e achei tudo uma histeria desmedida. Feliz-
Peres Alós mente, a histeria é contagiosa. Ao iniciar meu doutorado, tinha
me divorciado, participava de manifestações políticas, e resolvi
388 fazer minha tese sobre uma mulher escritora. Mas isso não foi fá-
cil, pois havia lido poucas obras de autoria feminina, e ninguém
no corpo docente trabalhava na área. Por sorte, um professor
que precisava desesperadamente aumentar sua cota de orienta-
ções me aceitou.
Ao retornar ao Brasil, comecei a ler mulheres. O livro de Sandra
Gilbert e Susan Gubar (The Madwoman in the Attic: The Woman Wri-
ter and the 19th Century Literary Imagination. New Heaven: Yale UP,
1979) e a Norton Anthology of Literature by Women (1985), por elas
editada, foram o impulso de que eu precisava. Mas, na verdade,
eu queria trabalhar com autoras contemporâneas. E aos poucos
fui descobrindo Kate Chopin, Sylvia Plath, Erica Jong, Margaret
Laurence, Toni Morrison, Margaret Atwood, Marge Piercy, Ange-
la Carter, Ursula LeGuin, Joanna Russ, Jeanette Winterson e mui-
tas outras. Descobri também uma certa evolução nas narrativas.
A maioria dos romances publicados nos anos de 1960 e 1970 bus-
cava apresentar a experiência feminina sob uma ótica própria,
compartilhando experiências, geralmente por meio de narrati-
vas cronológicas e com final aberto. Havia pouca inovação. É o
caso, por exemplo, de The Bell Jar (Sylvia Plath, 1963), Surfacing
(Margaret Atwood, 1972), Fear of Flying (Erica Jong, 1973) e The
Diviners (Margaret Laurence, 1974). A partir da segunda metade de
1970, começam a surgir posturas mais ousadas. Aquelas autoras/
personagens que haviam aprendido a falar (ou “desaprendido a
não falar”, como no poema de Marge Piercy), mas que ainda se
Letras, Santa Maria, v. 29, n. 59, p. 385-402, jul./dez. 2019
achavam presas a narrativas lineares e bem-comportadas, pas-
saram a ousar – por meio da paródia, do grotesco e da utopia –,
tomando posse e reescrevendo representações tradicionais de su-
jeitos femininos. Incluo aqui alguns poucos exemplos.
Começo com Woman on the Edge of Time (Marge Piercy, 1976),
que foi uma grande revelação para mim. Mesmo já tendo lido as
utopias clássicas, foi com esse romance que compreendi o valor “A distopia
transformador de imaginar um mundo em que as marcas de gêne- de ontem é a
ro são apagadas, as relações sociais são igualitárias e a natureza é realidade de
preservada. E foi a partir dele que a ficção especulativa se tornou hoje”
meu objeto de pesquisa. Já a paródia cáustica (mas divertida) de
The Passion of New Eve (Angela Carter, 1977), que tem o “tornar-se 389
mulher” como premissa básica, me mostrou como o mito pode ser
subvertido para desmascarar as histórias pelas quais somos cons-
truídas. Também o irreverente The Biggest Modern Woman of the
World (Susan Swan, 1983), a pseudo-autobiografia de uma giganta
canadense, brinca com a veracidade dos fatos, colocando em xe-
que a tradição narrativa de auto revelação. Algo semelhante acon-
tece em Nights at the Circus (Angela Carter, 1984), em que o picares-
co é vertido ao feminino na narrativa de uma aeróbata alada em
sua viagem rumo à Sibéria. Tanto a personagem de Susan Swan
quanto a de Angela Carter são mulheres enormes, que não cabem
na casa patriarcal e não se adaptam aos papéis domésticos, daí o
burlesco circense e o insólito das narrativas. É como se os corpos
sempre disciplinados das mulheres explodissem e se tornassem
extravagantes. Nessa linha, os romances utópicos/distópicos de
Margaret Atwood, Joanna Russ e Ursula LeGuin, principalmen-
te, foram uma sequência lógica de meu interesse por narrativas
de ruptura e transgressão. Só lamento que, apesar do boom de
que falas acima, Piercy e Russ não tenham sido traduzidas para
o português.
APA. Há hoje, no Brasil o desenvolvimento de uma demanda bastante
significativa pela ficção especulativa de autoria feminina (seja ela expli-
citamente científica ou não), em especial aquela de acento distópico, que
projeta ficcionalmente futuros próximos bastante sombrios, tanto no
que diz respeito à equidade de gênero quanto no que tange a cenários
Letras, Santa Maria, v. 29, n. 59, p. 385-402, jul./dez. 2019
catastróficos e apocalípticos, tanto em termos políticos quanto em ter-
mos ambientais. O conto da aia, de Margaret Atwood, Kindred, de Octavia
Butler, e Herland, de Charlote Perkins Gilman, foram traduzidos e retra-
duzidos, e circulam bastante entre a nova geração de leitores. Herland,
por exemplo, circula atualmente em duas reedições, por duas editoras
diferentes. Você arriscaria algum caminho para tentar compreender
a retomada da leitura e consumo dessas narrativas pelo público leitor
brasileiro nesse momento histórico específico?
Anselmo SBF. Ironizando, eu poderia dizer que a distopia de ontem é a
Peres Alós realidade de hoje. Mas a questão é bem mais complexa. Histori-
camente, a ficção utópica – e eu não faço muita distinção entre
390 utopia e distopia – tem surgido em épocas de incertezas político-
-ideológicas. Não foi por acaso que 1984 (George Orwell, 1949),
com seu retrato de um regime político totalitário e repressivo,
foi um sucesso de vendas após a eleição de Donald Trump. Parece
bastante lógico, portanto, que no Brasil de hoje, gradualmente
afastado de uma visão socialista, haja uma procura por esse tipo
de ficção. Me pergunto, no entanto, por que traduções? Seria
a ficção especulativa, especialmente a distópica, uma tradição
literária anglófona? Na literatura brasileira, conheço apenas a
utopia feminista de Emília Freitas, A Rainha do Ignoto (1899), em
que uma sociedade alternativa e separatista, formada por “mu-
lheres paladinas”, floresce na Ilha do Nevoeiro, no interior do
Ceará, e empreende uma luta contra a opressão de gênero e o
patriarcado. E aqui, esbarrando na minha ignorância, vou à In-
ternet e descubro: sim, distopias brasileiras existem. No blog
<www.listasliterarias.com>, de Douglas Eralldo, encontro duas pos-
tagens sobre o assunto: 10 distopias brasileiras para você conhe-
cer (02 de maio de 2017) e 10 recentes distopias brasileiras (12
de julho de 2018). Entre elas: Não Verás País Nenhum, de Ignácio
Loyola de Brandão (1981), Admirável Brasil Novo, de Ruy Tapioca
(2001) e Ninguém Nasce Herói, de Eric Novello (2017). Descubro,
ainda, por meio da colega Constância Lima Duarte, o romance
questionavelmente feminista e utópico de Adalzira Bittencourt,
Sua Excelência: a Presidente da República no ano 2500 (1919). Há tam-
bém o conto distópico “Cidadela”, de Lyra Ribeiro, publicado em
Universo Desconstruído: ficção científica feminista (Org. Aline Valek,
Letras, Santa Maria, v. 29, n. 59, p. 385-402, jul./dez. 2019
2013)5. Mesmo assim, muito pouco. Talvez tenha chegado a hora,
nestes tempos de “menino veste azul e menina veste rosa”, de
produzirmos mais utopias feministas.
APA. Uma das principais disputas na cena teórico-crítica feminista foi o
debate (embate?) essencialismo vs. construcionismo, que (me parece) surgiu
muito em função do embate woman’s studies vs. gender studies, em especial
no contexto intelectual anglo-americano. Atualmente, esse debate já não “A distopia
se organiza mais em torno de uma lógica radicalmente excludente, ao que de ontem é a
me parece, em especial depois da discussão proposta por Gayatri Chakra- realidade de
vorty Spivak em torno do gesto retórico que ela batizou de essencialismo hoje”
estratégico. Gostaria de pedir que você comentasse um pouco o seu pró-
prio movimento de circulação e/ou afiliação, ao longo de sua carreira, em 391
torno desses dois polos: essencialismo e construcionismo.
SBF. Em artigo publicado na coletânea Trocando Ideias: Sobre a
Mulher e a Literatura, por mim organizada (Florianópolis: UFSC,
1994), discuti a passagem da categoria mulher para a categoria
gênero, mudança essa que para Elaine Showalter foi uma das
mais marcantes nas Ciências Humanas e nas Letras na década de
1980 (Cf. Elaine Showalter. “Introduction: The Rise of Gender”.
In: Elaine Showalter. Speaking of Gender. New York: Routledge,
1989. p. 1-13). Naquela época, ela já alertava para as consequên-
cias ambíguas dessa mudança. Por um lado, “gênero” dava maior
credibilidade acadêmica à crítica literária feminista, ao incorpo-
rar também o masculino já que, como na Bíblia e na gramática,
o feminino é sempre derivado e secundário. Por outro lado, a ca-
tegoria gênero poderia voltar a direcionar a investigação para o
centro, para a literatura consagrada ou canônica, e despolitizar a
prática feminista. No meu entender, as duas coisas aconteceram.
Quanto ao essencialismo, não acho que ele tenha sido tão pre-
judicial, já que sempre soubemos que “não se nasce mulher”.
Sempre soubemos, também, que mulheres de diferentes cama-
das sociais, etnias e orientações sexuais sofrem discriminações
semelhantes em diferentes partes do mundo. O próprio termo
5 O livro pode ser baixado gratuitamente em http://www.alinevalek.com.br/blog/download/3408/.
Letras, Santa Maria, v. 29, n. 59, p. 385-402, jul./dez. 2019
women’s studies da tradição anglófona é plural: mulheres. Também
não é problema se a expressão foi traduzida como singular para o
português, “a mulher”, pois linguisticamente o singular pode ser
plural. Quando digo que “o gato é um animal doméstico”, estou
me referindo a gatos de diferentes tamanhos, raças e cores. Nós,
mulheres brancas e heterossexuais, tínhamos, sim, consciência
das diferenças entre as mulheres e lidávamos com questões de
raça, classe e diversidade sexual mesmo antes da intersecciona-
lidade se tornar o conceito da moda. Afinal, pela complexidade
Anselmo do ser humano, podemos não ser interseccionais? Dois exemplos:
Peres Alós em 1982, escrevi minha tese de doutorado sobre May Sarton,
uma escritora imigrante e assumidamente lésbica; em 1983, Rita
392 Terezinha Schmidt defendeu sua tese sobre a política de raça e
sexo em Zora Neale Hurston.
Voltando à tua pergunta, no debate/embate entre essencialismo
vs. construcionismo, fico com a argumentação de Diana Fuss (Es-
sentially Speaking: Feminism, Nature and Difference. New York: Rou-
tledge, 1989), de que o próprio construcionismo é essencialista
e de que a divisão entre essencialismo e construcionismo não é
sólida, já que uma essência pode se transformar e uma construção pode
se tornar normativa.
APA. Há uma faceta de seu trabalho menos conhecida (ao menos, era
menos conhecida por mim), que é a pesquisa desenvolvida em torno de
representações midiáticas e publicitárias, na linha da Análise Crítica do
Discurso, que você desenvolveu ao longo do tempo em que atuou junto
ao Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da Universida-
de Católica de Pelotas. Seria possível comentar um pouco esse outro
lado da sua produção, e as possibilidades de diálogo entre Linguística
Aplicada, Crítica Literária e Estudos Feministas? Faço essa pergunta de
modo bastante interessado, quase interesseiro, já que eu mesmo tenho
assumido um discurso bastante crítico com relação à separação cada
vez mais rígida entre Estudos Linguísticos e Estudos Literários, fomen-
tada em certo sentido pela própria ANPOLL, e não raro acriticamente
implementada e defendida pelos Programas de Pós-Graduação da área
de Letras país afora.
Letras, Santa Maria, v. 29, n. 59, p. 385-402, jul./dez. 2019
SBF. Meu ingresso na Análise Crítica do Discurso foi acidental.
Quando me aposentei pela primeira vez, durante o “terrorismo”
institucional da era FHC6, em que ameaçavam retirar benefícios
das universidades federais (sim, já aconteceu antes!), fui convi-
dada a atuar no recém-criado Mestrado em Letras da Universi-
dade Católica de Pelotas. Logo após meu ingresso, a área de con-
centração em literatura foi fechada por razões administrativas e
financeiras. Pediram, então, que eu ministrasse uma disciplina “A distopia
sobre gênero e suas representações na mídia impressa. Gostei de ontem é a
muito. Apesar de às vezes me achar envolvida em uma espécie realidade de
de “prostituição acadêmica” ao abraçar uma nova área, me apro- hoje”
fundei nas teorias de Norman Fairclough, Günter Kress e Theo
van Leewen, entre outros, e descobri que há muito em comum 393
entre a análise do discurso e a crítica literária, fundamentalmen-
te porque ambas lidam com a materialidade linguística e podem
ter um cunho político e social. Existe até uma piada acadêmica
que diz que a análise do discurso foi uma maneira que os linguis-
tas encontraram para se apropriar da literatura. Mas o trabalho
com discurso me exigiu também um conhecimento da multimo-
dalidade e da gramática visual, essenciais para o letramento con-
temporâneo. E descobri como o uso da linguagem cotidiana pode
cristalizar ou desestabilizar conceitos.
Trabalhei nessa área por pouco mais de treze anos, quando voltei
para a UFSC em 2009.
Entre as pesquisas que mais despertaram meu interesse, destaco
uma sobre revistas de decoração e outra sobre obituários. Na pri-
meira, examinei a decoração de quartos para meninas e meninos,
tendo constatado que no imaginário da arquitetura de interiores
meninos gostam de objetos que se movimentam (trens, aviões,
carros), que remetem a viagens (mapas e globos terrestres) e que
lhes permitam agir (tocar guitarra, patinar). Suas camas são des-
pojadas de qualquer conforto, e as cores predominantes são o
6 A entrevistada refere-se à política neoliberal do governo de Fernando Henrique Cardoso, também
chamado Governo FHC, que teve início com a posse da presidência por Fernando Henrique Cardoso, em
1° de janeiro de 1995, e terminado em 1° de janeiro de 2003, quando Luiz Inácio Lula da Silva assumiu
a Presidência da República.
Letras, Santa Maria, v. 29, n. 59, p. 385-402, jul./dez. 2019
preto, o azul e o vermelho. Já as meninas são confortavelmente
acomodadas em macias camas rosadas, com desenhos florais e
muitos babados, e suas atividades se restringem a bonecas, bi-
chinhos de pelúcia e a assistir televisão. Exemplos perfeitos de
como se constrói uma essência. Sinceramente, espero que isso
esteja mudando.
Na pesquisa sobre obituários, descobri que há sexo após a mor-
te. Os obituários masculinos exaltam a experiência profissional,
Anselmo os femininos enfatizam as qualidades humanas e sociais, mesmo
Peres Alós que as mulheres tenham sido empresárias de sucesso. Os homens
lutam contra a doença, as mulheres sucumbem a ela. Na vida (e
394 na morte) real, as dicotomias entre feminino e masculino ainda
são soberanas.
APA. Você atuou até recentemente (2014, se não me engano) como pes-
quisadora na UFSC. Não estou seguro se sua atuação foi restrita ao Pro-
grama de Pós-Graduação em Inglês, ou se você também atuou junto ao
Instituto de Estudos de Gênero (IEG/UFSC). Seria possível comentar um
pouco a organização e a rotina de trabalho do IEG? Até onde sei, ele é
uma iniciativa ímpar, sendo um dos poucos (talvez o único) instituto
interdisciplinar de estudos de gênero do país.
SBF. O IEG foi criado em 2005, sob coordenação de Miriam Gros-
si, para integrar e institucionalizar vários grupos e projetos de
pesquisa, inicialmente apenas da UFSC, e desenvolver atividades
interdisciplinares de ensino, pesquisa e extensão. Atualmen-
te conta com mais de 20 núcleos e laboratórios, entre os quais
cito como exemplos o GECAL (Gênero, Educação e Cidadania na
América Latina), o NeTrans (Núcleo de Estudos e Pesquisas de
Travestilidades, Transgeneridades e Transexualidades), e o LA-
BGEF (Laboratório de Relações de Gênero e Família). Academica-
mente, dá suporte à área de Concentração em Estudos de Gênero
do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Hu-
manas da UFSC, mas promove várias atividades abertas, entre
congressos, cursos e oficinas, como o Seminário Internacional
Fazendo Gênero, Cursos de Curta Duração em Gênero e Feminis-
mo, Cursos de Especialização em Gênero e Diversidade na Escola,
Letras, Santa Maria, v. 29, n. 59, p. 385-402, jul./dez. 2019
e a Oficina Potencialidades de Lideranças Femininas, essa última
junto à Eletrosul. Também importante entre seus objetivos é a
participação, articulada com movimentos sociais, na formulação
e encaminhamento de políticas públicas.
Não tenho tido uma participação muito ativa nas atividades ge-
rais do IEG, mas atuo na editoria da Revista Estudos Feministas, lá
sediada. Convido a quem esteja lendo esta entrevista a visitar os “A distopia
sites do IEG7 e da Estudos Feministas8, pois o trabalho realizado na de ontem é a
área de gênero na UFSC é um dos mais respeitados na comuni- realidade de
dade acadêmica brasileira. Mas há também que destacar o NEIM hoje”
(Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher) da UFBA,
a única universidade brasileira a oferecer um bacharelado em 395
Gênero e Diversidade e uma Pós-Graduação em Estudos Interdis-
ciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismo.
APA. Recentemente saiu publicado seu livro, intitulado Crítica Literária
Feminista: uma trajetória (Florianópolis: Insular, 2016). Gosto muito do li-
vro, em particular do capítulo “O que é uma mulher?”. Gosto também
(confesso aqui) de exercitar a imaginação, tentando saber a quem você se
refere no pós-escrito a esse capítulo... Mas a minha questão é um pouco
mais generalista: você poderia comentar um pouco a gênese, as escolhas e
as discussões conduzidas por você ao longo desse alentado volume?
SBF. Quando fui aposentada compulsoriamente ao completar 70
anos em 2014 (a extensão para 75 só foi aprovada mais tarde),
permaneci ainda algum tempo como professora voluntária, con-
cluindo orientações e ministrando aulas. Mas a rotina burocráti-
ca e a crescente informatização da universidade (cada semestre
uma plataforma nova, e o bendito Lattes para “cultivar”) acaba-
ram por me convencer de que, após 52 anos de magistério, estava
na hora de parar. No entanto, pressionada pelas leis da inércia,
precisava parar aos poucos. Foi então que resolvi “formatar” as
coisas esparsas que havia aprendido e produzido, buscar uma
espécie de coerência ao trabalho realizado ao longo de 30 anos
7 Cf. www.ieg.ufsc.br.
8 Todos os números da revista Estudos Feministas encontram-se disponíveis em https://periodicos.ufsc.
br/index.php/ref/index.
Letras, Santa Maria, v. 29, n. 59, p. 385-402, jul./dez. 2019
de atuação na universidade. De início pensei em selecionar uma
publicação de cada ano, mas não funcionou. Houve anos em que
publiquei pouco, outros em que fui mais produtiva. Então decidi
escolher os 30 artigos que mais me agradaram. Foquei na litera-
tura, que é minha paixão. E me surpreendi muito, tanto com o
que achei bom, quanto com aquilo que desejei nunca ter publica-
do. Como muita coisa já estava ultrapassada teórica e conceitu-
almente, resolvi incluir comentários após cada artigo no sentido
de atualizá-los e até mesmo criticá-los. Foi uma experiência mui-
Anselmo to gratificante, mas não sem dificuldades. Muitos dos trabalhos
Peres Alós tinham sido escritos em inglês, e traduzir a si mesma para uma
outra língua não é uma tarefa fácil, pelo menos não para mim.
396 Outro problema foi o autoplágio propiciado pelo terrível “recor-
ta e cola”. Tive que literalmente reescrever longas passagens.
Mas valeu a pena. Fazer um livro é sempre um prazer estético.
Não pude escolher a diagramação da capa, pois o livro fez parte
de uma série (Estudos Culturais) da Pós-Graduação em Inglês da
UFSC, mas a ilustração foi uma escolha minha, do acervo de uma
aluna (Marina M. Amaral) da PGI.
As discussões conduzidas no livro ilustram literalmente uma tra-
jetória pessoal, já que se são apresentadas cronologicamente. Co-
meço pela poesia, primeiro tópico de crítica feminista que me in-
teressou, sigo pela utopia e pelo grotesco nas literaturas de língua
inglesa, passo pelo revisionismo dos contos de fadas e, nos mais
recentes, tento duas coisas novas: teorizar um pouco mais (nunca
fui muito teórica) e incluir algumas autoras brasileiras (talvez me
sentindo um pouco culpada). Foi uma ótima experiência.
APA. Em seu intitulado Explosão feminista (São Paulo: Companhia das
Letras, 2016), Heloísa Buarque de Hollanda faz uma leitura bastante
otimista da retomada incisiva do discurso feminista, de modo mais ho-
rizontal, nas redes sociais, na mídia e entre as jovens brasileiras, parti-
cularmente no contexto das universidades e do Ensino Médio. Ela chega
a batizar essa nova onda de “quarta onda feminista”, relacionando-a
à disseminação da internet e das tecnologias digitais. De minha parte,
tenho cada vez mais ido na direção oposta à de Hollanda, no sentido de
ser bastante cético com relação a esse “Feminismo Facebook”, que me
Letras, Santa Maria, v. 29, n. 59, p. 385-402, jul./dez. 2019
parece rápido e ligeiramente superficial, com mais ares de produto para
consumo em massa do que de dispositivo de tomada de consciência e
desenvolvimento de pensamento crítico. (Talvez isso tenha a ver com
minha personalidade, naturalmente cínica e pessimista). Como você vê
esse fenômeno?
SBF. Embora não tenha lido Explosão feminista, estive com a He-
loísa recentemente no Seminário Mulher e Literatura em Aracaju “A distopia
e a ouvi falar sobre o assunto. Meus comentários, portanto, po- de ontem é a
dem não ser muito confiáveis. De qualquer forma, quero abordar realidade de
em primeiro lugar essa história de “onda”. Moro em uma ilha e, hoje”
quando vou à praia, fico a observar esse movimento de vai e vem,
onda após onda. Mas nunca vejo a praia mudar. A paisagem é im- 397
placavelmente a mesma. Será que é isso que acontece com o fe-
minismo? Talvez a “primeira onda” possa ser denominada assim,
já que, alcançados os objetivos imediatos (o voto, por exemplo),
a situação das mulheres não se alterou muito. Mas a “segunda
onda” foi muito mais longe, como um maremoto. O movimen-
to feminista realmente abalou a cultura ocidental, destruindo
modos de pensamento e criando novas formas de estar no mun-
do. Não foi Stuart Hall que reconheceu o feminismo, junto com
o marxismo e a psicanálise, como a grande revolução do século
XX? O que se vê depois dessa “onda” são as reconstruções, inova-
doras ou conservadoras, de uma praia destruída.
Retomando a ideia da “quarta onda”, apesar do reconhecimen-
to de uma mudança radical de plataforma, vejo dois problemas:
a fragmentação do movimento feminista e a falta de memória
histórica. Existem feminismos negros, de periferia, LGBT+ e
muitos outros, mas a ideia de irmandade parece ter se perdido
no caminho. Um não escuta o outro e o outro também não quer
escutar. Um pouco de “essencialismo estratégico” não faria mal
aqui. O feminismo negro, por exemplo, não sabe que suas avós
(bisavós?) da “casa grande” liam Soul on Ice (1968), de Eldridge
Cleaver, com paixão e veneravam Malcolm X e Angela Davis ao
mesmo tempo em que lutavam por causas “universais”. Até en-
tendo que isso possa legitimamente acontecer nos movimentos.
Mas na academia é inaceitável. Quem lê Simone de Beauvoir hoje
Letras, Santa Maria, v. 29, n. 59, p. 385-402, jul./dez. 2019
em dia? Quem conhece Nísia Floresta e Heleieth Saffioti, que por
sinal já trabalhava com interseccionalidade em A Mulher na Socie-
dade de Classes (Petrópolis: Vozes, 1976)? Quem lê Maria Firmina
dos Reis? E questionam estudiosas brancas de escritoras negras
quanto ao seu lugar de fala, como aconteceu com Sandra Almei-
da no último encontro Fazendo Gênero em Florianópolis. Confesso
que estou cansada de ter de pedir desculpas por não ter nascido
negra ou pobre ou homossexual.
Anselmo De modo geral, como em outras tantas áreas, parece haver uma
Peres Alós terrível superficialidade com “ares de produto para consumo em
massa”, como tu afirmas acima. De qualquer forma, para bem ou
398 para mal, todos esses movimentos rápidos e independentes têm
o grande mérito de ter tirado a palavra “feminismo” do gueto
ao qual por tanto tempo ficou relegada. Como tecnofóbica que
sou, não posso avaliar o alcance das tecnologias digitais. Prefiro,
como Jô Soares, permanecer uma influenciadora analógica.
APA. Frente a essa nova onda neoconservadora que aflige não apenas
a política e a educação, mas também algumas dimensões mais íntimas
(quase privadas) da vida das brasileiras e dos brasileiros, tenho notado
posturas quase que diametralmente opostas por parte dos pesquisado-
res da área de Letras (particularmente dos estudos literários). De um
lado, pesquisadores que dão um passo atrás e tentam não deixar tão
explícita a orientação feminista de suas pesquisas. De outro, pesquisa-
dores (e aqui eu me incluo) que fazem questão de explicitar ainda mais
o acento feminista, antirracista, anti-homofóbico e socialmente refe-
renciado de seu trabalho intelectual. Você poderia comentar um pouco
essas estratégias intelectuais de sobrevivência/resistência no contexto
das universidades brasileiras de hoje, delineando um pouco como são as
suas próprias estratégias no que diz respeito a essa questão?
SBF. Como não estou mais na ativa e me relaciono quase que exclu-
sivamente com feministas “de carteirinha”, não sei se poderei co-
mentar sobre estratégias de sobrevivência nas universidades. Mas
posso garantir que essa postura supostamente neutra não é nova,
embora eu não tenha visto uma onda conservadora como a atual
nem na ditadura militar (ingressei na universidade em 1964).
Letras, Santa Maria, v. 29, n. 59, p. 385-402, jul./dez. 2019
O que acontece, eu acho, é que vários pesquisadores pensam que
estão fora da ideologia ao declararem, como na crítica literária,
um rigor teórico e uma postura desinteressada, vendo a litera-
tura como algo puramente estético. O que não percebem, e aqui
cito livremente Terry Eagleton (Ideologia. São Paulo: Edusp/Boi-
tempo, 1997)9, é que ideologia, como o mau hálito, é algo que só
os outros têm. As histórias literárias, as antologias, os currículos,
os planos de curso não são ideológicos? Por que então teóricas e “A distopia
críticas feministas têm, por pelo menos cinco décadas, se dedi- de ontem é a
cado a resgatar escritoras que ficaram esquecidas ao longo dos realidade de
séculos? O IEG da UFSC vem realizando uma série de palestras hoje”
sobre mulheres na filosofia, que é de uma riqueza surpreenden-
te. E tem muito mais a fazer. Meu grande sonho é que se produza 399
uma história literária brasileira que inclua a autoria feminina
e a autoria negra não como uma história paralela, e portanto,
marginal, mas perfeitamente integrada aos textos canonizados
da nossa literatura.
Quanto às estratégias de sobrevivência/resistência, acho que é
só pela resistência que se sobrevive a longo prazo. Passei minha
carreira universitária rotulada como a feminista de plantão (“se
é coisa de mulher, fala com a Susana”), e não perdi nada com isso.
Talvez tenha deixado de ocupar algum cargo em alguma agên-
cia de fomento ou na administração... sei lá... na verdade, nunca
pensei sobre isso. Mas quando vejo o que minhas alunas e suas
alunas (agora já doutoras) estão fazendo pelo feminismo, sei que
a margem foi um território fértil. Quando acenderem a fogueira,
quero estar lá com a Fernanda Montenegro.
APA. Em 2020, a UFSC sediará a 12ª edição do Seminário Internacional
Fazendo Gênero. Trata-se dos maiores eventos de vocação interdisci-
plinar para a discussão de feminismos e estudos de gênero da América
Latina, se não o maior. Pouquíssimas pessoas, entretanto, sabem que
o início desse monumental evento se deu como um encontro de pes-
quisadoras da área de literatura. É quase com descrédito que pesquisa-
dores de outras áreas (Filosofia, História, Saúde Pública, Enfermagem
9 O original em inglês foi publicado pela primeira vez em 1991.
Letras, Santa Maria, v. 29, n. 59, p. 385-402, jul./dez. 2019
e Psicologia, entre outras) miram-me quando afirmo que o Fazendo
Gênero nasceu da pesquisa quase que exclusivamente feita, à época de
sua primeira edição, por pesquisadoras da área dos estudos literários.
A primeira edição do evento, em 1994, foi organizada pelo Programa de
Pós-Graduação em Literatura da UFSC. Atualmente, entretanto, quando
corremos os olhos nos Simpósios Temáticos do evento, o que vislumbro
é um apagamento gigantesco da representatividade das pesquisas lite-
rárias no contexto mais amplo das pesquisas que se ancoram no feminis-
mo e nos estudos de gênero. Confesso que isso me deixa um pouco frus-
Anselmo trado. Mas há uma outra chave de leitura, menos pessimista: podemos
Peres Alós ler aí o florescimento das perspectivas feministas e de estudos de gêne-
ro em áreas outras. Pergunto: como você lê esse “desaparecimento” dos
400 estudos literários do panorama do Fazendo Gênero? Estaria eu sendo
desnecessariamente pessimista?
SBF. Tens razão. O Fazendo Gênero foi gerado por Zahidé Mu-
zart (fundadora da Editora Mulheres e organizadora da surpre-
endente antologia Escritoras Brasileiras do Século XIX, em três
volumes)10 e batizado por mim, com expressão “roubada” de
Maria Luiza Heilborn. Surgiu na literatura, mas foi interdisci-
plinar desde seu início. Por razões administrativas e numéricas
(éramos poucas pesquisadoras feministas na área de Letras), o
evento passou a ser encampado pelo Centro de Filosofia e Ci-
ências Humanas, com um maior número de departamentos e
vocação interdisciplinar (antropologia, história, sociologia e
filosofia). Conforme outras áreas eram infectadas pelo vírus fe-
minista, a participação das Letras tornou-se proporcionalmen-
te menor. Foram se juntando ao grupo pesquisadoras da área de
saúde, especialmente da Enfermagem, da Educação, do Serviço
Social, sem falar da Universidade Estadual de Santa Catarina
(UDESC), com sua ênfase em Educação e Artes. Mais tardias fo-
ram as adesões dos cursos de Jornalismo, Artes Cênicas e Direi-
to. Soma-se a isso o fato de que nossa área não mantém uma
relação direta com os movimentos, importante pilar dos estu-
dos de gênero atuais. Temos, também, pelo menos dois grandes
10 MUZART, Z. L. (Org.) Escritoras Brasileiras do Século XIX. Florianópolis: Editora Mulheres; Santa Cruz
do Sul: EDUNISC, 1999 (volume 1), 2004 (volume 2) e 2009 (volume 3).
Letras, Santa Maria, v. 29, n. 59, p. 385-402, jul./dez. 2019
encontros nacionais: o do GT da ANPOLL e o Seminário Mulher
e Literatura. De qualquer forma, tenho uma boa notícia. Parece
que a literatura vem renascendo, já que temos 11 dos 192 Sim-
pósios Temáticos do próximo Fazendo Gênero (em 2020), fora
os mais gerais sobre Artes e Comunicação.
APA. Nos meus tempos de pós-graduação, mais especificamente quan-
do eu estava começando meu doutorado (no início dos anos 2000), pa- “A distopia
recia uma tendência quase consensual nas Ciências Humanas deixar de ontem é a
os termos “mulheres” e “feminismos” de lado, optando-se pela iden- realidade de
tificação das perspectivas teórico-metodológicas com a etiqueta “es- hoje”
tudos de gênero”. Se por um lado isso permitia um alargamento das
perspectivas, incluindo na pauta estudos sobre as masculinidades, bem 401
como investigações sobre questões gays, lésbicas e (mais recentemente)
transexuais, parece-me que corremos o grave risco de esquecer as lu-
tas, as conquistas e os avanços específicos do feminismo e das luta das
mulheres (seja o feminismo entendido como uma postura epistêmica,
seja ele entendido como uma agenda de luta no campo social). Mais re-
centemente, tenho observado que nem mesmo o termo “gênero” tem
sido articulado, já que “corpos” e “afetos” são categorias que me pare-
cem estar substituindo a própria noção de “estudos de gênero” (talvez
na tentativa de despistar os rastreadores dos “ideólogos de gênero” de
programas como o Escola Sem Partido). Em outras palavras, parece-me
que por trás de cada avanço, há um retrocesso. Você poderia comentar
um pouco como vê esse contexto?
SBF. Concordo que cada ganho envolva uma perda. E já comen-
tei um pouco sobre isso anteriormente. Mas gostaria de ressal-
tar que há como que um renascimento do termo “feminismo”
(geralmente no plural) em correntes recentes da teoria crítica
feminista, como em ecofeminismo, feminismo pós-humano, fe-
minismos transnacionais, feminismos decoloniais e feminismos
interseccionais. A mulheridade é que parece não estar recebendo
tanta atenção, como também já tive oportunidade de observar.
Tenho notado, ainda, pouca referência aos estudos queer e ao que
se costumava chamar de Sexualidades Subalternas, talvez esses,
sim, articulados sob a rubrica de corpos e afetos.
Letras, Santa Maria, v. 29, n. 59, p. 385-402, jul./dez. 2019
Como sou um tanto avessa à filosofia e à psicanálise, não vou
falar sobre corpos e afetos, já que não conheço bem os conceitos.
Mas quero comentar sobre os “rastreadores” de que falas acima.
Conheci muitos nos anos de chumbo. Nunca pensei que os veria
novamente. Pior: acabo de ouvir a notícia de que vão ser criadas
mais de duzentas escolas cívico-militares no país. Nem na dita-
dura vi algo semelhante. Mais do que nunca precisamos forta-
lecer os feminismos e os estudos de gênero tanto como postura
epistêmica, quanto como uma agenda de luta no campo social. A
Anselmo academia e os movimentos, mais do que nunca, precisam dialo-
Peres Alós gar.
402 APA. Susana, muito obrigado pela conversa. Espero que consigamos
nos reencontrar ao longo do próximo Fazendo Gênero, em 2020. Muito
obrigado!
SBF. Eu é que agradeço pela oportunidade de ter me “desaposen-
tado” por algum tempo.
Letras, Santa Maria, v. 29, n. 59, p. 385-402, jul./dez. 2019
Você também pode gostar
- Dosreiss,+02+apresentação Do-Dossiê - Festas - Zélia e DaniloDocumento4 páginasDosreiss,+02+apresentação Do-Dossiê - Festas - Zélia e DaniloLucas SantosAinda não há avaliações
- Entrevista com Profa Ana Maria Veiga sobre feminismos e militância de mulheresDocumento5 páginasEntrevista com Profa Ana Maria Veiga sobre feminismos e militância de mulheresKarinaAinda não há avaliações
- Imprensa, Gênero e Poder - Aguimario Pimentel SilvaDocumento187 páginasImprensa, Gênero e Poder - Aguimario Pimentel SilvaAguimarioPimentel100% (1)
- Jeito de Freira - 2020Documento97 páginasJeito de Freira - 2020Nal SiromaAinda não há avaliações
- Maya angelou e a autobiografia ritmada de the heart of a womanNo EverandMaya angelou e a autobiografia ritmada de the heart of a womanAinda não há avaliações
- A Arte de Morrer e Renascer em Ariel, de Sylvia PlathNo EverandA Arte de Morrer e Renascer em Ariel, de Sylvia PlathAinda não há avaliações
- Cristianismo 000774528 PDFDocumento54 páginasCristianismo 000774528 PDFMiguel AntónioAinda não há avaliações
- Breve história do feminismo no Brasil e outros ensaiosNo EverandBreve história do feminismo no Brasil e outros ensaiosNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- Pensadores sociais e história da educação - Vol. 2No EverandPensadores sociais e história da educação - Vol. 2Nota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Prática feminista além da escritaDocumento28 páginasPrática feminista além da escritaThiago AmorimAinda não há avaliações
- Chanacomchana: e outras narrativas lesbianas em PindoramaNo EverandChanacomchana: e outras narrativas lesbianas em PindoramaAinda não há avaliações
- A história ensina a nadar - Biografia de Luce Fabbri revela concepção libertária da históriaDocumento4 páginasA história ensina a nadar - Biografia de Luce Fabbri revela concepção libertária da históriaLex SilvaAinda não há avaliações
- História das Mulheres: Fontes para EstudoDocumento11 páginasHistória das Mulheres: Fontes para EstudojeldursilAinda não há avaliações
- Práticas Sociais, Discurso, Gênero Social: Explanações Críticas sobre a Vida SocialNo EverandPráticas Sociais, Discurso, Gênero Social: Explanações Críticas sobre a Vida SocialAinda não há avaliações
- Carlos Eduardo de Almeida OgawaDocumento139 páginasCarlos Eduardo de Almeida OgawaMaria JoséAinda não há avaliações
- Filosofia mínima: Ler, escrever, ensinar, aprenderNo EverandFilosofia mínima: Ler, escrever, ensinar, aprenderAinda não há avaliações
- Narrativas de imigrantes italianos em Porto Alegre (1920-1937Documento488 páginasNarrativas de imigrantes italianos em Porto Alegre (1920-1937Jaqueson MedinaAinda não há avaliações
- Crítica da colonialidade em oito ensaios: e uma antropologia por demandaNo EverandCrítica da colonialidade em oito ensaios: e uma antropologia por demandaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Antropologia Pós-Social, Perspectivas e Dilemas Contemporâneos, Entrevista Com Marcio GoldmanDocumento16 páginasAntropologia Pós-Social, Perspectivas e Dilemas Contemporâneos, Entrevista Com Marcio Goldmangord0ooAinda não há avaliações
- Memória e resistência na obra de Guido AlcaláDocumento291 páginasMemória e resistência na obra de Guido Alcalácoreudald6709Ainda não há avaliações
- Entre o pavor e o prazer: infância homoafetiva na literatura brasileiraNo EverandEntre o pavor e o prazer: infância homoafetiva na literatura brasileiraAinda não há avaliações
- Feminista, eu?: Literatura, Cinema Novo, MPBNo EverandFeminista, eu?: Literatura, Cinema Novo, MPBAinda não há avaliações
- 000027C9Documento75 páginas000027C9Gu FerreiraAinda não há avaliações
- Escritas do corpo feminino: perspectivas, debates, testemunhosNo EverandEscritas do corpo feminino: perspectivas, debates, testemunhosAinda não há avaliações
- A missão na literatura: A redução jesuítica em A fonte de O tempo e o ventoNo EverandA missão na literatura: A redução jesuítica em A fonte de O tempo e o ventoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Mulheres e imprensa no século XIX: Projetos feministas no Rio de Janeiro e em Buenos AiresNo EverandMulheres e imprensa no século XIX: Projetos feministas no Rio de Janeiro e em Buenos AiresAinda não há avaliações
- Literatura feminina: identidade e diferençaDocumento7 páginasLiteratura feminina: identidade e diferençaFabiana SantosAinda não há avaliações
- Histórias no Singular: Textos, Práticas & SujeitosNo EverandHistórias no Singular: Textos, Práticas & SujeitosAinda não há avaliações
- Marilene FelintoDocumento10 páginasMarilene FelintoBrett PeckAinda não há avaliações
- Dispositivo Nacional: Biopolítica e (anti) modernidade nos discursos fundacionais da ArgentinaNo EverandDispositivo Nacional: Biopolítica e (anti) modernidade nos discursos fundacionais da ArgentinaAinda não há avaliações
- Novas pautas para a História Social: ensaios, pesquisas e memórias do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro nos seus 40 anosNo EverandNovas pautas para a História Social: ensaios, pesquisas e memórias do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro nos seus 40 anosAinda não há avaliações
- BORGES NETO - Historia Da Linguistica No BrasilDocumento10 páginasBORGES NETO - Historia Da Linguistica No Brasilfabio_mesqAinda não há avaliações
- Negras Travessias: Ativismos e Pan-Africanismos de Mulheres NegrasNo EverandNegras Travessias: Ativismos e Pan-Africanismos de Mulheres NegrasAinda não há avaliações
- Mulheres e Justiça: Teorias da Justiça da Antiguidade ao Século XX Sob a Perspectiva Crítica de GêneroNo EverandMulheres e Justiça: Teorias da Justiça da Antiguidade ao Século XX Sob a Perspectiva Crítica de GêneroNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Memorias, historias e etnografias: estudos a partir da história oralNo EverandMemorias, historias e etnografias: estudos a partir da história oralAinda não há avaliações
- Capítulos de história intelectual: Racismo, identidades e alteridades na reflexão sobre o BrasilNo EverandCapítulos de história intelectual: Racismo, identidades e alteridades na reflexão sobre o BrasilAinda não há avaliações
- Entrevista com historiador sobre cinema, gênero e ditaduraDocumento14 páginasEntrevista com historiador sobre cinema, gênero e ditaduraKarinaAinda não há avaliações
- Erotismo e transgressão: Um olhar sobre as experiências interior e estéticas das artes do corpoNo EverandErotismo e transgressão: Um olhar sobre as experiências interior e estéticas das artes do corpoAinda não há avaliações
- 34940-Texto Do Artigo-149447-1-10-20211110Documento11 páginas34940-Texto Do Artigo-149447-1-10-20211110Arimatea JuniorAinda não há avaliações
- Pan-africanismo e descolonização das nações africanas: possibilidades de inserção no ensino de históriaNo EverandPan-africanismo e descolonização das nações africanas: possibilidades de inserção no ensino de históriaAinda não há avaliações
- Corpo, Violência e Pênero na AmazôniaDocumento7 páginasCorpo, Violência e Pênero na AmazôniaElainne MesquitaAinda não há avaliações
- Estudo Comparativo entre Gilka e FlorbelaDocumento64 páginasEstudo Comparativo entre Gilka e FlorbelaCallipoAinda não há avaliações
- O Fantástico no Romance: Não Verás País NenhumNo EverandO Fantástico no Romance: Não Verás País NenhumAinda não há avaliações
- Devir quilomba: antirracismo, afeto e política nas práticas de mulheres quilombolasNo EverandDevir quilomba: antirracismo, afeto e política nas práticas de mulheres quilombolasAinda não há avaliações
- Cenas de um pensamento incômodo: gênero, cárcere e cultura em uma visada decolonialNo EverandCenas de um pensamento incômodo: gênero, cárcere e cultura em uma visada decolonialAinda não há avaliações
- Gênero em Perspectiva. Adriana PiscitelliDocumento15 páginasGênero em Perspectiva. Adriana PiscitelliThiago PanegaceAinda não há avaliações
- FICHAMENTO Percursos de uma Pesquisa sobre Pós-Abolição sul-rio-grandense História Social, Imprensa Negra e Historiografia PERUSSATTO 2018Documento5 páginasFICHAMENTO Percursos de uma Pesquisa sobre Pós-Abolição sul-rio-grandense História Social, Imprensa Negra e Historiografia PERUSSATTO 2018Vinicius Costa FrancoAinda não há avaliações
- Estudos Culturais e ContemporaneidadeDocumento226 páginasEstudos Culturais e ContemporaneidadeTheodor AdornoAinda não há avaliações
- A Flor Da TerraDocumento4 páginasA Flor Da TerraBruno Pereira DorigonAinda não há avaliações
- Entrevista Iná Camargo CostaDocumento17 páginasEntrevista Iná Camargo CostaGabriel ViniciusAinda não há avaliações
- Gênero e história das mulheres na historiografiaDocumento4 páginasGênero e história das mulheres na historiografiaalinice alves jardim lopesAinda não há avaliações
- Marguerite Duras, uma escrita feminina?Documento7 páginasMarguerite Duras, uma escrita feminina?Roberta VeigaAinda não há avaliações
- Loucura_Melancolia_e_CriatividadeDocumento12 páginasLoucura_Melancolia_e_CriatividadeRoberta VeigaAinda não há avaliações
- Apresentação+do+dossiê+-+Bárbara+SzanieckiDocumento10 páginasApresentação+do+dossiê+-+Bárbara+SzanieckiRoberta VeigaAinda não há avaliações
- POR-UMA-POETICA-DA-PASSAGEMDocumento8 páginasPOR-UMA-POETICA-DA-PASSAGEMRoberta VeigaAinda não há avaliações
- Patriarcado e interseccionalidade: o público e o privado como ponto de convergência teóricaDocumento12 páginasPatriarcado e interseccionalidade: o público e o privado como ponto de convergência teóricaRoberta VeigaAinda não há avaliações
- A Fotografia Como Escrita Pessoal - Alair Gomes e A Melancolia Do Corpo-OutroDocumento399 páginasA Fotografia Como Escrita Pessoal - Alair Gomes e A Melancolia Do Corpo-OutroJunio PereiraAinda não há avaliações
- Greenfield J, Topa F - Textualidade e MemóriaDocumento406 páginasGreenfield J, Topa F - Textualidade e MemóriaViviane ZeppeliniAinda não há avaliações
- Sou visto, logo existo uma análise sobre a exposição pública da vida íntima no InstagramDocumento63 páginasSou visto, logo existo uma análise sobre a exposição pública da vida íntima no InstagramRoberta VeigaAinda não há avaliações
- A família como dispositivo de privatização do socialDocumento11 páginasA família como dispositivo de privatização do socialRoberta VeigaAinda não há avaliações
- a escrita adolescente como impasse feministaDocumento15 páginasa escrita adolescente como impasse feministaRoberta VeigaAinda não há avaliações
- SOUSA, R. Excentricidade e transgressão... 266 EXCENTRICIDADE E TRANSGRESSÃO DE GÊNERO NA AUTOBIOGRAFIA DE MARGARET SKINNIDERDocumento17 páginasSOUSA, R. Excentricidade e transgressão... 266 EXCENTRICIDADE E TRANSGRESSÃO DE GÊNERO NA AUTOBIOGRAFIA DE MARGARET SKINNIDERRoberta VeigaAinda não há avaliações
- Catálogo HelenaSolbergDocumento168 páginasCatálogo HelenaSolbergMarcelo CordeiroAinda não há avaliações
- Pensamento Da Comunicacao (Roberta Veiga 2006) (PV)Documento6 páginasPensamento Da Comunicacao (Roberta Veiga 2006) (PV)Roberta VeigaAinda não há avaliações
- Introducao01 o Pensamento Da ComunicacaoDocumento6 páginasIntroducao01 o Pensamento Da ComunicacaoRoberta VeigaAinda não há avaliações
- VAZIA - Vitória Brunini (Versão Final)Documento44 páginasVAZIA - Vitória Brunini (Versão Final)Roberta VeigaAinda não há avaliações
- 1059 5118 1 PB PDFDocumento14 páginas1059 5118 1 PB PDFc753946Ainda não há avaliações
- Ae 3ceb chk7 vd10Documento2 páginasAe 3ceb chk7 vd10marta martinsAinda não há avaliações
- Atividade 6 Raio X Do EnemDocumento12 páginasAtividade 6 Raio X Do EnemELMA MONTEIRO COSME BOETAAinda não há avaliações
- Apostila 1 MorfologiaDocumento149 páginasApostila 1 MorfologiaGlaubertoMaiaAinda não há avaliações
- O conceito de Cultura segundo Félix GuattariDocumento6 páginasO conceito de Cultura segundo Félix GuattariFabio GomesAinda não há avaliações
- 2022-1 ProvaBahianaPONTOMEDDocumento29 páginas2022-1 ProvaBahianaPONTOMEDmaria.almeidasAinda não há avaliações
- Relatório - Atividade de ExtensãoDocumento10 páginasRelatório - Atividade de ExtensãoveniciusfabricioAinda não há avaliações
- Estatística Descritiva 16-21Documento6 páginasEstatística Descritiva 16-21Danilo RuysAinda não há avaliações
- Kras 230419-DS-03 - Rev. 00Documento15 páginasKras 230419-DS-03 - Rev. 00dionepsouzaAinda não há avaliações
- Subsistemas do Sistema de Informação ContábilDocumento11 páginasSubsistemas do Sistema de Informação ContábilMarcelo Bruni TeixeiraAinda não há avaliações
- 10 Professor Educacao Basica II Linguagens e CodigosDocumento10 páginas10 Professor Educacao Basica II Linguagens e CodigossofiaAinda não há avaliações
- Desafio Da Gratidão 21 Dias de AbundanciaDocumento29 páginasDesafio Da Gratidão 21 Dias de AbundanciaCIRLENEAinda não há avaliações
- Prova HeppDocumento10 páginasProva HeppTaís AlmeidaAinda não há avaliações
- Plano de Manutenção de Tempo de FuncionamentoDocumento3 páginasPlano de Manutenção de Tempo de FuncionamentoArildo Chaves de AndradeAinda não há avaliações
- 9 Ano PORTUGUèS Ativ. 08 Exerc¡ciosDocumento8 páginas9 Ano PORTUGUèS Ativ. 08 Exerc¡ciosBrenda Motta VidalAinda não há avaliações
- Lista de Eletrostatica-AtualizadaDocumento3 páginasLista de Eletrostatica-Atualizadamarcos viniciusAinda não há avaliações
- Equilíbrio Químico em Processos IndustriaisDocumento1 páginaEquilíbrio Químico em Processos IndustriaisKostiantyn Vladymyrov100% (1)
- Erros de Cálculo Da Obra 'Elci Alex Cype3' (Versão 2021e)Documento2 páginasErros de Cálculo Da Obra 'Elci Alex Cype3' (Versão 2021e)elci souzaAinda não há avaliações
- Resposta - Atividade 3 - Agron - Fundamento de Gestão Ambiental - 512024Documento7 páginasResposta - Atividade 3 - Agron - Fundamento de Gestão Ambiental - 512024viyobi5414Ainda não há avaliações
- Inteligência Emocional: Teoria RevolucionáriaDocumento13 páginasInteligência Emocional: Teoria RevolucionáriaPedro JunksAinda não há avaliações
- Aula 07Documento8 páginasAula 07Samara MarciellyAinda não há avaliações
- Neut Ra ColorDocumento3 páginasNeut Ra ColorIsteuria Cristina0% (1)
- InfografiaVN UMAR 2023 Final CorrigidaDocumento12 páginasInfografiaVN UMAR 2023 Final Corrigidasofia canelasAinda não há avaliações
- Aprenda Xadrez Com Os FilósofosDocumento172 páginasAprenda Xadrez Com Os FilósofosEddy ChessAinda não há avaliações
- Norma DNIT 049/2004 - Execução de pavimento rígido com equipamento de fôrma-deslizanteDocumento15 páginasNorma DNIT 049/2004 - Execução de pavimento rígido com equipamento de fôrma-deslizanteSee Planejados100% (1)
- Editora UnifespDocumento5 páginasEditora UnifespRenato Rodrigues da Silva RodriguesAinda não há avaliações
- Altieri, Nicholls - 2017 - Abordagens Tecnológicas para A Agricultura Sustentável em Uma Encruzilhada Uma Perspectiva AgroecológicaDocumento13 páginasAltieri, Nicholls - 2017 - Abordagens Tecnológicas para A Agricultura Sustentável em Uma Encruzilhada Uma Perspectiva AgroecológicaDaniloMenezesAinda não há avaliações
- Desafios da Educação Ambiental na PandemiaDocumento31 páginasDesafios da Educação Ambiental na PandemiaLuciano GandinAinda não há avaliações
- Exposição MuseológicaDocumento12 páginasExposição MuseológicaLaerte Machado JúniorAinda não há avaliações
- PET 4 - 1º ANO - BIOlOGIADocumento21 páginasPET 4 - 1º ANO - BIOlOGIAKENIA RAMOSAinda não há avaliações
- Fisiologia Do Estresse em PlantasDocumento28 páginasFisiologia Do Estresse em PlantasFabiana Costa ValadaresAinda não há avaliações