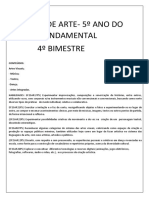Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Soffredini - de Um Trabalhador
Enviado por
Nelson Alexandre Brolese0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
0 visualizações14 páginasTítulo original
Soffredini- De Um Trabalhador....docx
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
0 visualizações14 páginasSoffredini - de Um Trabalhador
Enviado por
Nelson Alexandre BroleseDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 14
DE UM TRABALHADOR SOBRE SEU TRABALHO
Carlos Alberto Soffredini
O trabalho começou em 1975, quando montei a FARSA COM
CANGACEIRO, TRUCO E PADRE, de Chico Assis, para o extinto Teatro de
Cordel de São Paulo. Até ali vinha realizando várias experiências fundamentais
em filosofias teatrais (acho que se pode chamar assim) importadas. Apenas para
lembrar: aqui e ali, no mundo, surgem periodicamente diretores e/ou grupos que
empreendem experimentações no Teatro. No Brasil, fiel ao seu destino de colônia
cultural, os resultados dessas experimentações chegam em forma de “ondas”,
cada uma delas sendo o definitivo caminho do Teatro Moderno ( ! ) Nunca tendo
saído do Brasil para ver esses trabalhos “in loco” eu tentava, ou queria tentar, ou
precisava tentar adaptar essas “modas” a uma realidade local. Mas me ficou
sempre, feito uma minhoca, a necessidade de procurar a forma brasileira de fazer
Teatro.
AS CARACTERÍSTICAS
Então, em 1975, tomei contato com o ator popular brasileiro (acho
que dá pra chamar assim). Como se sabe o Teatro de Cordel de São Paulo
funcionava num “pavilhão” (apenas para lembrar: espécie de circo de zinco) e o
próprio espaço, diferente das atapetadas salas a que estávamos acostumados,
me levou a pensar em fontes diferentes daquelas a que eu estava acostumado
recorrer para a montagem de um espetáculo. Assim, entrei em contato com o
Circo-Teatro (apenas para lembrar: pavilhões de lona ou zinco que percorrem a
periferia das grandes cidades ou as cidades do interior, pertencentes a
Companhias formadas por artistas populares - isto é: com formação empírica - e
cujo repertório é feito de shows de variedades, comédias ou dramas que, são
representados mais ou menos da mesma forma há mais de cem anos). *
Evidentemente a linguagem teatral do Circo-Teatro não surgiu no
Brasil e sim veio com as Companhias principalmente portuguesas que no século
passado dominaram o panorama teatral do país. Quando, já para o fim da primeira
metade deste século, aportaram aqui ( TBC por exemplo) as novíssimas formas
de teatro principalmente europeu (o teatro-de-diretor, os métodos stanislavskianos
de interpretação, o teatro engajado, e muito mais), as Companhias aqui
existentes, calcadas no Teatro feito por aquelas Companhias principalmente
portuguesas, foram perdendo terreno até se extinguirem definitivamente, ou ...
este tipo de Teatro foi parar no Circo-Teatro.
Porque com o Circo aconteceu uma coisa assim: As grandes famílias
que formavam os primeiros Circos brasileiros foram aos poucos se
desmembrando, ou porque alguns de seus integrantes se separavam para montar
Circos menores, outras vezes porque seus membros mais jovens, separavam-se
temporariamente do Circo para estudarem, formavam-se e desenvolviam outras
carreiras, não retomando mais a nem sempre muito agradável vida nômade de
artista. Assim os Circos foram ficando desfalcados de números que compusessem
os espetáculos, que tinham que ser diferentes a cada noite. Então, para suprir a
1
falta de números para os espetáculos, os artistas circenses passaram a montar
“dramas” e “altas-comédias”. Outras vezes os artistas de Teatro passaram a
trabalhar no Circo. Enfim, não é difícil imaginar essa integração do Circo com o
Teatro: os artistas tanto de um, como de outros eram artistas-do-espetáculo e
levavam uma vida nômade, pois aquelas Companhias teatrais (calcadas nas
principalmente portuguesas) eram tão ambulantes quanto o Circo e muitas vezes
os artistas do Circo iam trabalhar no Teatro, nas Companhias de Variedades...
enfim, muitos eram os pontos em comum nas duas modalidades. E surgiu o
Circo-Teatro.
Que acabou sendo o conservador daquela antiga linguagem teatral
(encenações pré-diretor, visual pré-realista, interpretação pré-stanislaviski e etc.),
uma vez que ficou imune às influências que foi sofrendo o Teatro dito erudito. O
conservador sim, mas não o mumificador. Explicando: aquela antiga linguagem
teatral não permaneceu cristalizada no Circo-Teatro. Pelo contrário. Como
qualquer arte popular de origem ou de adoção, o Teatro no Circo foi se amoldando
ao gosto popular, foi se aclimatando, foi sofrendo uma transformação regida pelo
popular e não pelo erudito, transformação ditada, vamos dizer, pelas exigências do
mercado. Sim, porque o espetáculo do Circo-Teatro tem uma finalidade imediata:
ele não é feito para ser avaliado pelos entendidos ou pelos críticos em colunas
especializadas, nem para ser comentado nas mesas dos bares da moda, nem
para ir figurar nos anais da história do espetáculo. Não: Ele é feito para agradar o
público, para que este volte no dia seguinte e compre seu ingresso na bilheteria
para possibilitar ao artista a compra de comida no dia seguinte... e assim por
diante.
Para estar sempre ao gosto do seu público o Circo-Teatro, no
decorrer da moda, incorporou os hula-hula de Dorothy Lamour, os sapateados de
Doris Day, o programa de auditório, as chacretes, novelas, a discoteca... E essa
onda do momento é ali colocada na mesma panela com ingredientes tradicionais,
resultando uma linguagem antes de tudo popular e, por paradoxal que pareça,
brasileira.
Para retomar o fio da meada: em 1975 tomei contato com esse
universo do Circo-Teatro e de lá para cá eu e um grupo de atores e de artistas
plásticos temos nos dedicado ao estudo (ou compreensão?) dessa linguagem à
primeira vista caótica mas na verdade tão rica e colorida que é de deixar qualquer
Brecht ou Grotowski ou Stanislaviski ou Artaud pálidos.
A PESQUISA
Antes de continuar é preciso deixar claro que nós, os pesquisadores,
nunca quisemos fazer Circo-Teatro. Aqueles dramas, aquelas comédias, aquelas
chanchadas, aquelas variedades só tem sentido lá, debaixo da lona, nos palcos
altos e de madeira carcomida, vistos dos puleiros ou das cadeiras duras sobre a
serragem... Como de resto toda a arte popular, esse Teatro só tem sentido
naquele clima, que é absolutamente intransportável. Por outro lado é impossível
desconsiderar essa coisa chamada formação: a arte que aquele povo faz tem toda
uma característica impossível de ser assumida por nós, uma vez que eles são
formados assim: O que eles fazem não é arte mas o seu ganha-pão; a forma
2
como eles fazem aprenderam fazendo, e orientados por outros mais velhos que já
faziam assim e que por sua vez foram orientados por outros mais velhos e assim
por diante. Quer dizer: eles não têm nenhuma postura crítica perante a sua arte (e
- ironia! - eles sabem do “outro” Teatro, que eles chamam de “teatro mesmo” e que
- acredito que também por tradição - respeitam muito, mas só vêem muito
raramente). Enquanto que nós somos formados assim:... bem, deixa pra lá.
O que importa é que nós procuramos despir a nossa fantasia de
pesquisadores e fomos lá cheios de perguntas que não fizemos a ninguém
diretamente: ficamos vendo, conversando e tentando nós mesmos respondê-las.
Que Teatro o povo brasileiro vê? Quais são os elementos tradicionais? Por que
processo umas “ondas” se transformam em elementos tradicionais? Por que
outras não? Que ingredientes contêm os dramas, como O CÉU UNIU DOIS
CORAÇÕES (foi o drama em que a tradição mais se manteve), que há
aproximadamente cem anos são levados com sucesso (ainda hoje o drama citado
resiste a duas ou três apresentações em cada praça)? O que emociona o público?
O que faz rir? Que postura mental tem o artista para fazer seu público rir? Ou se
emocionar? De que elementos é feita a “técnica” do artista? Onde ele sofreu, no
seu trabalho, influência da TV, por exemplo? Como ele cria um tipo? Como ele se
maqueia (maquia?)? Como se veste? Como são seus cenários? Que elementos
de cena eles foram abandonando por considerarem inúteis? Por serem caros?
Etc. Etc. Etc.
É claro que, a partir desse contato quente com o Circo, tivemos que
sair lendo muita coisa: vidas de artistas famosos do passado, histórias do Teatro,
da Literatura, da Pintura, do Circo, e tal... Agora, nessa área nós só conseguimos
confirmar o que já nos tinham dito: há pouquíssima coisa registrada. Você tem que
pegar um pedacinho daqui, um pedacinho dali e adivinhar o que fica entre os dois
pedacinhos. Mas adivinhando um pouco, vendo um pouco, conversando um
pouco, pouco a pouco nós fomos respondendo a algumas perguntas, respostas
estas que nós transformamos na base pela qual o nosso trabalho prático passou a
ser construído. Respostas essas, portanto, que se transformaram em conceitos
(arhghh!) sobre os quais eu não vou entrar em detalhe porque seria muito extenso.
Mas acho que valeria a pena falar alguma coisa resumida sobre o trabalho. Assim:
A pesquisa ficou dividida em dois blocos...
O primeiro bloco foi desenvolvido junto com dois artistas plásticos e
diz respeito, portanto, à parte visual. Os elementos de cena, a luz, a roupa, a
maquilagem, a geografia do palco... o telão. Este último é o grande dominador da
cenografia no Circo-Teatro, a partir do Teatro antigo. Essa cortina de pano pintado
(alguns Circos conservam a técnica e o material de muito antigamente) é que cria
os ambientes, os climas, os espaços, a perspectiva, a ilusão... Partimos então
para as possibilidades de uso dessa cortina de pano pintado, para a
experimentação de outros materiais na sua confecção. E, como se trata de um
pintura, especial mas ainda assim uma pintura, a cor tem enorme importância... e
foi surgindo a programação também da cor, daquilo que nós passamos a chamar
de “tom-geral”, a cor como uma linguagem viva e dinâmica, também contando,
apoiando a idéia a ser expressa. E, aprendendo com o próprio Circo a não ter
preconceitos, fomos analisar o musical americano sim, por que não? E lá
aprendemos muita coisa! E fomos analisar o uso do pano no cenário. E as formas
3
e as linhas impressas na cortina de pano pintado também têm sua linguagem
dinâmica: apagam ou ressaltam ou aumentam ou diminuem ou... a figura humana
colocada à sua frente, ou a ação dessa figura. E assim por diante.
O segundo bloco foi desenvolvido junto com um grupo de atores e
diz respeito portanto à interpretação. Estamos diante do Teatro Romântico (como,
de resto, o gosto - e a arte - popular está impregnado dos valores do
Romantismo). Nada de Stanislaviski, nada de quarta parede. O ator se entrega
sim, ele se envolve sim, mas em nenhum momento ele se esquece que está num
palco, nem por um segundo ele ignora o público. Pelo contrário: na maior parte
das vezes ele “contracena” com o público, estabelecendo o que nós chamamos de
“triângulo”. Assim: dois atores em cena; Um deve fazer uma pergunta para o
OUTRO; UM faz a pergunta para o público e não diretamente para o OUTRO
(nada de relação olho-no-olho, portanto); e o OUTRO responde também através
do público. Parece uma coisa simples, mas essa forma de contracenar sempre
“através” do público põe este último sempre no centro da representação. Outra
forma de estabelecer o “triângulo” : as ações e reações de um ator (personagem)
estão sempre abertas para o público ( não há psicologismos e por isso não há
jogos escondidos). Se um ator, por exemplo, reage ao que um outro ator está
dizendo ele “diz” (mesmo sem palavras) a sua reação diretamente para o público.
Dessa forma pode-se também, por exemplo, valorizar muito cada nuança da
intenção de um ator que fala, através da reação que ele causa no seu interlocutor.
Mas vamos falar mais sobre o processo do Triângulo que é,
observamos, a base de qualquer tipo de apresentação popular.
O público é o vértice de maior peso no triângulo. É o CÚMPLICE na
representação. É o CENTRO dela. É para ele que se CONTA a história, portanto
ele é o dono dessa história. Muitas vezes ele conhece dados dela que ou um ou
os outros dois vértices do triângulo (os atores) desconhecem. Ele conhece o
caráter e a intenção de cada personagem, uma vez que cada ator, ao entrar em
cena, deve ter como meta REVELAR o seu personagem, a intenção dele e, é
claro, a sua ação dentro da ação (história). A partir dessa CUMPLICIDADE com o
público, dessa CENTRALIZAÇÃO nele, dessa DOAÇÃO a ele da ação (história,
representação) é que se estabelece a base do jogo teatral. Os gregos já sabiam
disso. E as velhas peças românticas abriam margem para esse jogo através do A
PARTE, que, em última análise, é a forma tosca a partir da qual, elaborando, nós
chegamos ao processo do TRIÂNGULO.
E infinitas são as possibilidades desse jogo. Uma delas é a
CIÊNCIA: por exemplo, o MOÇO declara seu amor para a MOÇA. Mas o público já
está ciente de que o MOÇO está mentindo (por revelação anterior ou no momento
mesmo da ação). Dessa forma, a posição de cada um dos personagens, a sua
ação e reação ficam ampliadas, teatralizadas. Outra é a SURPRESA: por
exemplo, a um dado momento se descobre que o MOÇO está mentindo para
descobrir algo que a MOÇA esconde (de que o público pode ter ciência ou não).
Dessa forma os personagens mudam de repente, teatralmente, de posição
perante ao público.
Está claro que, acima, na tentativa de dar as bases simplifiquei e
acabei quase que descrevendo a trama de um ingênuo drama circense (falei do
amor, mocinho, mocinha, bom e mau). Mas é que são BASES mesmo.
4
Trabalhando sobre elas, elaborando, organizando, combinando, procura-se chegar
a uma forma de interpretar. Até as mais elaboradas tramas, cheias de nuanças
psicológicas.
Trata-se de espicaçar o jogo teatral. Trata-se de assumir a
teatralidade do Teatro. Trata-se de derrubar a quarta parede com picaretas, talvez,
que modernamente têm sido repudiadas pelos donos-da-bola do Teatro. Trata-se,
e sabemos disso, de assumir os cânones que tem sido apontados como os do
mau Teatro. E por que não? Alguma coisa esse “mau Teatro” deve ter, já que
continua envolvendo uma classe de público depois de mais de um século. E o
que teria acontecido com esse Teatro se um Realismo não tivesse vindo partir o
seu fio de evolução? E as atuais “ondas” de reação a esse Realismo de onde
vieram? A que tradições se filiam? Serão realmente reações? ou novos ângulos
do mesmo Realismo? Devolveram a teatralidade ao Teatro?
Os outros dois vértices do triângulo estão no palco. São os atores.
Certa vez fomos assistir a uma família chinesa num Circo. Eram
equilibristas. A família era formada pelo pai, a mãe e nove filhos nas idades mais
variadas. O espetáculo era lindíssimo. O pai e os nove filhos eram realmente
muito bons artistas. E a mãe? Bem, a mãe não sabia fazer nada. Ela ajudava os
artistas na troca e arrumação dos aparelhos e se colocava num ponto estratégico
no decorrer dos números. E, no entanto, ela era a figura central do espetáculo. A
platéia, ao mesmo tempo em que via os artistas, não conseguia se desligar dela.
Por que? Sem dizer uma palavra, apenas sublinhando com expressões, ela
“dimensionava” os números à medida em que eles iam se realizando: expectativa
enquanto os artistas se preparavam; apreensão quando o número se aproximava
do seu ponto mais difícil; desapontamento quando o número falhava
(propositalmente, é claro) perto de se realizar; alívio quando o “difícil” do número
passava; entusiasmo quando o artista pedia aplauso... Evidentemente a mãe
estava colocada ali para valorizar a performance do artista, conferindo ao seu feito
uma dificuldade que, de resto, muitas vezes ele não tinha. Colocada no palco
como um espectador do número (identidade com o público) ela, numa relação
direta com o espectador agia como se espelhasse a reação deste, quando na
verdade estava mais é definindo essa reação. Ela fazia o que nós passamos a
chamar de PONTE. Aqui seria interessante observar que não se deve confundir a
PONTE com o ESCADA (apenas para lembrar: “escada” é o interlocutor de um
palhaço, um cômico ou um personagem, que é colocado em cena apenas como
pretexto para que o palhaço faça suas palhaçadas, o cômico diga suas piadas ou
o personagem se manifeste), embora todo bom escada deva estabelecer a
PONTE.
* Muitas vezes a PONTE pode ser estabelecida pelo elemento central
da cena (o palhaço, o cômico ou o personagem). Tentando elucidar: se um
personagem diz um absurdo, o outro personagem reage a esse absurdo na
PONTE, o que dimensiona o absurdo dito. Se o personagem que diz o absurdo
tem consciência dele, ele próprio pode comentar isso (não necessariamente com
palavras) na PONTE, antes ou depois ou ao mesmo tempo em que fala. E se não
tem certeza do que esta dizendo, também na PONTE pode revelar essa dúvida.
Enfim, o painel é riquíssimo no que diz respeito à PONTE e a sua dosagem ou
lugar vai servir a um diferente “efeito” pretendido.
5
E eis-me aqui novamente tocando num ponto delicadíssimo no dito
Teatro Moderno e simplesmente abominado pelos filhos de Stanislaviski: o
EFEITO. Efeito cheira a forma. E nesse ponto seria bom que a gente chegasse
logo a um acordo: NÓS CULTIVAMOS A FORMA.
Os antigos atores conheciam e aprimoravam uma série de EFEITOS.
Eles sabiam a forma de dizer melhor uma piada, o valor exato de uma pausa, a
maneira de se colocar em cena dependendo do clima a ser criado ou do caráter a
ser revelado. Não é por acaso que o Circo-Teatro ainda conserva uma fuga central
no cenário. Não se trata dessas atuais convenções pobres, tais como: “a fuga da
esquerda leva ao quarto, a do centro à cozinha, a da direita leva à rua...” Não.
Trata-se de uma consciência exata do valor (efeito) da entrada ou saída de um
ator de cena. Cada personagem que entra em cena, se o ator souber entrar, só
pode levar a peteca pra cima. Cada personagem que sai, se o ator souber sair,
deixará a peteca em cima. Se um personagem tem caráter positivo, se ele
“chega”, entrará pela fuga do meio: como num passe de mágica a figura aparecerá
no meio da cena. Da mesma forma, se um personagem tem caráter dissimulado,
se sua ação é sorrateira, ele entra ou sai pelas laterais. Parece um processo
ingênuo, mas o EFEITO é matemático. Sabe-se que os “ vilões dos velhos dramas
não só entravam em cena pelas laterais como cobrindo parte do rosto (do nariz
pra baixo) com uma capa negra.
Trata-se, talvez, da forma tosca desse jogo teatral a que nós
denominamos EFEITO. Trata-se também da forma tosca desse dado de
representação que para nós se transformou em meta a ser atingida pelo ator, à
qual eu já me referi e que nós chamamos de REVELAÇÃO.
Os velhos dramas românticos, no seu maniqueísmo desvairado,
continham sempre determinados “tipos” de personagem. Os atores, dependendo
do seu tipo físico somado à sua personalidade, se especializavam em cada um
desses “tipos”. A forma de representar esses personagens se tornou tradicional e
os atores, especializados, passaram a receber o nome do tipo que representavam.
Assim, toda Companhia tinha a sua “ingênua”, o seu “galã”, a sua “dama-galã”, o
seu “vilão”, a sua “sobrete”, o seu “cômico” e etc. (Sem dúvida os ancestrais
desses “tipos” estão na commedia dell’arte italiana: o Arlequim, a Colombina, o
Pantaleão, etc)
Rompida a primeira casca do “tipo”, observamos que havia mais no
ator que o representava. Assim, uma “ingênua” não era somente um tipo físico e
uma personalidade, mas um estado-de- espírito da atriz. Entrando embuída desse
estado-de-espírito a atriz REVELAVA, já no seu primeiro passo em cena, o seu
personagem. Sem equívocos, sem fumaças, sem meios tons: sim o EXATO.
Perseguindo o processo da REVELAÇÃO nós fomos nos exercitando
num trabalho de interpretação que busca o limpo, o direto, o contundente. Nisso
muito nos ajudou uma passada pelo Teatro japonês, principalmente o nô, onde um
pequeno gesto de ombro tem enorme dimensão e é prenhe de clareza e
significado exatamente porque é “dado” no meio de total imobilidade.
Forma? Estereótipo?
Estereótipo sim. E se ao seu estudo nos jogamos, se fizemos dele
uma das bases a partir da qual estamos elaborando, inventando, é porque
percebemos que não existe o mau estereótipo. Existe, sim, o mau ator. Assim: Um
6
certo número de “dramas” fazem parte do repertório dos grandes Circo-Teatros e
por isso nós assistimos a alguns deles representados por três ou quatro elencos
diferentes. Determinados “achados” (“gag”, “caco” de alguns atores) já caíram na
tradição e, constando já como indicações nos textos, são repetidos por todos os
elencos. A FORMA (estereótipos) de representar determinados personagens
também já é tradicional. Pois bem: Em determinados Circo-Teatros o tal “achado”
ou a tal “forma de representar” tem um tempo teatral exato e funcionam
perfeitamente; em determinados outros são uma verdadeira tristeza. Por que
será? Acho que é porque não há estereótipo puro, há ator burro.
Ah - vão dizer, dando uma olhada nas bases acima expostas -,
algumas coisas cheiram a Brecht. E cheiram mesmo. Acho que é porque Brecht
estabeleceu as bases de seu método indo pesquisar as formas populares de
representação. Talvez aí esteja o ponto de contato: no popular. Ë claro que
popular brasileiro é diferente de popular alemão... mas deve haver pontos de
contato. Deve, digo, porque não conheço o popular alemão. Estou tentando
conhecer o brasileiro.
Mas o que nós estamos perseguindo é um Teatro teatral. É um
Teatro que conta histórias, um Teatro envolvente, gostoso, um Teatro do “como
será que eles fizeram?” Um Teatro do bonito. Enfim, pra largar mão de querer ser
original, o tão cantado Teatro da magia teatral (?)
É de mentira mas é como se fosse de verdade. É de papelão mas é
pedra. É irreal mas a gente acredita. A gente acredita.
Há uma imagem que a gente costuma repetir para tentar explicar e
que é um jogo de perspectivas: Coloca-se um telão num palco. No telão está
pintada uma estrada ( em perspectiva), que começa no palco e acaba no horizonte
lá longe, criando um espaço ilusório, dando uma sensação de profundidade. Na
frente desse telão põe-se um ator. Ilumina-se esse ator. A sua sombra será
projetada num telão, revelando a cortina de pano pintado que é o telão, revelando
o espaço verdadeiro. O resultado é o seguinte: A gente vê a sombra em duas
dimensões( a verdade) revelando o espaço verdadeiro, projetada sobre o telão da
estrada em três dimensões ( a mentira ) revelando o espaço ilusório. Essas duas
imagens se justapõem, se casam. E a gente acredita nas duas. É isso.
A PRÁTICA
Vamos agora tentar uma exposição bem didática. Assim: Ao fazer
Teatro deve-se ter presente dois grandes enfoques:
1o. COMO fazer
2o. PARA QUEM fazer
A minha experiência no Teatro de Cordel de São Paulo junto com os
artistas dos dois blocos, abriu para nós os caminhos do primeiro enfoque: o
enfoque do COMO. A esta altura, depois de alguns anos de trabalho com o
material, eu já não tenho nenhuma dúvida de que não é preciso ir ver como o
Peter Brook, o Grotowiski, o Bob Wilson ou os seguidores de Brecht ou do
Stanislaviski trabalham para se encontrar inspiração para um bom teatro. Existe
também a questão da ÓTICA. Nós temos visto nos palcos brasileiros cópias de
espetáculos estrangeiros - a tal ponto que eu e um amigo, num dia destes,
7
estávamos discutindo sobre um detalhe de cena de um espetáculo produzido em
São Paulo e de repente nos lembramos que eu tinha visto o espetáculo aqui e ele
em Londres: era idêntico. Mas, eu dizia, não se trata de uma questão de CÓPIA,
mas também de uma questão de ÓTICA. Muitos espetáculos que tem como
características de experimentação e que vão buscar até no índio do Xingu a sua
vestimenta, no entanto tem uma ÓTICA importada. A forma de abordar, de dispor
a vestimenta aqui encontrada se subordina à risca a uma estética ditada por
experimentadores de fora. Não que eu ache que isso seja mau não: Nada de
preconceitos verde-amarelos. Mas é que eu sempre desconfiei que aqui mesmo,
ali na periferia, há uma riqueza incrível de material para pesquisar, não enquanto
vestimenta apenas, mas enquanto ÓTICA mesmo. E não só na periferia, no Teatro
feito sobre lona, mas também no folclore, nas danças dramáticas, no Teatro
popular aportado no Brasil bem antes das Companhias principalmente
portuguesas (os “Pássaros” de Belém do Pára, os Mamulengos do Norte e
Nordeste, por exemplo) e por isso já bem mais aclimatados, amalgamados ou
quando se trata de folclore então a pesquisa se torna muito mais difícil porque um
grupo de pessoas como nós, sem muitos recursos financeiros, não pode se
locomover pelo país para VER e tem que se contentar com os slides de alguns
folcloristas de boa vontade e alguns discos e livros com exaustivas descrições
“frias” . Bem, mas apesar disso basta ir lá (principalmente no Circo-Teatro porque
está mais à mão) com um mínimo de sensibilidade e o interesse focado não no
bizarro mas no essencial, que gradativamente a tal ÓTICA vai mudando e
gradativamente a gente vai mergulhando num mundo riquíssimo de estímulos.
Agora, para ser muito prático é preciso levar em consideração uma
coisa: para que qualquer trabalho de pesquisa tenha continuidade é preciso que
ele seja percebido pelo status cultural, o qual tem acesso aos meios de
comunicação, os quais poderão difundi-lo, o que fará com que o trabalho seja visto
e comentado, o que lhe dará (ao trabalho) a sua merecida estatura (grande ou
pequena, não importa). E, por estranho que possa parecer num país como o
Brasil, é esse mesmo status cultural que detém o arbítrio de distribuição das
verbas oficiais, as quais possibilitam a continuidade de muitos trabalhos (“grandes”
ou “pequenos”, não importa) nos palcos brasileiros. E... Vamos tentar analisar
essas cabeças? Para a grande maioria delas Teatro Popular BRASILEIRO é
sinônimo de coisa-sem-interesse-cultural, coisa-mal-feita, coisa-pouco-artística,
coisa-indígna-de-constar-nos-anais, coisa-merecedora-de-prêmio-especial
(espécie de prêmio de consolação para pessoas esforçadas, coitadas). A grande
maioria delas mitifica por exemplo um Teatro que tem como embasamento a
manifestação popular ALEMÃ (é uma questão de geografia, como se vê).
(Felizmente o status cultural alemão não é feito pelas mesmas cabeças e
reconhece a grandeza da sua arte popular e a apoia e a divulga felizmente, caso
contrário o tal status brasileiro não teria o que santificar). A grande maioria delas
sofre de um ranço classicista que só lhes permite ver as coisas segundo os
cânones que tem na algibeira e que foram ditados ou pelo tempo ou pela
geografia (é a mesma questão de ÓTICA atrás referida) . Algumas poucas delas -
pouco mais iluminadas mas não tanto que dê pra perceber o que vai além do
superficial - se dignaram a ir ver o nosso trabalho, classificando-o como “baseado
no espírito circense”. Algumas menos ainda delas conseguem perceber o “bom
8
rendimento interpretativo”, sem jamais conseguir perceber o processo, a pesquisa,
o embasamento, o essencial do trabalho.
Estávamos com um espetáculo de Gil Vicente em cartaz e
pleiteamos, como qualquer Companhia com peça em cartaz, uma verba oficial.
Acontece que a pessoa que arbitrava a distribuição dessa verba, obviamente
representante do tal status cultural, já tinha sido “aconselhada” por uma senhora,
dessas dignas guardiãs da Cultura (observe-se o C em caixa-alta), que tinha ido
ver um espetáculo nosso de Martins Pena e tinha pasmado por não ver os atores
com atitudes molierescas (“já que se trata do Molière brasileiro!”), por não ver uma
encenação à imagem e semelhança da Commèdie Française. Essa senhora tinha
visto, isto sim, o resultado de um detalhado estudo das várias etapas do Teatro
brasileiro até Martins Pena, estudo este que nós havíamos transformado num
prólogo escrito por mim e apresentado em forma de esquetes e números musicais.
E não gostou. Esta senhora tinha visto, isto sim, um Martins Pena encarado
segundo uma estética teatral brasileira, encontrada por nós ainda viva no Teatro
feito sob lona. E não gostou. Essa senhora tinha assistido a uma aula de Teatro
Brasileiro dada a quinhentos jovens (seus alunos) que riram o tempo todo e
compreenderam e participaram e aprenderam ( conversamos com eles depois do
espetáculo como sempre fazíamos com as nossas platéias estudantis) - a
quinhentos jovens que não durmiram. Mas ela não gostou. Ela achou um ultraje ao
brasileiro Martins Pena a nossa forma brasileira de encará-lo. Ela achou um ultraje
ao popular Martins Pena a nossa forma popular de encará-lo. Ela achou que os
nossos atores eram péssimos porque usavam a forma “menor” de representar de
frente para o público. E muito mais. Bem, mas o que importa é que aquela pessoa
que arbitrava as verbas oficiais e que fora “aconselhada” pela tal senhora culta,
inquirida por nós sobre a quantia irrisória que estava nos dando, sem nunca ter
visto o nosso trabalho e sem ter portanto outro argumento respondeu: “Ora, é
porque Gil Vicente não tem importância”. Sem dúvida uma questão de ÓTICA.
PARA QUEM?
Mas, eu dizia, saímos da experiência no Teatro de Cordel de São
Paulo com algumas bases estabelecidas e um processo de experimentação em
desenvolvimento. Era preciso continuar. E essa oportunidade veio em 1976 com
um convite do Serviço Social do Comércio: Juntar um grupo de artistas, montar
uma peça e inventar um palco desmontável para realizar essa peça em praça
pública. Era um desafio! Era mais estranho ainda para a nossa formação do que
fazer Teatro num pavilhão-circo: era fazer Teatro “para quem, passando, parasse
um pouco para ver”.
Era um Teatro realmente popular. Quanto ao local: podíamos levar o
palco para as praças do centro da cidade, para as dos bairros, para as dos
subúrbios, para as das cidades do interior. E quanto ao público: Nem o poder
aquisitivo nem o nível intelectual iriam selecionar a platéia, uma vez que o
espetáculo se daria em praça pública. Pública. Então tinha que ser um Teatro
realmente popular também quanto ao espetáculo. Sim, porque o PARA QUEM
define o COMO.
9
E saímos novamente a campo...
E só aí que fomos tomar contato com a já acadêmica controvérsia
sobre o que seja o Teatro Popular.
Há pessoas que acham que se vai fazer Teatro para o povo, então
tem-se a obrigação de fazer um Teatro doutrinário, catequético, político, politizante
e sei eu mais o quê. Há pessoas que fazem Teatro popular politizante e cobram
cento e vinte cruzeiros o ingresso. Paradoxo? Não sei responder a essa pergunta.
Só sei que fomos conversar com pessoas que fazem ou fizeram
Teatro popular. E o dirigente de um grupo me relatou o seguinte: Eles montaram
uma peça que punha no palco os problemas mais graves dos operários. No fim do
espetáculo eles perguntavam para os operários sobre a veracidade do que eles
tinham visto e a resposta era sempre esta: “Ah, essa é a pura verdade sim:
comigo não acontece, Deus me livre, mas com o meu vizinho está acontecendo
todo dia.”
Conversando com um integrante de um extinto e reconhecidíssimo
grupo de Teatro Popular ouvi o seguinte: “Nós éramos acusados de fazer teatro
popular politizante para burguesia que podia pagar o preço do ingresso.
Montamos então um espetáculo que era feito na carroceria de um caminhão numa
elevação do terreno e nos pusemos a preparar o espetáculo, os camponeses nos
olhando de soslaio, desconfiados. Começou o espetáculo: um ator subiu no palco
e começou a falar sobre sua vida de camponês. Os camponeses pararam de
trabalhar e se debruçaram no cabo da enxada, ouvindo. O camponês-ator
continuou a falar sobre sua miséria de camponês, sobre seu dia de camponês,
sobre suas mãos calejadas de camponês. Os camponeses-de-verdade fizeram um
muxoxo e voltaram a lavrar a terra com suas enxadas, dizendo: quer contar pra
nós como é a nossa vida?
E conversando com um velho ator de Circo-Teatro, ele me disse
“Praça pública?! Chi... vocês não sabem o que é!... No ano passado eu fui fazer o
Cristo da Paixão de Cristo numa praça aí dum bairro e sabe que o público me fez?
Me jogou tomate. Imagina, jogar tomate no Cristo!!!”
E no prefácio a FOGO MORTO de José Lins do Rego encontrei uma
opinião de Otto Maria Carpeaux sobre o que seja literatura popular. No texto,
mude-se a palavra literatura pela palavra teatro e se terá, creio eu, um belo
enfoque do que seja Teatro Popular: “Há um mal entendido em torno do conceito
de literatura popular. Os romances que tratam dos pobres, dos míseros, dos
humildes, do povo, são literatura dos ricos, dos cultos, dos literatos. O próprio
povo não gosta da literatura popular; prefere a outra, que lhe parece literatura
culta e que lhe conta histórias de banqueiros ladrões e datilógrafas princesas;
prefere Carlos Magno e os heróis do cinema. A verdadeira literatura popular é
grande literatura; é diferente, é popular apenas pelo estilo diferente, estilo de
tempos passados, arcaico...”
O trabalho no SESC, somando o tempo de preparação ao de
apresentações, durou aproximadamente um ano. Montamos um espetáculo a
partir do texto de Antonio José da Silva, o Judeu, A VIDA DO GRANDE DON
QUIXOTE DE LA MANCHA E DO GORDO SANCHO PANÇA. Apresentamos esse
trabalho setenta e duas vezes, em praças públicas e galpões cobertos, desde a
praça da República, no centro de São Paulo, até Bertioga, um vilarejo do litoral.
10
Tivemos uma média de duas mil pessoas para cada espetáculo. Uma vez fizemos
na areia da praia, em Santos. Tivemos um público calculado em cinco mil
pessoas.
Foi um tempo de intimidade diária com a nossa pesquisa.
Ampliamos os nossos contatos com o folclore (ainda que na maioria
das vezes com o folclore-de-slaide). Voltamos ao Circo-Teatro. Reformulamos
algumas bases. Desenvolvemos outras. Ampliamos as possibilidades do
telão-cenário. Fizemos um estudo detalhado da FORMA na interpretação.
O próprio espaço da praça é definitivo de um estilo de interpretação.
A céu aberto não há detalhe intimista que resista. Nem detalhe de qualquer
espécie. Então o desenho limpo, o risco forte continuaram sendo nossas metas
não só na elaboração dos personagens como de todo o clima cênico. E também
da história a ser contada. A originalidade é uma invenção da cultura elitizada. O
povo gosta de “rever” os seus heróis em ação. Heróis quer dizer: personagens de
quem ele já ouviu falar, de preferência em situações já conhecidas - prova disso
são os esquetes circenses que, do ponto de vista da situação apresentada, podem
ser divididos em quatro ou cinco grupos e que são encenados através dos tempos
sempre com a mesma eficácia cômica. E o processo de TRIÂNGULO, na praça,
se estabelece de uma forma natural, uma vez que a reação do público é imediata
e clara, vaiando sempre o vilão, torcendo sempre pelo personagem com que ele
mais simpatiza e que coincide sempre com o mais esfarrapado, o mais faminto, o
mais terra-a-terra e o mais esperto sempre. Já com o herói o povo não se mete.
Ao herói ele assiste apenas. Com tão maior respeito quanto maior for a Paixão
com a qual esse herói ande às voltas.
E a FANTASIA. Ninguém pretenda merecer a atenção do público da
praça oferecendo a ele o corriqueiro. Levar o dia-a-dia para o palco, só se for para
rir dele, exagerando o seu absurdo, complicando as peripécias necessárias para
vivê-lo, valorizando a esperteza indispensável para encará-lo. Iluminando-lhe,
portanto, o lado fantástico. O movimento, o luxo, a cor, a beleza, o irreal, a
FANTASIA, isso sim faz o povo parar para ver.
Então “descobriremos” o boneco como linguagem teatral popular.
Fizemos um laboratório-de-bonecos onde nós os criávamos, os confeccionávamos
e nos exercitávamos no seu uso. E esse exercício, ainda que por acaso, nos
remeteu ao nosso processo de interpretação, acrescentando-o. Porque essa
história da magia do boneco é velha como a nossa própria arte titiriteira e,
descobrimos, verdadeira. Ao manejar um boneco, na tentativa de insuflar-lhe vida,
o ator estabelece com ele não sei que tipo de ligação “mágica”, só sei que tão
íntima que a um dado momento não sabe se o boneco responde à sua vontade ou
se tem vontade própria. E há alguma coisa que é semelhante a ao mesmo tempo
interpretar e ver interpretado um personagem. E um boneco é uma coisa sem
frescura: sua ligação com a platéia é clara e instantânea. Ele materializa com
perfeição a tal PONTE entre manejador-ator e a platéia. E mais, muito mais nos
ensinou esse professor (sem querer fazer figura) que é o boneco. Por exemplo,
nos levou a um estudo detalhado da criação de tipos (não é preciso explicar a
analogia) desde o traje, o aplique, o enchimento, a postura, a voz... até a emoção.
A emoção sim, porque o Circo-Teatro nos mostrou, como já foi referido, que é
preciso cuidar do que vai por dentro da FORMA (tipo). Outro exemplo diz respeito
11
à contribuição do ator para a elaboração do espetáculo: como é o boneco que
“enfrenta” a platéia, está até um certo ponto eliminado o fantasma da crítica ou
auto-crítica, o que obviamente define para o ator uma postura bem mais criativa. E
assim muitas idéias e soluções para o espetáculo foram levadas pelos atores
através dos bonecos. E etc.
O contato com o público da praça foi riquíssimo para o trabalho. Só
ele daria todo um estudo sobre o comportamento do público brasileiro, que
evidentemente não caberia aqui. Mas talvez seja interessante relatar alguns fatos.
Teatro na praça é uma verdadeira festa. Que começa já na armação
do palco. Os “donos” da praça: os velhinhos dos bancos ao solo, os vendedores
de amendoim, o moço da banca de jornal, o engraxate, o pipoqueiro... primeiro se
aproximam curiosos, cautelosos; depois começam a perguntar. E não demora
nada já estão carregando tábua, amarrando lona, esticando telão. E tem a moça
daquela casa ali que oferece, pois não, o banheiro pras moças e corre com o
metiolate “para aquele moço que se martelou, coitado, e quase que esmaga a
cabeça do dedo”. E todos assistem a quanta apresentação houver. E já na
segunda “ajudam” o elenco a cantar músicas e a platéia a conhecer alguns fatos
da peça antes deles acontecerem.
Atrás do nosso palco havia uma barraca de lona colorida que servia
de camarim e coxia ao mesmo tempo. Mas, sempre que possível, nós fazíamos a
maquilagem do lado de fora da barraca. E nos impressionava a atenção e o
respeito com que um grande número de pessoas se aproximavam e ficavam
assistindo aos atores pintarem a cara.
Havia uma determinação do elenco de não reprimir as manifestações
dos espectadores - pelo menos não reprimi-las “até o ponto que desce (desse?)” -
e sim, pelo contrário, tentar incorporá-las na representação. Pois em nenhuma das
setenta e duas apresentações que fizemos essas manifestações chegaram “até o
ponto que desse”, isto é, nós nunca precisamos parar o espetáculo para pedir
respeito pelo nosso trabalho porque, quando surgia algum espectador menos
interessado, ele só conseguia importunar até o ponto em que não prejudicava o
andamento da peça: nesse ponto os próprios outros espectadores se
encarregavam de calá-lo. Aliás, quanto a esse manejo da platéia eu ainda não
tenho dados organizáveis a fim de avaliar a sua importância no processo de
evolução do ator. O que eu sei dizer é que esses atores, voltando para salas
fechadas, demonstraram uma desenvoltura cênica que eu raramente tinha visto
em outros atores, nem neles mesmos, antes.
No fundo do palco havia a caixa dos telões, que era fechada por uma
cortina. Cada vez que essa cortina abria o público se defrontava com uma nova
paisagem, um novo colorido, um novo espaço. E no chão do palco havia cinco
alçapões, pelos quais surgiam e apareciam personagens, bolas-de-gás, enormes
bonecos, etc. O conjunto funcionava como uma caixa-mágica, exacerbando muito
a imaginação da platéia. A tal ponto que, certa vez, durante o espetáculo, um
menino de uns dez anos não se conteve e levantando a lona que circundava o
palco e deparando com um ator desafiou-o: “Hum, quero ver você fazer sair daí,
agora, uma... uma girafa.”
O público da praça é o mais fiel público de Teatro que há. Muitas
vezes tivemos que fazer o espetáculo sob garoa, arriscando a integridade dos
12
nossos figurinos, bonecos e outros materiais de cena porque, às vezes abrindo
guarda-chuvas, o público não arredava o pé. Certa vez estávamos na Praça da
República, representando sob garoa para um público de aproximadamente duas
mil pessoas. Quando íamos dar início ao último quadro da peça - que era feita em
quadros mais ou menos independentes -, a chuva apertou e o povo começou a
debandar a procura de abrigo. Apenas para dar algum arremate à função
anunciamos pelo alto-falante que parávamos o espetáculo ali e que voltaríamos
caso a chuva parasse. Coisa que não nos parecia provável. Por isso fomos trocar
de roupa e começar a acomodar todo o material da peça. A um dado momento um
ator, olhando pelo vão da cortina, gritou: “Gente, corre aqui!” A pancada de chuva
tinha amainado e o povo, guarda-chuvas abertos, tinha voltado todo a espera de
que cumpríssemos o que tínhamos prometido. Corremos a nos vestir e voltamos
para o palco e, sob chuva fina, terminamos o espetáculo daquela noite.
E quando desarmávamos o palco, quando as grandes caixas de
madeira subiam para o caminhão, procurávamos não olhar para os “donos” da
praça. Não conseguíamos enfrentar a melancolia daqueles olhos. Tristeza que
deixa a festa que acabou.
E mais uma vez a inteligência brasileira se manteve calada, fria,
indiferente. Pouquíssimos críticos compareceram à praça, que era quando o
espetáculo atingia a sua verdadeira estatura. Apenas dois ou três. Talvez os mais
jovens (e eu não estou falando de idade). E uma vez eu estava num restaurante
da moda quando um colega-ator veio me dizer: “Você viu aquilo? Eu passei ali na
Praça da República e vi assim de longe uma representação.” E eu expliquei:
“Éramos nós”. E ele: “Credo! Fazendo teatro na praça?! Vocês ficaram loucos?”
Então vão me perguntar: E quem tem dois mil espectadores em
média para cada representação precisa da opinião dos críticos? E eu respondo:
Precisa. Não é muito difícil perceber que o Teatro feito em praça, gratuitamente,
tem que ser financiado por alguma entidade oficial ou semi-oficial. E entidades
como o SESC são dirigidas por várias cabeças, algumas das quais absolutamente
vulneráveis à opinião, ao comentário, às publicações do status cultural...
Em março de 1977 o SESC retirou o financiamento ao nosso
trabalho. Não porque ele fosse culturalmente sem importância ou menos sério,
tenho certeza. E se a tenho é porque sei da opinião de alguns homens nos quais
confio. Num deles a própria inteligência confia ainda hoje, como confiava há
alguns anos atrás, antes que ele se retirasse do jornalismo (por que motivo será?).
Trata-se do Dr. Décio de Almeida Prado.
Mas foi um ano em que nós pudemos trabalhar diariamente com o
nosso material: o Teatro Brasileiro... o Teatro. E pudemos pensar, criar, progredir e
experimentar. E da experiência nós saímos um pouco mais sábios e um pouco
mais maduros:
Nós achamos que Teatro é a hora de encher os olhos. É a hora de
aprender sim, mas pelo amor de Deus não um ensinamento de cima para baixo,
sectário, de uma verdade previamente selecionada, porque então a gente vai na
escola. É a hora de aprender através do bonito, da emoção... do artístico - deixa
eu dizer assim? É a hora de penetrar na vida dos outros, daqueles personagens
incríveis, incomuns, enormes dos quais a gente já ouve falar faz tempo. É a hora
de olhar para a intimidade dos reis. É a hora de ficar frente a frente com os
13
eternos grandes medos do homem e que provocam nele o arrepio de atração do
abismo: o incesto, o matricídio, o canibalismo, a traição, a paixão cega, a morte...
e outros. É a hora de se ver no espelhado sim, mas não num espelho comum, que
esse a gente tem no guarda-roupa, mas num daqueles espelhos que fazem a
gente rir se vendo de uma forma inesperada. É a hora de rir.
14
Você também pode gostar
- MOLINARI, Cesare - História Do Teatro (Baixa Resolução)Documento450 páginasMOLINARI, Cesare - História Do Teatro (Baixa Resolução)Dor Mundana100% (1)
- O Circo-Teatro - Um Estudo de Caso: o Pavilhão AretuzzaDocumento452 páginasO Circo-Teatro - Um Estudo de Caso: o Pavilhão AretuzzaJuan Manuel Tellategui100% (1)
- A Porta Aberta - Peter BrookDocumento34 páginasA Porta Aberta - Peter BrookAureliano Lopes100% (5)
- KUSNET, Eugênio - Iniciação À Arte Dramática PDFDocumento113 páginasKUSNET, Eugênio - Iniciação À Arte Dramática PDFGabriel Coupe67% (3)
- Deus Tu És SantoDocumento3 páginasDeus Tu És SantoAnonymous cNxUgoAinda não há avaliações
- CheckList de Auditoria Do 5S - AdministrativoDocumento6 páginasCheckList de Auditoria Do 5S - AdministrativoEdna MonteiroAinda não há avaliações
- Projeto Básico Do Empreendimento - ModeloDocumento5 páginasProjeto Básico Do Empreendimento - ModeloAntonio Marcos Silva Neves100% (1)
- Guia Do Intelbras TIP XXXDocumento7 páginasGuia Do Intelbras TIP XXXvilaounipAinda não há avaliações
- Arthur,+artigo ILINX 012 - 33 39Documento7 páginasArthur,+artigo ILINX 012 - 33 39RicardoLimaAinda não há avaliações
- PT Educine Practical-GuideDocumento49 páginasPT Educine Practical-Guidecorreiatomas123Ainda não há avaliações
- Comedia DellarteDocumento14 páginasComedia DellartewilsonjoaoAinda não há avaliações
- Tá Na RuaDocumento30 páginasTá Na RuaKarina AlmeidaAinda não há avaliações
- Dramaturgia e Censura No Circo-TeatroDocumento15 páginasDramaturgia e Censura No Circo-TeatrolivrosmacedoAinda não há avaliações
- Documento Sem TítuloDocumento25 páginasDocumento Sem TítuloBeatriz NavarroAinda não há avaliações
- TELLES, Narciso e CARNEIRO, Ana (Org) - Teatro de Rua Olhares e PerspectivasDocumento115 páginasTELLES, Narciso e CARNEIRO, Ana (Org) - Teatro de Rua Olhares e PerspectivasPamela Maroto100% (3)
- Atividade Sobre TeatroDocumento10 páginasAtividade Sobre TeatroLuis Nascimento100% (2)
- FORJAZ, Cibele. Notas Sobre o EncenadorDocumento13 páginasFORJAZ, Cibele. Notas Sobre o EncenadorEnjolras de OliveiraAinda não há avaliações
- 2 - A Aventura Do Teatro de BrinquedoDocumento15 páginas2 - A Aventura Do Teatro de Brinquedoluckyme3Ainda não há avaliações
- CenografiaDocumento9 páginasCenografiaLuh GiovAinda não há avaliações
- Livro - Cacilda Becker, o Teatro e Suas Chamas PDFDocumento140 páginasLivro - Cacilda Becker, o Teatro e Suas Chamas PDFFernando LeãoAinda não há avaliações
- Teatro Oficina Os Sertoes A Luta 1 ProgramDocumento84 páginasTeatro Oficina Os Sertoes A Luta 1 ProgramBob William100% (1)
- Origem Do Teatro, Cinema e TVDocumento5 páginasOrigem Do Teatro, Cinema e TVGiu NascimentoAinda não há avaliações
- No Centro Da Arena - A História Do Teatro de Arena de São PauloDocumento167 páginasNo Centro Da Arena - A História Do Teatro de Arena de São PauloGuilherme Dearo75% (4)
- Aos Jovens Atores - Gianni Ratto e MatteDocumento5 páginasAos Jovens Atores - Gianni Ratto e MattePéricles MartinsAinda não há avaliações
- Texto DramáticoDocumento5 páginasTexto DramáticocandidaAinda não há avaliações
- O Centro Popular de Cultura Da UNEDocumento101 páginasO Centro Popular de Cultura Da UNEDaniel SantosAinda não há avaliações
- Teatro Híbrido - Um Enfoque Pedagógico - Béatrice Picon-VallinDocumento15 páginasTeatro Híbrido - Um Enfoque Pedagógico - Béatrice Picon-VallinPéricles MartinsAinda não há avaliações
- A Modernidade de Vestido de NoivaDocumento10 páginasA Modernidade de Vestido de NoivaAna Paula100% (2)
- A Pratica Do EnsaiadorDocumento11 páginasA Pratica Do EnsaiadorLívia SudareAinda não há avaliações
- 7º AnoDocumento5 páginas7º AnoRafael MouraAinda não há avaliações
- Oriri - Uma Viagem Pela História Da Dança Do Século 18 e 19Documento80 páginasOriri - Uma Viagem Pela História Da Dança Do Século 18 e 19Projeto Oriri100% (1)
- 7º AnoDocumento5 páginas7º AnoRafael MouraAinda não há avaliações
- Tesp - Arte - 02 - Exercícios - 13-04-2024Documento5 páginasTesp - Arte - 02 - Exercícios - 13-04-2024Jéssica OremAinda não há avaliações
- Circo Teatro DigitalDocumento442 páginasCirco Teatro DigitalCarlos HenriqueAinda não há avaliações
- Zé Celso-O Terreiro Eletrônico e A Cidade - Marcos Bulhões Martins - ENTREVISTA PDFDocumento15 páginasZé Celso-O Terreiro Eletrônico e A Cidade - Marcos Bulhões Martins - ENTREVISTA PDFCassia PegoraroAinda não há avaliações
- José Batista (Zebba) Dal Farra Martins. Encontro Com Amir Haddad AbraceDocumento5 páginasJosé Batista (Zebba) Dal Farra Martins. Encontro Com Amir Haddad AbracezebbadalfarraAinda não há avaliações
- Teatro 6-1Documento28 páginasTeatro 6-1serenartistAinda não há avaliações
- CENAS ESQUECIDAS Ou Vaudeville, Opéra-Comique e A Transformação Do Teatro No Rio de Janeiro, Dos Anos de 1840 PDFDocumento241 páginasCENAS ESQUECIDAS Ou Vaudeville, Opéra-Comique e A Transformação Do Teatro No Rio de Janeiro, Dos Anos de 1840 PDFAgenor AraújoAinda não há avaliações
- Arte 3º AnoDocumento7 páginasArte 3º AnoAntonio GeraldoAinda não há avaliações
- Antonio Bivar - Enfim o ParaísoDocumento67 páginasAntonio Bivar - Enfim o ParaísoWilliam Santana SantosAinda não há avaliações
- Conferencia KantorDocumento80 páginasConferencia KantorLuciana Tondo100% (1)
- Texto Cenografia - Figurino - Iluminacao e Sonoplastia 2012.1Documento5 páginasTexto Cenografia - Figurino - Iluminacao e Sonoplastia 2012.1MonikGomesAinda não há avaliações
- CircoDocumento171 páginasCircoJéferson CunhaAinda não há avaliações
- Galeria Estacao CatalogoArtePopularDocumento44 páginasGaleria Estacao CatalogoArtePopularGuy Blissett AmadoAinda não há avaliações
- 9º Arte 2º Bimestre-Versão2-REV - AUTORDocumento20 páginas9º Arte 2º Bimestre-Versão2-REV - AUTORsilvana torresAinda não há avaliações
- Texto Cenografia - Figurino - Iluminacao e Sonoplastia 2012.1Documento5 páginasTexto Cenografia - Figurino - Iluminacao e Sonoplastia 2012.1Leo CintraAinda não há avaliações
- É Teatro? É Circo?: 6º ANO Aula 1 - 3º BimestreDocumento29 páginasÉ Teatro? É Circo?: 6º ANO Aula 1 - 3º BimestreSIRLENE GALERANI ROSANTEAinda não há avaliações
- 2 - Gil Vicente - BiografiaDocumento2 páginas2 - Gil Vicente - BiografiaFilomena Ruivo100% (1)
- Arquiteetura CenicaDocumento26 páginasArquiteetura CenicaTina MeloAinda não há avaliações
- O Teatro de Grupo Na Cidade de São Paulo e A Criaç - 240214 - 190014Documento22 páginasO Teatro de Grupo Na Cidade de São Paulo e A Criaç - 240214 - 190014giulie.valleAinda não há avaliações
- Circo-Teatro - Benjamim de Oliveira e A Teatralidade Circense 1Documento402 páginasCirco-Teatro - Benjamim de Oliveira e A Teatralidade Circense 1Fernando RodriguesAinda não há avaliações
- As Contribuiçõs Da Dell'arteDocumento30 páginasAs Contribuiçõs Da Dell'arteMatheus FloresAinda não há avaliações
- Versão 4 - A Arquitetura Das Pequenas CoisasDocumento14 páginasVersão 4 - A Arquitetura Das Pequenas CoisasThiago NascimentoAinda não há avaliações
- Teatro de RuaDocumento2 páginasTeatro de RuaAntônio BobAinda não há avaliações
- Dezembro de 2013Documento128 páginasDezembro de 2013Martim RodriguesAinda não há avaliações
- José Oliveira - O Teatro de Bonifrates de Antonio José Da Silva.Documento139 páginasJosé Oliveira - O Teatro de Bonifrates de Antonio José Da Silva.ANDRÉIA ROCHA DE ANDRADEAinda não há avaliações
- 6° Ano Plano MaioDocumento2 páginas6° Ano Plano MaioAlan GonçaloAinda não há avaliações
- TELLES Narciso e CARNEIRO Ana Org Teatro de Rua Olhares e Perspectivas PDFDocumento115 páginasTELLES Narciso e CARNEIRO Ana Org Teatro de Rua Olhares e Perspectivas PDFCarlos Costa100% (1)
- Transcricao Fogodeconselho 2000Documento27 páginasTranscricao Fogodeconselho 2000ferr0Ainda não há avaliações
- Apostila de Arte-4º BimestreDocumento48 páginasApostila de Arte-4º BimestreRita Florinda Da Silva Silva100% (3)
- 008 - Cadenos de TeatroDocumento34 páginas008 - Cadenos de TeatroHumberto Issao100% (1)
- ENTREVISTA Barbara HeliodoraDocumento5 páginasENTREVISTA Barbara HeliodoraSandro LucoseAinda não há avaliações
- Segurança Na Operação de TranspaleteiraDocumento47 páginasSegurança Na Operação de Transpaleteirajoaojuniortst67% (3)
- LPO CineticaDocumento98 páginasLPO CineticaRaphaella RodriguesAinda não há avaliações
- ICC309-2023-Atividade3-Matheus Souza de OliveiraDocumento15 páginasICC309-2023-Atividade3-Matheus Souza de OliveiraMatheus Souza de OliveiraAinda não há avaliações
- RESUMO Aula GPODocumento3 páginasRESUMO Aula GPOMatheus Monteiro de AndradeAinda não há avaliações
- Cenografia Introdução - 2106Documento34 páginasCenografia Introdução - 2106Marcos ScarabelloAinda não há avaliações
- A Linguagem Clássica Da ArquiteturaDocumento2 páginasA Linguagem Clássica Da ArquiteturaAlan RodriguesAinda não há avaliações
- Ficha Editável de Personagem T20Documento1 páginaFicha Editável de Personagem T20Matheus Kauã dos SantosAinda não há avaliações
- Conteúdo Teório para Estudo - YoutubersDocumento19 páginasConteúdo Teório para Estudo - YoutubersjãoAinda não há avaliações
- Meu Refúgio (Lead Sheet)Documento2 páginasMeu Refúgio (Lead Sheet)Tiago GaldinoAinda não há avaliações
- Plano Anual de Arte - 5º Ano A, B e CDocumento13 páginasPlano Anual de Arte - 5º Ano A, B e CjerisvaldofurtunatoAinda não há avaliações
- Tese Doutoramento Paulo AlmeidaDocumento356 páginasTese Doutoramento Paulo AlmeidaJosé Manuel VazAinda não há avaliações
- Ficha Projeto Campo LimpoDocumento4 páginasFicha Projeto Campo LimpoCida MacaúbasAinda não há avaliações
- Apostila de Xadrez 6° Ano Novo-1-11Documento11 páginasApostila de Xadrez 6° Ano Novo-1-11Layson SilvaAinda não há avaliações
- O Que São As Relações Precoces - WordDocumento3 páginasO Que São As Relações Precoces - WordfatuxaAinda não há avaliações
- Ba 222682500 Tapcontrol Tapcon 250 en PT-BRDocumento113 páginasBa 222682500 Tapcontrol Tapcon 250 en PT-BRWellynson BrazilAinda não há avaliações
- Trombone PortDocumento19 páginasTrombone PortbigguedesAinda não há avaliações
- Artigo Figuras Na Paisagem PortuguésDocumento8 páginasArtigo Figuras Na Paisagem PortuguésAngela PrysthonAinda não há avaliações
- Gincana Umadebb 2023Documento3 páginasGincana Umadebb 2023Ruthyelem RodriguesAinda não há avaliações
- Teste de PaciênciaDocumento2 páginasTeste de PaciênciaHelin MarchioreAinda não há avaliações
- Rádio PhilcoDocumento20 páginasRádio PhilcoMarcos PauloAinda não há avaliações
- Infográfico - Como É Um Arco e Flecha Olímpico - Mundo EstranhoDocumento6 páginasInfográfico - Como É Um Arco e Flecha Olímpico - Mundo EstranhoEdi RuizAinda não há avaliações
- (PT-20210313) RecordDocumento32 páginas(PT-20210313) RecordCarlos GomesAinda não há avaliações
- Tecsat 3200 Plus Manual de InstruçãoDocumento24 páginasTecsat 3200 Plus Manual de InstruçãoFernando MonteiroAinda não há avaliações
- Fundo de Quintal - 1990 - Ao VivoDocumento20 páginasFundo de Quintal - 1990 - Ao VivoIvan Dias100% (1)
- Pudim No PoteDocumento6 páginasPudim No PoteJackeline Martins Cavalheiro100% (1)
- Introduções e Conselhos para Irmãs Organistas 3 2 2018Documento9 páginasIntroduções e Conselhos para Irmãs Organistas 3 2 2018westiaAinda não há avaliações