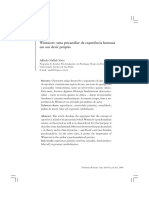0% acharam este documento útil (0 voto)
83 visualizações14 páginasSupervisão Psicanalítica em Grupo
O artigo descreve uma experiência de supervisão clínica em grupo no Instituto de Psicologia da USP, focando na dinâmica entre psicanalistas e pacientes de difícil acesso. Os autores destacam a importância da associação livre e do compartilhamento de relatos para expandir a compreensão clínica e a função psicanalítica. A supervisão é apresentada como um espaço colaborativo que enriquece a prática clínica e permite a reflexão sobre as teorias implícitas e oficiais na psicanálise.
Enviado por
joaovictor.dallaneseDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Levamos muito a sério os direitos de conteúdo. Se você suspeita que este conteúdo é seu, reivindique-o aqui.
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia on-line no Scribd
0% acharam este documento útil (0 voto)
83 visualizações14 páginasSupervisão Psicanalítica em Grupo
O artigo descreve uma experiência de supervisão clínica em grupo no Instituto de Psicologia da USP, focando na dinâmica entre psicanalistas e pacientes de difícil acesso. Os autores destacam a importância da associação livre e do compartilhamento de relatos para expandir a compreensão clínica e a função psicanalítica. A supervisão é apresentada como um espaço colaborativo que enriquece a prática clínica e permite a reflexão sobre as teorias implícitas e oficiais na psicanálise.
Enviado por
joaovictor.dallaneseDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Levamos muito a sério os direitos de conteúdo. Se você suspeita que este conteúdo é seu, reivindique-o aqui.
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia on-line no Scribd