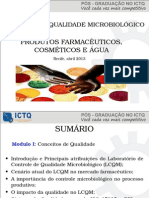Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Alexitimia - Uma Forma de Sobrevivência
Alexitimia - Uma Forma de Sobrevivência
Enviado por
Cassia HiromiTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Alexitimia - Uma Forma de Sobrevivência
Alexitimia - Uma Forma de Sobrevivência
Enviado por
Cassia HiromiDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Red de Revistas Cientficas de Amrica Latina, el Caribe, Espaa y Portugal
Sistema de Informacin Cientfica
Nina Prazeres Alexitimia: Uma Forma de Sobrevivncia Revista Portuguesa de Psicossomtica, vol. 2, nm. 1, jan/jun, 2000, pp. 109-121, Sociedade Portuguesa de Psicossomtica Portugal
Disponvel em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28720112
Revista Portuguesa de Psicossomtica, ISSN (Verso impressa): 0874-4696 medisa@mail.telepac.pt Sociedade Portuguesa de Psicossomtica Portugal
Como citar este artigo
Fascculo completo
Mais informaes do artigo
Site da revista
www.redalyc.org
Projeto acadmico no lucrativo, desenvolvido pela iniciativa Acesso Aberto
Revista Portuguesa Revista de 109 Portuguesa Psicossomtica de Psicossomtica
Alexitimia: Uma Forma de Sobrevivncia
Alexitimia: Uma Forma de Sobrevivncia1
Nina Prazeres*
Resumo: O presente trabalho apresenta uma breve reviso do conceito de alexitimia bem como da sua etiopatogenia numa perspectiva psicanaltica. O funcionamento alexitmico pode ser considerado como correspondendo ao funcionamento da parte psictica da personalidade e resultaria de uma perturbao na relao primria que ocorreria durante a posio esquizoparanide. A forma relacional alexitmica considerada como uma forma de relao desumanizada que assinala uma tentativa de assegurar a sobrevivncia psquica por um indivduo para quem a vida construtiva, desejante, conflitual e prazerosa parece inatingvel. A alexitimia hoje considerada como um factor de risco para o desenvolvimento de vrias perturbaes clnicas e um dos obstculos maiores psicanlise e psicoterapias de orientao analtica. O CONCEITO DE ALEXITIMIA A alexitimia, etimologicamente: "sem palavras para as emoes", comeou por ser descrita no mbito das doenas psicossomticas e est intimamente associada ao conceito de pensamento operatrio de Marty e de MUzan (1) que procuraram descrever uma estrutura de personalidade psicossomtica (especfica) da qual o pensamento operatrio seria uma componente essencial. No decurso das investigaes conduzidas por Nemiah e Sifneos (2) sobre o estilo cognitivo e a capacidade para vivenciar afectos por parte dos pacientes psicossomticos, Sifneos (3) props o termo alexitimia para designar um conjunto de caractersticas afectivas e cognitivas clinicamente observadas nestes pacientes, reconhecveis, sobretudo, no seu estilo comunicativo, e que os distinguiam dos pacientes neurticos. Em contraste com estes, os doentes psicossomticos apresentavam uma dificuldade acentuada em identificar e descrever verbalmente os seus sentimentos, uma vida de fantasia empobrecida resultando num estilo de pensamento literal, utilitrio e orientado para o exterior e uma tendncia para utilizar a aco de forma
O presente artigo constitui uma sntese de algumas das consideraes tericas apresentadas em: Prazeres, N. (1996). Ensaio de um estudo sobre alexitimia com o Rorschach e a Escala de Alexitimia de Toronto (TAS-20). (Dissertao de Mestrado, Universidade de Lisboa), policopiado. * Assistente da Faculdade de Psicologia e de Cincias da Educao da Universidade de Lisboa.
Vol. 2, n 1, Jan/Jun 2000
Nina Prazeres
110
a evitar situaes conflituosas geradoras de tenso. Estes pacientes relatavam poucos sonhos e pareciam no beneficiar de abordagens psicoteraputicas de orientao analtica, sendo frequentemente descritas reaces contratransferenciais de aborrecimento, tdio, frustrao e paralisia da capacidade de interpretao (1-2, 4-5). Estas caractersticas tinham sido j descritas, na literatura de influncia psicanaltica, por vrios investigadores que procuraram compreender o mecanismo subjacente ao aparecimento de sintomas psicossomticos. Deste modo, as origens do conceito de alexitimia so frequentemente traadas como remontando distino feita por Freud (6) entre neuroses actuais e psiconeuroses (7-9), distino que lanou as bases para a discusso sobre a questo da ausncia de significado simblico do sintoma psicossomtico, por oposio ao sintoma neurtico, e da adequao do mtodo psicanaltico e das abordagens psicoteraputicas de orientao analtica com os pacientes psicossomticos. O trabalho de Reush (10) , tambm, considerado importante numa sinopse histrica do conceito de alexitimia (5, 7, 9, 11-12) , pois, tendo considerado a existncia de uma personalidade infantil como o problema central das perturbaes psicossomticas, chamou a ateno para uma perturbao na expresso verbal e simblica das emoes nos doentes psicossomticos. Igualmente importante o trabalho de Krystal que, desconhecendo os trabalhos de Nemiah e Sifneos e de Marty e MUzan, descreveu, na dca-
da de sessenta e incio da dcada de setenta, caractersticas alexitmicas em estados de abstinncia de drogas, em estados ps-traumticos graves e, em colaborao com Raskin, em toxicodependentes (13). O facto de as caractersticas alexitmicas terem sido inicialmente observadas e descritas em doentes psicossomticos conduziu concepo prematura e errnea de uma relao etiolgica especfica entre alexitimia e doena psicossomtica (5,7) . No entanto, cedo se tornou claro que a alexitimia no especfica nem se verifica de uma forma universal nas doenas psicossomticas (11), facto para o qual Sifneos (3) tinha j chamado a ateno. A partir da 11 Conferncia Europeia de Investigao em Psicossomtica, que teve lugar em Heidelberg, em 1976, o interesse pela alexitimia tornou-se crescente e numerosos trabalhos de investigao deram conta da presena desta numa ampla variedade de quadros clnicos bem como em indivduos saudveis (14-15) . No entanto, muitas destas investigaes foram conduzidas com instrumentos de avaliao da alexitimia com qualidades psicomtricas inadequadas ou pobremente estudadas, o que limita a possibilidade de generalizao dos resultados. O problema presente na alexitimia no parece ser o de possuir, ou no, um vocabulrio afectivo, o que poderia ser concludo de uma leitura literal e concreta do termo, mas antes a forma como usado. A palavra afectiva alexitmica teria perdido a sua qualidade de smbolo no servindo
Revista Portuguesa de Psicossomtica
Revista Portuguesa de 111 Psicossomtica
Alexitimia: Uma Forma de Sobrevivncia
mais elaborao das tenses internas. O no ter palavras para a emoo denotaria, sobretudo, uma impossibilidade de sentir as emoes subjectivamente, uma falta do componente psquico da emoo. Deste modo, as caractersticas alexitmicas tm sido descritas em quadros em que o acesso mentalizao e elaborao psquica dos conflitos e tenses internas parece estar comprometida (7, 12, 14, 16-17) . Perante um aumento de tenso existiriam apenas duas possibilidades: a passagem ao acto e a descarga somtica (18). A proximidade entre as doenas do agir ( acting out ) e a somatizao tem sido frequentemente salientada (18-20). Green(19), sublinhando a proximidade entre as estruturas psicossomtica e psicoptica, considera o psicossomtico como um psicopata corporal cujo agir no interior do corpo (acting in) teria por objectivo, tal como o acting out, a expulso do afecto para fora da realidade psquica. "No final de contas, o que caracteriza o psicossomtico como o psicopata a sua ausncia de sintomatologia psquica: quer dizer, a sua normalidade. por isso que os primeiros esto nas mos dos mdicos e os segundos nas mos dos homens das leis" (19, p.184). Taylor(14,21), entendendo a alexitimia como um trao de personalidade, considera que a deficincia na capacidade para modular e processar cognitivamente as emoes o problema fundamental nesta e o factor principal sobre o qual assenta a vulnerabilidade do alexitmico doena. Esta deficincia tem sido hipotetizada como conduzindo quer
Vol. 2, n 1, Jan/Jun 2000
a uma focalizao e amplificao do componente somtico da activao emocional, contribuindo para o desenvolvimento de hipocondria e queixas somticas, quer utilizao de comportamentos compulsivos como forma de reduzir a tenso emocional desagradvel, contribuindo para o desenvolvimento de perturbaes associadas ao uso compulsivo de uma actividade, pessoa ou substncia, quer, ainda, a uma exacerbao das respostas fisiolgicas face a situaes de stress, conduzindo ao desenvolvimento de doena somtica (21-22). A alexitimia no um fenmeno de "tudo ou nada" admitindo-se que todos os indivduos podem, por vezes, adoptar um estilo comunicativo relativamente assimblico(23). O aspecto problemtico deste tipo de funcionamento surgiria quando este se constitui como a nica forma existente para lidar com os estados de tenso. Um funcionamento alexitmico considerado como um factor de risco para o desenvolvimento de vrias perturbaes clnicas e um dos obstculos maiores psicanlise ou psicoterapias de orientao analtica. CARACTERSTICAS CLNICAS DA ALEXITIMIA Numa perspectiva descritiva, as perturbaes alexitmicas podem ser sumariamente descritas nas reas afectiva, cognitiva e relacional (7,13). rea afectiva As perturbaes afectivas caracterizam-se por uma acentuada dificul-
Nina Prazeres
112
dade para reconhecer e descrever os sentimentos e para discriminar entre estados emocionais. As manifestaes emocionais so essencialmente somticas e as emoes so geralmente indiferenciadas, vagas e inespecficas. Segundo Taylor(14), a pobreza de expresso emocional levou alguns clnicos a concluir, erradamente, que os indivduos alexitmicos no tinham qualquer experincia ou conscincia de emoes. Criticando esta posio salienta que, de acordo com os tericos da emoo, as emoes so fenmenos biolgicos inatos sendo, pelo contrrio, precisamente na rea emocional e, sobretudo, na dificuldade de regulao das emoes que se encontra o problema fundamental destes sujeitos. As exploses emocionais breves mas violentas que, por vezes, manifestam estariam, tambm, em franca contradio com a ideia da ausncia de emoes. Estas exploses emocionais no so, no entanto, acompanhadas por um reconhecimento do sentimento associado, revelando-se os pacientes incapazes de descrever verbalmente o que sentem e a razo de tais exploses (7,13). A mesma opinio expressa por McDougall (4) ao afirmar que "nenhum beb nasce alexitmico" (p.88), pelo contrrio, as crianas so, geralmente, hipertmicas e, progressivamente, vo aprendendo "atravs dos actos e, mais tarde, das palavras dos que as rodeiam, a como dar significado emoo, de forma a que possam usar os seus sentimentos como sinais para si prprios e como meios de identificao e comunicao com os outros" (p.89).
rea cognitiva O estilo cognitivo destes sujeitos foi descrito, na dcada de 60, por membros da Escola Francesa de Psicossomtica sob a designao de pensamento operatrio(1), pensamento caracterizado pela descrio minuciosa de acontecimentos externos, geralmente adaptado tarefa, mas do qual est ausente a dimenso afectiva e fantasmtica. Marty e MUzan(1) apresentaram o pensamento operatrio como possuindo duas caractersticas essenciais: ilustrao e duplicao da aco e ausncia de relao com a actividade fantasmtica. A palavra, o pensamento, perdeu o seu valor simblico e, semelhana do sintoma somtico ou da passagem ao acto, cumpre apenas uma funo de descarga de tenses e no mais de elaborao psquica destas(18). A perturbao na actividade fantasmtica pode traduzir-se, igualmente, na actividade onrica que parece marcadamente ausente (ou, pelo menos, no relatada) e, quando ocorre, o seu relato parece obedecer, tambm, s regras do pensamento operatrio(1). O pensamento operatrio particularmente evidente na forma como estes indivduos tendem a relatar a sua histria de vida. Este relato tende a ser feito por referncia realidade externa, numa enumerao sucessiva de datas e lugares, estando ausente qualquer referncia a uma realidade interior, qualquer marca de uma vivncia subjectiva e personalizada (24). Este tipo de pensamento pode ser considerado como uma perturbao subtil do pensamento na medida em
Revista Portuguesa de Psicossomtica
Revista Portuguesa de 113 Psicossomtica
Alexitimia: Uma Forma de Sobrevivncia
que no provocar erros lgicos substanciais e facilmente reconhecveis, assinalando, no entanto, uma pobreza imaginativa e um pensar a experincia e o mundo desnudado do plo afectivo. uma forma de pensamento destituda da qualidade humana que se pode manifestar como bastante deficiente quando o indivduo necessita de tomar decises que respeitam esfera pessoal e social, apesar das capacidades intelectuais estarem preservadas (25). rea relacional As relaes objectais caracterizam-se, igualmente, por um estilo operatrio. As relaes tendem, assim, a ser utilitrias e pragmticas e a dimenso afectiva parece marcadamente ausente. Marty e MUzan (1) referem-se a este tipo de relao, no contexto da situao analtica, como uma relao branca, lisa, superficial, sem profundidade e desvitalizada que contribui para as reaces contratransferenciais de tdio e aborrecimento frequentemente descritas pelos analistas destes pacientes. Apesar do afecto transferencial estar ausente, este estilo de relao considerado uma forma de transferncia na medida em que corresponde forma como lidam com os outros fora da sesso analtica e como aprenderam a lidar, na infncia, com os objectos significativos (23, 26) . A incapacidade destes indivduos em perceber o outro como possuindo uma individualidade prpria foi descrita por MUzan (24) sob a designao de reduplicao projectiva e manifesta-se, na situao analtica,
Vol. 2, n 1, Jan/Jun 2000
por encararem o terapeuta como uma verso de si prprios, dotado do mesmo estilo de pensamento operatrio(1). Esta caracterstica, juntamente com a incapacidade para perceber os sentimentos em si e nos outros, contribui para uma capacidade reduzida de empatia e de compreenso humana. Embora se observe, nalguns casos, uma tendncia para o evitamento de relaes interpessoais, estes indivduos tendem, sobretudo, a estabelecer relaes interpessoais marcadamente dependentes, assumindo, por vezes, o aspecto de uma verdadeira toxicodependncia de objecto, sendo tambm possvel observar-se uma oscilao entre estas duas posies. Como no h nenhuma diferena essencial entre os objectos, estes, embora necessrios, so facilmente substitudos (13, 27). Uma caracterstica frequentemente associada a de que, geralmente, parecem sujeitos bem adaptados, com elevado grau de conformidade social. McDougall prope a designao de normopatas para se referir a este tipo de indivduos que, apesar de profundamente perturbados, no exibem manifestaes psicticas ou neurticas. Trata-se de uma pseudo-normalidade j que tm pouco contacto com a sua prpria realidade psquica, vivendo a vida como se seguissem um qualquer manual de instrues. Corresponde a uma adaptao de falso self (28) indicando, segundo McDougall (23), uma "tentativa desesperada para sobreviver psiquicamente no mundo dos outros mas sem suficiente compreenso dos laos emocionais, sinais e smbolos que tornam as relaes
Nina Prazeres
114
humanas significativas" (p.149). Na ausncia de sintomatologia psquica evidente as reaces contratransferenciais, anteriormente referidas, so consideradas um elemento fundamental na identificao das caractersticas alexitmicas. ALGUMAS CONSIDERAES SOBRE A ETIOPATOGENIA DA ALEXITIMIA NUMA PERSPECTIVA PSICANALTICA A discusso sobre a etiologia da alexitimia permanece, devido a dificuldades metodolgicas nos estudos empreendidos, uma questo especulativa, sendo provvel que mltiplos factores, tais como os de ordem neurofisiolgica, psicolgica, sociocultural e outros, possam contribuir para essa etiologia (7, 17, 29). Sendo um quadro inicialmente descrito nas doenas psicossomticas, no mbito das investigaes que procuravam estabelecer a existncia de uma estrutura de personalidade psicossomtica, as explicaes da etiopatogenia da alexitimia tendem a confundir-se com as teorias defendidas para essas mesmas doenas. No entanto, ao ser descrita noutros quadros, importa saber se h uma etiopatogenia especfica da alexitimia que, nesse caso, deve ser consistente e transversal a todos os quadros psicopatolgicos em que surge. As teorias psicanalticas propem, duma forma geral, a presena de uma perturbao na relao primria que entendida como um factor etiolgico importante no desenvolvimento de
caractersticas alexitmicas. Adoptando a posio de que a relao primria uma relao de inter-regulao mtua de processos no s psicolgicos mas tambm fisiolgicos, Taylor (5) considera que a vulnerabilidade doena fsica e mental se constri quando esta regulao fica comprometida no seio de uma relao primria inadequada por ausncia de sintonia entre os seus membros. Considerando que a alexitimia assinala uma perturbao na regulao das emoes props, recentemente, que as perturbaes clnicas, nas quais a alexitimia desempenhe um papel fundamental, sejam reconceptualizadas como perturbaes da regulao das emoes (14). A imaturidade funcional do beb encontra na me um objecto regulador das tenses ainda no possveis de elaborar por aquele. Gradualmente a criana vai adquirindo a possibilidade de auto-regulao o que corresponderia interiorizao de uma imagem da me cuidadora e apaziguante com a qual a criana se poder mais tarde identificar podendo, ento, desempenhar esse papel cuidador e regulador para si prpria de uma forma mais autnoma. McDougall atribui falncia do ambiente humano, representado essencialmente pela me, a impossibilidade da criana interiorizar tal objecto o que a torna irremediavelmente dependente do meio para lidar com os estados de tenso de origem interna e externa. Deste modo, haver uma necessidade e procura permanente de um objecto externo capaz de desemRevista Portuguesa de Psicossomtica
Revista Portuguesa de 115 Psicossomtica
Alexitimia: Uma Forma de Sobrevivncia
penhar as funes que o indivduo no pode desempenhar para si prprio (15). Estaramos, ento, no mbito dos comportamentos de dependncia compulsiva, que podem ser pensados independentemente do objecto alvo especfico substncia psicoactiva, actividade sexual, objecto humano, situao analtica/analista, trabalho, jogo , como forma de reparar um vazio interno e criar a experincia, mesmo que breve e ilusria, de cuidado e apaziguamento pessoal. von Rad (15) salienta, tambm, a perturbao na relao primria como factor etiolgico importante no desenvolvimento de caractersticas alexitmicas. Fazendo apelo s fases de desenvolvimento propostas por Mahler, considera que esta perturbao ocorreria durante a fase simbitica. Ao contrrio do que ocorre no desenvolvimento normal, as mes de pacientes psicossomticos com caractersticas alexitmicas tendem a usar os seus filhos como forma de resoluo dos seus problemas narcsicos e como uma extenso de si prprias, numa relao primria em que a separao, autonomia e independncia no possvel. A criana torna-se, literalmente, uma parte do corpo da me sobre a qual esta exerce uma vigilncia intensa de forma a evitar o aparecimento de tenses ou de sentimentos de desprazer. Funcionando como uma verdadeira barreira de proteco contra os estmulos, estas mes calmantes, hiperprotectoras, impedem o desenvolvimento progressivo, por parte da criana, de estratgias pessoais para lidar de forma efectiva com o auVol. 2, n 1, Jan/Jun 2000
mento de tenso, tornando-a irremediavelmente dependente da sua presena para o fazer. Esta ausncia da capacidade para cuidar de si prprio, assinalada tambm por Krystal (13) e McDougall (30), pode resultar numa total ausncia de ateno e negligncia pelas sensaes corporais que, tendo perdido a sua funo de sinalizao, faz perigar a prpria sobrevivncia fsica. Defendendo que a alexitimia no uma incapacidade para vivenciar ou expressar emoo, mas antes uma incapacidade para conter e reflectir sobre um excesso de experincia afectiva, McDougall (26) prefere designar estes pacientes como desafectados, procurando, deste modo, salientar que experimentaram, de facto, emoo que, pela sua intensidade, se tornou desorganizadora ameaando o sentimento de integridade e de identidade. Os comportamentos de dependncia compulsiva referidos seriam, deste modo, uma forma de evitar o fluxo afectivo. A alexitimia, semelhana dos outros sintomas psicolgicos, seria uma tentativa de cura e de sobrevivncia psquica, atravs do ataque e silenciamento da experincia afectiva, tanto de natureza agradvel como desagradvel. Considerando que as teorias que propem defeitos neurobiolgicos, inatos ou adquiridos, so insuficientes para a compreenso do fenmeno alexitmico (j que este pode desaparecer em resultado do tratamento psicanaltico), McDougall (23) encara a alexitimia como uma poderosa defesa contra a vitalidade interna afecti-
Nina Prazeres
116
va em que predominam os mecanismos de clivagem e de identificao projectiva. Os afectos, primitivos, pouco matizados e integrados, teriam um carcter avassalador. O seu aparecimento assinala o risco de se ser submerso por afectos incontrolveis que fazem vacilar a adaptao e a capacidade de controlo, podendo despertar o medo da morte psquica, da desorganizao e loucura. Deste modo, todas as percepes capazes de evocar reaces afectivas poderosas so ou evitadas ou rapidamente repudiadas da conscincia. Sem outros mecanismos para lidar com o conflito e a tenso, o indivduo no tem outro recurso, face a situaes de stress, seno atacar qualquer percepo que se arrisque a despertar a emoo. Para McDougall (23) a modalidade comunicativa e relacional alexitmica pode, em alguns casos, ser comparada retirada esquizide j que "ambas procuram manter um estado de morte interna como forma de prevenir a invaso por experincias afectivas tempestuosas" (p.174). O funcionamento alexitmico resultaria de uma perturbao na relao primria que, ocorrendo durante a posio esquizo-paranide, teria por consequncia uma diferenciao incompleta das representaes do self e do objecto e uma utilizao concreta dos smbolos (31-33). O funcionamento alexitmico corresponderia, assim, ao funcionamento da parte psictica da personalidade em que o indivduo se defende da dor mental e da ansiedade de aniquilao pelo uso da clivagem e identificao projectiva e por ataques ao vnculo (34-35). O maior
ou menor predomnio da parte psictica da personalidade sobre o funcionamento global do indivduo determinaria o grau de gravidade das caractersticas alexitmicas. O ataque ao vnculo emocional considerado por McDougall como uma actividade psquica principal dos alexitmicos e Bion (35), salientando que do dio emoo ao dio prpria vida vai um pequeno passo, descreve o resultado de tal actividade: "Esses ataques funo de vinculao da emoo levam a uma proeminncia excessiva, na parte psictica da personalidade, de vnculos que parecem ser lgicos, quase matemticos, mas nunca emocionalmente razoveis. Consequentemente, os vnculos que sobrevivem so perversos, cruis e estreis" (p.315). Embora no utilizando o conceito de alexitimia, a descrio feita por Modell (36) de um grupo de pacientes narcsicos, que apresentavam como caracterstica principal a no comunicao de afectos, similar. A no comunicao de afectos equivalente a um estado de no relao. A procura de destruio do vnculo afectivo com os outros teria como objectivo manter a iluso de auto-suficincia. Na ausncia de um ambiente parental de holding (28), a criana teria sentido necessidade de desempenhar ela prpria essas funes. Empurrada para uma autonomia precoce desenvolve uma estrutura de falso self (28). Como, de facto, a criana no pode ser autnoma e cuidar dela prpria, a nica forma de resolver o dilema seria a de reactivar fantasias de auto-suficincia omnipotente que, na verRevista Portuguesa de Psicossomtica
Revista Portuguesa de 117 Psicossomtica
Alexitimia: Uma Forma de Sobrevivncia
dade, assinalam uma extrema vulnerabilidade e dependncia. Krystal (13) atribui a alexitimia a uma paragem no desenvolvimento afectivo aps trauma psquico infantil ou a uma regresso aps trauma catastrfico na vida adulta. Deste modo, refere-se a dois tipos de alexitimia que podemos considerar como equivalentes distino proposta por Freyberger (37) entre alexitimia primria e alexitimia secundria, apesar de Krystal no utilizar esta terminologia. Conjugando a perspectiva de Freyberger (37) com a de Krystal (13) poderamos entender a alexitimia primria e secundria nos termos que se seguem. A alexitimia primria surgiria na infncia devido a um trauma que decorre da incapacidade da me/ /objecto cuidador de assegurar e impedir o surgimento de tenses insuportveis e impossveis de manejar por um aparelho mental naturalmente insuficiente porque em desenvolvimento. Constituiria, ento, uma forma mais grave de alexitimia que decorreria da inibio do desenvolvimento afectivo e das estruturas cognitivas necessrias elaborao psquica das tenses e conflitos. O trauma seria, portanto, anterior ao desenvolvimento da linguagem e do pensamento simblico, ficando comprometida a utilizao de canais sublimatrios e simblicos para a elaborao de experincias afectivas avassaladoras. Corresponderia a um prejuzo no desenvolvimento da funo alfa o que poderia, tambm, explicar a suposta ausncia de vida onrica nestes pacientes (38-39) . A alexitimia secundria dever-se-ia
Vol. 2, n 1, Jan/Jun 2000
presena de tenses insuportveis devido a situaes traumticas extremas na vida adulta, como por exemplo, o terror vivido pelas vtimas do holocausto. de facto possvel imaginar, e constatar na realidade histrica da humanidade, que, por mais bem integrada e harmoniosa que seja a personalidade de um indivduo, este se pode defrontar com situaes extremas que sabotam qualquer possibilidade de mentalizao e integrao harmoniosa da experincia vivida. Desta forma, o indivduo regrediria a um modo de funcionamento caracterstico da fase pr-verbal em que o outro ainda indispensvel ao manuseamento e integrao da tenso e do conflito e em que a tenso se descarrega primordialmente pelo somtico. Krystal (13) considera a alexitimia como possuindo uma etiologia traumtica que resultaria, como j foi referido, numa impossibilidade do indivduo desempenhar um papel parental face a si prprio. Esta impossibilidade resultaria no tanto de um dfice destas funes ou das estruturas psquicas, mas antes da sua inibio e de uma distoro nas representaes do self e do objecto. Esta distoro corresponderia a atribuir tais funes representao do objecto, mantendo-as rigidamente encapsuladas nesta, e a sentir uma proibio em assumir tais funes. Deste modo, assistir-se-ia a um empobrecimento do Eu e a um aumento de reas psquicas no integradas e consideradas como no-Eu. "A minha opinio que a representao do self est severamente limitada e todas as
Nina Prazeres
118
funes vitais e afectivas so vivenciadas como parte da representao do objecto. Desempenhar quaisquer actividades de maternidade, de preservao da vida ou de acalmia reservado me externa, ou seu substituto, e proscrito para o sujeito. A sua representao do self a de uma criana para quem apoderar-se destas funes maternas proibido e muito perigoso" (13, p.249). Os mecanismos defensivos geralmente evocados para explicar o funcionamento alexitmico so de tipo primitivo, o que encontra apoio na investigao efectuada nesta rea. Apesar de tal investigao ser relativamente escassa, ao que no ser alheia a dificuldade de desenvolver instrumentos apropriados para a avaliao dos mecanismos defensivos, alguns trabalhos, como o de Wise, Mann e Epstein(40), tm revelado a associao da alexitimia com a utilizao de mecanismos de defesa imaturos ou de tipo psictico. Para alm da clivagem e da identificao projectiva, mecanismos frequentemente evocados, Krystal (13) considera que o mecanismo de recalcamento primrio pode explicar a presena do pensamento operatrio na alexitimia. Este mecanismo deixaria verdadeiros buracos na estrutura psquica, geralmente referidos pelo paciente como um sentimento de vazio interno (13). Referindo-se ao tipo de relao primria vivida por pacientes alexitmicos, McDougall encontra frequentemente, na histria clnica destes pacientes, uma relao paradoxal em que a me, embora presente fisica-
mente, no est em contacto com as necessidades emocionais da criana. Descreve um ambiente familiar que, no tolerando qualquer expresso de emoo e individualidade, ensina, literalmente, a criana a ser alexitmica, nica forma de esta manter os seus objectos e, portanto, sobreviver. A relao vivida , ento, uma relao destituda de qualquer qualidade humana, o medo de aniquilao , em certo sentido, o resultado de uma avaliao realista da situao j que o que se exige a morte da vitalidade interna, este o preo a pagar para garantir a sobrevivncia. "Experimentamos o que eles aprenderam que a sua sobrevivncia psquica dependia da capacidade para tornar a vitalidade interna inerte com certos pacientes descobrimos que esta paralisia interna tem o objectivo de evitar fantasias primitivas de imploso ou abandono ou o retorno de um estado traumtico de desamparo e desesperana no qual a existncia psquica, e talvez a prpria vida, foi sentida como ameaada" (23, p.177). As ansiedades subjacentes alexitimia seriam de ordem psictica(4) j que em causa est a prpria possibilidade de existir como ser separado dotado de uma individualidade prpria. Ser alexitmico uma forma no humana de existir e de se relacionar com o outro, soluo possvel quando o indivduo no viu reconhecido o seu direito a existir. A criana precisa de ser confirmada e valorizada quando ensaia os movimentos de separao e individuao. Se a criana depara com uma me incapaz de
Revista Portuguesa de Psicossomtica
Revista Portuguesa de 119 Psicossomtica
Alexitimia: Uma Forma de Sobrevivncia
prescindir dela como objecto de suprimento narcsico, que no tolera qualquer afirmao de individualidade e diferena, a criana percepciona uma proibio de ser diferente, de ser ela prpria, e submete-se ao objecto como forma de no o perder. No entanto, depender de um objecto e reconhecer a sua necessidade constitui uma actualizao e agravamento da ferida narcsica inerente ao sentimento de incompletude. A alexitimia pode ser, ento, uma defesa construda contra o reconhecimento da perda (objectal e narcsica) na medida em que atacar o afecto atacar a relao. No comunicar afectivamente destruir a possibilidade de uma relao humanizada, destruir a separao do objecto e a sua importncia para o sujeito e refugiar-se num sentimento de auto-suficincia narcsica e omnipotente (36). Estar em contacto com a sua realidade psquica seria estar em contacto com a realidade de um objecto que no ama e no valoriza o indivduo por aquilo que ele , pela sua especificidade e diferena. Implicaria a possibilidade de desistir de um amor e de um objecto que nunca se teve verdadeiramente, a possibilidade de aceitar a perda e deprimir-se verdadeiramente, isto , mentalmente. A impossibilidade de o fazer abre o caminho para o acting in e para o acting out. "Com efeito, a depresso ou assumida como doena mental e pode eventualmente ser elaborada ( o deprimido, que sofre psiquicamente e tem possibilidade de vir a curar-se) ou no aceite como doena psquiVol. 2, n 1, Jan/Jun 2000
ca e faz sofrer o corpo com a sua repercusso interna ou a sociedade com as suas distimias irritadas e descargas agressivas ( o deprimido que adoece somaticamente e/ou provoca sofrimento nos outros)" (41, p.67/68).
Abstract The present work presents a brief revision of the alexithymia construct as well as of its etiopathogenesis in a psychoanalytic perspective. The alexithymic functioning can be considered as corresponding to the functioning of the psychotic part of the personality being the result of a disturbance in the primary relationship during the paranoid-schizoid position. The alexithymic relational form is considered as a dehumanizing form of relationship that signals an atempt to ensure the psychic survival by an individual to whom the constructive, desirous, conflitual and pleasurable life seems unattainable. Alexithymia is considered, nowadays, as a risk factor to the development of several clinical disorders and one of the major obstacles to psychoanalysis and analytic oriented psychotherapies.
BIBLIOGRAFIA
1. Marty P, MUzan. La pense opratoi-
re. Rev Fran Psychanal 1963; 27 (suppl.): 345-356. Paris: Presses Universitaires de France. 2. Nemiah JC, Sifneos PE. Psychosomatic illness: a problem in communication. Psychother Psychosom 1970; 18: 154-160. 3. Sifneos PE. The prevalence of alexithymic characteristics in psychosomatic patients. Psychother Psychosom 1973; 22: 255-262.
Nina Prazeres
120
4. McDougall J. Alexithymia: a psycho-
analytic viewpoint. Psychother Psychosom 1982; 38, 81-90. 5. Taylor GJ. Psychosomatic medicine and contemporary psychoanalysis. Madison: International Universities Press, Inc, 1987. 6. Freud S. La sexualidad en la etiologia de las neurosis (L. L-P. y de Torres, Trad.). In S. Freud Obras Completas ( Tomo I, Cuarta Edicion, pp. 317-329). Madrid: Editorial Biblioteca Nueva. (Pub. orig. 1898), 1981. 7. Lolas F, von Rad M. Alexithimia. In S. Cheren.(Ed.) Psychosomatic Medicine: Theorie, Physiology, and Practice (vol I, pp. 189-241). Madison: International Universities Press, Inc, 1989. 8. Taylor GJ. Psychoanalysis and psychosomatics: a new synthesis. J Am Acad Psychoanal 1992; 20(2): 251-275. 9. Weinryb RM. Alexithymia: old wine in new bottles? Psychoanal Contemp Thougt 1995; 18(2): 159-195. 10. Reusch J. The infantile personality: the core problem of psychosomatic medicine. Psychosom Med 1948; 10: 134-144. 11. Nemiah JC. A reconsideration of psychological specificity in psychosomatic disorders. Psychother Psychosom 1982; 38: 39-45. 12. Salminen JK, Saarijrvi S, rel E. Two decades of alexithymia. J Psychosom Res 1995; 39 (7): 803-807. 13. Krystal H (com Krystal JH). Integration and Self-Healing. Affect - Trauma Alexithymia. Hillsdale: The Analytic Press, 1987. 14. Taylor GJ. The alexithymia construct: conceptualization, validation, and relationship with basic dimensions of personality. New Trends in Exper. Clin Psychiat 1994; X (2): 61-74. 15. von Rad M. Alexithymia and symptom formation. Psychother Psychosom 1984; 42: 80-89. 16. Lesser IM. A review of the alexithymia
concept. Psychosom Med 1981; 43(6): 531-543. 17. Taylor GJ. Alexithymia: concept, measurement, and implications for treatement. Am J Psychiat 1984; 141(6): 725-732. 18. Melon J. Reflexions sur la structure psychosomatique et son approche a partir des tests de Rorschach et de Szondi. Bull Soc Fran Rorsch Mthod Project 1978; 31: 41-51. 19. Green A. Laffect dans les structures cliniques. In A. Green, Le discours vivant (p.145-187). Presses Universitaires de France, 1973. 20. Sperling, M. Acting-out behaviour and psychosomatic symptoms: clinical and theoretical aspects. Int J PsychoAnal 1968; 49, 250-253. 21. Taylor GJ. Psychosomatics and selfregulation. In JW Barron, MN Eagle, & DL Wolitzky (Eds.), Interface of psychoanalysis and psychology (p.464-488). Washington, DC: American Psychological Association, 1992. 22. Taylor GJ, Bagby RM, Parker JDA. The alexithymia construct: a potential paradigm for psychosomatic medicine. Psychosomatics 1991; 32(2): 153164. 23. McDougall J. Reflections on affect: A psychoanalytic view of alexithymia. In J McDougall, Theaters of the Mind. Illusion and Truth on the Psychoanalytic Stage (pp. 147-180). New York, Brunner/Mazel, 1991. 24. MUzan M. Psychodynamic mechanisms in psychosomatic symptom formation. Psychother Psychosom 1974; 23: 103-110. 25. Luzes P. Linteraction cognition-motion et la psychologie clinique (version prliminaire). Comunicao apresentada nas XXVmes Journes dtudes de lassociation de psychologie scentifique de langue franaise, Coimbra, 14-16 de Setembro de 1995
Revista Portuguesa de Psicossomtica
Revista Portuguesa de 121 Psicossomtica
Alexitimia: Uma Forma de Sobrevivncia
(texto no publicado facultado pelo autor), 1995. 26. McDougall J. Theaters of the body. A psychoanalytic approach to psychosomatic illness. New York, W. W. Norton & Company, 1989. 27. Taylor GJ. Psychoanalysis and empirical research: the example of patients who lack psychological mindedness. J Am Acad Psychanal 1995; 23(2): 263-281. 28. Winnicott DW. La thorie de la relation parent-nourrisson (J. Kalmanovitch, Trad). In De la pdiatrie la psychanalyse (pp. 237-256). Paris: Petite Bibliothque Payot. (Pub. orig. 1960), 1969. 29. Sifneos PE. Affect, emotional conflict, and deficit: an overview. Psychother Psychosom 1991; 56: 116-122. 30. McDougall J. Alexithymia, psychosomatosis and psychosis. Int J Psychanalyt Psychother 1982/83; 9: 379-388. 31. Klein M. Algumas concluses tericas sobre a vida emocional dos bebs (A Cabral, Trad.). In M Klein, P Heimann, S Isaacs & S Riviere, Os progressos da psicanlise (3 ed., pp. 216-255). Rio de Janeiro: Zahar Editores. (Pub orig 1952), 1982. 32. Klein M. Notas sobre alguns mecanismos esquizides (A Cabral, Trad). In M Klein, P Heimann, S Isaacs & S Riviere. Os progressos da psicanlise (3 ed., pp. 313-343). Rio de Janeiro: Zahar Editores. (Pub orig 1952), 1982. 33. Segal H. Notas sobre a formao de smbolos (BH Mandelbaum, Trad). In EB Spillius (Ed), Melanie Klein Hoje.
Desenvolvimentos da teoria e da tcnica. Vol. 1: Artigos predominantemente tericos (2 ed., pp. 167-184). Rio de Janeiro: Imago Editora. (Pub. orig. 1957), 1991. 34. Bion WR. Differentiation of the psychotic from the non-psychotic personalities. Int J Psycho-Anal 1957; 38: 266-275. 35. Bion WR. Attacks on linking. Int J Psycho-Anal 1959; 40: 308-315. 36. Modell AH. Affects and their non-communication. Int J Psycho-Anal 1980; 61: 259-267. 37. Freyberger H. Supportive psychotherapeutic techniques in primary and secondary alexithymia. Psychother Psychosom 1977; 28: 337-342. 38. Bion WR. Uma teoria do pensar (B. H. Mandelbaum, Trad.). In EB Spillius (Ed), Melanie Klein Hoje. Desenvolvimentos da teoria e da tcnica. Vol. 1: Artigos predominantemente tericos (2 ed., pp. 185-193). Rio de Janeiro: Imago Editora. (Pub. orig. 1962), 1991. 39. Graham R. The concept of alexithymia in the light of the work of Bion. Br J Psychother 1988; 4(4): 364-379. 40. Wise TN, Mann LS, Epstein S. Ego defensive styles and alexithymia: a discriminant validation study. Psy-chother Psychosom 1991; 56, 141-145. 41. Matos AC. Patologia psicossomtica: perspectiva psicanaltica. In J. Frana de Sousa, G. Cardoso & A. Barbosa (Eds.) Psiquiatria de Ligao e Psicossomtica. Workshops do Servio de Psiquiatria do Hospital de Santa Maria (p. 61-73), 1988/89a.
Vol. 2, n 1, Jan/Jun 2000
Você também pode gostar
- Modelo de LaudoDocumento23 páginasModelo de LaudoGuilherme Teo DiasAinda não há avaliações
- Caso Clinico - ActDocumento1 páginaCaso Clinico - ActNay Vieira100% (1)
- A Clínica Fenomenológica-Existencial e o Atendimento Com AdolescentesDocumento4 páginasA Clínica Fenomenológica-Existencial e o Atendimento Com AdolescentesGilson SantosAinda não há avaliações
- ENVIAR ALUOS Ciencia Psicologica Uma Construcao Historica de Socrates Ao Humanismo ModernoDocumento25 páginasENVIAR ALUOS Ciencia Psicologica Uma Construcao Historica de Socrates Ao Humanismo ModernoJoão VitorAinda não há avaliações
- Relaxamento Progressivo de JacobsonDocumento24 páginasRelaxamento Progressivo de JacobsonNAYARA PEREIRA PEIXOTOAinda não há avaliações
- Soluçao para Um Namoro AnsiosoDocumento27 páginasSoluçao para Um Namoro AnsiosoWell Soares100% (3)
- Fluxograma Das Principais Teorias Da Psicologia No Século XXDocumento5 páginasFluxograma Das Principais Teorias Da Psicologia No Século XXArthur CaiaffaAinda não há avaliações
- A Eficácia Da TCC No Tratamento Do EstresseDocumento40 páginasA Eficácia Da TCC No Tratamento Do EstresseDiego Lima Gomes100% (4)
- (Psicologia) - Amancio C Pinto - Psicologia ExperimentalDocumento166 páginas(Psicologia) - Amancio C Pinto - Psicologia ExperimentalJose Wilson Claudia100% (1)
- A Mae Do Senhor - Jose PatschDocumento288 páginasA Mae Do Senhor - Jose PatschLuiza Colassanto ZamboliAinda não há avaliações
- O Construtor de Pontes - DinâmicaDocumento5 páginasO Construtor de Pontes - DinâmicaAnonymous f2WS1JvG5100% (1)
- Psicologia ClinicaDocumento14 páginasPsicologia ClinicaAna Cristina100% (2)
- Psicologia, depressão e disturbilidade do humor: Compreender os mecanismos básicos.No EverandPsicologia, depressão e disturbilidade do humor: Compreender os mecanismos básicos.Ainda não há avaliações
- Atualização em Avaliação e Tratamento das Emoções -vol 2: As emoções e seu processamento normal e patológicoNo EverandAtualização em Avaliação e Tratamento das Emoções -vol 2: As emoções e seu processamento normal e patológicoAinda não há avaliações
- Transtorno Do Panico e TCCDocumento12 páginasTranstorno Do Panico e TCCAneli Pereira De Araújo GoisAinda não há avaliações
- PerlsDocumento19 páginasPerlsCarolina MelloAinda não há avaliações
- Terapia Cognitivo ComportamentalDocumento24 páginasTerapia Cognitivo ComportamentalDiana CarreiraAinda não há avaliações
- Fenomenologia Clínica Dasperturbaçoesdapersonalidade Victor Amorim RodriguesDocumento12 páginasFenomenologia Clínica Dasperturbaçoesdapersonalidade Victor Amorim RodriguesRodrigo RibeiroAinda não há avaliações
- Texto Psicoterapia Breve Operacionalizada PDFDocumento11 páginasTexto Psicoterapia Breve Operacionalizada PDFAnselmo Luiz RibeiroAinda não há avaliações
- Gestalt - Conceito de NeuroseDocumento13 páginasGestalt - Conceito de Neurosescribd200512Ainda não há avaliações
- Teoria Do Apego - Elementos para Uma Concepção Sistêmica Da Vinculação HumanaDocumento14 páginasTeoria Do Apego - Elementos para Uma Concepção Sistêmica Da Vinculação HumanaDiana Victoria Nobles MontoyaAinda não há avaliações
- Método FenomenológicoDocumento19 páginasMétodo FenomenológicoAnna CastroAinda não há avaliações
- Link de Ariana O Filme Gênio IndomávelDocumento3 páginasLink de Ariana O Filme Gênio IndomávelThaise Van Marck CarvalhoAinda não há avaliações
- A Psicologia Humanista - Boainain JRDocumento15 páginasA Psicologia Humanista - Boainain JRAnonymous 90U5LFQAinda não há avaliações
- Noções de PsicopatologiaDocumento45 páginasNoções de PsicopatologiaAdriana Ameixa100% (1)
- Orientação Online PsicologosDocumento11 páginasOrientação Online PsicologosLuan Cesar AltimariAinda não há avaliações
- Diagnostico Do Paciente e A Escolha Da PsicoterapiaDocumento7 páginasDiagnostico Do Paciente e A Escolha Da PsicoterapiaRodrigo Dos Santos MaidanaAinda não há avaliações
- Aula 7 - Transtornos Da Personalidade Do Grupo CDocumento36 páginasAula 7 - Transtornos Da Personalidade Do Grupo CFrancielly MartinsAinda não há avaliações
- A 123 Ondas-1Documento21 páginasA 123 Ondas-1sheyllaAinda não há avaliações
- CECCONELLO, DE ANTONI, KOLLER, 2003. Práticas Educativas, Estilos Parentais e Abuso Físico No Contexto Familiar.Documento10 páginasCECCONELLO, DE ANTONI, KOLLER, 2003. Práticas Educativas, Estilos Parentais e Abuso Físico No Contexto Familiar.Raquel KolbergAinda não há avaliações
- Apostila Transtorno de PersonalidadeDocumento13 páginasApostila Transtorno de PersonalidadeLaura SuchomelAinda não há avaliações
- Abordagem Centrada Na PessoaDocumento8 páginasAbordagem Centrada Na PessoaCamila BorsosAinda não há avaliações
- A Construção Da Social Do Saber Sobre A Saúde e A DoençaDocumento17 páginasA Construção Da Social Do Saber Sobre A Saúde e A DoençaEnvi100% (1)
- PsicodramaDocumento15 páginasPsicodramaPyettra MartinsAinda não há avaliações
- Até Onde o Que Você Sabe Sobre o Behaviorismo É VerdadeiroDocumento71 páginasAté Onde o Que Você Sabe Sobre o Behaviorismo É VerdadeiroViviane Martins Dos ReisAinda não há avaliações
- A Formação Do Apego e Suas Implicações Na Construção de Vínculos FuturosDocumento51 páginasA Formação Do Apego e Suas Implicações Na Construção de Vínculos FuturosSi Stefanelli CasteluciAinda não há avaliações
- Psicopatologia LogoterapiaDocumento8 páginasPsicopatologia LogoterapiaSolange BruniAinda não há avaliações
- A Psicoterapia Socio-HistóricaDocumento10 páginasA Psicoterapia Socio-HistóricaAle GonçalvesAinda não há avaliações
- RESUMO - ARANTES, Valéria Amorim. Cognição, Afetividade e MoralidadeDocumento14 páginasRESUMO - ARANTES, Valéria Amorim. Cognição, Afetividade e MoralidadeEdneia Lima Silva0% (1)
- Neuropsicologia - Revisão AV2-1Documento48 páginasNeuropsicologia - Revisão AV2-1JulianaSantosAinda não há avaliações
- Aula 2 - Plantão Psicológico - ContemporaneidadeDocumento16 páginasAula 2 - Plantão Psicológico - ContemporaneidadeCândida Psi100% (1)
- Curso de Formação em Terapias Da 3 Onda - Belo Horizonte MG - CESDE - Centro de Estudos e Desenvolvimento EducacionalDocumento4 páginasCurso de Formação em Terapias Da 3 Onda - Belo Horizonte MG - CESDE - Centro de Estudos e Desenvolvimento Educacionaladmar_cardoso@yahoo.com.brAinda não há avaliações
- Gestalt Aplicada A GruposDocumento17 páginasGestalt Aplicada A GruposMarianaAinda não há avaliações
- Freud X RogersDocumento8 páginasFreud X RogersDaysiane XavierAinda não há avaliações
- Aula 02 - Psicopatologia - Definições, Conceitos, Teorias e Práticas - DemincoDocumento22 páginasAula 02 - Psicopatologia - Definições, Conceitos, Teorias e Práticas - DemincoCândida PsiAinda não há avaliações
- Carl RogersDocumento4 páginasCarl RogersExon ChacateAinda não há avaliações
- Os Fenômenos Dos Campo GrupalDocumento11 páginasOs Fenômenos Dos Campo GrupalMabel Rabelo SantosAinda não há avaliações
- Ensinando Psicoterapia Com IdososDocumento11 páginasEnsinando Psicoterapia Com IdososBruna Vencato AlexandreAinda não há avaliações
- A Visão Moreniana Do HomemDocumento6 páginasA Visão Moreniana Do HomemJoao L. AndretaAinda não há avaliações
- Terapia Centrada No Cliente No Aconselhamento PDFDocumento26 páginasTerapia Centrada No Cliente No Aconselhamento PDFArtur VelosoAinda não há avaliações
- Gestalt Terapia - Caso PedroDocumento16 páginasGestalt Terapia - Caso PedroDiego CostaAinda não há avaliações
- 14 - 06 - Plantão Psicologico Na Clinica Ampliada .......................................Documento8 páginas14 - 06 - Plantão Psicologico Na Clinica Ampliada .......................................Dayanne CristinaAinda não há avaliações
- RESUMO - Carl RogersDocumento3 páginasRESUMO - Carl RogersDavi PoklenAinda não há avaliações
- Perspetiva Sistémica Inter-Relacional de Pina Prata Na Terapia Familiar e OrganizacionalDocumento174 páginasPerspetiva Sistémica Inter-Relacional de Pina Prata Na Terapia Familiar e OrganizacionalMario Manuel BredaAinda não há avaliações
- Psicologia Da Personalidade Margarida Pedroso deDocumento52 páginasPsicologia Da Personalidade Margarida Pedroso deLuButtenbender100% (2)
- Psicanálise e NeurocienciaDocumento10 páginasPsicanálise e NeurocienciaJoelton NascimentoAinda não há avaliações
- Bases Teóricas de Bem-Estar Subjetivo, Bem-Estar Psicológico e Bem-EstarDocumento9 páginasBases Teóricas de Bem-Estar Subjetivo, Bem-Estar Psicológico e Bem-EstarCarolina AlvimAinda não há avaliações
- Trablho de Corrente GestaltistaDocumento20 páginasTrablho de Corrente GestaltistaKanú Mário JoséAinda não há avaliações
- Psicologia Social Pos ModernaDocumento11 páginasPsicologia Social Pos ModernaMardonio Batista da SilvaAinda não há avaliações
- Mailhiot, Lewin, A Obra e o HomemDocumento18 páginasMailhiot, Lewin, A Obra e o HomemTaluana MaronAinda não há avaliações
- Behaviorismo e PersonalidadeDocumento18 páginasBehaviorismo e PersonalidadeLyandro CunhaAinda não há avaliações
- Controle Da Timidez Mediante Treinamento em Habilidades SociaisDocumento48 páginasControle Da Timidez Mediante Treinamento em Habilidades Sociaisjoao1504Ainda não há avaliações
- Aconselhamento GestalticoDocumento8 páginasAconselhamento GestalticoRonebesCarneiroAinda não há avaliações
- Ficha de Trabalho N.º 4Documento3 páginasFicha de Trabalho N.º 4Anonimo2906Ainda não há avaliações
- USS 2017.1 - Prova ObjetivaDocumento36 páginasUSS 2017.1 - Prova ObjetivaVitor HugoAinda não há avaliações
- Quem Foi Padre António VieiraDocumento4 páginasQuem Foi Padre António VieiraSergio Monteiro FerreiraAinda não há avaliações
- Liturgia para A Missa de Primeira EucaristiaDocumento15 páginasLiturgia para A Missa de Primeira EucaristiaJoseElidioAinda não há avaliações
- Texto de Apoio de Matemã Tica FinanceiraDocumento94 páginasTexto de Apoio de Matemã Tica FinanceiraDalua Tivane67% (3)
- WWW 42frases Com BR Frases de AutocuidadoDocumento12 páginasWWW 42frases Com BR Frases de Autocuidadolisa santosAinda não há avaliações
- Mike Michaele Kunert DepsDocumento1 páginaMike Michaele Kunert DepsLucas MartinsAinda não há avaliações
- O Que É A Teoria Da MudançaDocumento5 páginasO Que É A Teoria Da MudançaILPOAinda não há avaliações
- Excerto Organizacao e Desenvolvimento Curricular Antonio Pinela 1278409743Documento14 páginasExcerto Organizacao e Desenvolvimento Curricular Antonio Pinela 1278409743Carla FerreiraAinda não há avaliações
- A Educação para A Democracia - No Seculo XXDocumento3 páginasA Educação para A Democracia - No Seculo XXRosi OliveiraAinda não há avaliações
- EXULTA-TE Cifrado PDFDocumento6 páginasEXULTA-TE Cifrado PDFReginaAinda não há avaliações
- Introducaao DesmarcarDocumento8 páginasIntroducaao DesmarcarHelio NhampossaAinda não há avaliações
- Aula 5 - Clitellata HirudinomorphaDocumento19 páginasAula 5 - Clitellata HirudinomorphaJonas José Mendes AguiarAinda não há avaliações
- Regimento Pais Encarregados EducacaoDocumento7 páginasRegimento Pais Encarregados EducacaoMarco FloroAinda não há avaliações
- RESPOSTAS PET DesenvolvimentoDocumento12 páginasRESPOSTAS PET DesenvolvimentoNadia ValimAinda não há avaliações
- Texto Base - Interação IntermolecularesDocumento2 páginasTexto Base - Interação IntermolecularesPablo RangelAinda não há avaliações
- E D Fisiologia Multipla EscolhaDocumento6 páginasE D Fisiologia Multipla EscolhaMylena CampposAinda não há avaliações
- Carta Convite Confaban 2019Documento1 páginaCarta Convite Confaban 2019betopsantosAinda não há avaliações
- Exercícios Caracterização de ParticulasDocumento2 páginasExercícios Caracterização de ParticulasRodrigoGabrielAinda não há avaliações
- Levitação MagnéticaDocumento8 páginasLevitação MagnéticalorenaAinda não há avaliações
- Sema Recife Farmaceuticos AguaDocumento182 páginasSema Recife Farmaceuticos AguaYuri LoiolaAinda não há avaliações
- CTM Fortaleza CEDocumento156 páginasCTM Fortaleza CEArieh Ibn GabaiAinda não há avaliações
- Conceitos Básicos - Modulo 3Documento24 páginasConceitos Básicos - Modulo 3neyzanata5043Ainda não há avaliações
- Carpe Diem Viva A VidaDocumento57 páginasCarpe Diem Viva A VidaReis CAinda não há avaliações
- Antídotos para Emergências Toxicológicas - Tradução CompletaDocumento19 páginasAntídotos para Emergências Toxicológicas - Tradução CompletaSamanda LimaAinda não há avaliações
- TCC Bruna Rodigues Da SilvaDocumento63 páginasTCC Bruna Rodigues Da SilvaMônica Dias Mello0% (1)