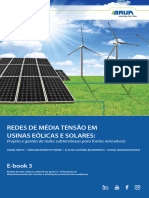Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Guia Tec Nico
Guia Tec Nico
Enviado por
amcaaDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Guia Tec Nico
Guia Tec Nico
Enviado por
amcaaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
III
GUIA TCNICO
Prefcio
No ano em que comemoramos 50 anos como fabricantes de Condutores
Elctricos, com profunda satisfao que damos continuidade a um projecto
desenhado h longos anos e que com perseverana temos vindo sistematica-
mente a modernizar e aperfeioar de forma a dar um contributo cada vez mais
eficaz aos seus utilizadores.
Tm sido particularmente gratificantes as demonstraes de interesse e apreo
pelo Guia Tcnico evidenciados ao longo deste tempo, de que nos permitimos
destacar as provenientes dos nossos clientes, o que contribui para o estmulo no
prosseguimento deste desafio.
Queremos dirigir um agradecimento aos nossos colaboradores que, com a sua
competncia e dedicao, tornaram possvel mais esta edio.
Finalmente, resta-nos assumir um compromisso de tudo fazer para que dentro de
dois anos estejamos a lanar a 11 edio.
A todos o nosso sincero agradecimento,
A Direco
V
GUIA TCNICO
1 Apresentao das Empresas
2 Pontos de Referncia
3 Estratgia Conjunta de Desenvolvimento
4 Produtos e Mercado
5 Certificaes de Conformidade
VII
GUIA TCNICO
1. Apresentao das Empresas
As evolues histricas das Empresas QUINTAS & QUINTAS e SOLIDAL -
Condutores Elctricos cruzaram-se ao longo do tempo, para se encontrarem, defini-
tivamente, a partir de 2001.
QUINTA & QUINTAS CONDUTORES SURGE em consequncia da reestrutura-
o operada, em finais de 1997, no Grupo QUINTAS: da diviso ento empreendi-
da da Companhia Industrial Txteis e Metlicos Quintas & Quintas SGPS, SA
(CICTM) resultaram as empresas Quintas & Quintas - Condutores Elctricos e
Quintas & Quintas - Cordoarias e Redes. Da antiga CICTM, fundada em 1925, her-
dou a Quintas & Quintas Condutores o patrimnio histrico de prestigiada experin-
cia.
ASOLIDAL iniciou a sua actividade industrial em 1970, tendo comeado a ser par-
ticipada pelo Grupo QUINTAS a partir de 1987, o qual passa a deter a totalidade da
propriedade da Empresa a partir de 1994.
Estando ambas as unidade vocacionadas, desde o seu incio, para o desenvolvimen-
to do negcio na rea dos condutores de energia, predominantemente de alumnio,
tm pautado a sua actuao pela inovao e pioneirismo, desafiando continuamente
o mercado nacional com novas solues e novas gamas de produtos:
1957 - Cabos Nus de Alumnio
1970 - Condutores Isolados de Alumnio Slido
1975 - Cabos Areos Cableados em Torada
1980 - Cabos Isolados de Mdia Tenso at 36 kV
1991 - Cabos de Liga de Alumnio
1995 - Cabos de guarda com fibra ptica do tipo OPGW
1998 - Cabos Isolados de Alta Tenso at 72,5 KV
2007 - Cabos Isolados de Alta Tenso at 150 KV
A partir de 2001 foi desenvolvida uma estratgia de reestruturao da rea de con-
dutores do Grupo QUINTAS, tendo em vista a procura de sinergias funcionais e a
melhoria da rentabilidade do negcio, a qual se traduziu na concentrao das activi-
dades industriais das duas Empresas no mesmo espao geogrfico, em Esposende,
nas instalaes antes ocupadas apenas pela Solidal.
Desta forma, preservando-se embora a personalidade jurdica da cada uma das
Empresas, mantendo cada uma das organizaes a sua gama de produtos tradicio-
nais e respectivos mercados, a coordenao das actividades industriais efectuada
de uma forma integrada, com se de uma s unidade se tratasse, de que so exem-
plo o Sistema de Gesto da Qualidade, Ambiente e Segurana.
VIII
GUIA TCNICO
2. Pontos de Referncia
Viso
Ser a referncia no nosso sector de actividade oferecendo solues inovadoras.
Misso
Satisfazer os nossos clientes respondendo s suas expectativas e exigncias, for-
necendo produtos e solues inovadoras.
Satisfazer os nossos colaboradores, promovendo o seu desenvolvimento profis-
sional e social.
Satisfazer os accionistas rentabilizando o seu investimento.
Satisfazer o meio envolvente, contribuindo para o seu desenvolvimento sustenta-
do, ao nvel econmico, social e ambiental.
Valores
A Empresa sustenta-se nos seguintes principais valores:
tica
Sermos os primeiros
Adeso
Poltica das Empresas
As empresas do Grupo da rea dos condutores elctricos sedeadas no Plo de
Esposende, QUINTAS & QUINTAS e SOLIDAL, centrando as suas aces na
produo de cabos elctricos de energia, esto conscientes de que a sua atitude em
relao qualidade dos seus produtos e servios e preveno dos impactos
ambientais e dos riscos laborais se deve pautar por um empenho na melhoria con-
tinuada de todas as suas actividades, por serem estes os valores que determinam
a sua dinmica e xito empresarial.
Com vista prossecuo da sua actividade, a QUINTAS & QUINTAS e SOLI-
DAL.
Garantem o cumprimento da legislao e de outras condies que subscrevem e
assumem a execuo dos requisitos das normas e regulamentos de gesto
aplicveis.
Asseguram que a investigao, o desenvolvimento, o fabrico e o controlo dos seus
produtos se caracteriza pelo pioneirismo, inovao tecnolgica e tica profissio-
nal, de modo a superar as expectativas dos seus clientes, de prevenir impactes
negativos no meio ambiente e de garantir a segurana e sade laboral.
Assumem que a sua poltica documentada, implementada, mantida e comunica-
da aos seus colaboradores e a todas as pessoas que trabalham para a empresa ou
em seu nome, estando disponvel s partes interessadas.
IX
GUIA TCNICO
3. Estratgia conjunta de desenvolvimento
QUINTAS & QUINTAS e SOLIDAL tm vindo a desenvolver uma estratgia de
diversificao dos seus mercados realizando, nos ltimos anos, um importante
esforo de alargamento da sua penetrao no domnio internacional. No entanto,
num sector to exigente como o dos cabos elctricos, as empresas esto cons-
cientes que s podero consolidar as posies nos seus mercados tradicionais e
alargar a novos mercados, se conseguirem manter o seu nvel de competitividade
e proporcionar aos seus clientes vantagens inerentes melhoria da qualidade dos
seus produtos e dos servios que prestam.
Cumulativamente, procuram as Empresas aprofundar a sua penetrao no merca-
do nas gamas de produtos de mais elevado nvel tecnolgico como sejam, por
exemplo, os Cabos de Liga de Alumnio e os Cabos Isolados de Alta Tenso.
Incorporando a sustentabilidade como pensamento estratgico, o alvo do desen-
volvimento o aumento de competitividade, a par da satisfao dos clientes, dos
colaboradores, dos parceiros no negcio e da sociedade envolvente.
-Tal objectivo est centrado nos seguintes vectores:
-Inovao tecnolgica;
-Culto da excelncia da Qualidade dos seus produtos e servios;
-Aumento da produtividade;
-Melhoria dos sistemas de informao;
-Harmonizar o crescimento com a preservao do ambiente e a preveno dos
-riscos laborais.
4. Produtos e Mercado
As empresas dispem, no seu conjunto, de um ciclo de produo vertical integra-
do, contemplando as necessrias operaes de transformao base de alumnio
e sua ligas e de cobre, para os condutores areos nus, cabos de telecomunicao
do tipo OPGW, cabos areos isolados cableados em torada e cabos subterrneos
isolados com condutores macios ou multifilares, para baixa, mdia e alta tenso
at 225 KV.
Os seus produtos esto certificados em Portugal e em outros pases comunitrios
e no comunitrios, nomeadamente em Espanha, Brasil, Noruega, Irlanda, Israel
e frica do Sul. As Empresas, com uma capacidade de produo instalada de
1500 ton. cabos/ms, exportam j cerca de 60% dos seus produtos fabricados,
sendo seu objectivo estratgico alcanar uma quota de exportao de 75%, no
prazo de trs anos.
X
GUIA TCNICO
Condutores ns de alumnio:
- Almas condutoras slidas perfil redondo ou sectorial;
- Almas condutoras multifilares, perfil redondo ou sectorial.
Cabos ns para linhas areas:
- Cabos ACSR (Aluminium Conductors Steel Reinforced);
- Cabos AAC (All Aluminium Conductors);
- Cabos AAAC (All Aluminium Alloy Conductors);
- Cabos AACSR (Aluminium Alloy Conductors Steel Reinforced).
- Cabos ACAR (Aluminium Conductors Alloy Reinforced)
- Cabos OPGW.
Cabos Isolados:
A produo na rea dos condutores isolados cobre a gama dos cabos areos e sub-
terrneos de Baixa e Mdia Tenso. Destacam-se os seguintes tipos de condutores:
- Condutores de Baixa Tenso (1 kV) - Seces de 16 mm
2
at 1000 mm
2
- com
almas slidas, multifilares, redondas ou sectoriais, em alumnio; Seces de
29,5 , 54,6 , 80 e 95 mm
2
- com almas multifilares, em liga de alumnio;
- Condutores de Mdia Tenso (de 3 kV a 30 kV) - Seces de 35 mm
2
at
1000 mm
2
, isolados a dielctrico slido extrudido, em dupla ou tripla extruso
simultnea, com almas condutoras multifilares de alumnio ou cobre;
- Condutores de Alta Tenso (de 45 kVa 225 kV) - Seces de 120 mm
2
at 1000
mm
2
, isolados a dielctrico slido extrudido, em dupla ou tripla extruso si-
multnea, com almas condutoras multifilares de alumnio ou cobre.
5. Certificaes de Conformidade
5.1. Das Empresas
A QUINTAS & QUINTAS e SOLIDAL dispem de um Sistema Integrado de
Gesto da Qualidade, Ambiente e Segurana (Gesto QAS) que est certificado em
Portugal (APCER) e Espanha (AENOR) nas seguintes reas de actividade:
- Gesto da Qualidade (referencial normativo ISO 9001:2000)
- Gesto Ambiental (referencial normativo ISO 14001: 1999)
Tendo em vista a certificao da parte do sistema respeitante Segurana e Sade do
Trabalho (de acordo com o referencial NP 4397/OHSAS 18001), encontra-se em
fase de implementao o Plano de Aces de Melhoria que resultou da identificao
dos perigos e a avaliao dos riscos das actividades.
De acordo com as especificidades prprias das empresas envolvidas, este sistema
integrado abrange os seguintes mbitos:
XI
GUIA TCNICO
Cabos
No Harmonizados Normalizao
Licena n. Validade
Certificados Aplicvel
(tipos ou gamas)
CEI 60502-1:2004
LXV HD 603 S1 CNH - 002/2007 2012-02-15
Partes 1 e 5 (Seco V)
CEI 60502-1:2004
LVV, LSVV HD 603 S1 CNH - 001/2007 2012-02-15
Partes 1 e 3 (Seco M)
CEI 60502-1:2004
LVAV, LSVAV HD 603 S1 CNH - 003/2007 2012-02-15
Partes 1 e 4 (Seco C)
NP 3528:1999
LXS HD 626 S1 CNH - 004/2004 2009-12-12
Partes 1, 2, 4 (Seco J)
e 6 (Seco J)
SOLIDAL: Concepo, produo e comercializao de condutores elctricos de
energia - nus e isolados - de baixa, mdia e alta tenso at 250 kV; fornecimento de
solues integradas de infra-estruturas de redes elctricas de energia e de telecomu-
nicaes.
QUINTAS & QUINTAS - Concepo, produo e comercializao de condutores
elctricos de energia - nus e isolados de baixa tenso - e condutores de OPGW; for-
necimento de solues integradas de infra-estruturas de redes elctricas de energia e
de telecomunicaes.
5.2. Dos Produtos
As empresas tm a sua principal gama de produtos certificados por entidades
oficiais, para tal fim acreditadas, conforme os quadros 1 a 5:
SOLIDAL
Quadro 1 - Produtos Certificados pela CERTIF
XII
GUIA TCNICO
Quadro 2 - Produtos Certificados pela AENOR (Espanha)
QUINTAS & QUINTAS
Quadro 5 - Produtos Certificados pela AENOR (Espanha)
Cabos
Certificados
Normalizao
Certificado N. Validade
(tipos ou gamas)
Aplicvel
RV UNE HD 603 5N/A1 075/000028 2011-04-05
RZ UNE 21030 (HD 626 S1) 075/000029 2011-04-05
RHZ1-2OL UNE 211620 - 5E 075/000039 2013-01-15
Quadro 3 - Produtos Certificados pela NEMKO (Noruega)
Cabos
Certificados
Normalizao
Certificado N.
(tipos ou gamas)
Aplicvel
TFXP HD 603 S1 P 99100334
(NO-N1XEV-AS) Partes 1 e 5 (Seco M)
EX HD 626 S1 P 99100331
(N0-N1E-AR) Parte 1 e 3 (Seco I)
Quadro 4 - Produtos Certificados pelo KEMA (Holanda)
Cabos
Certificados
Normalizao
Certificado N.
(tipos ou gamas)
Aplicvel
Cabos de Alta Tenso 36/60
(72,5) kV 1x630 mm
2
IEC 60840 01-1219
isolamento a polietileno
reticulado (PEX/XLPE)
Cabo AT
76/132 (145) kV
IEC 60840 06-1247
Outros produtos, embora no certificados por entidades oficiais, so-no
pelos prprios clientes, nomeadamente pela EDP - Electricidade de Portugal,
Balfour Beatty, Iberdrola, U. E. Fenosa, Grupo Endesa para os cabos ns e
isolados de BT, MT e AT.
Cabos
Certificados
Normalizao
Certificado N. Validade
(tipos ou gamas)
Aplicvel
AL1/ST1A (LA) UNE EN 50182 075/000030 2011-04-05
XIII
GUIA TCNICO
Q
u
a
d
r
o
6
-
E
n
s
a
i
o
s
d
e
c
a
b
o
s
O
P
G
W
C
e
r
t
i
f
i
c
a
d
o
s
C
a
b
o
s
O
P
G
W
E
n
s
a
i
o
s
/
R
e
f
.
S
T
/
S
T
5
7
A
C
S
/
S
T
5
7
S
T
/
S
T
1
3
3
A
C
S
/
S
T
1
3
3
A
C
S
/
S
T
1
2
2
A
A
/
A
C
S
/
A
C
S
T
9
1
/
4
5
A
A
/
A
C
S
/
S
T
9
2
/
3
5
A
A
/
S
T
/
S
T
8
5
/
4
2
A
L
/
S
T
8
7
/
3
3
A
L
/
A
C
S
4
2
/
2
1
A
L
/
S
T
/
S
T
2
0
7
/
4
2
A
C
S
/
S
T
6
1
A
A
/
A
C
S
/
S
T
8
5
/
3
5
A
A
/
A
C
S
/
S
T
1
2
2
/
6
1
S
h
o
r
t
c
i
r
c
u
i
t
(
c
u
r
t
o
-
c
i
r
c
u
i
t
o
)
-
C
E
S
I
M
P
/
A
1
/
0
0
3
1
3
1
M
P
-
A
1
/
0
0
3
1
3
6
M
P
-
A
I
/
0
0
2
9
3
5
M
P
/
A
I
/
0
0
2
8
8
7
M
P
-
9
9
/
0
0
4
6
3
4
M
P
-
9
9
/
0
1
9
1
8
7
M
P
-
9
9
/
0
0
4
7
1
1
M
P
-
9
9
/
0
0
4
4
5
5
4
M
P
-
9
9
/
0
1
9
3
2
9
M
P
-
9
9
/
0
0
4
7
0
7
S
h
o
r
t
c
i
r
c
u
i
t
(
c
u
r
t
o
-
c
i
r
c
u
i
t
o
)
-
C
E
P
E
L
U
N
I
A
P
-
1
0
0
6
/
2
0
0
0
R
L
i
g
h
t
n
i
n
g
S
t
r
o
k
e
t
e
s
t
(
d
e
s
c
a
r
g
a
s
)
-
C
E
S
I
A
T
-
A
I
/
0
0
5
3
8
3
A
T
/
A
I
-
0
0
5
5
0
8
A
T
/
A
1
-
0
0
5
1
1
0
A
T
-
A
1
/
0
0
5
2
4
3
A
T
-
9
9
/
0
0
5
3
1
7
A
T
-
9
9
/
0
1
9
3
8
1
A
T
-
9
9
/
0
0
5
4
4
1
A
T
-
9
9
/
0
0
5
3
7
0
A
T
-
9
9
/
0
1
9
3
8
0
A
T
-
9
9
/
0
0
5
4
9
3
L
i
g
h
t
h
n
i
n
g
S
t
r
o
k
e
t
e
s
t
(
d
e
s
c
a
r
g
a
s
)
-
C
E
P
E
L
U
N
I
A
P
-
2
5
0
/
2
0
0
1
-
R
U
N
I
A
P
-
4
5
0
/
2
0
0
1
-
R
U
N
I
A
P
-
2
2
8
/
2
0
0
0
-
R
U
N
I
A
P
-
2
0
8
/
2
0
0
0
R
U
N
I
A
P
-
2
0
8
/
2
0
0
R
E
U
N
I
A
P
-
2
2
8
/
2
0
0
0
R
S
h
e
a
v
e
t
e
s
t
(
P
u
x
a
m
e
n
t
o
n
a
P
o
l
i
a
)
M
P
/
A
1
/
0
0
9
3
9
5
M
P
-
A
1
/
0
0
9
7
5
7
M
P
-
A
1
/
0
0
9
1
9
6
M
P
-
A
1
/
0
0
8
7
1
3
M
P
-
A
1
/
0
0
8
1
1
8
U
N
I
A
P
-
5
2
2
/
2
0
0
0
R
T
o
r
s
i
o
n
t
e
s
t
e
(
T
o
r
o
)
M
P
-
A
1
/
0
0
7
4
5
3
M
P
-
A
1
/
0
0
7
4
1
2
M
P
-
A
1
/
0
0
7
3
9
4
M
P
-
A
1
/
0
0
7
2
5
0
M
P
-
A
1
/
0
0
6
3
9
7
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e
c
y
c
l
i
n
g
(
c
i
c
l
o
t
r
m
i
c
o
)
M
P
/
A
1
/
0
0
9
7
6
9
M
P
-
A
1
/
0
0
,
9
7
7
1
M
P
-
A
1
/
0
0
7
8
8
4
M
P
-
A
1
/
0
0
9
7
7
0
M
P
-
A
1
/
0
0
5
2
5
7
A
T
-
U
S
T
-
9
9
/
1
5
5
A
T
-
U
S
T
-
9
9
/
4
8
7
A
T
-
U
S
T
-
9
9
/
1
5
4
9
9
/
1
4
3
9
4
9
9
/
2
9
0
7
6
R
E
V
.
A
1
9
9
7
-
0
3
-
1
1
S
t
r
e
s
s
S
t
r
a
i
n
(
T
e
n
s
o
d
e
f
o
r
m
a
o
)
M
P
/
A
1
/
0
0
3
5
0
3
M
P
-
A
1
/
0
0
3
5
5
5
M
P
-
A
1
/
0
0
3
7
1
2
M
P
-
A
1
/
0
0
3
6
2
0
M
P
-
A
1
/
0
1
3
2
5
5
9
9
/
1
3
2
3
2
9
9
/
1
4
3
9
1
E
R
E
V
.
B
T
e
n
s
i
l
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
(
t
r
a
c
o
)
M
P
/
A
1
/
0
0
9
7
6
8
M
P
-
A
1
/
0
0
9
7
6
7
M
P
-
A
1
/
0
0
9
7
6
6
M
P
-
A
1
/
0
0
9
7
6
4
M
P
-
A
1
/
0
0
7
5
9
3
9
9
/
2
2
4
3
3
4
1
9
9
7
-
0
6
-
0
4
C
a
b
l
e
C
u
t
-
o
f
f
(
c
o
m
p
.
O
n
d
a
d
e
c
o
r
t
e
)
A
1
/
0
2
1
8
0
1
A
1
-
0
2
1
8
0
0
M
P
-
A
1
/
0
1
4
2
4
0
A
e
o
l
i
a
n
V
i
b
r
a
t
i
o
n
(
V
i
b
r
a
o
e
l
i
c
a
)
M
P
/
A
1
/
0
2
0
9
6
4
M
P
-
A
1
/
0
2
0
9
6
1
M
P
-
A
1
/
0
0
9
7
7
2
*
M
i
n
i
m
u
m
b
e
n
d
i
n
g
r
a
t
i
o
(
r
a
i
o
m
i
n
.
c
u
r
v
a
t
u
r
a
)
M
P
/
A
1
/
0
2
0
7
4
2
M
P
-
A
1
/
0
2
0
7
4
7
C
r
u
s
h
t
e
s
t
(
c
o
m
p
r
e
e
n
s
s
o
)
M
P
/
A
1
/
0
2
0
6
6
2
M
P
-
A
1
/
0
2
0
6
6
5
M
P
-
A
1
/
0
1
3
5
6
7
C
r
e
e
p
t
e
s
t
(
f
l
u
n
c
i
a
)
M
P
/
A
1
/
0
2
0
9
5
7
M
P
-
A
1
/
0
2
0
9
5
8
M
P
-
A
1
/
0
0
9
7
7
3
D
r
i
p
t
e
s
t
(
P
i
n
g
a
m
e
n
t
o
c
o
m
p
o
s
t
o
)
M
P
/
A
1
/
0
2
0
7
5
5
M
P
-
A
1
/
0
2
0
7
5
7
M
P
-
A
1
/
0
1
3
5
6
5
P
r
e
s
s
u
r
e
t
e
s
t
(
p
r
e
s
s
o
)
M
P
/
A
1
/
0
2
0
7
3
8
M
P
-
A
1
/
0
2
0
7
3
9
F
l
u
i
d
p
e
n
e
t
r
a
t
i
o
n
(
p
e
n
e
t
r
a
o
d
e
g
u
a
)
M
P
/
A
1
/
0
2
0
9
5
5
M
P
-
A
1
/
0
2
0
9
5
6
*
-
+
e
n
s
a
i
o
t
a
m
b
m
r
e
a
l
i
z
a
d
o
a
o
s
u
s
p
e
n
s
i
o
n
c
l
a
m
p
XV
GUIA TCNICO
Captulo Pgina
I - Especificaes Gerais dos Condutores e Cabos Elctricos 1
II - Dimensionamento dos Condutores e Cabos Elctricos 61
III - Notas Tcnicas 119
IV - Tcnicas de Colocao dos Cabos, Localizao de Defeitos em
Redes Subterrneas e Acondicionamento de Cabos Elctricos 159
V - Caractersticas Tcnicas dos Condutores de Energia e
Cabos Elctricos 203
V.I - Cabos Ns para Transporte de Energia Elctrica 205
V.II - Cabos de Guarda com Fibra ptica Incorporada 235
V.III - Cabos Isolados de Baixa Tenso 259
V.IV - Cabos Isolados Agrupados em Feixe (torada) 285
V.V - Cabos Isolados de Mdia e Alta Tenso 307
VI - Cabos de Comunicaes 329
VII - Acessrios Elctricos 375
VIII - Regras de Uso 389
XVII
GUIA TCNICO
ndice
CAPTULO I - ESPECIFICAO GERAL DOS CONDUTORES
E CABOS ELCTRICOS
1.1 - Generalidades ............................................................................................ 3
1.1.1 - Indicaes necessrias para a escolha da especificao ............. 3
1 - Relativamente rede de alimentao ....................................... 4
2 - Relativamente instalao a alimentar e s condies de
funcionamento da canalizao................................................... 4
3 - Relativamente s caractersticas do cabo ................................. 5
4 - Relativamente s condies de instalao do cabo................... 5
5 - Relativamente aos acessrios da instalao .............................. 6
1.1.2 - Regulamentao - Normalizao .................................................. 7
1 - Caractersticas dos cabos ........................................................... 7
2 - Caractersticas das instalaes................................................... 9
1.2 - Constituio dos Condutores e Cabos de Energia.................................. 10
1.2.1 - Introduo....................................................................................... 10
1.2.2 - Alma Condutora............................................................................. 12
1 - Natureza do metal condutor....................................................... 12
2 - Composio e forma da alma condutora ................................... 13
3 - Tipos de condutores e classes de resistncia ............................. 14
1.2.3 - Camada Isolante............................................................................. 21
1.2.4 - Revestimentos metlicos ................................................................ 27
1.2.5 - Bainhas interiores e exteriores...................................................... 30
1.2.6 - Bloqueio longitudinal penetrao da humidade ..................... 34
1.3 - Caractersticas Particulares dos Condutores e Cabos Elctricos.......... 35
1.3.1 - Caractersticas dos principais materiais utilizados nas
camadas isolantes e nas bainhas................................................... 35
1.3.2 - Raios de Curvatura........................................................................ 42
1.3.3 - Esforos de traco mximos admissveis nos cabos.................. 44
1.3.4 - Comportamento na presena do fogo dos condutores e cabos
elctricos..................................................................................................... 45
1.3.5 - Condies de instalao dos cabos ............................................... 47
1.3.6 - Proteco dos cabos contra os roedores....................................... 48
1.3.7 - Proteco dos cabos contra micro organismos e as trmitas..... 49
1.3.8 - Influncias externas possveis nas instalaes de B.T. segundo
o regulamento de segurana das instalaes de utilizao de
energia elctrica.............................................................................. 50
XVIII
GUIA TCNICO
1.4 - Ensaios e Controlos .................................................................................... 52
1.4.1 - Verificao das disposies construtivas e das caractersticas
dimensionais.................................................................................... 52
1.4.2 - Verificao das caractersticas mecnicas, fsicas e qumicas.... 52
1.4.3 - Verificao das caractersticas elctricas ..................................... 53
1.5 - Identificao e Utilizao dos Condutores e Cabos Elctricos de
Baixa Tenso ............................................................................................... 53
1.5.1 - Introduo ...................................................................................... 53
1.5.2 - Regras Fundamentais .................................................................... 53
1.5.3 - Identificao dos condutores dos cabos multipolares de acordo
com o HD 308 S2 ............................................................................ 57
1.6 - Sistema de designao de Cabos Elctricos (NP 665) ...................... 58
CAPTULO II - DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES E
CABOS ELCTRICOS
2.1 - Escolha de Tenso ...................................................................................... 61
2.1.1 - Instalaes de baixa tenso .......................................................... 62
2.1.2 - Instalaes de mdia e alta tenso ............................................... 62
1 - Tipo de cabo escolhido .............................................................. 63
2 - Tenso nominal da instalao ................................................... 63
3 - Condies de eliminao dos defeitos terra ........................... 63
4 - Sobretenses .............................................................................. 64
2.2 - Escolha da Seco da Alma Condutora ................................................... 65
2.2.1 - Determinao da Intensidade a transmitir em regime normal . 66
1 - Potncia absorvida..................................................................... 67
2 - Potncia aparente....................................................................... 68
2.2.2 - Seco necessria para o aquecimento em regime permanente 71
1 - Introduo.................................................................................. 71
2 - Mtodo de clculo ..................................................................... 71
3 - Coeficientes de correco.......................................................... 72
2.2.3 - Seco necessria para o aquecimento em regime varivel....... 86
1 - Introduo.................................................................................. 86
2 - Lei do aquecimento de um cabo................................................ 86
3 - Regime cclico .......................................................................... 87
4 - Sobrecarga.................................................................................. 88
2.2.4 - Seco necessria para o aquecimento em caso de curto-circuito 89
1 - Introduo.................................................................................. 89
2 - Mtodo de calculo ..................................................................... 90
3 - Mtodo aproximado................................................................... 91
2.2.5 - Seco necessria para a queda de tenso................................... 92
1 - Introduo.................................................................................. 92
XIX
GUIA TCNICO
2 - Valores admissveis para a queda de tenso.............................. 92
3 - Frmula aproximada da queda de tenso .................................. 93
4 - Determinao da seco ............................................................ 94
2.2.6 - Exemplo de determinao da seco tcnica............................... 102
1 - Clculo da intensidade a transmitir em regime normal............. 102
2 - Seco necessria para o aquecimento em regime permanente . 103
3 - Seco necessria para o aquecimento em caso de curto-circuito. 103
4 - Seco necessria para a queda de tenso................................. 104
5 - Seco necessria do ponto de vista tcnico............................. 104
2.2.7 - Determinao da seco econmica.............................................. 104
1 - Introduo.................................................................................. 104
2 - Princpio de clculo ................................................................... 105
3 - Clculo aproximado................................................................... 107
4 - Notas .......................................................................................... 107
5 - Exemplo de clculo da seco econmica ................................ 108
2.3 - Generalidades sobre o Dimensionamento do cran Metlico .............. 109
2.3.1 - Afectao de processos calorficos no - adiabticos ao clculo
da corrente de curto - circuito ..................................................... 110
2.3.2 - Exemplos de cabos normalizados de mdia tenso .................... 112
1 - crans em fios de cobre ........................................................... 112
2 - crans em fita de cobre ............................................................ 113
CAPTULO III - NOTAS TCNICAS
3.1 - Clculos Elctricos .................................................................................... 119
3.1.1 - Caractersticas elctricas .............................................................. 119
1 - Convenes ............................................................................... 119
2 - Introduo ................................................................................. 119
3 - Resistncia ................................................................................ 119
4 - Indutncia ................................................................................. 121
5 - Reactncia aparente de um condutor ........................................ 123
6 - Capacidade ................................................................................ 124
7 - Corrente de carga ou corrente capacitiva ................................. 125
8 - Impedncias aparentes de um condutor .................................... 126
9 - Gradiente de potencial .............................................................. 128
10 - Resistncia trmica ................................................................. 129
11 - Resistncia de isolamento ....................................................... 130
3.1.2 - Perdas ............................................................................................. 131
1 - Perdas de Joule ......................................................................... 131
2 - Perdas nos revestimentos metlicos ......................................... 131
3 - Perdas dielctricas .................................................................... 133
XX
GUIA TCNICO
3.1.3 - Intensidade admissvel em regime permanente ......................... 133
3.2 - Proteco de Pessoas e Bens nas Instalaes de Baixa Tenso ............. 138
3.3 - Clculos Mecnicos ................................................................................... 146
3.3.1 - Esforos electrodinmicos em caso de curto-circuito ................ 146
3.3.2 - Determinao da seco das armaduras em fios de ao ........... 147
3.3.3 - Esforos de traco durante o enfiamento do cabo em tubos .. 148
3.4 - Grandezas e Unidades .............................................................................. 152
CAPTULO IV - TCNICA DE COLOCAO DOS CABOS E DE
LOCALIZAO DE DEFEITOS EM REDES SUBTERRNEAS E
ACONDICIONAMENTO DE CABOS ELCTRICOS
4.1 - Tcnica de Colocao dos cabos ............................................................... 159
4.1.1 - Introduo ...................................................................................... 159
4.1.2 - Condies gerais de instalao ..................................................... 159
1 - Colocao no solo ..................................................................... 159
2 - Colocao em galeria ou ao ar livre ......................................... 163
3 - Colocao em tubos .................................................................. 165
4 - Colocao na vertical ............................................................... 167
5 - Nota importante ........................................................................ 168
4.1.3 - Montagem dos cabos ..................................................................... 168
1 - Desenrolamento dos cabos ....................................................... 169
2 - Precaues particulares ............................................................. 170
3 - Colocao dos cabos flexveis nos tambores de enrolamento .. 173
4.2 - Localizao dos defeitos em redes subterrneas .................................... 174
4.2.1 - Introduo ...................................................................................... 174
4.2.2 - Tipos e natureza dos principais defeitos ..................................... 175
1 - Classificao dos tipos de defeitos ........................................... 175
2 - Caracterizao dos defeitos elctricos ...................................... 175
4.2.3 - Tcnicas de localizao de defeitos elctricos ............................. 177
1 - Aspectos gerais ......................................................................... 177
2 - Consignao do cabo e anlise do defeito ................................ 178
3 - Modificao das caractersticas do defeito ............................... 178
4 - Mtodos de localizao distncia .......................................... 179
5 - Mtodos de localizao no terreno ........................................... 188
4.3 - Ensaios aps colocao ............................................................................. 190
XXI
GUIA TCNICO
4.4 - Acondicionamento de Cabos Elctricos .................................................. 191
4.4.1 - Clculo do Comprimento Mximo de Condutor numa Bobina 191
4.4.2 - Dimetro Mnimo do Ncleo da Bobina ..................................... 194
4.4.3 - Capacidade de acondicionamento ............................................... 194
4.4.4 - Identificao da Bobinas .............................................................. 199
4.4.5 - Transporte e Manuteno ............................................................. 199
CAPTULO V - CARACTERSTICAS TCNICAS DOS CONDUTORES DE
ENERGIA E CABOS ELCTRICOS
CAPTULO V.I - CABOS NUS PARA TRANSPORTE DE ENERGIA
ELCTRICA
5.1 - Cabos nus para Transporte de Energia Elctrica .................................. 205
5.1.1 - Introduo ...................................................................................... 205
5.1.2 - Proteco dos condutores contra a Corroso ............................. 206
5.1.3 - Cabos de Alumnio do tipo AAC................................................... 210
5.1.4 - Cabos de Liga de Alumnio do tipo AAAC.................................. 214
5.1.5 - Cabos de Alumnio com Alma de Ao do tipo ACSR e Cabos
de Alumnio com alma de ACS do tipo ACSR/AW..................... 220
5.1.6 - Cabos de Liga de Alumnio com Alma de Ao do tipo AACSR 226
5.1.7 - Curvas de Elevao da Temperatura........................................... 230
CAPTULO V.II - CABOS DE GUARDACOM FIBRAPTICAINCORPORADA
5.2 - Cabos de Guarda com fibra ptica Incorporada .................................. 235
5.2.1 - Fibra ptica: Conceitos bsicos e perspectivas de Evoluo .... 235
5.2.1.1 - Introduo......................................................................... 235
5.2.1.2 - Conceitos bsicos.............................................................. 235
5.2.1.2.1 - Propagao do Raio Luminoso - Anlise
Geomtrica ............................................................... 235
5.2.1.2.2 - Atenuao ................................................................. 236
5.2.1.2.3 - Disperso cromtica ................................................. 238
5.2.1.2.4 - Disperso Modal de Polarizao (PMD).................. 238
5.2.1.3 - Evoluo da Fibra ptica ................................................. 240
5.2.2 - Fundamentos de Reflectometria ptica Temporal (OTDR)...... 243
5.2.2.1 - Introduo......................................................................... 243
5.2.2.2 - Princpio de Funcionamento............................................. 243
5.2.2.3 - Parmetros que condicionam a medio .......................... 245
5.2.2.3.1 - Banda dinmica ........................................................ 245
5.2.2.3.1.1 - Durao do tempo de aquisio ............................ 246
5.2.2.3.1.2 - Largura do impulso ptico .................................... 246
XXII
GUIA TCNICO
5.2.2.3.2 - Resoluo espacial, zona morta ............................... 247
5.2.2.4 - Anlise bi-direccional ....................................................... 249
5.2.2.5 - Ecos................................................................................... 251
5.2.3 - O desenho de cabos OPGW e a sua influncia no desempenho
mecnico das fibras pticas........................................................... 253
CAPTULO V.III - CABOS ISOLADOS DE BAIXA TENSO
5.3 - Cabos Isolados de Baixa Tenso .............................................................. 259
5.3.1 - Cabos com alma condutora de alumnio...................................... 259
1 - Cabos no armados do tipo LVV, LSVV, LXV, LSXV............. 259
2 - Cabos armados do tipo LVAV, LSVAV, LXAV, LSXAV........... 264
5.3.2 - Cabos com alma condutora de cobre ........................................... 269
1 - Cabos no armados do tipo VV, XV, e armados do tipo
VAV, XAV.................................................................................. 269
2 - Cabo do tipo PT-N07 VA7 V - U (R) ....................................... 274
3 - Cabo do tipo PT-N05 VV H2-U................................................ 275
4 - Condutores do tipo H07 V-U (R ou K) ..................................... 276
5 - Condutores do tipo H05 V-U (K) .............................................. 277
6 - Cabo do tipo H05 VV - F ......................................................... 278
7 - Cabo do tipo H03 VH - H......................................................... 279
8 - Cabo do tipo H03 VV H2 - F .................................................. 280
9 - Cabo do tipo H03VV - F .......................................................... 281
CAPTULO V.VI - CABOS ISOLADOS AGRUPADOS EM FEIXE (TORADA)
5.4 - Introduo .................................................................................................. 285
5.4.1 - Caractersticas gerais das redes em torada ............................... 287
5.4.1.1 - Cabos ................................................................................ 287
5.4.1.2 - Acessrios de montagem de uma rede em torada........... 289
5.4.1.3 - Tipo de Montagem............................................................ 290
5.4.1.4 - Postes ................................................................................ 290
5.4.2 - Dimensionamento das redes em torada...................................... 292
5.4.2.1 - Escolha da seco da alma condutora .............................. 292
1 - Determinao da intensidade a transmitir em regime normal....... 292
2 - Seco necessria para o aquecimento em regime permanente...... 293
3 - Seco necessria para o aquecimento em regime varivel...... 293
4 - Seco necessria para o aquecimento em caso de curto-circuito 293
5 - Seco necessria para a queda de tenso................................. 293
6 - Seco necessria do ponto de vista elctrico........................... 294
5.4.2.2 - Calculo Mecnico e condies de montagem.................. 294
1- Instalao dos cabos ................................................................... 294
XXIII
GUIA TCNICO
2 - Tenses Mximas dos cabos...................................................... 295
3 - Verificao da estabilidade dos apoios de beto ....................... 296
4 - Aplicao das Espias ................................................................. 298
5.4.2.3 - Tabelas de Regulao ....................................................... 300
CAPTULO V.V - CABOS ISOLADOS DE MDIA E ALTA TENSO
5.5- Cabos Isolados de Mdia e Alta Tenso
5.5.1 - Descrio do processo de fabrico.................................................. 307
5.5.2 - Cabos de Mdia Tenso ................................................................. 308
5.5.2.1 - Intensidade em regime permanente para cabos
monopolares........................................................................................... 313
5.5.2.2 - Cabo tripolar LXHIAV/LXHIOAV/XHIAV/XHIOAV..... 314
5.5.2.3 - Cabos Auto-suportados (S) trimonopolares cablea-
dos suterrneos e toradas areas............................... 315
5.5.2.4 - Intensidade em regime permanente para cabos
tripolares ........................................................................... 316
5.5.3 - Cabos de Alta Tenso..................................................................... 317
5.5.3.1 - Cabos de 60 kV adoptados em Portugal........................... 323
5.5.3.1.1 - Condies de instalao ........................................... 324
5.5.3.1.2 - Capacidade de transporte ......................................... 324
CAPTULO VI - CABOS DE COMUNICAES
6.1 - Cabos de Comunicaes Metlicos........................................................... 329
6.1.1 - Definies de alguns parmetros de transmisso ...................... 329
1 - Desequilbrio de resistncia ...................................................... 329
2 - Desequilbrio de capacidade terra de um par ......................... 329
3 - Desequilbrio de capacidade ao cran de um par ..................... 329
4 - Capacidade mtua de um par ................................................... 329
5 - Velocidade de propagao ........................................................ 330
6 - Constante de atenuao ............................................................ 330
7 - Desequilbrio e atenuao ......................................................... 330
8 - Atenuao paradiafnica (NEXT) ............................................. 331
9 - Atenuao telediafnica (FEXT) ............................................... 331
10 - Impedncia caracterstica......................................................... 331
11 - Impedncia de transferncia superficial ................................. 331
12 - Atraso de propagao de grupo .............................................. 331
13 - Balun ....................................................................................... 331
6.1.2 - Mtodos de medida dos parmetros de transmisso ................. 332
1 - Geral ......................................................................................... 332
2 - Cabos sem blindagem ............................................................... 332
XXIV
GUIA TCNICO
3 - Resistncia dos condutores ....................................................... 332
4 - Desequilbrio de resistncia ...................................................... 332
5 - Rigidez dielctrica .................................................................... 332
6 - Resistncia de isolamento ......................................................... 332
7 - Desequilbrio de capacidade ..................................................... 333
8 - Velocidade de propagao de grupo ......................................... 333
9 - Atenuao ................................................................................. 334
10 - Desequilbrios de atenuao ................................................... 334
11 - Paradiafonia ............................................................................ 334
12 - Telediafonia ............................................................................ 335
13 - Impedncia caracterstica ....................................................... 335
6.1.3 - Desequilbrios e diafonia ............................................................... 336
1 - Desequilbrio de capacidade ..................................................... 337
2 - Diafonia entre pares simtricos ................................................ 339
3 - O quadripolo diafnico ............................................................. 339
4 - Os vrios tipos de diafonias....................................................... 341
6.1.4 - Equilibragem ................................................................................. 341
6.1.5 - Velocidade de propagao em cabos de comunicaes............... 345
6.1.6 - Cabos de Telecomunicaes com condutores metlicos ............ 346
6.1.7 - Rede telefnica local ..................................................................... 347
6.1.8 - Cabos telefnicos da rede local .................................................... 348
6.1.9 - Cabos telefnicos de assinante ..................................................... 354
6.1.10 - Cabos para redes informticas .................................................. 361
6.2 - Cabos de Fibra ptica .............................................................................. 366
6.2.1 - Sistema de desig. de cabos de Telecomunicaes em fibra ptica 366
6.2.2 - Construo de cabos de fibra ptica ........................................... 369
1 - Cores para identificao de fibras ............................................ 369
2 - Cores para identificao de tubos ............................................. 369
3 - Configurao dos cabos de fibra ptica ................................... 370
4 - Caractersticas dimensionais e ponderais dos cabos de fibra ptica 370
6.3 - Mtodo de Ponte de alta impedncia a 4 fios ......................................... 372
CAPTULO VII - ACESSRIOS ELCTRICOS
7.1 - Acessrios para Cabos com Fibra ptica (OPGW) ............................... 379
7.2 - Acessrios para cabos secos de alta tenso.............................................. 383
7.2.1 - Extremidades .................................................................................. 384
7.2.1.1 - Extremidades Cermicas .................................................. 385
7.2.1.2 - Extremidades Compsitas ............................................... 386
7.2.1.3 - Extremidades Pr-fabricadas ............................................ 387
XXV
GUIA TCNICO
7.2.2 - Junes ............................................................................................ 388
7.2.2.1 - Junes enfitadas .............................................................. 388
7.2.2.2 - Junes Pr-fabricadas...................................................... 388
7.2.2.3 - Junes Termo-retrcteis .................................................. 390
CAPTULO VIII ~ REGRAS DE USO
8 - Prembulo .................................................................................................... 393
8.1 - Recomendaes Relativas Embalagem, Identificao, Manuseamento,
Armazenagem e Transporte dos Cabos................................................... 393
8.1.1 - Embalagem ..................................................................................... 393
8.1.2 - Identificao e rastreabilidade...................................................... 393
8.1.3 - Manuseamento................................................................................ 394
8.1.4 - Armazenagem................................................................................. 395
8.1.5 - Transporte....................................................................................... 395
8.2 - Cabos Ns para Linhas Areas ................................................................. 395
8.2.1 - Recomendaes relativas a este tipo de cabo............................... 395
8.2.2 - Condies de instalao e de utilizao dos cabos...................... 396
8.2.2.1 - Operaes de desenrolamento .......................................... 396
8.3 - Cabos Isolados de Mdia e Alta tenso - linhas subterrneas............... 398
8.3.1 - Temperaturas de funcionamento .................................................. 398
8.3.2 - Consideraes gerais sobre o desenrolamento ............................ 398
8.3.3 - Raios de curvatura admissveis..................................................... 399
8.3.4 - Mtodos de desenrolamento.......................................................... 399
8.3.5 - O uso de roletes .............................................................................. 400
8.3.6 - Proteco dos Cabos depois do desenrolamento......................... 401
8.3.7 - Colocao dos cabos em tubos ...................................................... 401
8.3.7.1 - Generalidades.................................................................... 401
8.3.7.2 - Estrutura e construo ...................................................... 401
8.3.7.3 - Controlo do estado do interior das tubagens .................... 402
8.3.7.4 - A colocao do cabo ......................................................... 402
8.3.8 - Colocao dos cabos em Caleiras ................................................. 402
8.3.8.1 - Construo das caleiras .................................................... 402
8.3.8.2 - Instalao das caleiras ...................................................... 403
8.3.8.4 - Pontos especiais no trajecto do cabo................................ 403
8.3.9 - Colocao dos cabos directamente no solo .................................. 404
8.3.9.1 - Construo da vala............................................................ 404
8.3.9.2 - Pontos especiais no trajecto do cabo................................ 404
8.3.10 - Instalao dos cabos ao ar livre .................................................. 405
8.4 - Gesto Ambiental - Para uma prtica de OBRA LIMPA...................... 406
I
C
aptulo
Especificaes Gerais dos
Condutores e Cabos Elctricos
ESPECIFICAES GERAIS DOS CONDUTORES E CABOS ELCTRICOS
3
GUIA TCNICO
1.1 - Generalidades
Os condutores e cabos utilizados nas instalaes elctricas, abrangem vrios
tipos, em funo das variadas aplicaes para que esto destinados.
Os cabos para transmisso de energia distinguem-se principalmente:
- pelo tipo de instalao:
domsticas,
indstriais,
distribuio,
aplicaes particulares;
- pela tenso de servio entre fases U:
baixa tenso U s 1 000 V,
mdia tenso 1 000 V < U < 45 000 V,
alta tenso 45 000 V s U s 225 000 V,
muito alta tenso U > 225 000 V.
Podem ainda ser cabos rgidos ou flexveis, conforme a instalao a alimentar
seja fixa ou mvel, respectivamente.
Em cada caso apresentado, a escolha dever ser feita de maneira a conferir ao cabo
as caractersticas e qualidades requeridas, quer no plano tcnico quer econmico.
Nas pginas seguintes daremos indicaes destinadas a orientar o utilizador ou
instalador, na escolha do cabo que melhor se adapte s suas necessidades.
Esta escolha consiste em determinar os materiais apropriados para os diferentes
elementos constituintes do cabo e dimensionar o mesmo em funo das condies
de funcionamento e instalao da canalizao projectada, dentro do respeito pela
regulamentao em vigor.
Este Guia Tcnico constitui tambm um elemento que sumariza as boas tcnicas e
prticas recomendadas na instalao dos cabos fornecidos pela SOLIDAL, funcio-
nando assim como um guia de uso dos mesmos.
Em todo o caso, os nossos servios tcnicos esto sempre disposio,
para qualquer esclarecimento tcnico.
1.1.1 - Indicaes Necessrias para a Escolha Correcta da Especificao
Adeterminao da especificao um problema complexo, com um grande nme-
ro de parmetros em jogo, quer tcnicos quer econmicos. Na maior parte dos ca-
sos, no possvel determinar com preciso a totalidade desses elementos, tanto
mais que a interpretao de alguns , por vezes, delicada. As indicaes aqui dadas
destinam-se a permitir uma abordagem dos vrios domnios. Nestes as informaes
requeridas so necessrias a fim de permitir a escolha mais apropriada no plano
CAPTULO I
4
GUIA TCNICO
tcnico. A sua importncia avaliada em cada caso estudado. As informaes
reunidas ser-nos-o comunicadas e a escolha mais apropriada ser proposta.
Num outro captulo* sero estudados os critrios econmicos que tm tambm
um lugar importante na escolha de uma canalizao elctrica.
Nota: As informaes seguintes no so directamente aplicveis aos cabos
areos, cuja determinao precisa, requer o conhecimento de informaes
particulares.
1 - Relativamente Rede de Alimentao
- Natureza da corrente e modo de distribuio:
corrente contnua,
corrente alternada:
modo de distribuio: Monofsica, bifsica, trifsica,
frequncia;
- Tenso entre condutores no ponto da alimentao (tenso composta no caso de
corrente alternada):
tenso nominal de servio,
tenso mxima de servio;
- Ponto neutro:
directamente ligado terra,
ligado a terra por intermdio de uma impedncia,
isolado (neste caso, necessrio precisar a probabilidade de ocorrncia de de-
feitos fase-terra e as condies de eliminao dos mesmos);
- Sobretenses eventuais de origem atmosfrica ou outras:
probabilidade de ocorrncia,
valor,
durao.
2 - Relativamente Instalao a Alimentar a s Condies de Funcionamento
da Canalizao
- Tenso entre condutores no ponto da utilizao ou queda de tenso admissvel;
- Factor de potncia;
- Potncia a transmitir (activa ou aparente) ou intensidade da corrente;
* Determinao da Seco Econmica, Captulo III
- Regime de carga:
regime permanente,
regime cclico (diagrama de intensidade e durao correspondente),
condies de sobrecarga (intensidade, durao, probabilidade);
- Condies de curto-circuito na alma condutora e cran (intensidade, durao).
3 - Relativamente s Caractersticas do Cabo
- Tenso nominal (ou estipulada);
- Tipo de cabo (rgido, flexvel, de campo radial ou no, natureza do isolamento,
etc.);
- Comprimento total do cabo;
- Nmero de condutores;
- Natureza do metal dos condutores (alumnio, cobre);
- Condies especiais, caso existam:
caderno de encargos imposto,
referncias particulares,
condies de recepo,
condies de entrega (comprimentos desejados, limitaes no peso e dimenses
das bobinas, ...).
4 - Relativamente s Condies de Instalao do Cabo
- Modo de colocao:
ao ar - no ar livre, exposto ou no s radiaes solares,
- em galeria, caleira de beto, tabuleiros ou entubado
(dimenses, ventilao eventual, ...).
no solo - directamente,
- em caleira de beto cheia de areia,
- em tubos (comprimento, tipo, dimenses e disposio dos
tubos, ...);
- Caractersticas trmicas do local:
temperatura do ar ambiente,
temperatura do solo profundidade de colocao,
resistividade trmica do solo;
ESPECIFICAES GERAIS DOS CONDUTORES E CABOS ELCTRICOS
5
GUIA TCNICO
- Proximidade com outros cabos (ou fontes de calor):
nmero de cabos, tipo, natureza e seco das almas condutoras, potncia a
transmitir,
disposio e distncia em relao ao cabo considerado (esquema se possvel);
- Agressividade do local:
natureza do solo,
imerso em gua,
contacto com produtos qumicos (natureza dos produtos, concentrao,
temperatura, tipo de contacto, imerso temporria ou prolongada, ...);
- Outras condies:
colocao do cabo em instalao mvel (enrolador, grua, plataforma girante, ...),
particularidades do traado: colocao vertical, com desnivelamentos impor-
tantes, com desnveis aro-subterrneos, travessias de estradas, rios, ...
esforos mecnicos na colocao ou em servio,
riscos de fenmenos de induo, provocado por outras canalizaes nas
proximidades,
etc.
5 - Relativamente aos Acessrios da Instalao
- Extremidades:
disposio - no interior,
- no exterior,
- em celas ou caixas (dimenses, natureza do material
de enchimento),
riscos de poluio (poeiras condutoras, atmosfera salina, ...);
- Junes e derivaes:
execuo,
proteces particulares (mecnica, qumica, ...);
- Condies de ligao terra.
CAPTULO I
6
GUIA TCNICO
1.1.2 - Regulamentao-Normalizao
A regulamentao tem um papel essencial na definio de todo o material
elctrico, particularmente das canalizaes, tendo por fim assegurar:
- a qualidade e a fiabilidade do fornecimento, pela escolha apropriada do
cabo, das condies de instalao e de explorao;
- segurana na utilizao, pela preveno do perigo de correntes elctricas que
circulam na vizinhana imediata de pessoas e bens.
As prescries regulamentares, destinadas a satisfazer as exigncias dos utiliza-
dores, no devem, no entanto, constituir uma limitao evoluo tcnica e um
travo ao seu progresso; por isso, elas devem estar de preferncia, ligadas
determinao dos objectivos visados e ao controlo dos resultados obtidos.
Por outro lado, a regulamentao, sendo fruto de uma sntese entre os pontos de
vista do utilizador, do instalador e do construtor, em vrios domnios e por vezes
complexos, no ser de modo algum satisfatria com uma apresentao simplifi-
cada. Por isso, nosso propsito, fornecer indicaes sucintas relativas a certas
normas e regulamentos de aplicao corrente. Alm disso, esta enumerao no
poder ser completa. Em cada caso, ser necessrio procurar, antes de mais,
quais so os textos susceptveis de influenciar a determinao da canalizao pro-
jectada e qual a edio em vigor do texto original.
Esquematicamente, a aco da regulamentao exerce-se, por um lado, nas carac-
tersticas dos cabos e, por outro, nas caractersticas da instalao.
1 - Caractersticas dos Cabos
Neste domnio, a regulamentao constituda por normas, especificaes tcni-
cas, cadernos de encargos, recomendaes, etc., que definem os tipos de cabos e
fixam as suas dimenses e caractersticas principais, assim como os meios de as
controlar, quer no plano nacional quer no internacional. Para cada tipo de condu-
tor ou cabo referido neste catlogo, a referncia do documento de normalizao
correspondente est indicada nas pginas que contm as caractersticas detalhadas
desse modelo.
Regulamentao Internacional
Em 1905, foi criada a Comisso Electrotcnica Internacional (CEI), cuja sede
em Genebra. Agrupa os representantes da indstria elctrica de 41 pases, entre
os quais est o Instituto Portugus de Qualidade (IPQ). Ela constitui o ramo elc-
trico da Organizao Internacional de Normalizao (ISO). Comits de estudo es-
pecializados so responsveis por vrios assuntos. No que diz respeito aos
cabos, distinguem-se principalmente os comits:
ESPECIFICAES GERAIS DOS CONDUTORES E CABOS ELCTRICOS
7
GUIA TCNICO
- n. 20, compreendendo o subcomit 20A (cabos MT e AT)
o subcomit 20B (cabos BT)
o subcomit 20C (problemas ligados ao fogo, a corro-
sividade e a toxicidade dos sub-produtos do fogo),
- n. 18: cabos para instalao a bordo dos navios,
- n. 46: cabos de telecomunicaes,
- n. 64: regras de instalao.
Os documentos que definem o caminho da evoluo, so usados pelos tcnicos de
cada pas e provm dos comits de estudo. Servem de base ao estabelecimento
das normas nacionais, nomeadamente no plano europeu, por intermdio
do CENELEC (Comit Europeu de Normalizao Electrotcnica). O objectivo
fundamental do CENELEC, criado em 1973 e agrupando actualmente 17 pases
(1), , com efeito, a harmonizao das diferentes normas nacionais e dos proces-
sos de certificao, de maneira a reduzir os entraves criados nas trocas entre
pases europeus no domnio electrotcnico.
O processo de harmonizao pode, consoante os casos, revestir-se de duas formas:
- um documento de harmonizao serve de base reviso, num dado prazo, das
diversas normas nacionais existentes; certas diferenas menores podem ento
subsistir nestas ltimas;
- uma norma europeia nica adaptada pelos vrios pases; as normas nacionais
so idnticas neste caso.
Deste modo, inicialmente, os trabalhos do comit n. 20 conduziram aplicao
da harmonizao de um certo nmero de condutores e cabos de utilizao
corrente isolados em PVC ou borracha, de tenso nominal inferior ou igual a
450/750 V (ver captulo V).
Todo o material fabricado em conformidade com uma norma harmonizada
poder ser considerado satisfatrio, sem haver necessidade de o submeter s
diversas normas nacionais correspondentes.
No caso dos cabos, isto traduz-se pela atribuio de uma marcao harmonizada
HAR. A dispensa disso, assim como a confirmao posterior da qualidade de
produo so objecto de procedimentos, confiados em cada pas, a um organis-
mo nacional de aprovao, sendo em Portugal a Direco Geral de Energia
(DGE).
CAPTULO I
8
GUIA TCNICO
(1): Alemanha, ustria, Blgica, Dinamarca, Espanha, Finlndia, Frana, Grcia, Holanda, Irlanda,
Itlia, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Reino Unido, Sucia e Suia.
2 - Caractersticas das Instalaes
Neste domnio, a regulamentao constituda por textos oficiais que definem as
condies gerais as quais devem satisfazer as instalaes. Para as canalizaes
elctricas, as prescries abrangem essencialmente:
- a escolha dos condutores e cabos, segundo a natureza da instalao, fazendo
referncia, nalguns casos, s normas e especificaes atrs enunciadas;
- as condies de instalao, de manuteno, de explorao e de proteco das
canalizaes.
Em primeiro lugar, figuram as prescries administrativas (decretos e deliberaes
tcnicas) tomadas pelos poderes pblicos que fixam as regras de aplicao dos
textos legislativos, precisam os casos em que obrigatrio o seu cumprimento e
prevm eventualmente a sua anulao. Uma mesma instalao poder estar sujeita,
simultaneamente a vrios textos. O controlo do seu cumprimento assegurado pe-
la administrao respectiva. Os principais textos a considerar so indicados a seguir:
- Regulamento de Segurana de Subestaes, Postos de Transformao e de
Seccionamento;
- Regulamento de Segurana de Instalaes de Utilizao de Energia Elctrica;
- Regulamento de Segurana de Instalaes Colectivas de Edifcios e Entradas;
- Regulamento de Segurana de Redes de Distribuio de Energia Elctrica em
Baixa Tenso;
- Regulamento de Segurana de Linhas Elctricas de Alta Tenso;
- Regulamento de Licenas para Instalaes Elctricas;
- Organizao de Projectos de Licenciamento de Instalaes Elctricas.
Foi j aprovado, tambm, (Decreto-Lei n. 117/88 de 12 de Abril) um documen-
to baseado na directiva adoptada em 19 de Fevereiro de 1973 pelo Conselho das
Comunidades Europeias, dita Directiva da Baixa Tenso, cujo objectivo a
aproximao da legislao dos estados membros relativas ao material elctrico
destinado ao uso em certos limites de tenso.
Trata de disposies visando garantir a segurana das pessoas, animais e bens, du-
rante o emprego de materiais elctricos destinados a tenses nominais, compreen-
didas entre 50 e 1000 V tenso alternada e entre 75 e 1500 V tenso contnua.
ESPECIFICAES GERAIS DOS CONDUTORES E CABOS ELCTRICOS
9
GUIA TCNICO
1.2 - Constituio dos Condutores e Cabos de Energia
1.2.1 - Introduo
As pginas seguintes tm por objectivo apresentar o tipo e as caractersticas dos
principais materiais que so utilizados nos condutores e cabos de energia.
Chama-se condutor ao conjunto constitudo por uma alma condutora e a sua
camada isolante.
As funes da alma condutora e da camada isolante so bvias no se justificando
uma referncia particular. No entanto, desejvel dedicar alguma ateno aos restan-
tes constituintes, designadamente os crans condutores e o revestimento exterior.
CAPTULO I
10
GUIA TCNICO
Alma condutora
Camada isolante
Alma condutora
Camada isolante
Revestimento exterior
Um condutor munido de um revestimento exterior designado por cabo unipolar
(ou monopolar ou monocondutor).
Um cabo multipolar formado por vrios condutores electricamente distintos e
mecanicamente solidrios. A designao de cabo multicondutor , em geral, usa-
da para cabos com mais de trs condutores.
Alma condutora
Camada isolante
Revestimento exterior
crans Condutores
Geralmente no so utilizados em baixa tenso. Pela sua localizao e funo, dis-
tinguem-se os seguintes tipos:
- cran sobre a alma condutora: ao criar uma superfcie equipotencial uniforme
volta da alma, pretende-se evitar a concentrao do campo elctrico nas irregulari-
dades da superfcie da mesma, o que seria prejudicial a um bom funcionamento do
isolante. Este cran pode ser realizado por enfitamento ou por extruso;
- cran sobre a camada isolante geralmente ligado terra, permite:
criar uma superfcie equipotencial volta do isolante, orientando o campo
elctrico,
prevenir contra os efeitos indutores dos campos electrostticos externos e
internos,
assegurar o escoamento das correntes capacitivas bem como, a corrente de
defeito terra (curto-circuito homopolar),
assegurar a proteco das pessoas e bens em caso de perfurao do cabo, por um
corpo condutor exterior, que colocado desta maneira ao potencial da terra.
Para satisfazer estas ltimas funes, emprega-se, geralmente, um cran metlico
com a forma de uma bainha contnua, barras ou fios metlicos ou vrias fitas
enroladas em hlice, com interposio eventual, entre o cran e o isolante, de uma
camada condutora no metlica enfitada ou extrudida.
Em certos tipos de cabos (cabos flexveis para aplicao em minas por exemplo),
a funo essencial do cran garantir a segurana em caso de incidentes que
ponham em causa a integridade do cabo. O cran, dito de segurana, pode ser
constitudo da mesma maneira que o anterior, ou ento, por uma camada ou
enchimento em matria sinttica condutora, contendo os condutores de escoamen-
to da corrente. O cran est permanentemente ligado a um potencial baixo e
qualquer modificao do mesmo provoca o corte da alimentao do cabo.
Revestimento
O revestimento constitudo por um conjunto de camadas em materiais apropriados,
destinados a conferir ao cabo uma forma determinada e a assegurar a sua proteco
contra aces exteriores. As partes deste revestimento, que formam um tubo de
matria contnua, recebem o nome de bainhas.
Distinguem-se:
- os enchimentos ou bainha de enchimento que tm por objectivo preencher os
espaos vazios entre condutores e dar ao conjunto uma geometria determinada,
geralmente cilndrica;
ESPECIFICAES GERAIS DOS CONDUTORES E CABOS ELCTRICOS
11
GUIA TCNICO
- bainha de estanquidade, que deve assegurar a proteco do isolante, contra hu-
midade ou agentes corrosivos, podendo ser metlica ou sinttica;
- revestimento exterior, assegura a proteco qumica e mecnica do cabo,
geralmente formado por uma bainha de material sinttico.
1.2.2 - Alma Condutora
Caracteriza-se principalmente pela natureza do metal condutor, pela seco
nominal e pela sua composio, que condicionam a flexibilidade e a resistncia
hmica do condutor.
1- Natureza do Metal Condutor
A alma condutora pode ser em:
- cobre recozido, nu ou estanhado;
- alumnio, geralmente 3/4 duro;
- ligas de alumnio (resistncia mecnica superior ao alumnio).
Quadro 7 - Caractersticas fisicas elctricas e mecnicas
O quadro 7 apresenta as principais caractersticas do cobre e do alumnio utiliza-
dos nos condutores e nos cabos. Devem estar dentro de certas tolerncias em re-
lao aos materiais tipo definidos por vrios documentos nacionais e
internacionais.
CAPTULO I
12
GUIA TCNICO
*Utilizamos para o fabrico dos nossos cabos, lingote de alumnio com grau de pureza 99,7.
Caractersticas
Cobre Alumnio
Liga de
Recozido 3/4 duro
Alumnio
(Al, Mg e Si)
Grau de Pureza, %....................................... > 99,9 > 99,5 (*) -
Resistividade a 20
o
C, ohm . mm
2
/m............. 17,241 . 10
-3
28,264 . 10
-3
32,8 . 10
-3
Coeficiente de variao da resistncia
hmica com a temperatura, a 20
o
C, por
o
C.. 3,93 . 10
-3
4,03 . 10
-3
3,6 . 10
-3
Densidade a 20
o
C......................................... 8,89 2,70 2,70
Coeficiente de dilatao linear a 20
o
C,
por
o
C........................................................... 17 . 10
-6
23 . 10
-6
23 . 10
-6
Tenso de ruptura, MPa............................... 230 a 250 120 a 150 295 a 350
Alongamento ruptura, %........................... 20 a 40 1 a 4 24
Temperatura de Fuso,
o
C............................ 1080 660 780
Poder-se- observar, nestas caractersticas, que em igualdade de resistncia
elctrica um condutor de alumnio tem uma seco 1,6 vezes superior de um
condutor em cobre, para uma massa sensivelmente igual a metade, o que explica
independentemente, das vantagens econmicas, o sucesso crescente do alumnio
no seio dos utilizadores. No entanto, em casos particulares, o uso do cobre
permanece o mais indicado, em virtude das suas caractersticas mecnicas
(flexibilidade) ou do seu dimetro inferior para a alma condutora.
2 - Composio e Forma da Alma Condutora
Em funo da seco nominal e do grau de flexibilidade desejado a alma condutora
poder ser:
- macia, isto , constituda por um nico fio ou por vrios sectores cableados, sen-
do o emprego da primeira soluo limitado, normalmente, s seces inferiores;
- multifilar, isto , constituda por diversos fios cableados.
Numa alma condutora multifilar, os fios esto dispostos em hlice numa ou
vrias camadas distintas, sendo o sentido de cableamento alternado entre camadas
sucessivas.
As seces das almas condutoras so, geralmente, circulares ou sectorias. Esta l-
tima disposio usada sobretudo nos cabos com 3 e 4 condutores, permitindo
uma melhor ocupao do espao destinado aos mesmos e, consequentemente,
uma diminuio das dimenses e peso do cabo. Ainda com este objectivo as
almas condutoras podero ser compactadas.
Por outro lado, as almas condutoras com seco circular so constitudas por
camadas concntricas. No entanto, no caso de seces grandes, a alma condutora
poder ser segmentada, isto , composta por vrios elementos cableados, com for-
ma sectorial, podendo ser ligeiramente isolado entre eles. Esta constituio tem
por objectivo, a reduo do efeito pelicular e de proximidade e, por
consequncia, a resistncia hmica em corrente alternada, permitindo um maior
aproveitamento da seco til.
ESPECIFICAES GERAIS DOS CONDUTORES E CABOS ELCTRICOS
13
GUIA TCNICO
Cabos com alma circular Cabos com alma sectorial
3 - Tipos de condutores e Classes de Resistncia
Apublicao CEI 60228 define uma gama de seces nominais para as almas con-
dutoras e reparte-as em quatro classes, por ordem crescente de flexibilidade.
Este documento introduz modificaes sensveis, em relao ao documento
anteriormente em vigor. Em particular, o nmero de classes de resistncia
reduzido de 6 para 4, estando assegurada uma maior uniformidade dos
valores das resistncias lineares das diferentes almas condutoras com a
mesma seco linear. Assim:
- a resistncia das almas condutoras da classe 1 e 2, do mesmo material, idntica
qualquer que seja a forma da alma e o nmero de condutores do cabo;
- a resistncia das almas condutoras da classe 5 e 6 idntica qualquer que seja
o nmero de condutores do cabo.
- Almas de condutores e cabos rgidos para instalaes fixas:
classe 1: condutores macios,
classe 2: condutores cableados.
- Almas de condutores e cabos flexveis: classes 5 e 6.
Em funo da classe de resistncia considerada, a norma fixa para cada seco no-
minal admitida, o nmero mnimo de fios que a constituem (almas condutoras r-
gidas) ou o dimetro mximo desses fios (almas condutoras flexveis).
As seces nominais assim definidas no constituem valores geomtricos
exactos. Por isso, o valor da resistncia da alma em corrente contnua a 20 C,
imposto, em funo da seco nominal e da classe da resistncia. Os quadros
9 a 11 contm as seces nominais normalizadas para cada classe de resistncia,
as composies e resistncias correspondentes.
CAPTULO I
14
GUIA TCNICO
Quadro 8 - Almas Macias em Cobre e Alumnio para
Cabos Monocondutores e Multicondutores (classe 1)
ESPECIFICAES GERAIS DOS CONDUTORES E CABOS ELCTRICOS
15
GUIA TCNICO
Resistncia Linear mxima da alma condutora a 20
0
C
Seco Almas em cobre com seco circular Almas circulares ou
nominal Fios no estanhados Fios estanhados sectoriais em alumnio
mm
2
O/Km O/Km O/Km
0,5 36,0 36,7 -
0,75 24,5 24,8 -
1 18,1 18,2 -
1,5 12,1 12,2 18,1
2,5 7,41 7,56 12,1
4 4,61 4,70 7,41
6 3,08 3,11 4,61
10 1,83 1,84 3,08
16 1,15 1,16 1,91
25 0,727 - 1,20
35 0,524 - 0,868
50 0,387 - 0,641
70 0,268 - 0,443
95 0,193 - 0,320
120 0,153 - 0,253
150 0,124 - 0,206
185 - - 0,164
240 - - 0,125
300 - - 0,100
Quadro 9 - Almas Multifilares em Cobre e Alumnio
para Cabos Monocondutores e Multicondutores (classe 2)
(1) Nmero mnimo de fios no especficado.
(2) As seces entre parnteses so pouco aconselhveis.
CAPTULO I
16
GUIA TCNICO
Nmero mnimo de Resistncia Linear mxima
fios da alma condutora da alma condutora a 20
0
C
Seco Alma Alma Alma Almas em cobre Almas de
nominal circular circular sectorial Fios Fios alumnio
mm
2
no compactada no estanhados
compactada estanhados
Cu Al Cu Al Cu Al O/Km O/Km O/Km
0,5 7 - - - - - 36,0 36,7 -
0,75 7 - - - - - 24,5 24,8 -
1 7 - - - - - 18,1 18,2 -
1,5 7 - 6 - - - 12,1 12,2 -
2,5 7 - 6 - - - 7,41 7,56 -
4 7 7 6 - - - 4,61 4,70 7,41
6 7 7 6 - - - 3,08 3,11 4,61
10 7 7 6 - - - 1,83 1,84 3,08
16 7 7 6 6 - - 1,15 1,16 1,91
25 7 7 6 6 6 6 0,727 0,734 1,20
35 7 7 6 6 6 6 0,524 0,529 0,868
50 19 19 6 6 6 6 0,387 0,391 0,641
70 19 19 12 12 12 12 0,268 0,270 0,443
95 19 19 15 15 15 15 0,193 0,195 0,320
120 37 37 18 15 18 15 0,153 0,154 0,253
150 37 37 18 15 18 15 0,124 0,126 0,206
185 37 37 30 30 30 30 0,0991 0,100 0,164
240 61 61 34 30 34 30 0,0754 0,0762 0,125
300 61 61 34 30 34 30 0,0601 0,0607 0,100
400 61 61 53 53 53 53 0,0470 0,0475 0,0778
500 61 61 53 53 53 53 0,0366 0,0369 0,0605
630 91 91 53 53 53 53 0,0283 0,0286 0,0469
800 91 91 53 53 - - 0,0221 0,0224 0,0367
1000 91 91 53 53 - - 0,0176 0,0177 0,0291
1200 (1) (1) - 0,0151 0,0247
(1400) (2) (1) (1) - 0,0129 0,0212
1600 (1) (1) - 0,0113 0,0186
(1800) (2) (1) (1) - 0,0101 0,0165
2000 (1) (1) - 0,0090 0,0149
Quadro 10 - Almas Flexveis em Cobre para
Cabos Monocondutores e Multicondutores (classe 5)
ESPECIFICAES GERAIS DOS CONDUTORES E CABOS ELCTRICOS
17
GUIA TCNICO
Resistncia linear mxima da alma
Seco Dimetro mximo dos condutora a 20C
nominal fios da alma condutora
mm
2
Fios no estanhados Fios estanhados
mm O/Km O/Km
0,5 0,21 39,0 40,1
0,75 0,21 26,0 26,7
1 0,21 19,5 20,0
1,5 0,26 13,3 13,7
2,5 0,26 7,98 8,21
4 0,31 4,95 5,09
6 0,31 3,30 3,39
10 0,41 1,91 1,95
16 0,41 1,21 1,24
25 0,41 0,780 0,795
35 0,41 0,554 0,565
50 0,41 0,386 0,393
70 0,51 0,272 0,277
95 0,51 0,206 0,210
120 0,51 0,161 0,164
150 0,51 0,129 0,132
185 0,51 0,106 0,108
240 0,51 0,0801 0,0817
300 0,51 0,0641 0,0654
400 0,51 0,0486 0,0495
500 0,61 0,0384 0,0391
630 0,61 0,0287 0,0292
Quadro 11 - Almas Flexveis em Cobre (classe 6)
Resistncia linear mxima da alma
Seco Dimetro mximo dos condutora a 20C
nominal fios da alma condutora
mm
2
mm Fios no estanhados Fios estanhados
O/Km O/Km
0,5 0,16 39,0 40,1
0,75 0,16 26,0 26,7
1 0,16 19,5 20,0
1,5 0,16 13,3 13,7
2,5 0,16 7,98 8,21
4 0,16 4,95 5,09
6 0,21 3,30 3,39
10 0,21 1,91 1,95
16 0,21 1,21 1,24
25 0,21 0,780 0,795
35 0,21 0,554 0,565
50 0,31 0,386 0,393
70 0,31 0,272 0,277
95 0,31 0,206 0,210
120 0,31 0,161 0,164
150 0,31 0,129 0,132
185 0,41 0,106 0,108
240 0,41 0,0801 0,0817
300 0,41 0,0641 0,0654
Dimetros Mnimos e Mximos das Almas Condutoras
Os quadros 12 e 13 contm os dimetros mnimos e mximos, para as classes de
resistncia definidas pela norma CEI 60228 A.
Quadro 12 - Dimetros Mximos das Almas
em Cobre de Seco Circular
CAPTULO I
18
GUIA TCNICO
Quadro 13 - Dimetros Mnimos e Mximos das
Almas em Alumnio de Seco Circular
Almas macias Almas multifilares compactadas
Seco (classe 1) (classe 2)
nominal Dimetro Dimetro Dimetro Dimetro
mm
2
mnimo mximo mnimo mximo
mm mm mm mm
16 4,1 4,6 4,6 5,2
25 5,2 5,7 5,6 6,5
35 6,1 6,7 6,6 7,5
50 7,2 7,8 7,7 8,6
70 8,7 9,4 9,3 10,2
95 10,3 11,0 11,0 12,0
120 11,6 12,4 12,5 13,5
150 12,9 13,8 13,9 15,0
185 14,5 15,4 15,5 16,8
240 16,7 17,6 17,8 19,2
300 18,8 19,8 20,0 21,6
400 - - 22,9 24,6
500 - - 25,7 27,6
630 - - 29,3 32,5
Alma condutoras de cabos
Seco para instalaes fixas Almas flexveis
nominal (classes 5 e 6)
mm
2
Macias Cableados mm
(classe 1) (classe 2)
mm mm
0,5 0,9 1,1 1,1
0,75 1,0 1,2 1,3
1 1,2 1,4 1,5
1,5 1,5 1,7 1,8
2,5 1,9 2,2 2,6
4 2,4 2,7 3,2
6 2,9 3,3 3,9
10 3,7 4,2 5,1
16 4,6 5,3 6,3
25 5,7 6,6 7,8
35 6,7 7,9 9,2
50 7,8 9,1 11,0
70 9,4 11,0 13,1
95 11,0 12,9 15,1
120 12,4 14,5 17,0
150 13,8 16,2 19,0
185 - 18,0 21,0
240 - 20,6 24,0
300 - 23,1 27,0
400 - 26,1 31,0
500 - 29,2 35,0
630 - 33,2 39,0
800 - 37,6 -
1000 - 42,2 -
Dimenses Aproximadas das Almas Condutoras
Apresentam-se a seguir os quadros 14 a 16 contendo as dimenses aproximadas de di-
versos tipos de almas condutoras por ns fabricadas, ou comercializadas; no entanto
em certas aplicaes particulares, valores diferentes podero ser considerados.
Estas indicaes destinam-se a permitir o dimensionamento das caixas, unies e
terminais, das canalizaes elctricas.
ESPECIFICAES GERAIS DOS CONDUTORES E CABOS ELCTRICOS
19
GUIA TCNICO
Quadro 14 - Almas Condutoras em Alumnio
de seco sectorial
Quadro 15 - Almas Condutoras em Alumnio
multisectoriais macias
CAPTULO I
20
GUIA TCNICO
Quadro 16 - Almas Condutoras de seco circular
1.2.3 - Camada Isolante
No nosso fabrico actual de condutores e cabos de energia, usamos exclusivamen-
te isolantes sintticos, tambm chamados, isolantes secos, que podero ser mate-
riais termoplsticos, elastmeros ou polmeros reticulveis.
Alguns isolantes tm as suas qualidades j sobejamente demonstradas nos cabos
de uso corrente, enquanto que os outros so especialmente concebidos para
aplicaes particulares.
As pginas seguintes descrevem as caractersticas principais dos vrios isolantes
e destinam-se a guiar a escolha, no meio de um leque variado de ofertas, do
material que melhor possa responder s exigncias da instalao.
Generalidades Sobre os Isolantes Sintticos
Os cabos de isolamento seco suplantaram, em muito, os cabos com isolamento a
papel impregnado a leo, sob presso ou no, at tenses alternadas de 400 kV.
Os isolantes sintticos permitem, por um lado, atenuar os inconvenientes levanta-
dos pelo papel impregnado, principalmente do ponto de vista das condies de
instalao e explorao. Por outro lado, apresentam caractersticas, por vezes,
muito superiores e correspondendo a uma grande variedade, devido aos diferen-
tes materiais usados.
Os diferentes isolantes sintticos que utilizamos podero ser, muito resumidamen-
te, divididos em duas famlias:
- os materiais termoplsticos, nos quais a temperatura provoca, de uma maneira
reversvel, uma variao na plasticidade. o caso do policloreto de vinilo
(PVC) e do polietileno (PE);
- os elastmeros e polmeros reticulveis apresentam um grande domnio de
elasticidade, isto , um comportamento elstico importante, associado a uma
grande aptido para a deformao. Necessitam, depois de extrudidos, de uma
operao de vulcanizao ou de reticulao com o fim de lhes estabelecer, de
forma irreversvel, ligaes transversais entre as cadeias moleculares, em cer-
tas condies de temperatura e com agentes qumicos apropriados. o caso
do polietileno reticulado (PEX), dos copolmeros de etilenopropileno, da bor-
racha de silicone, e ainda de outros compostos usados em diferentes tipos de
cabos. Alm disso, em certas aplicaes particulares, so usados materiais
especiais, tais como, produtos fluorados, poliuretano (TPR), etc. Os materiais
sintticos utilizados so frequentemente designados por misturas (compos-
tos), j que as resinas raramente so usadas no estado puro, excepto no caso
do polietileno, e sendo quase sempre misturadas com matrias que permitem
uma maior facilidade na aplicao das mesmas ou conferindo-lhes caracters-
ESPECIFICAES GERAIS DOS CONDUTORES E CABOS ELCTRICOS
21
GUIA TCNICO
ticas particulares. Toda a espessura da camada isolante aplicada por extruso
numa s operao. ento necessrio, ter a certeza que nenhuma anomalia
afecte as dimenses do isolamento e que nenhum defeito, alterao ou impu-
reza, incompatvel com uma durao de vida prolongada para o cabo, exista na
massa do isolante. Isto s possvel com um grande cuidado na
fabricao dos produtos usados, nas condies de aplicao, e nos controlos
sistemticos efectuados nos diversos estados de fabricao e antes da respec-
tiva expedio.
Quanto mais elevada for a tenso de funcionamento do cabo, mais importantes
sero as exigncias relativas qualidade dielctrica da camada isolante. Para os
cabos AT e MAT, esta qualidade est directamente ligada natureza do material iso-
lante e sua aplicao, principalmente no que diz respeito aos seguintes pontos:
- eliminao das impurezas, fazendo uma filtragem do isolante aquando da sua
fabricao;
- ausncia de vacolos e bolhas gasosas, particularmente nas superfcies de
separao entre a camada isolante e os crans condutores situados de ambos os
lados. Para eliminar o risco de um defeito, extrudem-se simultaneamente estas
trs camadas, assegurando-se um arrefecimento do cabo perfeitamente contro-
lado;
- contedo mnimo de gua, a fim de evitar o desenvolvimento do fenmeno de
arborescncia de gua (water treeing) que caracterstico da degradao, ao
longo do tempo, das propriedades dielctricas dos isolantes sintticos, desde
que sejam submetidos simultaneamente presena da humidade e de um cam-
po elctrico. Ainda que a natureza exacta e as leis que regem este fenmeno
sejam controversas, parece estabelecido que est em grande parte ligada
quantidade de gua existente no isolante, por isso, importante limit-la e
mant-la no nvel mais baixo possvel.
O Polietileno (PE)
O polietileno que utilizado no isolamento dos cabos AT do tipo alta presso,
tendo uma baixa densidade (PEBD).
Um estudo aprofundado e comparativo entre os vrios isolantes disponveis,
confirmado por uma experincia com mais de 20 anos, mostrou-nos que este
material apresenta as caractersticas mais apropriadas para o fabrico de cabos AT.
O polietileno associa as suas propriedades intrnsecas vantagem essencial de ser
fabricado e colocado ao servio em condies que se prestam obteno do nvel
de qualidade exigido para o funcionamento, sob um gradiente elctrico elevado. Na
ausncia de impurezas e de vacolos na sua composio, e com baixo teor em
gua, o PEBD oferece como qualidades especficas:
CAPTULO I
22
GUIA TCNICO
- obtido por polimerizao a alta presso, sem catalizador, do etileno gasoso
com um elevado grau de pureza;
- empregue puro, sem misturas com outros materiais;
- pode ser levado a temperaturas elevadas, a fim de ser filtrado, durante a extru-
so em condies ptimas de viscosidade;
- utilizado nos cabos em condies perfeitamente controlveis e reprodutveis
garantindo a ausncia de vacolos e um teor de gua desprezvel, limitado a
algumas partes por milho (ppm).
Mais nenhum isolante beneficia de um tal conjunto de circunstncias favorveis.
Segundo os casos, as limitaes inerentes quer temperatura do material, quer ao
processo de aplicao no permitem atingir o nvel obtido com o PEBD.
Alm das vantagens atrs enunciadas, o PEBD oferece um conjunto de caracters-
ticas de valor elevado:
- as suas qualidades dielctricas so excepcionais: a tangente do ngulo de perdas
e a permitividade dielctrica relativa so muito baixas e independentes da tem-
peratura. Aresistncia de isolamento e a rigidez dielctrica so muito elevadas;
- as suas caractersticas mecnicas so igualmente favorveis: o seu peso mole-
cular elevado confere-lhe uma boa resistncia aos choques, fissurao e s
baixas temperaturas (at - 40 C). Por outro lado, a sua densidade de 0,92 con-
fere-lhe uma certa flexibilidade, o que permite a colocao dos cabos com rai-
os de curvatura normais;
- do ponto de vista fsico-qumico, o polietileno apresenta uma resistncia elevada
grande maioria dos agentes qumicos usuais e aos agentes atmosfricos. Pelo
contrrio, apresenta uma fraca resistncia propagao da chama, o que poder
ser atenuado com uma escolha apropriada dos outros constituintes do cabo.
Apresenta ainda a vantagem de no libertar gases corrosivos durante a combusto.
A extrema pureza do polietileno, as suas propriedades dielctricas notveis e
o equilbrio das restantes caractersticas fazem dele o isolante a escolher para o
fabrico dos cabos de alta e muito alta tenso.
O Polietileno Reticulado (PEX)
A reticulao permite criar uma nova ligao entre as longas cadeias de molcu-
las de polietileno aps a extruso e obter assim uma estrutura tridimensional.
Conforme os casos, os processos a utilizar so:
- reticulao base de perxidos, que consiste em criar ligaes directas sobre
o efeito da decomposio de um perxido ao longo de um tratamento trmico
ESPECIFICAES GERAIS DOS CONDUTORES E CABOS ELCTRICOS
23
GUIA TCNICO
efectuado sob presso, quer atravs de vapor de gua, quer em atmosfera de
azoto (reticulao a seco);
- processo SIOPLAS, desenvolvido pela sociedade DOW CORNING, consiste
em criar pontos de reticulao (SILOXANO), na presena de um catalizador,
seguido de hidrlise.
Sem atingir o nvel das do polietileno, as caractersticas elctricas do polietileno
reticulado so boas. A tangente do ngulo de perdas e a permitividade dielctrica
relativa so baixas e a rigidez dielctrica satisfatria.
As vantagens na reticulao do polietileno consistem, essencialmente, numa
melhor estabilidade trmica e em melhores caractersticas mecnicas, permitindo
admitir para este material temperaturas mximas da alma de 90 C em regime per-
manente, de 110 a 130 C (segundo as normas) em sobrecarga e 250 C em cur-
to-circuito. No entanto, na prtica, variadas razes impedem o emprego do polie-
tileno reticulado, no mximo das suas possibilidades: comportamento dos outros
elementos constituintes do cabo; perdas de energia elevadas; risco da secagem do
solo; solicitaes termomecnicas importantes exercidas sobre o cabo e sobre os
materiais de ligao. , sobretudo, na perspectiva de regimes de
sobrecarga temporrios ou, no caso de um meio envolvente desfavorvel no
plano trmico que o polietileno reticulado apresenta maior interesse.
Relativamente a outras caractersticas, de notar que o comportamento ao
frio do polietileno no diminudo com a reticulao. O comportamento na
presena de chamas pode ser melhorado por meio de uma composio especial,
e como para o polietileno, a combusto do polietileno reticulado no liberta
gases corrosivos.
O domnio de emprego do PEX estende-se a:
- Baixa tenso;
- Mdia tenso;
- Alta tenso.
Copolmeros de Etileno - Proplico
So os materiais designados usualmente por borracha etil-proplica (EPR e
HEPR) e etilenopropileno-terpolmero (EPT) e cujas designaes normalizadas
so respectivamente EPM e EPDM.
Tratam-se de copolmeros de etileno e de propileno vulcanizveis por via qumica.
As suas propriedades so muito prximas e caracterizam-se, essencialmente, por:
- uma grande resistncia ao oxignio, ao ozono e s intempries;
CAPTULO I
24
GUIA TCNICO
- uma flexibilidade elevada, mesmo a baixas temperaturas;
- uma resistncia migrao do isolante, a quente, e ao envelhecimento trmico,
permitindo temperaturas de funcionamento idnticas s do polietileno reticulado;
- caractersticas elctricas favorveis, particularmente, perdas dielctricas e per-
mitividade dielctrica relativa, suficientemente baixas, assim como uma boa
resistncia ao efeito de coroa.
Pelo contrrio, estes materiais oferecem um comportamento medocre na presen-
a de leos. Alm disso, apresentam pouca resistncia propagao da chama, o
que poder ser combatido por meio de uma composio especial. No entanto, a
sua combusto no liberta produtos nocivos.
O seu emprego, como isolante, mostra-se particularmente interessante para os ca-
bos flexveis e rgidos de baixa e mdia tenso, nomeadamente, no caso de
especificaes realizadas, at ao presente, com uma camada isolante em borracha
butlica, cujas caractersticas so inferiores.
Borracha de Silicone
Trata-se de um elastmero cujas cadeias so formadas por ligaes simples de
silcio e oxignio, facto que explica as suas caractersticas notveis:
- bom comportamento s temperaturas externas: as suas caractersticas elctri-
cas e mecnicas mdias conservam-se dentro de uma gama de temperaturas
que se estendem desde - 80 C at + 250 C. No caso dos cabos, o domnio de
utilizao , geralmente, limitado pelos outros elementos constituintes;
- electricamente, a borracha de silicone distingue-se por uma grande resistncia
ao efeito de coroa e um bom comportamento dielctrico, em ambiente hmi-
do. Do ponto de vista mecnico, possui uma boa resistncia compresso e
uma flexibilidade importante, mesmo a muito baixas temperaturas;
- excelente resistncia aos agentes exteriores: oxignio, ozono, intempries,
gua, produtos qumicos diludos, micro-organismos. Esta qualidade, aliada
precedente, concede-lhe uma resistncia notvel ao envelhecimento.
Exposta directamente chama, a borracha de silicone arde, mas o dixido de
silcio, que se forma com a combusto, mantm o isolamento do cabo, mesmo que
esteja sujeito a vibraes. Por este facto, o cabo pode continuar a funcionar no
meio de um incndio. Alm disso, a combusto liberta pouco fumo e no
liberta gases txicos. Este comportamento torna a borracha de silicone especial-
mente apta ao isolamento dos cabos para circuitos de segurana e outros que
devem resistir ao fogo.
ESPECIFICAES GERAIS DOS CONDUTORES E CABOS ELCTRICOS
25
GUIA TCNICO
Materiais Ignfugos Sem Halognio
O polietileno e os poliolefinos, geralmente, podem ser misturados, especialmente
com cargas, a fim de obtermos isolantes cujas propriedades de comportamento ao
fogo so largamente melhoradas em relao quelas evidenciadas pelo
composto base e pelos isolantes tradicionais.
O emprego deste tipo de produto, actualmente limitado baixa tenso, permite re-
alizar cabos no propagadores do incndio e, se entre a composio das suas ba-
inhas existirem materiais ignfugos sem halognio, no libertam, em caso de in-
cndio, nenhum gaz corrosivo e poucos so os gases nocivos libertados.
Policloreto de Vinilo (PVC)
Aresina base obtida por polimerizao do cloreto de vinilo, sendo este resultan-
te quer da aco do cido clordico sobre o acetileno, quer da aco directa do clo-
ro sobre o etileno. Dura e quebradia temperatura normal, termicamente
instvel esta resina no poder ser utilizada nas devidas condies para o isola-
mento e para as bainhas dos cabos.
As propriedades necessrias so obtidas pela incorporao de plastificantes, esta-
bilizantes, cargas, etc. Por outro lado, os corantes permitem obter cores vivas
variadas. Isso permite dispor de uma gama muito variada de misturas isolantes,
base de PVC, que apresentam principalmente, as seguintes qualidades:
- boas caractersticas elctricas: rigidez e resistncia de isolamento. No entanto,
as perdas dielctricas so suficientemente importantes e podem tomar-se
crticas em mdia tenso. O mesmo acontece com a permitividade dielctrica
relativa e a capacidade linear, que so muito elevadas;
- boas caractersticas mecnicas, nomeadamente, carga de ruptura, alongamento,
resistncia ao desgaste, compresso e aos choques. O comportamento ao
frio e a resistncia ao calor so funo das misturas utilizadas. No possvel
evitar, devido prpria natureza do produto, uma flexibilidade reduzida e
uma certa fragilidade a frio. Por isso, o PVC pouco usado nos cabos para
instalaes mveis. Pelo contrrio, em instalaes fixas, as misturas corren-
tes podem ser utilizadas at -30 C a -40 C, e podero ser atingidas tempe-
raturas ainda mais baixas com a ajuda de composies especiais. Por outro la-
do, o PVC apresenta uma tendncia migrante se o cabo for submetido a uma
presso a quente;
- boa resistncia ao envelhecimento trmico. As misturas usuais so previstas
para uma temperatura mxima em regime permanente de 70 C. Existem,
igualmente, misturas que resistem a temperaturas de 85 C e mesmo 105 C;
- boa resistncia gua e maioria dos produtos qumicos, correntemente
encontrados;
CAPTULO I
26
GUIA TCNICO
- muito boa resistncia propagao da chama. Alm disso uma aco
retardadora mais importante poder ser obtida com a ajuda de composies
especiais ignfugas empregues nos cabos resistentes propagao de incndi-
os. Apesar de tudo, a combusto do PVC acompanhada pela libertao de
gases nocivos.
As misturas base de PVC so largamente utilizadas em baixa tenso.
O seu emprego est igualmente estendido mdia tenso, no domnio das tenses
de servio inferiores a 10 kV.
1.2.4 - Revestimentos Metlicos
cran Metlico
Constitui a parte metlica do cran sob a camada isolante e deve permitir o
escoamento da corrente de curto-circuito monofsico da instalao.
Os materiais que se utilizam usualmente para este fim so o cobre, nu ou
estanhado, o alumnio e o chumbo aliado a outros metais.
Os crans, em cobre ou em alumnio apresentam-se sob variadas formas, nomea-
damente:
- uma ou vrias fitas, enroladas em hlice, de maneira a que nenhum espao
livre seja visvel, exteriormente;
- uma fita em alumnio ou cobre, com uma fraca espessura, colocada ao compri-
mento e revestida numa das faces com um produto destinado a assegurar a sua
aderncia bainha exterior. Segundo o tipo desta ltima e da natureza
da fita, esta soluo , correntemente denominada por ALUNYL (fita em alu-
mnio e bainha em PVC), ALUPE (fita de alumnio e bainha em polietileno),
CUNYL (fita em cobre e bainha em PVC) ou CUPE (fita em cobre e bainha
em polietileno);
- uma fita de cobre ou alumnio, enrolada, eventualmente associada a uma fita
de ao tambm enrolada, colocada a todo o comprimento;
- uma malha, em fios de cobre ou alumnio, enrolada em hlice, eventualmente
com os fios reunidos electricamente por uma fita da mesma natureza, dispos-
ta, igualmente, em hlice; uma trana em fios de cobre de pequeno dimetro,
no caso dos cabos flexveis. Uma das camadas constituintes da trana poder
ser formada por fios txteis (trana mista).
- uma fita de cobre ou alumnio corrogado. Esta forma mais utilizada nos
cabos de Alta Tenso, favorecendo a flexibilidade.
ESPECIFICAES GERAIS DOS CONDUTORES E CABOS ELCTRICOS
27
GUIA TCNICO
Devido aos problemas ambientais que o processamento e utilizao do chumbo pro-
voca, este material, usado at pouco tempo, como cran metlico e bainha de es-
tanquidade, tem vindo a ser progressivamente abandonado e substitudo pelo
alumnio ou cobre.
A componente de estanquidade conseguida com a utilizao de banhas de
polietileno de mdia densidade.
Segundo a disposio do cran e a repartio correspondente no isolante, do
campo em regime trifsico, distinguem-se os cabos de campo radial ou no. Um
cabo diz-se de campo no radial desde que o cran envolva o conjunto dos
condutores. o caso do cabo de cintura, no qual o cran colocado sobre uma
bainha isolante (cintura), que envolve o conjunto dos condutores. Com efeito,
com esta disposio, se as almas condutoras forem alimentadas por um sistema
polifsico, o campo elctrico, num ponto qualquer do isolante, constantemente
varivel, no somente em grandeza, mas tambm, em direco. Apresenta, alm
disso, uma componente tangencial no desprezvel e a rigidez dielctrica do iso-
lante menor nessa direco. Este fenmeno tem por efeito a limitao da tenso
de utilizao deste tipo de cabo, a valores que so funo da natureza do isolante.
CAPTULO I
28
GUIA TCNICO
Banha de cintura
cran
Distribuio, num dado instante, das linhas de fora, num cabo de campo no radial.
Distribuio, em qualquer instante, das linhas de fora, num cabo de campo radial.
crans individuais
Para suprimir a componente tangencial do campo e obter consequentemente um
cabo de campo radial, envolve-se cada condutor isolado com um cran condutor.
Um cabo unipolar munido com um cran , evidentemente, de campo radial.
Armadura
Assegura a proteco mecnica do cabo, desde que este seja submetido a esforos
importantes, transversais (compresso, choques) ou longitudinais (traco), quer
durante a colocao quer ao longo da explorao.
Pode, igualmente, ser utilizada com a funo de cran metlico, mediante certas
disposies no plano elctrico.
Em regra geral, os cabos unipolares, alimentados em tenso alternada, no so ar-
mados. Com efeito, se num cabo tripolar, em regime equilibrado, as perdas mag-
nticas na armadura so reduzidas, elas so, particularmente, elevadas num cabo
unipolar e podem provocar uma limitao notvel na capacidade de
transporte de canalizao. Uma proteco mecnica exterior uma soluo
prefervel ao uso de um metal amagntico que mais dispendioso.
A armadura mais corrente constituda por duas fitas de ao macio, recozido,
eventualmente zincado, enroladas em hlice (separadas), de maneira a que
nenhum intervalo livre seja visvel. Este tipo de armadura satisfaz em todas as si-
tuaes em que no existam esforos longitudinais, nem condies particulares
de flexibilidade ou corroso.
No caso de esforos de traco, durante a colocao ou em explorao (por
exemplo, colocao em poos ou em terreno instvel, cabos submarinos), ou no
caso de solicitaes mecnicas anormais (esmagamento, choques, cortes...),
imperioso prever uma armadura formada por uma ou duas camadas de fios de
ao. Estes, geralmente redondos e zincados, so enrolados em hlice. Quer as
suas dimenses quer as suas caractersticas so escolhidas em funo do cabo e
da aplicao. Em certos casos, os elementos unitrios da armadura podem ser
parcialmente agrupados. So igualmente utilizados fios de cobre incorporados
na armadura para melhorar a sua condutncia (armadura mista).
Na disposio mais simples, os fios esto colocados encostados uns aos outros
e revestidos por uma bainha de enchimento colectiva. Este tipo de armadura con-
fere uma excelente proteco. No entanto, em ambiente hmido ou corrosivo, se
a bainha for acidentalmente deteriorada, mesmo muito parcialmente, a corroso
pode atingir todos os fios, por capilaridade. Isto pode trazer consequncias
graves desde que se trate, por exemplo, de fios de ao suportando um cabo
suspenso. Existem armaduras que permitem contornar este inconveniente. Para is-
so, os fios so envoltos individualmente com um material sinttico (PVC ou po-
lietileno) e, seguidamente, cobertos com uma bainha colectiva, no mesmo
material, soldada s camadas individuais. Alm disso, esta soluo confere aos fi-
os um melhor isolamento elctrico, nomeadamente, desde que a armadura seja le-
vada a um potencial anormal, durante um defeito na rede.
ESPECIFICAES GERAIS DOS CONDUTORES E CABOS ELCTRICOS
29
GUIA TCNICO
Devido sua rigidez, as armaduras descritas anteriormente no podem ser
utilizadas desde que se exija ao cabo uma certa flexibilidade. Devemos, neste
caso, utilizar uma armadura formada, quer por uma camada de fios cruzados
(trana) quer por uma camada de fios, com um dimetro maior, enrolado em
hlice (guipage). Estes tipos de armadura so frequentemente empregues, por
exemplo nos cabos utilizados em minas ou nos cabos destinados a navios.
1.2.5 - Banhas Interiores e Exteriores
Um papel muito importante das bainhas interiores o de assegurar a estanquida-
de do cabo, isto , opor-se a todo e qualquer contacto entre a gua, ou agentes qu-
micos exteriores ao cabo, e a camada isolante. Uma estanquidade satisfatria
obtida com uma banha de material sinttico que pode, alm disso, desempenhar
o papel de bainha de enchimento.
O emprego de banhas sintticas generalizou-se na proteco exterior dos cabos.
As qualidades preponderantes que elas devem ter podem variar em funo da apli-
cao pretendida, da natureza do material adequado, bem como a respectiva com-
posio e devero ser escolhidas de acordo com os seguintes items:
- resistncia mecnica, na colocao ou em explorao (desgaste, descasque,
choques, ...);
- resistncia aos agentes atmosfricos;
- resistncia aos agentes qumicos;
- estanquidade;
- flexibilidade;
- resistncia ao calor, ao frio, propagao da chama;
- fraca opacidade dos fumos, em caso de combusto.
Os materiais mais utilizados so:
- policloreto de vinilo;
- polietileno;
CAPTULO I
30
GUIA TCNICO
Armadura com
fios de ao no
revestidos
Armadura com
fios de ao
revestidos
- materiais ignfugos sem halognio;
- borracha nitrilo-acr1ica vulcanizada;
- polietileno clorosulfuroso, (Hypalon);
- policloropreno;
- polietileno cloretado;
- poliuretano.
Policloreto Vinilo (PVC)
A sua natureza e principais caractersticas foram j referidas na pgina 26.
Algumas das suas qualidades tornam-no particularmente apto ao emprego em
bainhas exteriores, devido sua boa resistncia:
- aos agentes atmosfricos;
- ao envelhecimento;
- aos produtos qumicos e, em particular, aos leos e sais minerais;
- corroso.
Por outro lado, as misturas de PVC podem ser coradas com cores vivas e varia-
das. No propagam a chama, mas a sua combusto liberta gases nocivos. As suas
caractersticas mecnicas, sobretudo a alta e a baixa temperatura, so funo da
sua composio. possvel, contudo, com adequada composio da mistura, fa-
bricar bainhas em PVC, apresentando caractersticas particulares, por exemplo:
- comportamento reforado contra os hidrocarbonetos;
- resistncia a micro-organismos (PVC tropicalizado);
- comportamento na presena de uma chama que permita ao cabo satisfazer os
ensaios de no propagao da mesma.
O emprego de bainhas exteriores em PVC est largamente generalizado para
cabos de baixa, mdia e alta tenso.
Polietileno (PE)
A sua natureza e principais propriedades foram apresentadas na pgina 22.
A combinao das suas caractersticas elctricas e mecnicas tornam muito
interessante o emprego do polietileno em banhas de cor negra, nomeadamente
para os cabos de alta tenso:
- resistncia s intempries;
- resistncia ao dilaceramento e desgaste; mdulo de Young elevado para
alongamentos fracos;
ESPECIFICAES GERAIS DOS CONDUTORES E CABOS ELCTRICOS
31
GUIA TCNICO
- impermeabilidade superior dos outros materiais sintticos;
- propriedades elctricas que asseguram um muito bom isolamento do cran em
relao terra;
- bom comportamento a baixas temperaturas;
- baixo coeficiente de atrito, o que constitui uma vantagem preciosa, em condi-
es de difcil instalao, por exemplo, para cabos colocados no interior de tu-
bos. No entanto, o polietileno no se ope propagao da chama, mas
perante um incndio, tem a vantagem de no libertar gases corrosivos.
Materiais Ignfugos Sem Halognios
Trata-se de misturas base de poliolefinos que no contm nenhum halognio
(flor, bromo, cloro) ou derivado do azoto. Podem apresentar-se sob a forma
termoplstica ou vulcanizada. A sua principal qualidade reside no facto de que,
em caso de incndio libertam poucos fumos e nenhum gaz corrosivo. Alm
disso, os gases libertados apresentam uma toxidade muito reduzida.
As caractersticas mecnicas atingem, actualmente, valores que no so inferiores
aos outros materiais usados para bainhas.
As caractersticas destes produtos fazem com que sejam particularmente aptos
para utilizao em banhas de cabos destinados a locais fechados (tneis), os qua-
is geralmente, pertencem categoria dos cabos no propagadores do incndio.
Borracha Nitrilo-Acrlica Vulcanizada
Trata-se de um copolmetro de butadieno e de nitrilo-acrlico. Pode ser melhora-
da por uma mistura com PVC, sendo o conjunto vulcanizado.
No dever ser confundida com certos produtos no vulcanizados, chamados
PVC acrlicos.
Esta mistura um material escolhido para a bainha de proteco, particularmen-
te para cabos flexveis, devido sua flexibilidade. O aspecto exterior liso das
bainhas de borracha nitrilo-acrlica facilita, alm disso, o enrolar e desenrolar do
cabo. Este material apresenta ainda uma boa resistncia:
- ao dilaceramento, ao esmagamento, aos choques, ao desgaste;
- ao envelhecimento e s intempries;
- aos produtos qumicos e, particularmente, aos leos e sais minerais;
- propagao da chama;
- ao calor e s baixas temperaturas.
CAPTULO I
32
GUIA TCNICO
As suas caractersticas fazem com que este produto seja largamente utilizado nas
bainhas de cabos flexveis: cabos de aparelhos de soldadura, cabos para gruas, ca-
bos para alimentao de receptores mveis, etc.
Polietileno Clorosulfuroso (HYPALON)
Apresena, neste produto, de grupos clorosulfurosos na cadeia de polietileno per-
mite a sua vulcanizao.
Possui propriedades de envelhecimento, de resistncia ao ozono e s intempries
comparveis s da borracha nitrilo-acrlica. Contudo, a gama de temperaturas de
utilizao mais vasta, nomeadamente, nas altas temperaturas. Por outro lado, as
suas caractersticas isolantes podem em certos casos, permitir o seu uso como
camada isolante e bainha de proteco.
Utiliza-se, principalmente, nas bainhas dos cabos flexveis que devero funcionar
em ambientes cuja temperatura elevada e onde a bainha deve possuir qualidades
mecnicas: cabos flexveis enrolados em tambores para alimentao de receptores
mveis, cabos flexveis para minas, na siderurgia, cabos anti-gasleo, etc.
Policloropreno (Neopreno)
um polmero de clorobutadieno. As suas boas caractersticas mecnicas fazem
com que seja utilizado juntamente com o HYPALON, nas bainhas dos cabos fle-
xveis para tambores ou engenhos mveis, assim como para os cabos flexveis,
usados em minas e na siderugia.
Polietileno Cloretado
O Polietileno Cloretado possui caractersticas mecnicas, propriedades de enve-
lhecimento e de resistncia ao ozono, comparveis s dos produtos utilizados nas
bainhas dos cabos flexveis.
Alm disso, o seu bom comportamento a baixas temperaturas permite a sua
utilizao nas bainhas dos cabos flexveis utilizados nas instalaes mveis
que funcionam nessas temperaturas ambientes. O limite de utilizao no frio in-
ferior em 15 a 20 C ao admitido para o Policloropreno.
Poliuretano
um material no vulcanizado mas possui caractersticas mecnicas elevadas e
uma boa resistncia abraso. Tem tambm um bom comportamento a baixas
temperaturas.
ESPECIFICAES GERAIS DOS CONDUTORES E CABOS ELCTRICOS
33
GUIA TCNICO
O facto deste material no necessitar de operao de vulcanizao, permite utili-
z-lo como bainha de proteco dos cabos flexveis em cuja constituio esto
elementos frgeis, como por exemplo as fibras pticas.
1.2.6 - Bloqueio Longitudinal Penetrao da Humidade
Sempre que houver necessidade de proteger os cabos penetrao da humidade
no seu interior necessrio aplicar materiais higroscpicos nos componentes do
cabo mais susceptveis, a saber:
a) Alma condutora multifilar
Este componente levar em cada camada um conjunto de fios higroscpicos e/ou
ser aplicado p com esta caracterstica.
b) cran metlico
Este componente levar fitas e/ou fios higroscpicos sob e/ou sobre o mesmo.
CAPTULO I
34
GUIA TCNICO
1.3 - Caractersticas Particulares dos Condutores e
Cabos Elctricos
1.3.1 - Caractersticas dos Principais Materiais Utilizados nas Cama-
das Isolantes e nas Banhas
1 - Temperaturas Limite de Emprego dos Principais Materiais Utilizados nas
Camadas Isolantes e nas Banhas
Importante: Os valores que figuram nos quadros seguintes constituem indicaes
de ordem geral, permitindo uma primeira comparao das possibilidades de funcio-
namento, nas temperaturas extremas dos vrios materiais correntemente utilizados.
No correspondem necessariamente gama de temperaturas admissveis para ca-
da mistura, devido s numerosas formulaes possveis para um mesmo material,
assim como para mltiplas condies de explorao encontradas.
Para certos materiais, poder ser necessrio, sob pedido, a formulao de mistura
que favoream possibilidades de utilizao fora dos limites indicados, particular-
mente a baixas temperaturas. Estes melhoramentos podem, no entanto, em certos
casos fazer-se acompanhar por limitaes relativas s caractersticas da mistura.
Por outro lado, preciso ter em ateno que a especificao, no seu conjunto,
que determina o comportamento de um dado cabo em funo da temperatura. As-
sim a presena de uma armadura em fitas de ao pode limitar o comportamento a
baixa temperaturas.
Os nossos servios tcnicos colocam-se vossa disposio para os aconselhar e
estudar a especificao que melhor se adapte a cada utilizao particular.
ESPECIFICAES GERAIS DOS CONDUTORES E CABOS ELCTRICOS
35
GUIA TCNICO
CAPTULO I
36
GUIA TCNICO
Q
u
a
d
r
o
1
7
-
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
s
L
i
m
i
t
e
d
e
E
m
p
r
e
g
o
d
o
s
P
r
i
n
c
i
p
a
i
s
M
a
t
e
r
i
a
i
s
U
t
i
l
i
z
a
d
o
s
n
a
s
C
a
m
a
d
a
s
I
s
o
l
a
n
t
e
s
e
n
a
s
B
a
n
h
a
s
(
1
)
A
s
p
r
e
c
a
u
e
s
e
s
p
e
c
i
a
i
s
a
a
d
o
p
t
a
r
c
o
n
s
i
s
t
e
m
e
m
:
-
a
q
u
e
c
e
r
o
c
a
b
o
,
a
n
t
e
s
d
e
d
e
s
e
n
r
o
l
a
r
,
d
u
r
a
n
t
e
1
2
a
1
4
h
o
r
a
s
e
m
l
o
c
a
l
c
o
m
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
s
e
n
t
r
e
+
1
0
a
+
2
0
C
;
-
a
s
s
e
g
u
r
a
r
u
m
e
s
f
o
r
o
d
e
t
r
a
c
o
r
e
g
u
l
a
r
e
m
o
d
e
r
a
d
o
d
u
r
a
n
t
e
o
d
e
s
e
n
r
o
l
a
m
e
n
t
o
;
-
t
r
a
b
a
l
h
a
r
c
o
m
r
a
i
o
s
d
e
c
u
r
v
a
t
u
r
a
s
u
p
e
r
i
o
r
e
s
e
m
2
5
a
5
0
%
a
o
s
v
a
l
o
r
e
s
i
n
d
i
c
a
d
o
s
n
o
s
q
u
a
d
r
o
s
d
a
s
p
g
i
n
a
s
4
2
e
4
3
.
(
2
)
O
s
c
a
b
o
s
M
T
e
A
T
n
u
n
c
a
d
e
v
e
m
s
e
r
d
e
s
e
n
r
o
l
a
d
o
s
c
o
m
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
s
i
n
f
e
r
i
o
r
e
s
a
-
5
C
.
D
e
s
d
e
q
u
e
a
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
e
s
t
e
j
a
c
o
m
p
r
e
e
n
d
i
d
a
e
n
t
r
e
+
5
C
e
-
5
C
,
n
e
c
e
s
s
r
i
o
e
f
e
c
t
u
a
r
u
m
a
q
u
e
c
i
m
e
n
t
o
p
r
v
i
o
d
a
s
b
o
b
i
n
a
s
q
u
e
c
o
n
t
m
o
s
c
a
b
o
s
,
a
n
t
e
s
d
e
d
e
s
e
n
r
o
l
a
r
e
d
u
r
a
n
t
e
p
e
l
o
m
e
n
o
s
2
4
h
o
r
a
s
,
e
m
l
o
c
a
l
m
a
n
t
i
d
o
a
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
s
v
i
z
i
n
h
a
s
d
e
+
2
0
C
.
(
3
)
V
a
l
o
r
r
e
d
u
z
i
d
o
p
a
r
a
1
6
0
C
n
o
c
a
s
o
d
e
e
x
i
s
t
n
c
i
a
d
e
s
o
l
d
a
d
u
r
a
s
a
e
s
t
a
n
h
o
n
o
s
e
i
o
d
a
s
c
a
i
x
a
s
d
e
l
i
g
a
o
.
ESPECIFICAES GERAIS DOS CONDUTORES E CABOS ELCTRICOS
37
GUIA TCNICO
Q
u
a
d
r
o
1
7
-
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
s
L
i
m
i
t
e
d
e
E
m
p
r
e
g
o
d
o
s
P
r
i
n
c
i
p
a
i
s
M
a
t
e
r
i
a
i
s
U
t
i
l
i
z
a
d
o
s
n
a
s
C
a
m
a
d
a
s
I
s
o
l
a
n
t
e
s
e
n
a
s
B
a
n
h
a
s
(
C
o
n
t
i
n
u
a
o
)
(
1
)
p
o
s
s
v
e
l
a
c
e
i
t
a
r
u
m
a
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
d
e
-
4
0
C
m
e
d
i
a
n
t
e
c
e
r
t
a
s
p
r
e
c
a
u
e
s
:
a
u
s
n
c
i
a
d
e
c
h
o
q
u
e
s
,
a
u
m
e
n
t
o
d
o
s
r
a
i
o
s
d
e
c
u
r
v
a
t
u
r
a
,
d
e
s
e
n
r
o
l
a
m
e
n
t
o
e
f
e
c
t
u
a
-
d
o
c
o
m
m
o
v
i
m
e
n
t
o
s
l
e
n
t
o
s
e
r
e
g
u
l
a
r
e
s
,
e
t
c
.
(
2
)
V
a
l
o
r
r
e
d
u
z
i
d
o
p
a
r
a
1
6
0
C
n
o
c
a
s
o
d
e
e
x
i
s
t
n
c
i
a
d
e
s
o
l
d
a
d
u
r
a
s
a
e
s
t
a
n
h
o
n
o
s
e
i
o
d
a
s
c
a
i
x
a
s
l
i
g
a
o
.
CAPTULO I
38
GUIA TCNICO
N
a
t
u
r
e
z
a
d
o
m
a
t
e
r
i
a
l
P
a
p
e
l
P
o
l
i
c
l
o
r
e
t
o
P
o
l
i
e
t
i
l
e
n
o
I
g
n
f
u
g
o
s
P
o
l
i
e
t
i
l
e
n
o
C
o
p
o
l
m
e
r
o
s
d
e
B
o
r
r
a
c
h
a
i
m
p
r
e
g
n
a
d
o
d
e
v
i
n
i
l
o
P
E
s
e
m
r
e
t
i
c
u
l
a
d
o
e
t
i
l
e
n
o
p
r
o
p
l
i
c
o
d
e
s
i
l
i
c
o
n
e
P
V
C
h
a
l
o
g
n
i
o
P
E
X
E
P
M
,
E
P
D
M
,
E
P
R
e
H
E
P
R
D
o
m
n
i
o
d
a
a
p
l
i
c
a
o
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
M
T
B
T
M
T
M
T
A
T
B
T
B
T
M
T
e
A
T
B
T
,
M
T
e
A
T
B
T
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
m
x
i
m
a
a
d
m
i
s
s
v
e
l
n
a
a
l
m
a
c
o
n
d
u
t
o
r
a
,
C
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7
0
7
0
7
0
7
0
7
0
7
0
7
0
9
0
9
0
9
0
9
0
D
e
n
s
i
d
a
d
e
a
2
0
C
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
2
,
2
-
1
,
5
1
,
3
-
1
,
5
0
,
9
2
0
,
9
2
-
1
,
2
0
1
,
1
0
-
1
,
3
5
1
,
1
0
-
1
,
3
0
R
e
s
i
s
t
i
v
i
d
a
d
e
t
r
m
i
c
a
,
K
.
m
/
w
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6
6
3
,
5
3
,
5
3
,
5
3
,
5
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
M
e
c
n
i
c
a
s
(
1
)
(
2
)
(
3
)
(
4
)
(
4
)
(
5
)
(
2
)
(
4
)
(
6
)
(
2
)
(
3
)
(
4
)
(
7
)
(
2
)
r
g
i
d
o
f
l
e
x
v
e
l
C
a
r
g
a
d
e
r
u
p
t
u
r
a
m
n
i
m
a
M
P
a
(
1
M
P
a
=
1
0
d
a
N
/
c
m
2
)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
2
,
5
1
0
,
0
1
2
,
5
1
2
,
5
1
0
,
0
1
2
,
5
5
,
0
1
2
,
5
1
2
,
5
1
2
,
5
4
,
2
5
,
0
A
l
o
n
g
a
m
e
n
t
o
m
n
i
m
o
r
u
p
t
u
r
a
,
%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
2
5
1
5
0
1
2
5
1
2
5
3
0
0
4
5
0
1
2
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
1
5
0
E
n
v
e
l
h
e
c
i
m
e
n
t
o
a
c
e
l
e
r
a
d
o
e
m
e
s
t
u
f
a
d
e
a
r
q
u
e
n
t
e
,
1
2
0
h
/
1
6
8
h
/
2
4
0
h
/
1
6
8
h
/
1
6
8
h
/
1
6
8
h
/
1
6
8
h
/
2
4
0
h
/
1
6
8
h
/
2
4
0
h
/
d
u
r
a
o
/
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
6
8
h
/
8
0
C
1
0
0
C
1
0
0
C
1
0
0
C
1
0
0
C
1
0
0
C
1
3
5
C
1
3
5
C
1
3
5
C
1
3
5
C
2
0
0
C
C
r
4
M
P
a
V
a
r
i
a
o
m
x
i
m
a
d
a
s
c
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
0
%
2
0
%
2
5
%
3
0
%
2
5
%
2
5
%
2
5
%
2
5
%
2
5
%
3
0
%
A
1
2
0
%
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
D
i
e
l
c
t
r
i
c
a
s
a
2
0
`
C
,
5
0
H
z
P
e
r
m
i
t
i
v
i
d
a
d
e
r
e
l
a
t
i
v
a
,
(
r
)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
,
6
4
-
8
2
,
3
5
-
8
2
,
3
-
2
,
8
2
,
4
-
3
,
2
3
-
3
,
5
T
a
n
g
e
n
t
e
d
o
n
g
u
l
o
d
e
p
e
r
d
a
s
m
x
i
m
a
s
e
m
m
d
i
a
t
e
n
s
o
(
t
g
o
)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
0
.
1
0
-
4
1
0
0
0
-
1
0
-
4
1
0
.
1
0
-
4
1
0
0
0
.
1
0
-
4
1
0
.
1
0
-
4
-
4
0
.
1
0
-
4
2
0
0
.
1
0
-
4
C
o
n
s
t
a
n
t
e
d
e
i
s
o
l
a
m
e
n
t
o
(
K
i
)
M
O
.
K
m
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5
0
0
0
5
0
-
5
0
0
0
5
0
0
0
0
5
0
-
3
0
0
0
5
0
0
0
a
5
0
0
0
0
5
0
0
0
5
0
0
0
Q
u
a
d
r
o
1
8
-
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
F
s
i
c
a
s
A
p
r
o
x
i
m
a
d
a
s
d
o
s
P
r
i
n
c
i
p
a
i
s
M
a
t
e
r
i
a
i
s
U
t
i
l
i
z
a
d
o
s
n
a
s
C
a
m
a
d
a
s
I
s
o
l
a
n
t
e
s
I
m
p
o
r
t
a
n
t
e
:
A
l
g
u
n
s
d
o
s
v
a
l
o
r
e
s
q
u
e
f
i
g
u
r
a
m
n
e
s
t
e
q
u
a
d
r
o
,
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
m
e
n
t
e
n
o
q
u
e
d
i
z
r
e
s
p
e
i
t
o
s
c
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
m
e
c
n
i
c
a
s
,
s
o
d
a
d
o
s
a
t
t
u
l
o
i
n
f
o
r
m
a
t
i
v
o
.
S
e
g
u
n
d
o
a
c
o
m
p
o
s
i
o
e
s
c
o
l
h
i
d
a
,
n
o
m
e
a
d
a
m
e
n
t
e
,
c
o
m
a
f
i
n
a
l
i
d
a
d
e
d
e
r
e
s
p
o
n
d
e
r
a
c
e
r
t
o
s
d
o
c
u
m
e
n
t
o
s
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
e
s
d
e
n
o
r
m
a
l
i
z
a
o
,
u
m
m
e
s
m
o
m
a
t
e
r
i
a
l
p
o
d
e
a
p
r
e
s
e
n
t
a
r
,
c
o
m
e
f
e
i
t
o
,
c
a
r
a
c
t
e
-
r
s
t
i
c
a
s
s
e
n
s
i
v
e
l
m
e
n
t
e
d
i
f
e
r
e
n
t
e
s
.
(
1
)
C
o
n
d
u
t
o
r
e
s
e
c
a
b
o
s
,
i
s
o
l
a
d
o
s
a
P
V
C
,
d
e
t
e
n
s
o
n
o
m
i
n
a
l
s
4
5
0
/
7
5
0
V
.
(
2
)
C
a
b
o
s
i
s
o
l
a
d
o
s
c
o
m
d
i
e
l
c
t
r
i
c
o
s
m
a
c
i
o
s
e
e
x
t
r
u
d
i
d
o
s
,
d
e
t
e
n
s
o
n
o
m
i
n
a
l
s
0
,
6
/
1
k
V
.
(
3
)
C
a
b
o
s
i
s
o
l
a
d
o
s
c
o
m
d
i
e
l
c
t
r
i
c
o
s
m
a
c
i
o
s
e
e
x
t
r
u
d
i
d
o
s
,
p
a
r
a
t
e
n
s
e
s
e
s
t
i
p
u
l
a
d
a
s
d
e
1
,
8
/
3
(
3
,
6
)
k
V
a
1
8
/
3
0
(
3
6
)
k
V
.
(
4
)
C
a
b
o
s
p
a
r
a
t
r
a
n
s
m
i
s
s
o
d
e
e
n
e
r
g
i
a
,
i
s
o
l
a
d
o
s
c
o
m
d
i
e
l
c
t
r
i
c
o
s
m
a
c
i
o
s
e
e
x
t
r
u
d
i
d
o
s
,
p
a
r
a
t
e
n
s
e
s
d
e
1
a
t
3
0
k
V
,
(
C
E
I
5
0
2
)
.
(
5
)
C
a
b
o
s
m
o
n
o
p
o
l
a
r
e
s
,
c
o
m
i
s
o
l
a
m
e
n
t
o
e
m
P
E
X
,
e
x
t
r
u
d
i
d
o
,
d
e
t
e
n
s
o
d
e
s
e
r
v
i
o
2
2
5
k
V
.
(
6
)
C
a
b
o
s
p
a
r
a
r
e
d
e
s
d
e
d
i
s
t
r
i
b
u
i
o
,
i
s
o
l
a
d
o
s
a
P
E
X
,
p
a
r
a
t
e
n
s
e
s
1
2
/
2
0
k
V
.
(
7
)
C
o
n
d
u
t
o
r
e
s
e
c
a
b
o
s
,
i
s
o
l
a
d
o
s
c
o
m
b
o
r
r
a
c
h
a
,
d
e
t
e
n
s
o
n
o
m
i
n
a
l
s
4
5
0
/
7
5
0
V
.
ESPECIFICAES GERAIS DOS CONDUTORES E CABOS ELCTRICOS
39
GUIA TCNICO
P
o
l
i
c
l
o
r
e
t
o
d
e
v
i
n
i
l
o
I
g
n
f
u
g
o
s
s
e
m
P
o
l
i
e
t
i
l
e
n
o
P
o
l
i
c
l
o
r
o
p
r
e
n
o
,
P
o
l
i
e
t
i
l
e
n
o
N
a
t
u
r
e
z
a
d
o
m
a
t
e
r
i
a
l
P
V
C
h
a
l
o
g
n
i
o
(
P
E
)
B
o
r
r
a
c
h
a
n
i
t
r
i
l
o
-
a
c
r
l
i
c
a
c
l
o
r
o
s
u
l
f
u
r
o
s
o
v
u
l
c
a
n
i
z
a
d
a
(
h
y
p
a
l
o
n
)
(
1
)
(
1
)
(
2
)
(
3
)
(
4
)
(
3
)
(
2
)
(
3
)
(
2
)
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
m
x
i
m
a
a
d
m
i
s
s
v
e
l
n
a
a
l
m
a
c
o
n
d
u
t
o
r
a
,
C
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
0
8
0
8
0
9
0
7
0
9
0
8
0
9
0
9
0
9
0
r
g
i
d
o
f
l
e
x
v
e
l
C
a
r
g
a
d
e
r
u
p
t
u
r
a
m
n
i
m
a
M
P
a
(
M
P
a
=
1
0
d
a
N
/
c
m
2
)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
2
,
5
1
0
,
0
1
0
,
0
1
2
,
5
1
5
,
0
7
9
1
0
,
0
1
2
,
5
1
0
,
0
1
2
,
5
A
l
o
n
g
a
m
e
n
t
o
m
n
i
m
o
r
u
p
t
u
r
a
,
%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
2
5
1
5
0
1
5
0
1
5
0
1
5
0
1
2
5
1
2
0
3
0
0
3
0
0
3
0
0
3
0
0
E
n
v
e
l
h
e
c
i
m
e
n
t
o
a
c
e
l
e
r
a
d
o
e
m
e
s
t
u
f
a
1
2
0
h
/
1
6
8
h
/
2
4
0
h
/
1
6
8
h
/
2
4
0
h
/
2
4
0
h
/
1
0
0
C
2
4
0
h
/
1
0
0
C
1
6
8
h
/
2
4
0
h
/
1
2
0
C
d
e
a
r
q
u
e
n
t
e
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
6
8
h
/
8
0
C
1
0
0
C
1
0
0
C
1
0
0
C
1
0
0
C
1
0
0
C
1
0
0
C
V
a
r
i
a
o
m
x
i
m
a
d
a
c
a
r
g
a
d
e
r
u
p
t
u
r
a
.
.
.
.
.
.
.
2
0
%
2
5
%
2
5
%
2
5
%
3
0
%
3
0
%
3
0
%
3
0
%
3
0
%
V
a
r
i
a
o
m
x
i
m
a
d
o
a
l
o
n
g
a
m
e
n
t
o
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
0
%
2
5
%
2
5
%
2
5
%
3
0
%
3
0
%
A
3
0
0
%
3
0
%
4
0
%
4
0
%
Q
u
a
d
r
o
1
9
-
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
M
e
c
n
i
c
a
s
d
o
s
P
r
i
n
c
i
p
a
i
s
M
a
t
e
r
i
a
i
s
U
t
i
l
i
z
a
d
o
s
n
a
s
B
a
i
n
h
a
s
I
m
p
o
r
t
a
n
t
e
:
O
s
v
a
l
o
r
e
s
i
n
d
i
c
a
d
o
s
n
e
s
t
e
q
u
a
d
r
o
s
o
d
a
d
o
s
a
t
t
u
l
o
i
n
f
o
r
m
a
t
i
v
o
.
S
e
g
u
n
d
o
a
c
o
m
p
o
s
i
o
e
s
c
o
l
h
i
d
a
,
n
o
m
e
a
d
a
m
e
n
t
e
,
c
o
m
a
f
i
n
a
l
i
d
a
d
e
d
e
r
e
s
p
o
n
d
e
r
a
c
e
r
t
o
s
d
o
c
u
m
e
n
t
o
s
p
a
r
t
i
c
u
-
l
a
r
e
s
d
e
n
o
r
m
a
l
i
z
a
o
u
m
m
e
s
m
o
m
a
t
e
r
i
a
l
p
o
d
e
a
p
r
e
s
e
n
t
a
r
,
c
o
m
e
f
e
i
t
o
,
c
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
s
e
n
s
i
v
e
l
m
e
n
t
e
d
i
f
e
r
e
n
t
e
s
.
(
1
)
C
o
n
d
u
t
o
r
e
s
e
c
a
b
o
s
,
i
s
o
l
a
d
o
s
a
P
V
C
,
d
e
t
e
n
s
o
n
o
m
i
n
a
l
s
4
5
0
/
7
5
0
V
,
(
N
P
-
2
3
5
6
)
.
(
2
)
C
a
b
o
s
,
i
s
o
l
a
d
o
s
c
o
m
d
i
e
l
c
t
r
i
c
o
s
m
a
c
i
o
s
e
e
x
t
r
u
d
i
d
o
s
,
d
e
t
e
n
s
o
n
o
m
i
n
a
l
s
0
,
6
/
1
k
V
.
(
3
)
C
a
b
o
s
p
a
r
a
t
r
a
n
s
m
i
s
s
o
d
e
e
n
e
r
g
i
a
,
i
s
o
l
a
d
o
s
c
o
m
d
i
e
l
c
t
r
i
c
o
s
m
a
c
i
o
s
e
e
x
t
r
u
d
i
d
o
s
,
p
a
r
a
t
e
n
s
e
s
d
e
1
a
t
3
0
k
V
,
(
C
E
I
5
0
2
)
.
(
4
)
C
a
b
o
s
r
g
i
d
o
s
,
p
a
r
a
a
p
l
i
c
a
o
e
m
m
i
n
a
s
,
d
e
t
e
n
s
o
1
0
0
0
V
e
5
5
0
0
V
.
CAPTULO I
40
GUIA TCNICO
Q
u
a
d
r
o
2
0
-
E
s
c
o
l
h
a
d
e
B
a
n
h
a
E
x
t
e
r
i
o
r
e
m
C
a
s
o
d
e
C
o
n
t
a
c
t
o
c
o
m
P
r
o
d
u
t
o
s
Q
u
m
i
c
o
s
I
m
p
o
r
t
a
n
t
e
:
D
e
v
i
d
o
s
v
r
i
a
s
c
o
m
p
o
s
i
e
s
p
o
s
s
v
e
i
s
p
a
r
a
u
m
m
e
s
m
o
m
a
t
e
r
i
a
l
,
e
s
t
e
q
u
a
d
r
o
f
o
r
n
e
c
e
i
n
d
i
c
a
e
s
d
e
o
r
d
e
m
g
e
r
a
l
,
d
e
s
t
i
n
a
d
a
s
a
p
e
r
m
i
t
i
r
u
m
a
c
o
m
p
a
r
a
o
d
o
s
c
o
m
p
o
r
t
a
-
m
e
n
t
o
s
p
r
p
r
i
o
s
d
e
c
a
d
a
t
i
p
o
d
e
r
e
v
e
s
t
i
m
e
n
t
o
.
E
m
c
a
d
a
c
a
s
o
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
o
r
e
v
e
s
t
i
m
e
n
t
o
a
a
d
o
p
t
a
r
d
e
f
i
n
i
d
o
e
m
f
u
n
o
d
a
s
c
o
n
d
i
e
s
e
x
a
c
t
a
s
e
n
c
o
n
t
r
a
d
a
s
(
n
a
t
u
r
e
z
a
e
c
o
n
-
c
e
n
t
r
a
o
d
o
s
p
r
o
d
u
t
o
s
,
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
d
u
r
a
o
,
f
r
e
q
u
n
c
i
a
)
,
a
s
s
i
m
c
o
m
o
d
a
s
c
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
e
v
e
n
t
u
a
l
m
e
n
t
e
n
e
c
e
s
s
r
i
a
s
n
o
u
t
r
o
s
c
a
m
p
o
s
(
m
e
c
n
i
c
o
,
t
r
m
i
c
o
,
e
l
c
t
r
i
c
o
)
.
L
e
g
e
n
d
a
:
+
r
e
v
e
s
t
i
m
e
n
t
o
c
o
m
u
m
b
o
m
c
o
m
p
o
r
t
a
m
e
n
t
o
n
a
s
c
o
n
d
i
e
s
c
o
n
s
i
d
e
r
a
d
a
s
.
-
r
e
v
e
s
t
i
m
e
n
t
o
d
e
s
a
c
o
n
s
e
l
h
v
e
l
.
ESPECIFICAES GERAIS DOS CONDUTORES E CABOS ELCTRICOS
41
GUIA TCNICO
(
1
)
P
a
r
a
u
m
a
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
d
e
u
t
i
l
i
z
a
o
s
6
0
o
C
,
(
2
)
n
e
c
e
s
s
r
i
a
a
c
o
l
o
c
a
o
d
e
u
m
a
f
i
t
a
s
i
n
t
t
i
c
a
e
n
t
r
e
o
i
s
o
l
a
n
t
e
e
a
b
a
i
n
h
a
,
p
a
r
a
i
m
p
e
d
i
r
o
c
o
n
t
a
c
t
o
c
o
m
v
a
p
o
r
e
s
d
e
h
i
d
r
o
c
a
r
b
o
n
e
t
o
s
c
o
m
o
i
s
o
l
a
n
t
e
,
(
3
)
E
v
i
t
a
r
c
u
r
v
a
t
u
r
a
s
f
o
r
t
e
s
,
s
e
t
a
l
f
o
r
i
m
p
o
s
s
v
e
l
,
p
r
o
t
e
g
e
r
o
s
c
a
b
o
s
,
n
a
s
z
o
n
a
s
c
o
m
c
u
r
v
a
s
a
c
e
n
t
u
a
d
a
s
,
c
o
m
u
m
a
f
i
t
a
a
d
e
s
s
i
v
a
d
e
"
T
e
r
p
h
a
n
e
"
(
P
o
l
i
e
s
t
e
r
)
,
(
4
)
P
a
r
a
m
a
i
o
r
s
e
g
u
r
a
n
a
d
e
v
e
s
e
r
p
r
e
v
i
s
t
o
u
m
i
s
o
l
a
m
e
n
t
o
d
o
s
c
o
n
d
u
t
o
r
e
s
e
m
P
E
X
,
(
5
)
A
c
e
i
t
v
e
l
e
m
c
a
s
o
d
e
c
o
n
t
a
c
t
o
s
a
c
i
d
e
n
t
a
i
s
d
e
d
u
r
a
o
l
i
m
i
t
a
d
a
,
(
6
)
o
b
r
i
g
a
t
r
i
a
a
p
r
e
s
e
n
a
d
e
u
m
a
b
a
i
n
h
a
s
i
n
t
t
i
c
a
e
m
P
V
C
o
u
P
E
(
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
s
6
0
o
C
)
s
o
b
r
e
o
c
h
u
m
b
o
,
(
7
)
(
8
)
(
9
)
S
e
a
p
r
e
s
e
n
a
d
e
u
m
a
b
a
i
n
h
a
s
i
n
t
t
i
c
a
s
o
b
r
e
a
b
a
i
n
h
a
d
e
c
h
u
m
b
o
f
o
r
n
e
c
e
s
s
r
i
a
(
p
r
o
t
e
c
o
m
e
c
n
i
c
a
d
u
r
a
n
t
e
a
c
o
l
o
c
a
o
)
,
e
n
t
o
d
e
v
e
r
e
s
t
a
r
p
r
e
v
i
s
t
a
:
(
7
)
E
m
P
V
C
,
(
8
)
E
m
P
V
C
r
e
s
i
s
t
e
n
t
e
a
o
s
h
i
d
r
o
c
a
r
b
o
n
a
t
o
s
,
(
9
)
E
m
P
o
l
i
e
t
l
e
n
o
(
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
s
6
0
o
C
)
.
Q
u
a
d
r
o
2
0
-
E
s
c
o
l
h
a
d
e
B
a
n
h
a
E
x
t
e
r
i
o
r
e
m
C
a
s
o
d
e
C
o
n
t
a
c
t
o
c
o
m
P
r
o
d
u
t
o
s
Q
u
m
i
c
o
s
(
c
o
n
t
i
n
u
a
o
)
CAPTULO I
42
GUIA TCNICO
1.3.2 - Raios de Curvatura
Os quadros 21 a 23 indicam os raios de curvatura mnimos que podero ser aplica-
dos aos condutores e cabos em permanncia, aps a colocao, nas condies nor-
mais de temperatura ambiente. Estes valores so superiores queles considerados nos
ensaios de curvatura que figuram nos documentos de normalizao, devido mar-
gem de segurana que necessrio prever para os cabos em servio.
Durante o desenrolar do cabo, necessrio trabalhar com valores superiores calcu-
lados para cada caso. Precaver-nos-emos, assim, contra os riscos de inutilizao e
permitiremos um desenrolar satisfatrio, tendo em conta os esforos mecnicos
aos quais so submetidos os cabos. Estes elementos dependem das caractersticas
do percurso (traado, desnivelamentos, passagens em tubos,...), do comprimento
a desenrolar, do pessoal e material utilizados, da temperatura ambiente, etc.
Em particular, desde que o desenrolar seja efectuado a baixas temperaturas,
conveniente majorar os raios de curvatura indicados em cerca de 25% a 50%.
de salientar que os valores, referentes a cabos rgidos, apresentados nos dois
quadros que se seguem podero ser reduzidos at 50%, por exemplo no caso das
ligaes dos extremos do cabo a um armrio de distribuio, a um posto de trans-
formao, etc., desde que o trabalho de colocao seja executado por
pessoal especializado. Nestes casos ser necessrio proceder a um pr-
-aquecimento do cabo at 30 C, seguido da sua colocao com a ajuda de um dis-
positivo capaz de o guiar at sua posio definitiva, por exemplo com uma ca-
lha lisa apropriada s dimenses do cabo.
Os raios de curvatura que figuram nos quadros seguintes so considerados para a
geratriz do cabo, interior curvatura.
Quadro 21 - Raio de Curvatura dos Cabos Rgidos BT
(1) Dimetro aparente do feixe
(2) Cabos fora da gama normal de fabrico
(d = dimetro exterior do cabo)
Quadro 22 - Raios mnimos de Curvatura dos Cabos Rgidos MT e AT
(d = dimetro exterior do cabo)
Raio de Curvatura dos Cabos Flexveis
Em funo da diversidade dos cabos flexveis, assim como dos numerosos tipos
de instalao nos quais podem ser utilizados, os raios de curvatura mnimos indi-
cados constituem apenas regras gerais. Poder-se-o considerar valores diferentes
para certas especificaes (por exemplo: cabos compostos por condutores de sec-
es muito diferentes) ou para condies de instalao particulares (por exemplo:
cabo mvel sujeito a um servio intensivo ou a movimentos bruscos, funciona-
mento a muito baixas temperaturas).
Quadro 23 - Raios mnimos de curvatura dos cabos flexveis
ESPECIFICAES GERAIS DOS CONDUTORES E CABOS ELCTRICOS
43
GUIA TCNICO
(d = dimetro exterior do cabo)
(d = dimetro exterior do cabo)
(d` = menor dimenso dos cabos planos)
1.3.3 - Esforos de Traco Mximos Admissveis nos Cabos.
O quadro 24 indica os esforos de traco mximos admissveis nos cabos
durante e aps a sua colocao.
Quadro 24 - Esforos de Traco Mximos Admissveis nos Cabos
CAPTULO I
44
GUIA TCNICO
Esforo de traco
Tipo de cabo Modo de aplicao admissvel por mm
2
do esforo do metal condutor daN
Esforo Admissvel Durante a Colocao dos Cabos Rgidos
Cabos BT de seco Sobre o conjunto dos condutores do cabo, 1 a 10 condutores: 7
s 4 mm
2
agrupados sob o mesmo aparelho de 11 a 20 condutores: 6
traco. O esforo dever ser aplicado aos vrios > 20 condutores: 5
revestimentos e bainhas.
Cabos BT e MT isolados - cabos de alumnio: 3
a PEBD ou PEX - cabos de cobre: 5
Cabos MT e AT isolados Sobre a alma condutora, por meio de um
a papel impregnado aparelho de traco apropriado, munido de 3
um dinammetro. desaconselhvel o uso
exclusivo de mangas de traco.
Cabos AT isolados - cabos de alumnio: 6
a PEBD ou PEX - cabos de cobre: 8
Esforo Admissvel Durante o Funcionamento, em Engenhos Mveis,
para os Cabos Especialmente Concebidos para essa Aplicao
O esforo de traco deve ser aplicado de
maneira uniforme ao conjunto dos elementos
Cabos flxiveis do cabo, em particular as almas condutoras
BT e MT e os revestimentos exteriores. 2
Com este fim, as mangas e braadeiras
autoblocantes devero ser aplicados em
pontos fixos.
1.3.4 - Comportamento na Presena do Fogo dos Condutores e Cabos
Elctricos
O comportamento dos condutores e cabos elctricos, na presena do fogo, tem
uma importncia particular, nomeadamente em virtude da concentrao urbana e
de desenvolvimento industrial actuais. Esta evoluo traduz-se, com efeito, pela
realizao de grandes complexos habitacionais, hospitalares e industriais, por
vezes, com alturas significativas, nos quais um incndio pode tomar rapidamente
propores considerveis e provocar gravssimas consequncias.
Sendo difcil a preveno total contra os riscos de incndio, necessrio que, a
construo destes complexos habitacionais e industriais, assim como, a escolha
dos equipamentos a instalar sejam realizadas de modo a:
- minimizar a extenso do sinistro e dos estragos que ele provoca;
- facilitar a interveno dos meios de combate a incndios e de evacuao dos locais;
- assegurar, em certos casos, a manuteno dos servios de importncia vital.
No que diz respeito s canalizaes elctricas que, geralmente ocupam um lugar im-
portante nas construes consideradas, estes resultados sero obtidos pela escolha:
- da(s) especificao(es) dos condutores e cabos, de maneira a assegurar as caracte-
rsticas de comportamento na presena do fogo e/ou fumos libertados que em cada
caso venham a ser exigidas;
- das condies de instalao.
Classificao dos Cabos segundo o seu comportamento na presena do Fogo
Neste domnio e de acordo com as vrias caractersticas de comportamento
quando expostos ao fogo, os cabos so classificados do seguinte modo:
a) Cabos sem caractersticas especficas quanto ao seu comportamento ao fogo
Tratam-se de cabos que na sua concepo no definida qualquer caracterstica
especial quer de no propagao quer de resistncia ao fogo.
No definido qualquer tipo de ensaio neste mbito.
b) Cabos no propagadores de fogo
Neste mbito tratam-se os cabos que apresentam um comportamento retardante
chama e ao fogo, isto , de no propagao para alm de uma determinada
distncia do ponto de ataque da chama.
c) Cabos resistentes ao fogo
A qualidade de resistncia ao fogo aplica-se aos cabos que apresentam a proprie-
dade de continuarem a assegurar o seu servio, durante um tempo limitado, quan-
do sujeitos a incndio.
Comentrios
importante notar que, as noes de no propagador de fogo e de resistncia ao
fogo so independentes e que, no h hierarquia entre os ensaios correspondentes
a que os cabos so sujeitos.
por isso que, segundo a sua constituio, os cabos ditos resistentes ao fogo
podem ser igualmente no propagadores do fogo. Ou ainda, um cabo, dito no
propagador do fogo pode apresentar ou no a caracterstica de resistncia ao fogo.
Por outro lado, ao abrigo desta classificao, o cabo constitui um conjunto por
vezes indivisvel.
ESPECIFICAES GERAIS DOS CONDUTORES E CABOS ELCTRICOS
45
GUIA TCNICO
CAPTULO I
46
GUIA TCNICO
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
C
o
m
p
o
r
t
a
m
e
n
t
o
S
i
m
b
o
l
o
g
i
a
N
o
r
m
a
s
E
N
I
E
C
U
N
E
P
r
o
p
a
g
a
o
d
a
c
h
a
m
a
R
e
t
a
r
d
a
n
t
e
c
h
a
m
a
(
F
l
a
m
e
R
e
t
a
r
d
a
n
t
)
E
N
5
0
2
6
5
-
1
U
N
E
-
E
N
5
0
2
6
5
-
1
E
N
5
0
2
6
5
-
2
-
1
I
E
C
6
0
3
3
2
-
1
U
N
E
-
E
N
5
0
2
6
5
-
2
-
1
P
r
o
p
a
g
a
o
d
o
f
o
g
o
R
e
t
a
r
d
a
n
t
e
a
o
f
o
g
o
f
r
s
E
N
5
0
2
6
6
-
1
U
N
E
-
E
N
5
0
2
6
6
-
1
(
F
i
r
e
R
e
t
a
r
d
a
n
t
)
E
N
5
0
2
6
6
-
2
(
s
r
i
e
)
I
E
C
6
0
3
3
2
-
3
U
N
E
-
E
N
5
0
2
6
6
-
2
(
s
r
i
e
)
R
e
s
i
s
t
n
c
i
a
a
o
f
o
g
o
R
e
s
i
s
t
e
n
t
e
a
o
f
o
g
o
f
r
s
I
E
C
6
0
3
3
1
-
1
1
(
F
i
r
e
R
e
s
i
s
t
a
n
t
)
I
E
C
6
0
3
3
1
-
2
1
a
)
B
a
i
x
a
o
p
a
c
i
d
a
d
e
O
p
a
c
i
d
a
d
e
d
o
s
f
u
m
o
s
(
d
e
n
s
i
d
a
d
e
)
d
o
s
f
u
m
o
s
l
s
E
N
5
0
2
6
8
-
1
I
E
C
6
1
0
3
4
-
1
U
N
E
-
E
N
5
0
2
6
8
-
1
l
i
b
e
r
t
a
d
o
s
(
L
o
w
S
m
o
k
e
)
E
N
5
0
2
6
8
-
2
I
E
C
6
1
0
3
4
-
2
U
N
E
-
E
N
5
0
2
6
8
-
2
B
a
i
x
a
q
u
a
n
t
i
d
a
d
e
T
o
x
i
d
a
d
e
d
e
g
a
s
e
s
t
x
i
c
o
s
d
o
s
l
t
b
)
b
)
b
)
f
u
m
o
s
l
i
b
e
r
t
a
d
o
s
(
L
o
w
T
o
x
i
c
i
t
y
)
I
s
e
n
t
o
Z
h
E
N
5
0
2
6
7
-
1
U
N
E
-
E
N
5
0
2
6
7
-
1
d
e
h
a
l
o
g
n
e
o
s
(
z
e
r
o
h
a
l
o
g
e
n
/
E
N
5
0
2
6
7
-
2
-
2
I
E
C
6
0
7
5
4
-
2
U
N
E
-
E
N
5
0
2
6
7
-
2
-
2
h
a
l
o
g
e
n
f
r
e
e
)
G
r
a
u
d
e
a
c
i
d
e
z
C
o
r
r
o
s
i
v
i
d
a
d
e
d
o
s
g
a
s
e
s
d
e
s
p
r
e
n
d
i
d
o
s
E
N
5
0
2
6
7
-
1
U
N
E
-
E
N
5
0
2
6
7
-
1
(
A
c
i
d
e
z
d
o
s
f
u
m
o
s
n
a
c
o
m
b
u
s
t
o
l
a
E
N
5
0
2
6
7
-
2
-
1
I
E
C
6
0
7
5
4
-
1
U
N
E
-
E
N
5
0
2
6
7
-
2
-
1
l
i
b
e
r
t
a
d
o
s
)
(
p
H
e
c
o
n
d
u
c
t
i
v
i
d
a
d
e
)
(
L
o
w
A
c
i
d
)
G
r
a
u
d
e
a
c
i
d
e
z
d
o
s
g
a
s
e
s
d
e
s
p
r
e
n
d
i
d
o
s
n
a
c
o
m
b
u
s
t
o
E
N
5
0
2
6
7
-
1
I
E
C
6
0
7
5
4
-
1
U
N
E
-
E
N
5
0
2
6
7
-
1
(
m
d
i
a
p
o
n
d
e
r
a
d
a
p
H
E
N
5
0
2
6
7
-
2
-
3
U
N
E
-
E
N
5
0
2
6
7
-
2
-
3
e
c
o
n
d
u
c
t
i
v
i
d
a
d
e
)
N
o
t
a
s
:
a
)
S
B
T
(
0
,
6
/
1
k
V
)
b
)
N
o
e
x
i
s
t
e
n
o
r
m
a
l
i
z
a
o
e
u
r
o
p
e
i
a
.
E
s
t
e
m
p
r
e
p
a
r
a
o
c
)
U
m
c
a
b
o
f
r
s
n
o
r
m
a
l
m
e
n
t
e
t
a
m
b
m
f
r
t
d
)
U
m
c
a
b
o
Z
h
n
o
r
m
a
l
m
e
n
t
e
l
s
,
l
t
e
l
a
Q
u
a
d
r
o
2
5
-
C
o
m
p
o
r
t
a
m
e
n
t
o
a
o
f
o
g
o
d
e
c
a
b
o
s
e
l
c
t
r
i
c
o
s
a especificao completa que determina as qualidades de no propagao do
fogo ou de resistncia ao fogo. por esta razo que os ensaios de verificao
correspondentes so efectuados sobre amostras de cabos completos e no podem
ser considerados separadamente para os elementos constituintes.
Por outro lado, o melhoramento do comportamento ao fogo dos cabos provm
muitas vezes, da incorporao, nos seus constituintes, de aditivos que podem limi-
tar as outras caractersticas, em particular, as elctricas.
d) Caractersticas dos fumos libertados na combusto
Podemos citar algumas caractersticas a que devem satisfazer os fumos libertados
durante a sua combusto:
- Opacidade
- Corrosividade
- Toxicidade
e) Compostos base de halogneos
Aos compostos base de halogneos - cloro, flor, bromo, etc. - est associada a
eventual e perigosa capacidade dos fumos libertados na sua combusto produzirem
gases cidos, quando esto em contacto com a humidade atmosfrica ou gua.
Tornam-se assim fumos corrosivos habitualmente designados por chuvas cidas
quando se precipitam sobre a terra
Todos este tipos de comportamento e caractersticas dos cabos na presena do
fogo, esto sintetizados na tabela seguinte, onde se reproduz a simbologia
associada e as normas que suportam os ensaios de verificao das mesmas.
1.3.5 - Condies de Instalao dos Cabos
Se os ensaios invocados, anteriormente, permitem definir cabos, apresentando um
comportamento substancialmente melhor que no passado, estes ainda no oferecem
uma garantia total. No devem, em particular, justificar uma diminuio das pre-
caues necessrias a tomar, ao nvel da instalao dos cabos. Estas ltimas tm uma
influncia determinante sobre o comportamento das canalizaes elctricas, na presen-
a do fogo e devem completar as disposies tomadas, eventualmente, ao nvel dos ca-
bos para melhorar o comportamento dessas canalizaes.
Efectuam-se estudos com vista a estabelecer as regras de instalao ptimas que
permitam minimizar os estragos provocados pelos incndios. Estas dependem, em
larga medida, da natureza exacta da instalao a realizar. Daremos, a seguir, vri-
as indicaes de ordem geral, relativas a este assunto.
Convm evitar grandes concentraes de cabos colocados na vertical ou nas subidas
que no contenham patamares horizontais. Pela mesma razo, desaconselhvel que
ESPECIFICAES GERAIS DOS CONDUTORES E CABOS ELCTRICOS
47
GUIA TCNICO
a entrada dos cabos nos armrios seja sistematicamente efectuada pelo lado de cima.
O isolamento do percurso dos cabos com a utilizao e a disposio judiciosa de
paredes anti-fogo permite retardar, em grandes propores, a extenso dos sinistros.
O arejamento ou ventilao representam um problema particular pois, se, por um
lado, deve ser limitado a fim de no alimentar nem manter os focos de incndio,
por outro lado, dever ter as dimenses suficientes a fim de permitir a evacuao
dos gases e fumos perigosos para o pessoal de interveno e para certos mate-
riais. Os aparelhos de evacuao dos gases e de ventilao necessitam, conse-
quentemente, de estudos aprofundados e adaptados a cada caso.
Por outro lado, a colocao de detectores automticos de temperatura, de gases ou
de fumos, comandando os dispositivos de extino, tem um papel importante nas
instalaes particularmente expostas.
Finalmente, durante os ltimos anos, desenvolveu-se a proteco das instalaes
atravs de revestimentos, pinturas ou vernizes especiais que so em certos casos, de
uma grande eficcia, desde que sejam aplicados sobre os aglomerados de cabos.
1.3.6 - Proteco dos Cabos Contra os Roedores
Os roedores, particularmente os ratos, so susceptveis de atacar os condutores e
cabos:
- devido necessidade fisiolgica que tm em manter os dentes incisivos com
um dado comprimento;
- para suprimir os obstculos que se opem sua passagem.
O risco de degradao depende, portanto, do nmero de roedores que vivem em
grupo, no meio onde se encontra o cabo. A importncia do ataque efectuado
pelos roedores inversamente proporcional durao dos elementos constituin-
tes do cabo e, em menor escala, sua espessura. Por isso, a nica proteco
eficaz aquela que obtida pelo emprego de um revestimento metlico contnuo
e de resistncia suficiente: geralmente o ao. Este revestimento poder ser reali-
zado com uma ou mais fitas, com uma trana de elevada taxa de cobertura ou uma
franja de fios.
Podemos, igualmente, obter uma proteco com a colocao dos cabos no solo.
Caso no seja possvel estabelecer uma regra precisa, uma profundidade da vala
igual a 0,80 m , geralmente, considerada suficiente para assegurar essa protec-
o. Alm disso, aconselhvel o emprego de caleiras em cimento. Os cabos sub-
terrneos esto expostos nos pontos em que abandonam o solo, para entrar nos
postos de transformao ou nos prdios. Poder ser necessrio prevenir para estes
pontos, uma proteco complementar: colocao de tubos metlicos ou
enfitagem exterior em fitas de ao.
CAPTULO I
48
GUIA TCNICO
1.3.7 - Proteco dos Cabos Contra os Micro-Organismos e as Trmitas
No estado actual da tcnica, a proteco de um cabo contra as trmitas no pode-
r ser assegurada de maneira absoluta mas possvel execut-la em vrios nveis:
a) utilizao de um Produto Anti-Trmitas na Bainha Exterior do Cabo
Aexperincia revelou que a proteco assegurada por um material prova de tr-
mitas, baseado na composio qumica do mesmo, apresenta as seguintes
particularidades:
- as caractersticas de um produto com esta finalidade evoluem ao longo do tempo;
- a eficcia do produto depende, em larga medida, da natureza da espcie e da
importncia de cada colnia de trmitas, na presena das quais ele colocado.
Assim, de uma maneira geral, no podemos considerar sem algumas reservas, a efi-
ccia potencial das bainhas exteriores de proteco, efectuadas com uma mistura
termoplstica especial anti trmitas.
b) realizao de uma Proteco Mecnica Especfica do Cabo
Na maior parte dos modelos de cabos, tecnicamente possvel assegurar essa pro-
teco, por meio de uma fita em bronze, cobrindo totalmente o cabo e sendo for-
temente apertada sobre si mesma, para no ficar nenhum interstcio entre duas es-
piras. necessrio ter a certeza de que a fita est perfeitamente aplicada na
totalidade do comprimento do cabo, isto naturalmente, ao longo de toda a vida til
do mesmo.
Mas a eficcia deste mtodo deixa de estar assegurada, se a fita sofrer uma
deslocao, ou durante as operaes de desenrolamento e colocao ou ao longo
do funcionamento devido aos ciclos de carga do cabo.
c) aces sobre o Meio Envolvente
Podero ser obtidas:
- quer por um arranjo especial na parte de construo civil, tornando os cabos
inacessveis no local onde so enterrados, ou ento, com a colocao dos mes-
mos, em ambiente com muita luz;
- quer por um tratamento do terreno, onde so instalados os cabos, efectuado por
especialistas que podero, eventualmente, garantir a sua eficcia e, sobretudo,
durabilidade.
Nenhuma das medidas anteriores poder ser garantida como proteco absoluta,
mas razovel considerar que a sua aplicao simultnea dar uma melhor segu-
rana no funcionamento, minimizando qualquer actuao das trmitas.
ESPECIFICAES GERAIS DOS CONDUTORES E CABOS ELCTRICOS
49
GUIA TCNICO
1.3.8 - Influncias Externas Possveis nas Instalaes de BT Segundo o
Regulamento de Segurana das Instalaes de Utilizao de
Energia Elctrica
O RSIUEE estabelece uma classificao detalhada das caractersticas dos materiais
definida em funo das influncias externas susceptveis de se encontrarem numa
instalao de utilizao.
Algumas destas caractersticas esto de acordo com as especificaes internacionais
em especial as da CEI.
Para cada influncia externa so definidas vrias classes, por ordem crescente de
severidade. As vrias influncias e classes correspondentes so designadas por in-
termdio de um cdigo alfanumrico.
No quadro 26 apresentado um extracto dessa classificao, contendo as princi-
pais influncias, tomadas em conta para cada local, que intervm na escolha dos
cabos a empregar.
CAPTULO I
50
GUIA TCNICO
ESPECIFICAES GERAIS DOS CONDUTORES E CABOS ELCTRICOS
51
GUIA TCNICO
Quadro 26 - Influncias Externas nas instalaes de B.T.
Influncia Classe Caractersticas
exterior
Temperatura T0 Compreendida entre - 5
0
C a + 40
0
C
ambiente T1 Baixa: inferior - 5
0
C
T2 Alta: superior a + 40
0
C
T3 Sem limite definido, abrangendo baixas e altas temperaturas
H0 Sem proteco
H1 Proteco contra a queda de gotas de gua
Presena H2 Proteco contra a queda de gotas de gua at 15
0
da vertical
de H3 Proteco contra chuva
gua H4 Proteco contra projeces de gua
H5 Proteco contra jactos de gua
H6 Proteco contra projeces de massas de gua
H7 Proteco contra a imerso da gua
H8 Proteco total contra imerso em gua
K0 Sem proteco
K1 Proteco contra corpos de grandes
dimenses > 50 mm
Presena de K2 Proteco contra corpos de mdia
corpos dimenso > 12 mm
slidos K3 Proteco contra corpos de pequenas
dimenses > 2,5 mm
K4 Proteco contra corpos de muito pequenas
dimenses > 2 mm
K5 Proteco parcial contra poeiras
K6 Proteco total contra poeiras
MO, M1 Fraca resistncia ao choque s 0,2 J
Aces M2, M3 Mdia resistncia ao choque s 2 J
mecnicas M4, M5 Mdia resistncia ao choque s 2 J
M6, M7 Boa resistncia ao choque s 6J
M8, M9 Muita boa resistncia ao choque s 20 J
Presena C0 Sem resistncia
de C1 Resistncia corroso pela humidade
substncias C2 Resistncia corroso pelos agentes
corrosivas atmosfricos
ou C3 Materiais resistentes corroso por agentes
poluentes qumicos
Riscos Y0 No previstos para risco de incndio
de Y1 Previstos para o risco de incndio
incndios Y2 Resistentes ao fogo
Os condutores e cabos a escolher, para uma dada canalizao, tero que possuir
caractersticas tais que lhes permitam desempenhar a sua funo, perante as vri-
as influncias externas a considerar, no local para o qual a instalao projectada.
1.4 - Ensaios e Controlos
Em cada estdio do fabrico de condutores e cabos, e antes da sua entrega, nume-
rosos controlos so efectuados, quer para assegurar a qualidade dos materiais em-
pregues e a sua aplicao, quer para verificar a conformidade com os documen-
tos de normalizao aplicveis. Nesta ltima perspectiva distinguem-se:
- os ensaios de tipo efectuados em prottipos, com vista homologao dos
cabos. Tal a sua natureza que no ser necessria, em princpio, a sua repetio
em cada fornecimento. Podero ser, total ou parcialmente, renovados em interva-
los de tempo regulares,
- os ensaios de controlo efectuados na totalidade ou sobre uma percentagem da-
da, para cada fornecimento,
- os ensaios de recepo efectuados na presena de um elemento da entidade
compradora, no momento da entrega de um fornecimento.
A grande diversidade dos ensaios e controlo possveis no permite a apresentao
de uma lista detalhada. Podem, no entanto, classificar-se globalmente em trs
categorias.
1.4.1 - Verificao das Disposies Construtivas e das Caractersticas
Dimensionais
Por exemplo: nmero e dimenso dos fios que constituem a alma condutora,
espessura das camadas e bainhas, passo de cableamento, dimetro exterior,
excentricidade, etc,.
1.4.2 - Verificao das Caractersticas Mecnicas, Fsicas e Qumicas
o domnio mais vasto, em virtude da variedade das aplicaes particulares e das
caractersticas especficas correspondentes:
- do ponto de vista mecnico: carga e alongamento ruptura, aptido curvatura,
resistncia ao desgaste, aos choques, etc;
- do ponto de vista fsico e qumico: resistncia s intempries, aos produtos
qumicos, s temperaturas extremas, compatibilidade entre os constituintes,
comportamento na presena do fogo, etc.
Segundo a sua natureza estes controlos so efectuados, quer sobre os constituintes
tomados isoladamente, quer sobre uma amostra de cabo completo. Desde que a
propriedade controlada seja susceptvel de variar ao longo da vida do cabo, neces-
srio assegurar que a sua variao ser limitada a um valor no prejudicial manu-
teno do cabo, em servio. Neste propsito, procede-se a um ensaio de envelhe-
cimento artificial acelerado que consiste em majorar, ao longo de um
ensaio de durao limitada, o ou os parmetros responsveis pela evoluo do
processo, particularmente, a temperatura. No entanto, o envelhecimento real um
CAPTULO I
52
GUIA TCNICO
mecanismo muito complexo, no qual um grande nmero de factores intervm
simultaneamente e, por isso, as condies de realizao de um envelhecimento ace-
lerado so necessariamente simplificadas: influncia de um nmero restrito de fac-
tores, lei aproximada da aco do parmetro estudado em funo do tempo, etc.
1.4.3 - Verificao das Caractersticas Elctricas
- Continuidade e resistncia da alma condutora, tangente do ngulo de perdas,
resistncia de isolamento;
- Rigidez dielctrica: os ensaios correspondentes consistem em aplicar, durante
um dado tempo, uma solicitao dielctrica superior encontrada em servio
normal. Para certos cabos de baixa tenso, o controlo poder ser realizado ao
longo da fabricao dos diversos troos de cabo, com a ajuda dos aparelhos
apropriados (ensaios a seco em desfiamento). Para os cabos de mdia e alta
tenso, usual verificar, alm disso, o comportamento sob a aco de uma ten-
so contnua ou alternada e o comportamento s ondas de choque. Finalmen-
te, em certos casos, os ensaios de rigidez dielctrica da camada isolante ou da
bainha podero ser efectuados aps a instalao do cabo.
1.5 - Identificao e Utilizao dos Condutores e
Cabos Elctricos de Baixa Tenso
1.5.1 - Introduo
As regras descritas a seguir, referem-se identificao e utilizao dos conduto-
res e cabos BT a isolante seco.
A harmonizao das regras de identificao e utilizao, baseadas nos mesmos
princpios fundamentais, est actualmente em curso, a nvel europeu, no quadro
do CENELEC.
A identificao dos condutores no poder ser tomada como suficiente. sempre
necessrio verificar a polaridade dos condutores, antes de qualquer interveno.
1.5.2 - Regras Fundamentais
A- Identificao do Condutor de Proteco (ou de Terra) Terra de Exclusividade
Esta funo assegurada por um condutor com uma dupla colorao da bainha
exterior em verde-amarelo.
Devido funo de segurana que desempenha, o condutor verde-amarelo deve
ser utilizado, exclusivamente, como condutor de proteco e no deve nunca ser
afectado a outra funo (condutor de fase ou neutro). Inversamente, nenhum con-
dutor com uma cor diferente da verde-amarela, pode desempenhar a funo de
condutor de proteco.
ESPECIFICAES GERAIS DOS CONDUTORES E CABOS ELCTRICOS
53
GUIA TCNICO
Isto vlido para os cabos ou monocondutores, rgidos ou flexveis. Em caso de
circuitos com ligao directa das massas ao neutro (TN), se os condutores de proteco
e de neutro forem comuns (TN-A), o condutor dever ter a cor verde-amarela.
Se um cabo, com condutor verde-amarelo, alimenta um aparelho cuja massa no
deve ser ligada terra ou utilizado num circuito sem condutor de proteco, o con-
dutor verde-amarelo no deve ser ligado. De facto, aconselhvel utilizar um cabo
sem condutor verde-amarelo, a fim de evitar uma ligao posterior inadvertida.
B - Identificao do Condutor de Neutro
O condutor de cor azul claro utilizado para o condutor de neutro.
Para os cabos com mais de um condutor, no comportando o circuito do neutro,
o condutor azul claro pode ser utilizado como condutor de fase (excepto no caso
de condutores isolados, sem bainha exterior, ou de cabos unipolares).
C - Identificao dos Condutores de Fase
- Condutores isolados sem bainha exterior (H07V-U, R ou K). Identificao
com uma cor qualquer excepto verde - amarelo, azul claro, branco, cinzento,
amarelo ou verde;
- Cabos unipolares. A identificao, por colorao contnua da camada isolante,
no necessria. Os condutores de proteco e de neutro so identificados, nas
extremidades, por meio de anis, por exemplo. Normalmente, a bainha exterior
de cor preta;
- Cabos multipolares. As cores utilizadas para identificar os condutores de fase
so o preto e o castanho, eventualmente, o azul claro se o circuito no
comportar o condutor de neutro.
Estas identificaes so sintetizadas nos quadros 27 a 28.
Est em curso a aplicao da norma HD 308 S2:2001 que altera a identificao
dos condutores dos cabos multipolares, que se resume nos quadros 30 e 31.
CAPTULO I
54
GUIA TCNICO
ESPECIFICAES GERAIS DOS CONDUTORES E CABOS ELCTRICOS
55
GUIA TCNICO
Nmero Cores dos Condutores
de
Condutores Cabo com Condutor Cabo sem Condutor
Verde/Amarelo Verde/Amarelo
1 AC, P, V/A AC, P, C
2 AC, P
3 V/A, AC, P (*) AC, P, C
4 V/A, AC, P, C AC, P, P, C
5 V/A, AC, P, P, C AC, P, P, P, C
Nmero
de Cores dos Condutores
Condutores
1 V/A, AC Outras Cores (*)
2 AC, C
3 V/A, C, AC
4 V/A, P, AC, C
5 V/A, P, AC, C, P
(*) - As cores verde ou amarelo, assim como toda a identificao atravs de uma dupla colorao,
que no seja a combinao das cores verde/amarela, no so admitidas.
(*) - Nos cabos flexveis ou extra flexveis as cores utilizadas so V/A, AC, C.
NP-2359: Esta norma a adopo para Portugal do documento HD 308 S1 do
Cenelec, e refere-se a condutores isolados e flexveis.
Identificao dos Condutores e Cabos de Baixa Tenso
NP-917: Esta norma, ainda em vigor (mas actualmente em reviso), refere-se a
todo o tipo de condutores isolados, rgidos ou flexveis.
Quadro 27 - Identificao dos condutores
Quadro 28 - Identificao dos condutores
CAPTULO I
56
GUIA TCNICO
Quadro 29 - Afectao dos Condutores Segundo
a Constituio dos Circuitos
(1) Estas construes podem no corresponder aos cabos de fabrico corrente. Podemos ter, ento, necessidade de:
- Recorrer a cabos com 4 ou 5 condutores, nunca utilizando o condutor V/A, caso exista.
- Encomendar especialmente um cabo para o fim pretendido, se o comprimento desejado justificar.
(2) Cabo flexvel harmonizado com dois condutores: C-AC. Cabo flexvel harmonizado com trs condutores:
C-AC-V/A.
(3) Se o cabo apropriado no estiver disponvel, o condutor de proteco realizado por um condutor V/A
separado ou atravs de um anel colorido colocado nas extremidades.
(4) Se o modo de ligao permite determinar a posio do condutor neutro.
(5) Cabos rgidos de seco s l0 mm2.
Legenda:
F - Condutor de fase,
N - Condutor de neutro,
Pr - Condutor de proteco,
V/A - Verde-amarelo,
P - Preto,
AC - Azul Claro,
C - Castanho,
B - Branco,
V - Verde,
A - Amarelo,
X - Qualquer cor excepto V/A, AC, B, V, A.
ESPECIFICAES GERAIS DOS CONDUTORES E CABOS ELCTRICOS
57
GUIA TCNICO
1.5.3 - Identificao dos condutores dos cabos multipolares de acordo
com o HD 308 S2
Os condutores dos cabos multipolares devem ser identificados pelas cores indica-
das nos quadros 30 e 31 a seguir apresentados. Estes quadros indicam as cores dos
condutores de acordo com o nmero de condutores, e tambm a ordem de rotao
das cores nos cabos de quatro e cinco condutores.
A primeira tabela aplica-se a cabos com condutor verde-amarelo e a segunda
tabela a cabos sem condutor verde-amarelo.
No exigida identificao pela cor aos condutores concentricos, condutores de
cabos planos sem bainha ou de cabos isolados com materiais que no podem ser
indentificados por cor, como por exemplo em cabos isolados com minerais.
Numero de Cores dos condutores
b
condutores proteco Fases e neutro
3 Verde-amarelo Azul Castanho
4 Verde-amarelo - Castanho Preto Cinzento
4
a
Verde-amarelo Azul Castanho Preto
5 Verde-amarelo Azul Castanho Preto Cinzento
Quadro 30 - Cabos com condutor verde-amarelo
a
Unicamente em algumas aplicaes
b
Nesta tabela um condutor concntrico no isolado, como uma bainha metlica, armadura ou blin-
dagem no considerado como condutor. Um condutor concntrico identificado pela sua posi-
o e por isso no identificado por uma cor.
Numero de
Cores dos condutores
b
condutores
2 Azul Castanho
3 - Castanho Preto Cinzento
3
a
Azul Castanho Preto
4 Azul Castanho Preto Cinzento
5 Azul Castanho Preto Cinzento Preto
Quadro 31 - Cabos sem condutor verde-amarelo
a
Unicamente em algumas aplicaes
b
Nesta tabela um condutor concntrico no isolado, como uma bainha metlica, armadura ou blin-
dagem no considerado como condutor. Um condutor concntrico identificado pela sua posi-
o e por isso no identificado por uma cor.
Exemplo de designao: LXHIOLZ1 (be,frs,zh) 1x120/16 18/30 kV
Cabo de tenso estipulada 18/30kV, com proteco penetrao longitudinal de gua na blindagem, retardante
ao fogo, resistente ao fogo e isento de halogneos, constitudo por 1 condutor de alumnio de 120 mm2 de sec-
o nominal, isolado a polietileno recticulado, com blindagem individual de 16 mm2 de seco nominal, com
bloqueio radial entrada de gua no cabo em fita de alumnio com copolmero e banha exterior termoplstica
base de poliolefina.
1.6 - Sistema de Designao de Cabos Elctricos
(NP 665)
Quando o sistema de designao dos cabos de energia no est definido na
norma de referncia para a sua construo, define-se a designao de acordo
com a tabela abaixo indicada (NP 665).
CAPTULO I
58
GUIA TCNICO
Nota: considera-se que um cabo zh por natureza tambm la, ls e lt.
(1) - A no utilizao da sigla no suficiente para se classificar o cabo como retardante da chama
(2) - Um cabo frs habitualmente tambm frt, podendo-se por isso omitir a sigla frt.
(3) - No se utiliza a simbologia no caso do condutor macio.
II
C
aptulo
Dimensionamento dos
Condutores e Cabos Elctricos
DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES E CABOS ELCTRICOS
61
GUIA TCNICO
2.1 - Escolha da Tenso
As indicaes que se seguem precisam a maneira de definir a tenso, para a qual a
camada isolante dos cabos deve ser dimensionada, em funo das caractersticas
da instalao considerada.
Entre os principais termos usados para caracterizar a tenso, distinguem-se:
Os termos que se referem instalao ou rede:
tenso nominal: a tenso pela qual a instalao (ou parte da mesma) desig-
nada e qual esto referidas determinadas caractersticas de funcionamento;
- tenso de servio ou de regime: a diferena de potencial que existe, em
regime normal, entre dois condutores, quer ao nvel do utilizador quer na
origem da instalao. Considera-se, na prtica, o valor mdio desta tenso, ten-
do em conta particularmente, as variaes da tenso de alimentao.
Desde que se trate de uma rede em tenso alternada, as tenses referidas so
representadas pelos seus valores eficazes.
Numa rede trifsica distinguem-se:
- tenso simples: a tenso entre uma fase e o potencial de referncia, cran
metlico ou terra;
- tenso composta: a tenso entre duas fases.
Em regime equilibrado, a razo entre a tenso composta e a tenso simples igual
a .
3
Os termos que se referem aos condutores ou cabos que equipam a instalao:
Trata-se, essencialmente da tenso estipulada, que o valor em funo do qual
so definidas as condies dos ensaios dielctricos do condutor ou cabo e, por
conseguinte, da espessura do isolamento. Os ensaios dielctricos do condutor ou
cabo acima referidos, so principalmente:
- ensaio de tenso frequncia industrial;
- eventualmente, ensaio de comportamento onda de choque.
Tenso simples U
0
Tenso composta
U = U
o
3
2.1.1 - Instalaes de Baixa Tenso
Os condutores e cabos que equipam estas instalaes so caracterizados pela sua
tenso nominal. O termo tenso estipulada raramente empregue.
Em tenso alternada, a tenso nominal do cabo deve ser pelo menos igual ten-
so nominal da instalao. Alm disso, de notar que se considera, geralmente,
que a tenso de servio de uma instalao pode exceder em permanncia a sua
tenso nominal em 10% . Por outro lado, em tenso contnua, admite-se que a ten-
so nominal da instalao possa atingir 1,5 vezes a tenso nominal do cabo.
As tenses nominais dos cabos, mais usadas, so: 250 V ou 300 V (valor reserva-
do a certas gamas de cabos flexveis), 500 V, 750 V, 1 000 V.
Precisa-se, ainda, a este respeito que:
- os condutores e cabos de tenso nominal 1000 V podem ser usados em todas
as instalaes elctricas de baixa tenso;
- os condutores e cabos de tenso nominal 500 ou 750 V s podem ser utiliza-
dos em instalaes em que a tenso nominal , no mximo, igual a 500 ou 750
V, respectivamente;
- os cabos flexveis de tenso nominal 250 ou 300 V no podem ser utilizados,
a no ser nas partes da instalao onde a tenso nominal no ultrapasse os 250
V, seja ela alternada ou contnua.
Por outro lado, se numa instalao de neutro isolado (ver captulo IV), o condu-
tor de neutro estiver distribudo, os cabos ligados entre uma fase e o neutro
devem ser isolados para a tenso entre fases.
2.1.2. Instalaes de Mdia e Alta Tenso
A tenso estipulada, para a qual um cabo concebido, exprime-se por um
conjunto de trs valores, em kilovolt, sob a forma Uo/U (Um), com:
- Uo = tenso entre um condutor e um potencial de referncia (cran ou terra);
- U = tenso entre dois condutores de fase;
- Um = tenso mxima que pode aparecer entre fases da rede, em condies nor-
mais de explorao. Este valor, essencialmente, considerado no mbito da
compatibilidade com a aparelhagem e os transformadores.
A escolha da tenso estipulada dos cabos, que devem equipar uma instalao,
funo das consideraes seguintes.
CAPTULO II
62
GUIA TCNICO
1- Tipo de Cabo Escolhido
A expresso da tenso estipulada difere, conforme o cabo de campo radial
(seco 1.2.4) ou no. Num cabo de campo radial, Uo diferente de U, sendo a
razo entre ambos geralmente igual a .
Pelo contrrio, devido sua constituio, um cabo de cintura apresenta um nvel
de isolamento equivalente entre duas fases e entre uma fase e o cran. Da resul-
ta que Uo e U tm valores idnticos.
2 - Tenso Nominal da Instalao
O valor de U ser, em princpio, superior ou igual tenso nominal da instalao
para a qual o cabo se destina. O quadro 32 indica as tenses nominais mais usu-
ais para as redes trifsicas, em Portugal e no estrangeiro, segundo a publicao 38
da CEI. Nele figuram as tenses estipuladas, normalizadas, nas quais so empre-
gues os cabos correspondentes, desde que os outros critrios de escolha, estuda-
dos a seguir, o permitam.
Para uma instalao alimentada com uma tenso de valor intermdio, ser esco-
lhida a tenso estipulada, correspondente tenso normalizada imediatamente su-
perior.
3 - Condies de Eliminao dos Defeitos Terra
A tenso estipulada, escolhida, deve igualmente satisfazer a distribuio das ten-
ses na rede, em caso de funcionamento anormal. Em particular, a tenso qual
o isolante submetido durante um defeito, entre uma fase e a terra (defeito
monofsico ou homopolar), depende do modo de ligao terra do ponto neutro
da rede:
- Rede com neutro directamente ligado terra: o potencial do ponto neutro
permanece prximo do potencial da terra. Por outro lado, a corrente de curto-
circuito suficientemente elevada, para provocar a actuao automtica e r-
pida dos dispositivos de proteco da instalao. Adiferena de potencial apli-
cada camada isolante no , por isso, susceptvel de tomar valores
proibitivos, durante um tempo prolongado, e a tenso estipulada pode ser
escolhida em conformidade com o quadro 32.
- Rede com neutro isolado: se o isolamento em qualquer ponto da rede, fora do
local do defeito, estiver em boas condies e se o defeito atingir uma s
fase, o valor da corrente de defeito no justifica, geralmente, uma actuao
instantnea. Por outro lado, para assegurar a continuidade do equilbrio do
3
DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES E CABOS ELCTRICOS
63
GUIA TCNICO
sistema trifsico, o potencial do ponto neutro, em relao terra, torna-se
igual (numa primeira aproximao) tenso simples da rede; a tenso entre
fases ss e a terra torna-se igual tenso composta. O isolamento dos condu-
tores sos , portanto, submetido a uma tenso vezes mais forte que em
regime normal, durante um perodo que poder ter uma durao importante.
- Rede com neutro impedante: o funcionamento, em caso de um defeito
homopolar, depende do valor da impedncia da ligao terra do neutro.
Neste caso, o valor da tenso entre fases ss e a terra estar compreendido
entre a tenso simples e a tenso composta da rede.
Para os cabos de campo radial, segundo a especificao tcnica EDF HN 33-S 23
e para alta tenso, a correspondncia estabelecida no quadro 32, entre a tenso no-
minal da rede e a tenso estipulada dos cabos, supe que, na rede
considerada, a eliminao dos defeitos terra se efectua de forma automtica,
num tempo inferior a uma hora e que a durao total do tempo de funcionamento,
com uma fase terra, no ultrapassa as 12 horas por ano.
Se estas condies no so satisfeitas, escolhe-se, para a tenso especificada, um
valor superior ao figurado no quadro 32, em funo das condies particulares de
eliminao dos defeitos.
4 - Sobretenses
A escolha da tenso estipulada dos cabos deve, por fim, ter em conta as sobreten-
ses susceptveis de afectar a instalao estudada e cuja origem pode ser devida a:
- um fenmeno atmosfrico, transmitido por intermdio das linhas areas;
- um defeito de isolamento, relativamente s instalaes de tenso nominal
superior;
- manobras de aparelhagem;
- fenmenos de ressonncia.
No possvel, no entanto, estabelecer uma regra geral para a escolha. Em todos
os casos de sobretenso eventual, particularmente importante nas canalizaes de
alta tenso, a tenso estipulada apropriada determinada em funo do valor e da
forma da sobretenso, da sua durao, da sua probabilidade de ocorrncia, dos
dispositivos de proteco e do coeficiente de segurana desejado.
CAPTULO II
64
GUIA TCNICO
3
Quadro 32 - Determinao da Tenso Estipulada
dos Cabos MT e AT
(1) Segundo publicao CEI 38 (Tenses normais da CEI)
(2) Segundo publicao CEI 183 (Guia para a escolha dos cabos de alta tenso)
(*) Estes valores no figuram nas publicaes CEI de referncia. Correspondem, no entanto, a
redes normalmente encontradas em Portugal e no Estrangeiro.
2.2 - Escolha da Seco da Alma Condutora
A escolha da seco da alma condutora dos cabos e condutores isolados, para
transmisso de energia, um dos problemas essenciais que o projecto de uma
canalizao elctrica apresenta. Trata-se, com efeito, em estabelecer o melhor
compromisso possvel, entre numerosas consideraes, sendo as principais:
- de ordem tcnica: imperativos de funcionamento da canalizao, no plano
elctrico, trmico e, por vezes, mecnico;
- de ordem econmica: minimizao do custo global da canalizao, tendo em
conta o custo de instalao e os encargos de explorao;
- relativas s condies de instalao: espao disponvel, ao longo do percurso
e nas extremidades, limitaes eventuais, relativas s dimenses e peso do
cabo, comprimentos possveis para entrega, etc.;
- relativas ao tempo de execuo da canalizao: disponibilidade do cabo em
stock ou tempo de fabricao do mesmo.
DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES E CABOS ELCTRICOS
65
GUIA TCNICO
Tenso estipulada Uo/U(Um)
Tenso nominal (2)
composta da rede (1) Uo/U Um
kV kV kV
3 1,8/3 e 3/3 3,6
6 3,6/6 e 6/6 7,2
10 6/10 12
15 8,7/15 17,5
20 - 22 12/20 ou 12,2/22 24
30 - 33 18/30 ou 19/33 36
45 26/45 52
63* - 66 - 69 36/60 ou 36/63* 72,5
70* 40,5/70* 82,5
90* 52/90* 100
110 - 115 64/110 ou 66/115 123
132 - 138 76/132 ou 80/138 145
150 87/150 170
220 - 225* - 230 130/220 ou 130/225* 245
400 230/400 420
500 290/500 525
As pginas seguintes tratam da escolha da seco, do ponto de vista elctrico e
trmico. O caminho a seguir inclui as trs etapas seguintes:
1 - Determinar a Intensidade a Transmitir, em Funo das Caractersticas dos
Receptores a Alimentar (Ver 2.2.1)
2 - Determinar as Seces Mnimas que Permitam Respeitar as Condies
Seguintes
- o aquecimento da alma condutora deve ser compatvel com o permitido
pelo isolante escolhido:
em servio normal: o clculo , geralmente, baseado num servio perma-
nente ou contnuo (ver 2.2.2). Fornecemos, igualmente, algumas indicaes
relativas aos regimes de carga varivel (ver 2.2.3).
em caso de curto-circuito (ver 2.2.4).
- a queda de tenso, verificada na canalizao elctrica, deve permitir um cor-
recto funcionamento do equipamento alimentado: ver 2.2.5 .
3 - Escolher a Maior Seco das Diversas Seces assim Obtida.
Um exemplo de clculo da seco da alma, destinado a facilitar a compreenso
deste captulo, apresentado na seco 2.2.6.
Alm disso, vrias indicaes destinadas a abordar o problema da optimizao
econmica da seco, de modo a permitir a sua resoluo nos casos simples,
figuram na seco 2.2.7 deste captulo.
2.2.1 - Determinao da Intensidade a Transmitir em Regime Normal
Em corrente contnua: A (ampere)
P = Potncia absorvida pelos receptores, W (watt)
U = Tenso de servio entre os condutores positivo e negativo, vista do lado do
receptor, V (volt)
Em corrente alternada:
- monofsica A (ampere)
CAPTULO II
66
GUIA TCNICO
I =
P
U
I =
S
U
- trifsica A (ampere)
S = Potncia aparente absorvida pelos receptores, VA (voltampere).
U = Tenso de servio vista do lado do receptor, V (volt)*:
monofsica: entre os dois condutores de alimentao,
trifsica: entre dois condutores de fase (tenso composta).
I e S so expressos no seu valor eficaz.
A este propsito, ver os grficos 1 e 2.
As indicaes seguintes precisam como determinar a potncia absorvida, que
ser a potncia aparente, no caso de corrente alternada, em funo das potncias
dos receptores alimentados, cuja expresso pode apresentar-se sob vrias formas.
1 - Potncia Absorvida
Teremos em conta, na presente situao, os seguintes elementos:
- crescimento previsvel das necessidades em energia, da instalao e extenses
futuras;
- coeficientes mximos de utilizao do receptor e de simultaneidade so de
considerar, respectivamente, logo que se possa pr como hiptese que:
alguns receptores nunca sero utilizados plena carga,
todos os receptores nunca funcionam simultaneamente.
Temos ento:
Potncia absorvida total =
_ Potncia instalada x coefic. de utilizao x coefic. de simultaneidade.
Os valores destes coeficientes so calculados, em cada caso particular, em
funo das hipteses de explorao pretendidas ou por comparao com uma ins-
talao, similar j existente;
- rendimento dos receptores.
Se um receptor caracterizado pela sua potncia til, isto , a potncia que fornece
DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES E CABOS ELCTRICOS
67
GUIA TCNICO
*Se a tenso puder tomar vrios valores, por exemplo, devido regulao no secundrio dos transfor-
madores, considera-se o valor mnimo susceptvel de se atingir ao longo de um tempo prolongado.
I =
S
U 3
geralmente aps transformao de energia elctrica (por exemplo, potncia
mecnica disponvel no veio de um motor), temos:
CAPTULO II
68
GUIA TCNICO
Potncia absorvida =
potncia til
rendimento
O rendimento usualmente fornecido pelo fabricante do receptor. Em caso da
ausncia de informaes, consideram-se, em primeira aproximao, para o rendi-
mento dos motores, os valores indicados no quadro 33.
2 - Potncia Aparente (caso de corrente alternada)
Desde que um receptor comporte elementos indutivos ou capacitivos e alimen-
tado em corrente alternada, introduzido um esfasamento, entre os valores instan-
tneos da tenso e da corrente, nos terminais do receptor. Distinguem-se, ento,
as seguintes potncias:
- potncia activa ou real = potncia aparente x cos , expressa em W(watt) ou em CV(ca-
valos) ( 1 CV= 736 W). a potncia directamente explorada pelo receptor, isto , trans-
formada, por exemplo, em potncia mecnica ou trmica;
- potncia reactiva = potncia aparente x sin , expressa em VAr (voltampere re-
activo). Esta potncia no transformvel, mas necessria ao funcionamen-
to do receptor, nomeadamente, para assegurar a excitao magntica dos trans-
formadores ou dos motores.
Devido sua natureza, geralmente a potncia activa que conhecida. Obtere-
mos, ento, a potncia aparente dividindo aquela por cos , chamado factor de po-
tncia do receptor.
- para os receptores puramente resistivos ( resistncias de aquecimento, lmpa-
das de incandescncia, ...) cos = 1;
- para os outros tipos de receptores, o cos , geralmente, fornecido pelo fabricante.
Convm ter em conta o uso eventual de baterias de condensadores, destinadas a
melhorar o factor de potncia.
Os valores normalmente encontrados para cos so:
iluminao fluorescente com compensao: cos = 0,85
sem compensao: cos = 0,30 a 0,60
motores elctricos em funcionamento normal: cos = 0,75 a 0,92
em vazio : cos = 0,30 a 0,50
Na ausncia de indicaes, usual considerar : cos = 0,80.
Quadro 33 - Rendimento dos motores
DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES E CABOS ELCTRICOS
69
GUIA TCNICO
Grfico 1 - Potncia aparente transportada
em Baixa Tenso
CAPTULO II
70
GUIA TCNICO
Grfico 2 - Potncia aparente transportada
em Mdia Tenso
DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES E CABOS ELCTRICOS
71
GUIA TCNICO
2.2.2 - Seco Necessria para o Aquecimento em Regime Permanente
1 - Introduo
Aintensidade mxima admissvel ou capacidade de transporte, em regime perma-
nente, de uma canalizao, o valor da intensidade que provoca, no estado de
equilbro trmico, o aquecimento da alma dos condutores at ao valor mximo
permitido. Depende, essencialmente, das condies de instalao e do local no
qual se encontra instalada a canalizao, j que estas determinam directamente
a dissipao das perdas trmicas (ver captulo III). As temperaturas mximas,
admissveis em regime normal, para os isolantes que usamos correntemente,
esto indicadas no quadro 17.
As capacidades de transporte, dos condutores e cabos de potncia que fabricamos,
esto indicadas nos quadros de caractersticas correspondentes. Salvo indicao
em contrrio, elas so estabelecidas nas condies seguintes, que so as geralmen-
te tomadas como referncia pelos documentos de normalizao portugueses:
- canalizao nica, sem aquecimento mtuo com outras canalizaes colocadas
nas proximidades;
- canalizao alimentada em permanncia:
em corrente contnua ou monofsica: cabos com dois condutores,
em corrente trifsica: cabos com trs, quatro ou cinco condutores, ou
sistema de trs cabos unipolares juntos (terno);
- colocao da canalizao:
no solo a uma profundidade de 0,80 m, a temperatura e a resistividade tr-
mica, consideradas para o solo, so normalmente de 20 C e 1 K.m/W res-
pectivamente, ( de notar que a resistividade trmica se exprime tambm
em C.cm/W e a sua equivalncia : 1 K.m/W = 100C.cm/W),
em tabuleiros ao ar livre, ao abrigo das radiaes solares, numa tempera-
tura ambiente de 30 C.
Os quadros do captulo V indicam as intensidades admissveis nos condutores e
cabos de baixa tenso de emprego comum.
2 - Mtodo de Clculo
Na prtica, normal que as condies de instalao e do local difiram das consi-
deradas como referncia, para as intensidades admissveis indicadas nas tabelas
de caractersticas. Da o caminho a seguir o seguinte:
- definir, de maneira precisa, as condies de instalao e do local previsto, no
omitindo nenhum factor susceptvel de ter uma influncia determinante;
- calcular a intensidade fictcia se essas condies so diferentes das de referncia.
A intensidade fictcia aquela que causaria o mesmo aquecimento da alma
condutora que a intensidade a transmitir, se a canalizao estivesse instalada, nas
condies consideradas nos quadros de caractersticas.
Obtm-se, dividindo a intensidade a transmitir pelos coeficientes de correco
sucessivos, que traduzem a influncia das diferenas relativas s condies de
instalao e do local *.
As pginas seguintes precisam a influncia destes factores e indicam os coefici-
entes de correco a considerar, na grande parte dos casos encontrados.
Se as condies no divergirem das de referncia, a intensidade fictcia igual
intensidade a transmitir:
- retirar, do quadro de caractersticas do condutor ou cabo escolhido, a menor
seco que permite transportar a intensidade fictcia. Isto considerado
apenas para os condutores realmente percorridos pela corrente, em regime nor-
mal, portanto excluindo o condutor neutro, em regime trifsico equilibrado, e
o de condutor de proteco.
3 - Coeficientes de Correco
Cabos Colocados no Solo
As capacidades de transporte indicadas nos quadros de caractersticas dos cabos,
entendem-se geralmente, para um cabo multipolar ou um terno de cabos unipola-
res, dispostos em tringulo juntivo (cabos encostados), colocados, quer directa-
mente no solo, quer numa caleira de beto cheia de areia, a 0,80m de profundida-
de, com uma temperatura do solo igual a 20 C e resistividade trmica 0,85 ou 1
K.m/W (ver pgina 69), sem aquecimento mtuo com outras canalizaes de po-
tncia colocadas nas proximidades.
Portanto, os principais coeficientes de correco traduzem:
- quer uma temperatura ou uma resistividade trmica do solo diferentes das de
referncia;
- quer proximidade trmica com outras ligaes.
A - Temperatura do Solo
A temperatura do solo, profundidade de colocao deve ser estimada com uma
preciso suficiente, tendo particularmente em conta as variaes sazonais, assim
como a presena eventual no solo, de fontes de calor que no sejam as canaliza-
es elctricas (por exemplo, condutas de gua quente). Desde que isso seja
CAPTULO II
72
GUIA TCNICO
* Inversamente, a intensidade que uma dada seco pode transmitir, em condies diferentes das de re-
ferncia obtm-se multiplicando a capacidade de transporte, indicada nos quadros de caractersticas,
pelos coeficientes de correco apropriados.
possvel, desejvel que essa estimativa esteja baseada em resultados de medidas
efectuadas durante um perodo suficientemente longo.
Desde que a temperatura do solo tenha um valor diferente de 20 C haver lugar
aplicao de um coeficiente dado por:
DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES E CABOS ELCTRICOS
73
GUIA TCNICO
k =
u
p
~ u
o
u
p
~ 20
Com u
p
= temperatura mxima admissvel, em regime permanente, para o
isolante escolhido C.
u
o
= temperatura do solo, C.
O valor deste coeficiente est indicado, no quadro 34, para diferentes
valores de u
p
e u
o
.
B - Profundidade de Colocao
A determinao da influncia da profundidade de colocao, sobre a intensidade
admissvel, delicada.
Por outro lado, a resistncia trmica exterior, terica, do cabo cresce com a pro-
fundidade, o que corresponde a uma diminuio da capacidade de transporte.
Por outro lado, desde que a profundidade aumente, a temperatura do solo dimi-
nui e est menos sujeita s variaes sazonais. Alm disso, a humidade e a com-
pacticidade do solo aumentam, o que se traduz por uma diminuio na
resistividade trmica.
Podemos considerar que, a influncia da profundidade de colocao desprez-
vel, no domnio de 70 a 120 cm, que , geralmente, o usado. Para os cabos en-
terrados, perto da superfcie do solo, a influncia da temperatura torna-se
importante. Devemos muitas vezes considerar, uma temperatura do solo superi-
or a 20 C, e ento corrigir a intensidade a transportar em conformidade com o
quadro acima.
Quadro 34 - Valores para o coeficiente k
C - Resistividade Trmica do Solo
um elemento importante, na capacidade de transporte dos cabos enterrados, mas
cujo valor , por vezes, difcil de avaliar com preciso.
Com efeito, depende de numerosos factores, em particular da resistividade
prpria dos materiais que constituem o solo, e principalmente, da sua humidade.
Esta funo:
- da constituio do terreno: natureza dos materiais, granulometria, compactagem;
- do nvel do lenol fretico;
- da estao e das condies locais de precipitao;
- do tipo e da densidade de vegetao;
- das caractersticas da superfcie do solo (por exemplo, revestimento de asfalto
ou de cimento).
Ahumidade , alm disso, susceptvel de variar ao longo do tempo, em funo da
progressiva secagem do solo, devida ao calor libertado pela canalizao
elctrica, principalmente, se estiver permanentemente em carga. A migrao da
humidade tanto mais rpida e importante quanto mais fina for a granulometria
do solo (areia por exemplo).
Em funo destes diferentes factores, a resistividade trmica do solo pode variar,
tal como o provam os valores indicados a seguir:
terreno muito hmido : 0,4 a 0,5 K.m/W,
areia hmida : 0,5 a 0,7 K.m/W,
calcrio argila: terreno normal seco : 0,7 a 1,0 K.m/W,
terreno muito seco : 1,5 K.m/W,
areia seca : 2,0 a 2,5 K.m/W,
cinzas, escria : 3,0 K.m/W.
Durante o clculo de canalizaes que iro transportar potncias importantes e,
alm disso, se previsvel a proximidade com outras fontes trmicas, aconse-
lhvel efectuar uma medio, da resistividade trmica do solo, por um organismo
especializado. Esta medio pode efectuar-se, no local ou em laboratrio, com
amostras nas quais possvel fazer variar a taxa de humidade.
Em certos casos, em que a resistividade trmica do solo muito desfavorvel, po-
deremos ser levados a substituir o terreno original, por materiais de caractersti-
cas trmicas controladas e mais vantajosas. Em funo das vrias situaes,
esta medida necessria durante a cobertura da zona, na proximidade imediata
dos cabos, onde a influncia do solo preponderante.
O coeficiente de correco a aplicar no clculo da intensidade fictcia, depende,
em particular, da dimenso exterior do cabo. Podemos, entretanto, considerar,
com uma boa aproximao, os valores mdios dados pelo grfico 3.
CAPTULO II
74
GUIA TCNICO
Grfico 3 - Coeficiente de Correco para uma Resistividade
Trmica do Solo Diferente de 1 K.m/W
DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES E CABOS ELCTRICOS
75
GUIA TCNICO
D - Proximidade Trmica com outras Canalizaes de Potncia
A considerao deste fenmeno, quando existe, primordial para assegurar uma
escolha apropriada da seco. Depende:
- das caractersticas das canalizaes colocadas na proximidade da canalizao em
estudo, incluindo, eventualmente, o nmero de cabos colocados em paralelo,
tipos, seces e dimenses dos mesmos, bem como intensidades transmitidas;
- da disposio relativa das canalizaes nos locais onde mais se aproximam;
- das caractersticas trmicas do solo.
Podemos desprezar o aquecimento mtuo entre vrias canalizaes, colocadas
lado a lado, se o intervalo entre elas for pelo menos igual a um metro. prtica
corrente dispor as canalizaes que esto colocadas num mesmo percurso, em
esteira horizontal, com uma distncia de 20 cm entre os bordos mais prximos de
duas canalizaes vizinhas (cabo multipolar ou terno de cabos unipolares). Esta
distncia constitui um compromisso que permite limitar:
- a largura da vala e portanto o custo das obras de engenharia civil;
- o aquecimento mtuo;
- os riscos de deteriorao, das canalizaes vizinhas, durante a colocao ou
em caso de acidente.
Por razes econmicas, no podemos, geralmente, espaar os cabos mais de 30 a
50 cm, sobretudo quando se trata de uma esteira importante, j que obteramos
larguras das valas proibitivas. No entanto, em certos casos, necessrio um estu-
do econmico, tendo em conta o melhoramento do coeficiente de proximidade
com o afastamento dos cabos.
Indicamos, no quadro seguinte, o valor do coeficiente de correco corresponden-
te colocao, em uma s esteira*, de vrios cabos tripolares ou ternos de
cabos monopolares idnticos, dispostos em tringulo juntivo, em funo do inter-
valo livre deixado entre os bordos mais prximos de duas canalizaes vizinhas.
Considera-se um funcionamento em simultneo e plena carga, para todas as
canalizaes da esteira, o que d uma certa margem de garantia. Os coeficientes
so valores mdios que podem, todavia, ser usados com uma boa aproximao na
maior parte dos casos, geralmente, encontrados.
Desde que seja necessrio um clculo mais preciso, por exemplo, no caso de
canalizaes com especificaes diversas ou com cargas de diferentes valores ou
quando existem diferentes espaamentos entre elas, o mtodo descrito na publica-
o 60287 da CEI dever ser utilizado.
CAPTULO II
76
GUIA TCNICO
* desaconselhvel a colocao dos cabos em vrias camadas sobrepostas. Esta disposio sempre
desfavorvel do ponto de vista trmico.
Torna, alm disso, delicada toda a interveno posterior sobre os cabos.
DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES E CABOS ELCTRICOS
77
GUIA TCNICO
O
s
n
m
e
r
o
s
q
u
e
f
i
g
u
r
a
m
n
o
f
i
m
d
e
c
a
d
a
c
u
r
v
a
d
e
s
i
g
n
a
m
o
n
m
e
r
o
d
e
c
a
n
a
l
i
z
a
e
s
c
o
l
o
c
a
d
a
s
e
m
e
s
t
e
i
r
a
.
Grfico 4 - Coeficiente de Correco para a colocao
em Esteiras de Canalizaes Trifsicas
(Cabos Tripolares ou Ternos de Cabos Unipolares)
Cabos Colocados ao Ar Livre
As capacidades de transporte, indicadas nos quadros de caractersticas de cabos,
entendem-se, salvo indicao contrria, para:
- um cabo multipolar ou terno de cabos unipolares juntivos, colocados na
superfcie do solo, ou em suportes (tabuleiros, caminhos de cabos ...), ou
fixos nas paredes, ao abrigo da radiao solar e sem aquecimento mtuo com
outras canalizaes situadas nas proximidades;
- uma temperatura mxima do ar livre de 30 C.
Anoo de ar livre significa, alm disso, que as perdas trmicas so dissipadas,
por conveco natural e irradiao, sem provocar aquecimento do ar ambiente. Is-
to supe naturalmente:
- que o volume de ar e a ventilao natural so suficientes;
- que a circulao volta dos cabos no dificultada (prever, de preferncia, o
uso de tabuleiros perfurados, e deixar um intervalo de pelo menos 2 cm, em
relao s paredes);
Os principais coeficientes de correco a calcular traduzem, portanto:
- uma temperatura do ar ambiente diferente de 30 C;
- exposio radiao solar;
- proximidade trmica entre canalizaes, ou entre espiras de uma mesma cana-
lizao enrolada num tambor;
- o confinamento do ar na vizinhana dos cabos (galeria de pequenas dimenses,
caleira de beto).
A - Temperatura do Ar Ambiente
Deve ser calculada, tendo em conta quer as variaes dirias quer as sazonais, as-
sim como a presena eventual de fontes de calor no local da instalao.
O coeficiente de correco, a aplicar desde que a temperatura do ar seja diferen-
te de 30 C, dado por:
CAPTULO II
78
GUIA TCNICO
k =
u
p
~ u
o
u
p
~ 30
Com u = temperatura mxima admissvel em regime permanente para o isolante
escolhido, C
u
o
= temperatura do ar, C.
O valor deste coeficiente est indicado no quadro seguinte, para diferentes valores
de u
p
e u
o
.
B - Exposio Radiao Solar
O coeficiente de correco correspondente depende da intensidade da radiao
solar, da carga do cabo, da sua superfcie de exposio, da reflexo eventual, etc.
Pode considerar-se, em primeira aproximao, um coeficiente mdio de K = 0,85.
Desde que seja necessrio um clculo preciso, podemos aplicar o mtodo descrito na
publicao 60 287 da CEI, que permite definir a intensidade admissvel num
cabo instalado ao ar livre e sujeito directamente radiao solar.
Muitas vezes, possvel proteger os cabos da aco dos raios solares, pela inter-
posio, por exemplo, de coberturas judiciosamente inclinadas, tendo o cuidado
de que isso no provoque o confinamento do ar volta dos cabos.
C - Proximidade Trmica com outras Canalizaes de Potncia
aconselhvel, do ponto de vista trmico, prever um intervalo livre entre canali-
zaes adjacentes, a fim de permitir a circulao do ar. Alm de assegurar aos ca-
bos a possibilidade de efectuar movimentos de dilatao ou de contraco suces-
sivos, durante os ciclos de carga, favorece em larga medida a manipulao dos ca-
bos durante a colocao ou em intervenes posteriores.
Considera-se que o aquecimento mtuo desprezvel, se o intervalo livre deixa-
do entre canalizaes adjacentes superior a duas vezes o dimetro exterior de
um cabo multipolar, ou duas vezes a largura de um sistema de cabos unipolares.
DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES E CABOS ELCTRICOS
79
GUIA TCNICO
Quadro 35 - Valores para o coeficiente k
Canalizaes Colocadas Superfcie do Solo ou em Tabuleiros
Canalizaes no juntivas,
CAPTULO II
80
GUIA TCNICO
er2d K=1
er2d K=1
Canalizaes Juntivas,
Quadro 36 - Coeficiente de Correco K
Tabuleiros Sobrepostos
Considera-se que o aquecimento mtuo despre-
zvel (K = 1), se a distncia entre tabuleiros de
pelo menos 30 cm. Este valor corresponde, alm
disso ao espao que, na maior parte dos casos,
permite uma manipulao fcil dos cabos. Se a
distncia entre tabuleiros inferior a 30 cm, apli-
ca-se um coeficiente de correco K = 0,9
Canalizaes Fixas nas Paredes
No juntivas,
DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES E CABOS ELCTRICOS
81
GUIA TCNICO
Juntivas.
Quadro 37 - Coeficiente de Correco K
Canalizaes Flexveis para Alimentao de Aparelhos Mveis
Chariot porta cabos
Tambor de um enrolador
Em funo do nmero de camadas e de espiras.
Nmero de cabos colocados, juntivamente,
no chariot
Coeficiente de correco
2 3 4 5
0,94 0,88 0,87 0,86
Quadro 38 - Coeficiente de Correco K
Quadro 39 - Coeficiente de Correco K
CAPTULO II
82
GUIA TCNICO
Notas:
- Desde que o nmero de camadas, num tambor com vrias espiras, seja igual a
3, os coeficientes de correco tendem para o valor 0,45;
- Durante o funcionamento do cabo em regime cclico, conveniente consultar
a pgina 84, para estimar judiciosamente a seco desse cabo.
D - Confinamento do Ar na Vizinhana do Cabo
Desde que o volume de ar, que rodeia um cabo, seja reduzido, produz-se um aque-
cimento do ar, sob a aco das perdas trmicas dissipadas. o caso das
canalizaes colocadas no interior de galerias tcnicas de pequenas dimenses,
no ventiladas, ou as caleiras de beto que existem, frequentemente nas fbricas,
superfcie do solo, munidas de uma cobertura.
O aumento da temperatura do ar, acima do valor considerado na ausncia dos ca-
bos e, por consequncia, a reduo da intensidade admissvel, dependem, essen-
cialmente, da razo entre o volume de ar existente no canal e a soma das perdas
trmicas.
Poderemos, em primeira aproximao, aplicar intensidade o coeficiente de
correco definido a seguir, em funo do coeficiente de ocupao do canal.
- p (cm) = parte do permetro do canal que participa na dissipao do calor para
o meio envolvente. Devemos, nomeadamente, excluir as paredes vizi-
nhas de fontes de calor, ou locais aquecidos, ou expostos radiao
solar directa;
- _d (cm) = soma dos dimetros das canalizaes que se encontram no canal.
O atravancamento de uma canalizao :
- o dimetro exterior para um cabo multipolar;
- duas vezes o dimetro exterior de um cabo
para um terno de unipolares.
coeficiente de ocupao =
p
d
_
Coeficiente
de ocupao
Coeficiente de correco K,
relativamente colocao
no ar livre
5 7 10 15 20 30 50
0,60 0,66 0,72 0,80 0,85 0,90 0,92
Quadro 40 - Coeficiente de Correco K
DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES E CABOS ELCTRICOS
83
GUIA TCNICO
Desde que se mostre necessrio um clculo mais preciso, poder o mesmo ser
efectuado, por exemplo, segundo o mtodo descrito na publicao 60287 CEI na
qual:
Au =
W
3p
Au = aquecimento do ar acima do ambiente, (C),
W = potncia total dissipada no canal, por metro de comprimento, (W/m),
p = parte do permetro que participa na dissipao do calor, (m).
O coeficiente de correco , em seguida, determinado, em conformidade com o
quadro 35, em funo da temperatura do ar assim considerada.
Muitas vezes, possvel reduzir, em certa medida, o efeito desfavorvel do con-
finamento, activando a ventilao natural do canal, por meio de dispositivos apro-
priados, por exemplo: chamins de ventilao, com alturas desiguais, fecho das
caleiras de beto com grades, etc. Em alguns casos, poder ser mesmo necessrio
provocar uma ventilao forada permanentemente, desde que as perdas trmicas
no possam ser evacuadas pela dissipao natural.
Cabos Entubados
Por imperativos de colocao, , muitas vezes, interessante ou mesmo necessrio
instalar os cabos no interior de tubos. Portanto, desde que o comprimento da pas-
sagem em tubos ultrapasse poucos metros, o confinamento do ar nos tubos pode
originar uma diminuio no desprezvel da capacidade de transporte.
Alm dos coeficientes de correco, indicados mais adiante, teremos em conta as
seguintes indicaes:
Sistemas de Cabos Unipolares
No caso do emprego de tubos metlicos, magnticos, indispensvel colocar
todas as fases no interior de um mesmo tubo, a fim de evitar perdas magnticas
proibitivas. Uma tal disposio corresponde a condies trmicas desfavorveis e
pode tornar delicada a colocao, de comprimentos importantes, de cabos de
grandes dimenses.
Pelo contrrio, com tubos em material no magntico (termoplstico, fibro-ci-
mento, etc), prefervel, do ponto de vista mecnico e trmico, colocar cada fase
no interior de um tubo individual*.
* Se os tubos esto colocados no interior de um macio de beto armado, as ferragens deste no de-
vem fechar-se volta de um nico cabo, mas sobre o conjunto das fases, a fim de se evitarem per-
das magnticas suplementares.
CAPTULO II
84
GUIA TCNICO
Alm disso, o efeito desfavorvel do confinamento do ar pode ser combatido atra-
vs de um espaamento apropriado entre os tubos, permitindo uma diminuio do
aquecimento mtuo entre as fases.
Assim para as travessias de ruas, por parte de ternos de cabos monopolares MT e
AT, geralmente executadas por meio de tubos termoplsticos individuais, conside-
ra-se que no h reduo da intensidade admissvel, relativamente parte restante
da canalizao enterrada, se deixarmos uma distncia entre os eixos dos tubos de:
- 30 cm se os tubos esto dispostos em esteira;
- 35 cm se os tubos esto dispostos em tringulo.
Cabos Multipolares
A reduo da intensidade admissvel sensivelmente a mesma, quer seja um tubo
metlico ou um tubo amagntico de material termoplstico, ou fibrocimento. Com efei-
to, se a ausncia das perdas trmicas, nestes ltimos, um elemento favorvel, os tu-
bos metlicos oferecem, por sua vez, uma menor resistncia dissipao do calor, j
que a sua espessura , geralmente, inferior e a resistividade trmica dos metais baixa.
A diminuio da capacidade de transporte depende de vrios factores: seco da
alma, temperatura admissvel para o isolante, natureza e dimenses do tubo, etc.
Os coeficientes de correco indicados a seguir so valores mdios, permitindo
uma avaliao aproximada do fenmeno.
Quadro 41 - Coeficiente de Correco para uma Canalizao
Trifsica Entubada
interior do tubo
de um cabo
Natureza da canalizao
Terno de cabos unipolares
Razo entre
1 cabo por tubo
amagntico
0,80
0,73
0,68
0,75
0,70
1,5 2,5 < R < 2,8 1,5
0,95 0,85 0,80
3 cabos no
mesmo tubo
Cabo
tripolar
Tubos enterrados ou colocados no
interior de um macio de beto
Coeficiente de correco relativa-
mente colocao no solo
Tubos ao ar
Coeficiente de correco relativa-
mente colocao ao ar livre
S s 150 mm
2
150 < S s 630 mm
2
S s 630 mm
2
DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES E CABOS ELCTRICOS
85
GUIA TCNICO
Proximidade Trmica entre Canalizaes
Se for caso disso, convm aplicar, alm dos coeficientes indicados no quadro
anterior, os coeficientes de correco seguintes:
Quadro 42 - Vrias canalizaes trifsicas num mesmo tubo
proximidade trmica entre tubos, enterrados ou no interior de um
macio de beto
Os valores a seguir so considerados para um intervalo entre tubos igual ao seu raio.
Quadro 43 - Um Sistema Trifsico por Tubo
(cabo tripolar ou terno)
Quadro 44 - Um Cabo Unipolar por Tubo
(amagntico)
Nmero de canalizaes no mesmo tubo 2 3
Ternos de cabos unipolares............................................ 0,82 0,73
Cabos tripolares............................................................. 0,88 0,78
CAPTULO II
86
GUIA TCNICO
2.2.3 - Seco Necessria para o Aquecimento em Regime Varivel
1 - Introduo
A determinao da seco necessria, desde que a carga aplicada a uma canaliza-
o seja varivel no tempo, depende de numerosos factores, muitas vezes difceis
de definir, relativos, em particular, s condies de dissipao das perdas trmi-
cas em regime transitrio, no cabo e no meio envolvente. A seco no poder,
por isso, ser calculada atravs de um mtodo simples e de mbito geral. As indi-
caes dadas, a seguir, destinam-se principalmente a precisar o problema e a
permitir, em certos casos simples, um clculo aproximado da seco.
A variao da carga numa canalizao pode assumir duas formas:
- regime cclico ou descontnuo: variao da intensidade ao longo do tempo,
segundo um ciclo determinado que se repete periodicamente, o qual podemos
representar por um diagrama de cargas;
- sobrecarga: aumento da intensidade para alm do valor mximo admissvel em
regime permanente, durante um tempo limitado. No consideramos o caso dos
curto-circuitos, que so situaes acidentais de muita curta durao (s 5 s),
tratados no ponto 4 da seco 2.2.3.
Nestes dois casos, possvel escolher uma seco inferior quela que seria
necessria para transmitir, em permanncia, a intensidade de ponta do regime
cclico ou intensidade de sobrecarga, j que o aquecimento dos cabos no segue,
instantaneamente, as variaes de intensidade.
2 - Lei do Aquecimento de um Cabo
A sua determinao rigorosa difcil, devido complexidade do fenmeno da
dissipao do calor, em regime transitrio, e ao facto de que na prtica, certos
parmetros s podem ser definidos com rigor, depois do cabo colocado nas con-
dies prprias de instalao e do meio envolvente. Entre as possveis represen-
taes simplificadas, a mais simples que permite, contudo, uma estimativa muito
aproximada do fenmeno, consiste em representar o aquecimento da alma
condutora, sob o efeito de uma intensidade constante, por um ramo de hiprbole:
Temperatura da alma condutora
Tempo
DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES E CABOS ELCTRICOS
87
GUIA TCNICO
u
o
= temperatura ambiente,
u
n
= temperatura alcanada no estado de equilbrio para a intensidade considerada,
t = tempo necessrio para atingir 50% do aquecimento correspondente ao regime
permanente. Depende, essencialmente, das condies de difuso do calor no
cabo e da sua dissipao no meio envolvente.
A lei do aquecimento permite obter desta maneira a temperatura da alma u
f
devi-
da aplicao de uma intensidade dada, durante uma durao t, a partir de um
estado inicial no qual a temperatura da alma u
d
.
3 - Regime Cclico
A - Princpio de Determinao da Seco
Consiste em estabelecer a curva de variao da temperatura da alma condutora,
a partir do diagrama de cargas e das curvas de aquecimento, correspondentes s
diferentes intensidades em jogo, permitindo assim verificar que a temperatura da
alma condutora permanece compatvel com a temperatura mxima admissvel
para o isolante escolhido.
B - Mtodo Aproximado
Uma primeira aproximao da seco poder ser obtida com a ajuda daquilo que
podemos definir como intensidade quadrtica. Esta a intensidade fictcia cujo
transporte em permanncia provocaria, durante um ciclo completo, sensivelmen-
te as mesmas perdas trmicas que o regime de carga em estudo, sendo dada por:
I
q
=
XI
i
t
i
Xt
i
2
O I
i
e t
i
so respectivamente as intensidades e as duraes correspondentes aos pe-
rodos sucessivos do ciclo.
A seco calculada a partir de I
q
, como indicado no ponto 2 da secao 2.2.2.
C - Exemplo: regime cclico dirio ao ar livre: I = I
p
no solo: I
~
1,10I
p
I - intensidade admissvel plena carga
do regime cclico,
I
p
- intensidade admissvel em regime
permanente.
u(t ) - u
o
= (u
n
- u
o
)
t
t + t
CAPTULO II
88
GUIA TCNICO
4 - Sobrecarga
Princpio de clculo: com a ajuda da lei do aquecimento correspondente
intensidade de sobrecarga, determina-se, a partir da temperatura da alma antes da
aplicao da sobrecarga, a temperatura atingida no final da mesma. Esta no
poder ultrapassar o valor mximo admissvel para o isolante.
Se admitirmos, como aproximao da lei do aquecimento, o ramo de hiprbole
definido atrs, os vrios parmetros esto ligados pela seguinte relao:
t
s
t
=
(u
s
-u
o
)(u
f
-u
d
)
(u
s
-u
f
)(u
s
-u
d
)
t
S
= durao da sobrecarga admissvel, (minutos),
t = tempo que demora a atingir 50% do aquecimento permanente, (minutos),
u
d
= temperatura da alma antes da sobrecarga, (C),
u
f
= temperatura admissvel na alma no final da sobrecarga, (C),
u
s
= temperatura da alma correspondente transmisso em permanncia da
intensidade de sobrecarga, (C),
u
o
= temperatura ambiente, (C).
Distinguem-se:
A - Sobrecargas Frequentes
No se pode admitir uma temperatura da alma, no final de uma sobrecarga, supe-
rior ao valor admissvel em regime permanente. Uma sobrecarga s possvel
desde que o cabo esteja submetido, antes da sobrecarga, a uma carga inferior
admitida em permanncia. Os quadros seguintes permitem calcular a intensidade
de sobrecarga admissvel, em funo de diferentes valores da carga inicial e da
durao da sobrecarga.
Observaes: Os resultados que se apresentam a seguir so valores mdios.
O valor de t varia em funo da constituio e seco dos cabos e
das suas condies de instalao (t tem um valor geralmente
compreendido entre 10 e 100 minutos). Por outro lado, supe-se
que, o intervalo de tempo, que separa duas sobrecargas sucessi-
vas, suficiente para que o cabo regresse ao estado de equilbrio
trmico correspondente carga inicial (aproximadamente um dia).
Notaes:
I
d
= intensidade transportada em regime permanente antes da sobrecarga (A),
I
p
= intensidade mxima admissvel em regime permanente (A),
I
s
= intensidade de sobrecarga admissvel (A).
DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES E CABOS ELCTRICOS
89
GUIA TCNICO
Quadro 45 - Cabos no Solo Temperatura de 20 C
Quadro 46 - Cabos ao Ar Livre Temperatura de 30 C
B - Sobrecargas Excepcionais (algumas por ano)
Podemos, neste caso, admitir que a alma atinja uma temperatura superior admi-
tida em regime permanente, sem ser de recear, no entanto, um envelhecimento
prematuro do isolante. A majorao da temperatura permitida, que depende, es-
sencialmente, do isolante escolhido e da durao da sobrecarga prevista, dever
ser calculada em cada caso particular. O clculo da seco , ento, efectuado em
funo disso.
2.2.4 - Seco Necessria para o Aquecimento em Caso de Curto-Circuito
1 - Introduo
Em caso de curto-circuito, os cabos veiculam uma intensidade muito mais eleva-
da que a sua capacidade de transporte em regime permanente. O tempo de passa-
gem desta intensidade, correspondente ao tempo necessrio ao corte pelos
dispositivos de proteco da rede, , no entanto, muito curto, no ultrapassando,
no mximo, alguns segundos. Podemos, ento, admitir que a alma seja levada a
uma temperatura substancialmente superior quela que autorizada em regime
normal, sem prejuzo para o isolante. As temperaturas mximas admissveis so
geralmente fixadas pelos documentos de normalizao e figuram no quadro 17
para os diferentes isolantes que utilizamos.
CAPTULO II
90
GUIA TCNICO
O problema do comportamento em regime de curto-circuito levanta-se, com
maior frequncia, nas canalizaes de mdia e alta tenso, nas quais a intensi-
dade de defeito a veicular poder ser particularmente elevada. Em baixa tenso, as
condies de curto-circuito so geralmente menos severas, em virtude da reduo
da intensidade provocada pela impedncia de todos os elementos da rede, coloca-
dos a montante do local do defeito (linhas areas, cabos, transformadores, ...).
2 - Mtodo de Clculo
Devido curta durao dos curtos-circuitos, admite-se que as perdas trmicas
originadas durante o defeito, s provocam o aquecimento da alma e que a dissi-
pao progressiva das mesmas, para o resto do cabo e o meio envolvente,
s acontece posteriormente. Esta hiptese (aquecimento adiabtico) permite o
clculo da densidade de corrente admissvel da alma, em funo da durao do
curto-circuito e das temperaturas limites.
A seco a escolher o valor normalizado imediatamente superior a:
s =
I
cc
o
I
cc
= intensidade de curto-circuito a transmitir (A),
o = densidade de corrente admissvel (A/mm
2
).
O grfico seguinte indica o valor o
o
para uma durao do curto-circuito igual a
um segundo, em funo da:
- natureza do metal condutor;
- temperatura da alma antes do curto-circuito. Este valor poder ser determinado,
em funo da carga da canalizao, como se indicam nos grficos 15 e 16;
- temperatura mxima admissvel, para o isolante considerado, no final do
curto-circuito (quadro 17).
Se a durao do curto-circuito t ( segundos) diferente de um segundo, sem, no
entanto, exceder 5 segundos, o valor correspondente da densidade da corrente
pode ser obtido por:
o =
o
o
t
DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES E CABOS ELCTRICOS
91
GUIA TCNICO
Grfico 5 - Curto-Circuito na Alma Condutora
3 - Mtodo Aproximado
Uma boa aproximao da seco poder ser obtida pela expresso:
S =
I
cc
K
t
u
f
- u
d
O coeficiente K , teoricamente, funo de u
f
, u
d
e da natureza do metal condutor.
Podemos, no entanto, adoptar, em primeira aproximao:
- para o alumnio: K = 7
- para o cobre : K = 11
CAPTULO II
92
GUIA TCNICO
2.2.5 - Seco Necessria para a Queda de Tenso
1- Introduo
Atenso disponvel, em qualquer ponto da instalao de utilizao, deve permitir
um funcionamento satisfatrio do ou dos receptores alimentados. Por outras
palavras, a queda de tenso, produzida pela canalizao, isto , a diferena entre
as tenses medidas, no ponto de alimentao da canalizao e nesse ponto, no
deve ultrapassar um determinado valor .
O problema coloca-se essencialmente em baixa tenso, j que a queda de tenso
pode atingir uma percentagem no desprezvel da tenso de alimentao. Isso
acontece, desde que o comprimento da canalizao seja importante ou o regime de
funcionamento tenha perodos de intensidade elevada, mesmo que estes sejam
muito breves para poder influenciar a escolha da seco do ponto de vista trmico.
2 - Valores Admissveis para a Queda de Tenso
Aqueda de tenso, a no ultrapassar, depende em cada caso das caractersticas dos
receptores alimentados.
Na ausncia de informaes precisas a este respeito, poderemos considerar,
na maior parte dos cabos de instalaes alimentadas directamente a partir de uma
rede de distribuio pblica em baixa tenso, os valores mximos indicados no
Regulamento de Segurana de Instalaes de Utilizao de Energia Elctrica.
Estes, expressos em funo da tenso nominal da instalao, so respectivamente:
- 3% para iluminao;
- 5% para outras utilizaes.
Se a instalao alimentada por um posto de transformao particular ou por um pos-
to de transformao a partir de uma instalao de alta tenso, os limites acima podem
ser elevados, se necessrio, a 6% e 8% respectivamente. Para as redes de distribuio
em baixa tenso, as variaes de tenso em qualquer ponto da rede, no devero ser
superiores a 8% . Nas redes de distribuio em centros urbanos, recomenda-se que
as variaes de tenso em relao ao valor nominal no excedam 5 % . Para as redes
de distribuio de mdia tenso, considera-se uma queda de tenso, mxima admiss-
vel, inferior ou igual a 7%. Finalmente, possvel admitir em certos casos uma queda
de tenso superior aos limites anteriores, nomeadamente, durante o arranque dos
motores, que provoca pedidos de corrente importantes.
O quadro seguinte indica, para redes correntes em baixa tenso, a correspondn-
cia entre o valor absoluto (em volt) e o valor relativo (em % ) da queda de tenso.
Quadro 47 - Quedas de Tenso
DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES E CABOS ELCTRICOS
93
GUIA TCNICO
3 - Frmula Aproximada da Queda de Tenso
Devido ao reduzido comprimento das canalizaes de energia, realizadas com
cabos elctricos despreza-se, geralmente, a influncia da corrente capacitiva.
As diferentes tenses, em jogo podem representar-se pelo esquema seguinte:
U
d
= tenso na origem,
U
a
= tenso no ponto de utilizao,
AU
R
= queda de tenso resistiva,
AU
L
= queda de tenso indutiva,
cos = factor de potncia do receptor.
Em primeira aproximao: AU = AU
R
cos + AU
L
sin
Substituindo AU
R
e AU
L
pelo seu valor, a queda de tenso, em funo do tipo de
rede considerada, dada por:
em corrente contnua AU= 2 l R I
em corrente alternada monofsica AU = 2 l (R cos + Lc sin ) I
em corrente alternada trifsica AU = l (R cos + Lc sin ) I
Em que:
AU = queda de tenso em volt; no caso de corrente alternada trifsica, considera-se
a tenso entre fases,
l = comprimento da canalizaco, em km,
I = intensidade transmitida pela canalizao, em A,
R = resistncia aparente de um condutor, temperatura de funcionamento, em
ohm/km (ver ponto 3 da seco 3.1.1),
L = indutncia aparente de um condutor, em H/km (ver ponto 4 da seco 3.1.1),
c = 2 f em que f a frequncia (Hz),
= desfasamento introduzido, entre a corrente e a tenso, pelo receptor. No
dever ser confundido com o desfasamento introduzido pela canalizao.
3
CAPTULO II
94
GUIA TCNICO
4 - Determinao da Seco
A - Mtodo Geral
a) Determinar, em funo das caractersticas da instalao e das condies de
funcionamento desejadas, os valores de AU admissvel, I e cos, tendo em
conta as seguintes consideraes:
- AU admissvel: na maior parte dos casos, suficiente considerar apenas a
queda de tenso em regime normal. No entanto, desde que o regime de funcio-
namento comporte perodos de intensidade importante (arranque de motores,
por exemplo), convm considerar, alm disso, a queda de tenso admissvel
nestas condies;
- I: como no caso anterior, considera-se a intensidade transmitida pela canaliza-
o em regime normal e, eventualmente, em sobrecarga. Alm disso, desde
que tal se justifique, teremos em conta os coeficientes de simultaneidade e de
utilizao da instalao (ver seco 2.2.1);
- cos: o factor de potncia da instalao determinado da mesma maneira que
para o clculo da intensidade a transmitir (ver ponto 2 da seco 2.2.1).
Convm ainda referir que, durante o arranque dos motores, o cos toma em geral
um valor sensivelmente inferior ao do regime normal. Na ausncia de indicaes,
a este respeito, escolhemos um valor para cos, no arranque, volta de 0,35.
b) Supondo j escolhido o tipo de cabo, que ir constituir a canalizao, a seco a
adoptar para a queda de tenso a seco normalizada imediatamente superior
aquela para a qual (usando as mesmas notaes e unidades que anteriormente)
se verifique:
em corrente contnua: R
em corrente alternada monofsica:
em corrente alternada trifsica:
B - Mtodo Aplicvel no Caso de Circuitos Alimentados em Tenso
Alternada com Cos = 0,8
Os quadros com as caractersticas dos vrios tipos de cabos, para os quais a
queda de tenso poder ser determinante na escolha da seco, indicam o valor
da queda de tenso provocada pela passagem de 1 A num cabo de 1 km de
comprimento, sendo o cos do receptor = 0,80.
Rcos + Lcsin =
AUadmissvel
2lI
=
AUadmissvel
2lI
Rcos + Lcsin =
AUadmissvel
lI 3
DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES E CABOS ELCTRICOS
95
GUIA TCNICO
O mtodo a empregar, consiste no clculo de e, na escolha, no
quadro das caractersticas do cabo em estudo, da seco mnima que permita
respeitar o valor assim obtido.
Nota importante:
Salvo indicao contrria, as quedas de tenso unitrias indicadas nos quadros
consideram que se trata de:
- tenso monofsica no caso de cabos com 2 condutores;
- tenso trifsica para os outros casos.
Alm disso, o cabo suposto no regime de equilbrio trmico, correspondente ple-
na carga admissvel. Para um clculo preciso da queda de tenso unitria, no caso em
que a alma condutora se encontre a uma temperatura diferente, poderemos corri-
gir a resistncia com a ajuda dos coeficientes indicados no quadro 50.
C - Mtodo Aproximado
Para um clculo rpido da seco, podemos utilizar os grficos que se seguem,
que fornecem um valor aproximado da queda de tenso vlida para a maioria das
especificaes de cabos de baixa tenso:
- em funo do produto lI, da seco do condutor e do tipo alternada,
- para diferentes valores do factor de potncia da instalao:
Cos = 0,9 correspondendo sensivelmente a tg = 0,4, que a hiptese consi-
derada geralmente, para a rede de distribuio pblica,
- alma em alumnio, (grfico 6),
- alma em cobre, (grfico 7),
Cos = 0,8 valor geralmente usado na ausncia de indicaes,
- alma em alumnio, (grfico 8),
- alma em cobre, (grfico 9),
Cos = 0,35 valor mdio correspondente ao regime de arranque dos motores,
- alma em alumnio, (grfico 10),
- alma em cobre, (grfico 11).
Observaes:
Por outro lado, os diferentes mtodos indicados permitem determinar ainda, para
cada seco, qual o comprimento no qual uma dada intensidade pode ser trans-
mitida, ou qual a intensidade que pode ser transmitida num comprimento dado,
com respeito pelos valores mximos admissveis para a queda de tenso.
AUadmissvel
lI
CAPTULO II
96
GUIA TCNICO
G
r
f
i
c
o
6
-
Q
u
e
d
a
d
e
T
e
n
s
o
e
n
t
r
e
F
a
s
e
s
(
T
e
n
s
o
C
o
m
p
o
s
t
a
)
C
a
b
o
s
d
e
B
a
i
x
a
T
e
n
s
o
c
o
m
3
c
o
n
d
u
t
o
r
e
s
e
m
A
l
u
m
n
i
o
C
o
s
=
0
,
9
F
r
e
q
u
n
c
i
a
=
5
0
H
z
P
a
r
a
o
b
t
e
r
a
q
u
e
d
a
d
e
t
e
n
s
o
s
i
m
p
l
e
s
(
m
o
n
o
f
s
i
c
a
)
,
m
u
l
t
i
p
l
i
c
a
r
o
s
v
a
l
o
r
e
s
d
e
A
U
p
o
r
1
,
1
5
DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES E CABOS ELCTRICOS
97
GUIA TCNICO
G
r
f
i
c
o
7
-
Q
u
e
d
a
d
e
T
e
n
s
o
e
n
t
r
e
F
a
s
e
s
(
T
e
n
s
o
C
o
m
p
o
s
t
a
)
C
a
b
o
s
d
e
B
a
i
x
a
T
e
n
s
o
c
o
m
3
c
o
n
d
u
t
o
r
e
s
e
m
C
o
b
r
e
C
o
s
=
0
,
9
F
r
e
q
u
n
c
i
a
=
5
0
H
z
P
a
r
a
o
b
t
e
r
a
q
u
e
d
a
d
e
t
e
n
s
o
s
i
m
p
l
e
s
(
m
o
n
o
f
s
i
c
a
)
,
m
u
l
t
i
p
l
i
c
a
r
o
s
v
a
l
o
r
e
s
d
e
A
U
p
o
r
1
,
1
5
CAPTULO II
98
GUIA TCNICO
G
r
f
i
c
o
8
-
Q
u
e
d
a
d
e
T
e
n
s
o
e
n
t
r
e
F
a
s
e
s
(
T
e
n
s
o
C
o
m
p
o
s
t
a
)
C
a
b
o
s
d
e
B
a
i
x
a
T
e
n
s
o
c
o
m
3
c
o
n
d
u
t
o
r
e
s
e
m
A
l
u
m
n
i
o
C
o
s
=
0
,
8
F
r
e
q
u
n
c
i
a
=
5
0
H
z
P
a
r
a
o
b
t
e
r
a
q
u
e
d
a
d
e
t
e
n
s
o
s
i
m
p
l
e
s
(
m
o
n
o
f
s
i
c
a
)
,
m
u
l
t
i
p
l
i
c
a
r
o
s
v
a
l
o
r
e
s
d
e
A
U
p
o
r
1
,
1
5
DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES E CABOS ELCTRICOS
99
GUIA TCNICO
G
r
f
i
c
o
9
-
Q
u
e
d
a
d
e
T
e
n
s
o
e
n
t
r
e
F
a
s
e
s
(
T
e
n
s
o
C
o
m
p
o
s
t
a
)
C
a
b
o
s
d
e
B
a
i
x
a
T
e
n
s
o
c
o
m
3
c
o
n
d
u
t
o
r
e
s
e
m
C
o
b
r
e
C
o
s
=
0
,
8
F
r
e
q
u
n
c
i
a
=
5
0
H
z
P
a
r
a
o
b
t
e
r
a
q
u
e
d
a
d
e
t
e
n
s
o
s
i
m
p
l
e
s
(
m
o
n
o
f
s
i
c
a
)
,
m
u
l
t
i
p
l
i
c
a
r
o
s
v
a
l
o
r
e
s
d
e
A
U
p
o
r
1
,
1
5
CAPTULO II
100
GUIA TCNICO
G
r
f
i
c
o
1
0
-
Q
u
e
d
a
d
e
T
e
n
s
o
e
n
t
r
e
F
a
s
e
s
(
T
e
n
s
o
C
o
m
p
o
s
t
a
)
C
a
b
o
s
d
e
B
a
i
x
a
T
e
n
s
o
c
o
m
3
c
o
n
d
u
t
o
r
e
s
e
m
A
l
u
m
n
i
o
C
o
s
=
0
,
3
5
F
r
e
q
u
n
c
i
a
=
5
0
H
z
P
a
r
a
o
b
t
e
r
a
q
u
e
d
a
d
e
t
e
n
s
o
s
i
m
p
l
e
s
(
m
o
n
o
f
s
i
c
a
)
,
m
u
l
t
i
p
l
i
c
a
r
o
s
v
a
l
o
r
e
s
d
e
A
U
p
o
r
1
,
1
5
DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES E CABOS ELCTRICOS
101
GUIA TCNICO
G
r
f
i
c
o
1
1
-
Q
u
e
d
a
d
e
T
e
n
s
o
e
n
t
r
e
F
a
s
e
s
(
T
e
n
s
o
C
o
m
p
o
s
t
a
)
C
a
b
o
s
d
e
B
a
i
x
a
T
e
n
s
o
c
o
m
3
c
o
n
d
u
t
o
r
e
s
e
m
C
o
b
r
e
C
o
s
=
0
,
3
5
F
r
e
q
u
n
c
i
a
=
5
0
H
z
P
a
r
a
o
b
t
e
r
a
q
u
e
d
a
d
e
t
e
n
s
o
s
i
m
p
l
e
s
(
m
o
n
o
f
s
i
c
a
)
,
m
u
l
t
i
p
l
i
c
a
r
o
s
v
a
l
o
r
e
s
d
e
A
U
p
o
r
1
,
1
5
1
2
0
m
m
2
1
5
0
m
m
2
1
8
5
m
m
2
2
4
0
m
m
2
3
0
0
m
m
2
CAPTULO II
102
GUIA TCNICO
2.2.6 - Exemplo de Determinao da Seco Tcnica
Dados:
Comprimento da canalizao:
- l = 100m;
Tenso de alimentao entre fases (composta):
- U = 380V, trifsica;
Receptores:
- 1 motor de potncia aparente nominal 100 kVA, utilizado no mximo a 3/4 da
sua potncia,
- 1 motor de potncia til de 50 cavalos, com um rendimento igual a 0,92 utiliza-
do plena carga (1CV = 736W),
- cos = 0,8,
- os motores funcionam simultaneamente e em permanncia;
Condies de instalao da canalizao:
- caminho de cabos, ao ar livre e ao abrigo das radiaes solares,
- temperatura ambiente u
o
= 40 C,
- 4 canalizaes sobre um tabuleiro, sem intervalo de separao entre elas;
Condies de curto-circuito:
- intensidade: I
cc
= 4 000 A,
- durao: t = 2 segundos;
Queda de tenso admissvel em regime normal:
- 5%,ou seja, AU= 19V;
Tipo de cabo escolhido:
- cabo de alumnio, tripolar, LSVV (ver captulo V.III).
No caso presente s iremos determinar a seco tcnica; posteriormente, um outro
exemplo ser considerado para o clculo da seco econmica (ver ponto 5 da
secao 2.2.7).
1 - Clculo da Intensidade a Transmitir em Regime Normal (ver seco 2.2.1)
O primeiro motor, tendo em conta um coeficiente de utilizao 0,75, absorve
uma potncia aparente: S
1
= 0,75 x 100 = 75 k VA
DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES E CABOS ELCTRICOS
103
GUIA TCNICO
Tendo em conta o seu rendimento e o seu cos o segundo motor absorve uma
potncia aparente:
S =
50 . 0, 736
0, 92 . 0, 8
= 50kVA
2
Como no consideramos nenhum factor de simultaneidade, a potncia aparente
total absorvida :
S = S
1
+ S
2
= 125k VA
I =
S
U 3
=
125 . 10
3
380 . 3
= 190A
(ver clculo directo no grfico 1).
2 - Seco Necessria para o Aquecimento em Regime Permanente (ver seco 2.2.2)
O quadro das caractersticas dos cabos LSVV (captulo V.III) d-nos a capacidade
de transporte de um nico cabo, ao ar livre, temperatura de 30 C. Os coefici-
entes de correco a considerar so:
- para a temperatura do ar a 40 C:
K
l
= 0,87 (ver quadro 35) com u
p
= 70 C e u
o
= 40 C,
- para a proximidade trmica entre quatro canalizaes encostadas no mesmo
tabuleiro:
K
2
= 0,75 (ver quadro 36).
A partir daqui calculamos a intensidade fictcia:
e a intensidade a transportar em permanncia :
Do quadro das caractersticas (captulo V) pode concluir-se que a seco neces-
sria para transportar 281 A nas condies indicadas :
S
a
= 240 mm
2
(alumnio).
3 - Seco Necessria para o Aquecimento em Caso de Curto-Circuito
(ver seco 2.2.4)
Para cabos LSVV:
- temperatura inicial: u
d
= 70 C ( supe-se que o cabo atingiu o equilbrio trmico
correspondente carga mxima admissvel em permanncia);
- temperatura admissvel no fim do curto-circuito: u
f
= 160 C.
f
1 2
CAPTULO II
104
GUIA TCNICO
O grfico 5 indica, nestas condies, para uma alma condutora em alumnio, uma
densidade de corrente admissvel durante 1 segundo: o
o
= 73A/mm
2
para 2 segundos teremos:
A seco necessria :
A seco normalizada imediata superior :
S
b
= 95 mm
2
Mtodo aproximado (ver pgina 89):
o =
73
2
= 52 A / mm
2
S =
I
cc
o
=
4000
52
= 77mm
2
S =
I
cc
K
=
t
u
f
-u
d
=
4000
7
2
90
= 85mm
2
que conduzia ao mesmo valor da seco normalizada.
4 - Seco Necessria para a Queda de Tenso
Para cos = 0,8 os quadros das caractersticas (captulo V) indicam a queda de
tenso por ampere e por quilmetro. Podemos admitir, na pior hiptese, para o ca-
so presente:
AU admissvel
l I
=
19
0,100 . 190
=1V/ A . km
Segundo o quadro das caractersticas dos cabos LSVV, a seco mnima que
permite respeitar esta condio :
S
c
= 70 mm
2
Mtodo aproximado: no grfico 8 encontramos para lI = 19 A.km e AU admiss-
vel = 19 V uma seco mnima de 70 mm
2
em alumnio.
5 - Seco Necessria do Ponto de Vista Tcnico
A seco a escolher ser a maior das trs seces S
a
, S
b
, S
c
anteriormente
determinadas:
S = 240 mm
2
, alumnio
2.2.7- Determinao da Seco Econmica
1 - Introduo
A seco mnima calculada, anteriormente, de maneira a satisfazer as diferentes
condies tcnicas de funcionamento (aquecimento em regime normal e em caso
de curto-circuito, queda de tenso ) no corresponde necessariamente seco
que conduz melhor soluo, no plano econmico, considerada em termos glo-
bais, dado que, importa ter em conta a durao de vida da canalizao estudada.
DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES E CABOS ELCTRICOS
105
GUIA TCNICO
Com efeito, o custo total decompe-se em duas parcelas:
- investimento inicial, isto , correspondente ao valor de compra e de instalao,
o qual crescente com a seco;
- custo de explorao, correspondendo em grande parte ao custo das perdas de
energia, por efeito de Joule, o qual varia no sentido inverso da seco.
Para um tipo de cabo e um regime de utilizao dados, a soma destes custos, em
funo da seco, passa por um mnimo, correspondente ao valor da seco
designado por seco econmica. O grfico representado na figura abaixo permi-
te uma visualizao da evoluo dos diferentes custos.
Na maior parte dos casos, a seco econmica superior seco necessria, do
ponto de vista tcnico, e a diferena respectiva tende a aumentar com o progres-
sivo encarecimento da energia, e ainda com o desenvolvimento dos materiais
isolantes, permitindo temperaturas de funcionamento cada vez mais elevadas.
Estes ltimos factores levam concluso bvia que o aspecto econmico no de-
ve ser esquecido, durante a determinao da seco. A soluo escolhida poder,
no entanto, ser determinada em funo de vrios critrios, em particular:
- as vantagens a longo prazo da seco econmica;
- as vantagens a curto prazo de um investimento mnimo, nomeadamente no caso
de uma taxa de juro elevada e de um comprimento da canalizao importante.
2 - Princpio de Clculo
Um clculo rigoroso da seco econmica dificultado na prtica pela comple-
xidade dos parmetros a considerar e pela incerteza da sua evoluo no tempo
(carga a transportar, custos unitrios, hipteses financeiras, etc).
O mtodo de clculo, indicado a seguir, baseado em algumas hipteses simplifi-
cativas, permitir, no entanto, uma estimao suficientemente precisa, na maioria
dos casos correntes, tendo em conta o facto de que a escolha se restringe gama
de seces normalizadas.
Grfico 12 - Evoluo
dos custos
CAPTULO II
106
GUIA TCNICO
Iremos estudar uma canalizao de comprimento l (em km), cujo custo de esta-
belecimento ser designado por E (euros). Este valor compreende:
- custo do cabo, que poder ser considerado, em primeira aproximao, como
uma funo linear da seco S (mm
2
) da forma cl + qlS, em que c e q so
constantes cujo valor dependente da especificao do cabo escolhido. Estes
podem ser avaliados, por exemplo, a partir da nossa tabela de preos;
- o custo dos trabalhos de engenharia civil, do desenrolamento e montagem do
cabo, da compra e montagem dos acessrios da rede e das instalaes termi-
nais, o qual poder ser considerado como independente da seco, no mbito
da procura da seco econmica. Designando por c` este valor, teremos para
E a expresso:
E = c` + cl + qlS
Quanto ao custo de explorao, compreende o custo das perdas energticas, nas
almas condutoras, no isolante e no cran, os encargos de manuteno, etc., e est
associado a uma quantia paga ao longo de cada anuidade. Justifica-se na maioria
dos casos, que s sejam considerados os custos anuais em perdas de Joule, nos
condutores, as quais so aproximadamente dadas por:
W =
nplI
2
hp
S
10
~3
em que:
n = nmero de condutores activos da canalizao;
p = resistividade do metal condutor temperatura de funcionamento (O mm
2
/km);
l = comprimento da instalao (em km);
I = intensidade a transmitir, em ampere, suposta constante. Caso no seja constante
deve considerar-se a intensidade mdia quadrtica (ver ponto 3 da seco 2.2.3);
h = nmero de horas de servio da canalizao por ano (1 ano = 8760h);
p = preo da energia elctrica, c/kWh.
O custo total resulta da soma das parcelas E e W, as quais, no entanto, no corres-
pondem ao mesmo prazo, sendo necessrio torn-las homogneas antes de efectuar
a sua adio. Isto pode fazer-se actualizando os custos de explorao pagos ao fim
de vrios anos, ou seja, remetendo os mesmos poca da compra do equipamento.
Se N (anos) o prazo de amortizao previsto, para o equipamento, e se tanto o
preo da energia como a carga da canalizao forem supostos constantes, duran-
te esse perodo, a soma dos valores actualizados das perdas de Joule :
W = w
1
1+ t
+
1
1+ t
( )
2
+... +
1
1+t
( )
N
|
|
|
|
|
|
|
|
= w
1+ t ( )~ 1
t 1+ t
( )
N
N
em que t a taxa de actualizao fixada, cujo valor na prtica igual taxa de
juro do capital.
, euros
DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES E CABOS ELCTRICOS
107
GUIA TCNICO
O termo dado, em funo de t e N, pelas tabelas financeiras.
Para a determinao da seco econmica resta considerar a funo:
custo total
a qual tem um mnimo para:
A =
(1+ t)
N
~1
t(1+ t )
N
C
=
c'
+
cl
+
qlS
+
nplI
2
hpA
S
.10
~3
S
o
=
I
nphpA
q
.10
~3
A seco econmica ser o valor normalizado mais prximo de S
o
.
A densidade de corrente econmica
3 - Clculo aproximado
Para um clculo rpido podemos considerar a frmula:
o
o
=
q.10
~3
nphpA
com: K = 4,61.10
-2
para o alumnio.
K = 2,56.10
-2
para o cobre.
4 - Notas
A - O comprimento da canalizao no influncia o valor da seco econmica;
B - Adensidade de corrente econmica depende do tipo de cabo escolhido, das con-
dies de utilizao e das hipteses financeiras. independente da intensidade a
transmitir e da seco. Pelo contrrio, a densidade de corrente trmica (corres-
pondente ao aquecimento da alma condutora at ao valor limite permitido),
diminui com a seco. Devido a isso, e tendo em conta o facto de que a densida-
de econmica , geralmente, inferior densidade trmica, a diferena entre a
seco econmica e a seco trmica tanto mais importante quanto menores
forem as seces;
C - A escolha da seco econmica, desde que seja superior seco trmica,
conduz s seguintes vantagens no plano tcnico:
- a queda de tenso menor, o que apresenta um interesse particular, para os bi-
nrios dos motores no arranque que so proporcionais ao quadrado da tenso;
- a temperatura limite da alma condutora em regime normal oferece a possibili-
dade de sobrecargas, por vezes, importantes.
(A/mm
2
)
S
o
= KI hpA
CAPTULO II
108
GUIA TCNICO
D - Usando as mesmas hipteses simplificativas e os mesmos princpios de clculo
usados anteriormente, vrias informaes teis podero ser obtidas, por exemplo:
- determinao do tempo ao fim do qual o ganho, nos custos de explorao,
permite compensar a diferena de investimento inicial;
- escolha econmica entre o cobre e o alumnio;
- escolha econmica entre os vrios isolantes. Este clculo mostra que, se o
uso de um isolante, que autorize uma temperatura de funcionamento elevada,
pode revelar-se necessrio em certas condies de servio, particularmente
severas, no se justifica, no entanto, no plano econmico.
E - A escolha da seco um dos aspectos da optimizao no plano econmico
da instalao. Outros elementos devero tambm ser considerados, por exemplo:
escolha da tenso de alimentao, melhoramento do cos dos receptores per-
mitindo uma diminuio da intensidade a transmitir e, portanto, das perdas
em explorao, etc.
5 - Exemplo de clculo da seco econmica
Retomando o exemplo dado (seco 2.2.6), assim como a seco tcnica calculada
(ponto 5 da secao 2.2.6), partimos para o clculo da seco econmica com os se-
guintes dados:
- intensidade I = 190 A;
- regime de funcionamento h = 2 000 horas/ano, plena carga;
- durao da amortizao N = 10 anos;
- taxa de actualizao t = 13 %;
- preo da energia elctrica p = 0,0945c/kWh.
A seco escolhida, no plano tcnico, foi a de 240 mm
2
com alma condutora em
alumnio.
A seco econmica obtm-se aplicando o clculo aproximado indicado no
ponto 3:
Previamente determina-se o termo A :
Considerando um valor de K = 2,56.10
-2
(alma condutora em alumnio) e o
clculo aproximado obtm-se a seco econmica:
A =
1,13
10
- 1
0,13 . 1,13
10
= 5, 43
A seco normalizada mais prxima a de 300 mm
2
.
2,56 . 10
-2
2000 0,0945 . 5,43 = 280,6 mm
2
DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES E CABOS ELCTRICOS
109
GUIA TCNICO
2.3 - Generalidades sobre o Dimensionamento do
cran Metlico
Em caso de defeito monofsico (fase-terra), o cran metlico deve permitir o esco-
amento, de parte ou da totalidade, da corrente de curto-circuito, da instalao. Para
as redes MT ou AT, cujo neutro est ligado terra, directamente ou por intermdio
de uma impedncia de valor baixo, a corrente de defeito pode atingir valores eleva-
dos, dependendo da potncia de curto-circuito da alimentao, das caractersticas
da instalao no ponto do defeito e da regulao dos dispositivos de proteco.
preciso ento assegurar que sob o efeito dessa intensidade, o cran no corre o
risco de ser levado a atingir uma temperatura superior permitida, quer para ele,
quer para os outros elementos do cabo, em particular, o invlucro isolante.
Para os cabos MT e AT, a temperatura limite , na maior parte dos casos, idntica
admitida em curto-circuito para o aquecimento da alma condutora, para uma
durao de tempo inferior a 5 segundos:
- cabo isolado a PE 150 C;
- cabo isolado a PVC 160 C;
- cabo isolado a PEX 250 C.
No entanto, podemos ser levados, em certos casos, a reduzir estes valores de
temperatura, a fim de ter em considerao os limites trmicos dos elementos
constituintes do cran (bainha de chumbo, nalguns cabos isolados a PEX,
por exemplo). Contrariamente ao que habitual para as almas condutoras, no
podemos admitir que o aquecimento do cran ao longo de um curto-circuito seja
adiabtico. Com efeito, em consequncia da importncia da superfcie de contac-
to do cran com os meios adjacentes, em relao sua espessura, o calor no
fica concentrado no cran, dissipando-se na sua maior parte para o exterior. Em
funo disso, a hiptese de aquecimento adiabtico conduziria a um aquecimento
superior realidade, o que implicaria um sobredimensionamento dos crans.
Devido complexidade dos fenmenos em jogo (dissipao do calor nos meios
adjacentes, variao da resistncia de contacto entre espiras dos crans enfitados,
em funo da intensidade, etc.), no possvel indicar aqui um mtodo de clcu-
lo simples e de mbito geral. Recomendamos ao leitor que se baseie, se tal for
necessrio, no mtodo descrito na norma CEI 949. Os vrios tipos de crans,
usados geralmente, esto descritos na seco 1.2.4.
Conforme a referido os crans metlicos so normalmente constitudos por fios
e/ou fitas de cobre ou de alumnio. No seu dimensionamento considera-se as
densidades de corrente que a seguir se indicam, supondo um curto-circuito com a
durao de 1 s.
Cobre o = 143,2 A/mm
2
Alumnio o = 94,5 A/mm
2
Para melhor caracterizao do dimensionamento vlido o expresso para as almas
condutoras na seco 2.2.4 do captulo II.
CAPTULO II
110
GUIA TCNICO
2.3.1 - Afectao de processos calorficos no - adiabticos ao clculo
da corrente de curto-circuito
A corrente de curto-circuito admissvel na blindagem metlica de um cabo elctri-
co normalmente calculada assumindo um processo calorfico adiabtico -
ignorando as trocas de calor com o exterior.
Este procedimento d origem a resultados mais conservadores, sobretudo para
blindagens constitudas por fios de seco reduzida.
Numa perspectiva meramente computacional podemos aumentar a temperatura
mxima permitida em situaes de curto-circuito, de forma a obter um resultado
equivalente ao obtido pelo clculo no-adiabtico. Este acrscimo de temperatura
ser meramente fictcio servindo apenas interesses relativos ao procedimento de
clculo.
O mtodo de clculo mais usual para a corrente elctrica de curto-circuito no con-
dutor e na blindagem metlica de cabos elctricos est assente no pressuposto de
processos calorficos adiabticos. Este procedimento no considera as trocas de
calor entre as diversas componentes metlicas e o exterior, assumindo que o calor
gerado pela passagem da corrente de curto-circuito no ser dissipado no curto
intervalo de tempo em questo.
Neste cenrio o calor gerado por efeito de Joule determina a temperatura mxima
em situaes de curto-circuito:
(1)
Na qual u
p
representa a temperatura para um regime permanente, C a capacidade
calorfica da componente metlica em questo e R a sua resistncia elctrica.
Acorrente de curto-circuito I
Ad
tem uma durao t.
A temperatura mxima estabelecida de forma a prevenir choques trmicos e o
consequente envelhecimento acelerado dos componentes do cabo elctrico. No
caso dos dois mais populares materiais utilizados no isolamento: polietileno reti-
culado (XLPE) e borracha sinttica (EPR), a temperatura mxima permitida num
regime de curto-circuito de 250C.
De forma a contabilizar as trocas de calor durante uma situao de curto-circuito, o
standard internacional IEC 949 introduz um factor emprico r que relaciona o valor
da corrente elctrica obtida considerando as trocas de calor com o exterior (I
nAd
)
com o valor da corrente elctrica resultado do mtodo adiabtico (I
Ad
):
(2)
DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES E CABOS ELCTRICOS
111
GUIA TCNICO
Partindo do tradicional mtodo adiabtico, podemos permitir para efeitos mera-
mente computacionais uma temperatura mxima superior recomendada de
forma a obter um efeito equivalente aplicao do factor r.
A corrente de curto-circuito pode assim ser calculada atravs de um formalismo a
que poderemos chamar mtodo adiabtico modificado:
(3)
A corrente de curto-circuito (I
mAd
) calculada atravs desta expresso idntica
corrente elctrica obtida pelo mtodo no-adiabtico descrito no standard IEC 949.
Para demonstrar o conceito consideremos uma blindagem metlica constituda por
fios de cobre enrolados em hlice sobre uma cama em fita semicondutora - Figura 1.
Figura 1 - Cabo de 60kV com isolamento em XLPE e blindagem por fios de cobre.
O grfico 13 descreve o comportamento do aumento fictcio da temperatura mxi-
ma, em funo do dimetro dos fios de cobre da blindagem.
Grfico 13 - Aumento de temperatura fictcio em funo do dimetro dos fios de cobre da blindagem.
CAPTULO II
112
GUIA TCNICO
Para um determinado dimetro dos fios da blindagem, o grfico acima apresentado
permite o clculo da corrente de curto-circuito no-adiabtica a partir da expresso 3.
O desvio de resultados determinado pela afectao das trocas de calor consider-
vel, sobretudo para fios de dimetros mais reduzidos. Assim para um curto-circuito
com a durao de 1 segundo, o valor da corrente elctrica escoada por uma blinda-
gem de fios de cobre com um dimetro de 0.5 mm, cerca de 22% superior ao
valor obtido pelo tradicional mtodo adiabtico. Para um dimetro de 2.0 mm este
desvio apenas de 6%.
Concluso:
Este mtodo integra os princpios anunciados no standard IEC 949, de forma a
afectar as trocas de calor na aproximao adiabtica normalmente utilizada pela
indstria. A metodologia adiabtica resulta em valores mais conservadores,
sobretudo no que diz respeito a blindagens constitudas por fios de dimetros mais
reduzidos.
2.3.2- Exemplos de cabos normalizados de mdia tenso
1 - crans em fios de cobre
Nos cabos de Mdia Tenso, isolados a PEX, normalizados pela EDP, o cran me-
tlico utilizado constitudo por fios de cobre n uniformemente distribudos pela
superfcie do cran semicondutor exterior e envolvidos por fita de cobre n com
espessura compreendida entre 0,1 e 0,2 mm, enrolada em contra-hlice aberta.
So definidos 3 tipos de cran, consoante as dimenses e caractersticas dos consti-
tuintes, designados por tipo 1, 2 e 3.
Assim temos:
Tipo 1:
Seco nominal - 28 mm
2
Fios de Cobre - dimetro nominal: 1,13 mm;
seco aproximada: 1 mm
2
;
nmero mnimo de fios: 28
Resistncia elctrica mxima do cran: 0,6O/km a 20
o
C.
Tipo 2:
Seco nominal - 16 mm
2
Fios de Cobre - dimetro nominal: 0,8 mm;
seco aproximada: 0,5 mm
2
;
nmero mnimo de fios: 32
Resistncia elctrica mxima do cran: 1,1O/km a 20
o
C.
DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES E CABOS ELCTRICOS
113
GUIA TCNICO
Tipo 3:
Seco nominal - 35 mm
2
Fios de Cobre - dimetro nominal: 1,13 mm;
seco aproximada: 1 mm
2
;
nmero mnimo de fios: 35
Resistncia elctrica mxima do cran: 0,48O/km a 20
o
C.
O nmero de fios condicionado, para cada seco nominal do cran, pela resis-
tncia elctrica mxima exigida.
Conforme a tenso estipulada do cabo, o tipo de cran escolhido definido como
segue:
Cabos de 6/10 kV
- 1 Caso (corrente de defeito at 4 kA - 1 s)
cran do tipo 1
- 2 Caso (corrente de defeito at 1,5 kA - 1 s)
cran tipo 2
Cabos de 8,7/15 kV e 12/20 kV
- 1 Caso (corrente de defeito at 1,5 kA - 1 s e 1 kA - 2 s)
cran do tipo 2
- 2 Caso (corrente de defeito at 4 kA - 1 s)
cran tipo 1
Cabos de 18/30 kV
- 1 Caso (corrente de defeito at 1,5 kA - 1 s e 1 kA - 2 s)
cran do tipo 2
- 2 Caso (corrente de defeito at 5 kA - 1 s)
cran tipo 3
Extra EDP ou para outras seces de cran a resistncia elctrica mxima do cran
a definida na CEI 60228.
2 - crans em fita de cobre
Indicamos no quadro seguinte, em funo de diferentes tempos de actuao das
proteces, as intensidades admissveis no cran, formado por uma fita de cobre
n, com 0,10 mm de espessura, enrolada em hlice e com sobreposio, prevista
normalmente entre 10 e 15% da largura da fita.
CAPTULO II
114
GUIA TCNICO
Quadro 48 - Intensidades Admissveis, no cran em Fita de
Cobre, para um Cabo de Mdia Tenso (Isolado a PEX),
durante um Curto-Circuito (Ampere)
Seco
0,5 segundos 1 segundo 2 segundos
da
alma Tenso estipulada kV
mm
2
6/10 8,7/15 12/20 18/30 6/10 8,7/15 12/20 18/30 6/10 8,7/15 12/20 18/30
CABOS ISOLADOS A PEX
16 900 650 400
25 1000 1100 700 800 450 550
35 1050 1200 1300 750 850 950 500 600 650
50 1150 1300 1400 1750 800 900 1000 1200 550 650 700 850
70 1250 1350 1500 1800 850 950 1050 1300 600 650 750 900
95 1350 1500 1650 1950 950 1050 1150 1350 650 750 800 950
120 1450 1600 1700 2050 1000 1100 1200 1450 700 800 850 1000
150 1550 1650 1800 2100 1100 1150 1250 1500 750 850 900 1050
185 1650 1800 1900 2250 1150 1250 1350 1550 800 900 950 1100
240 1800 1950 2050 2400 1250 1350 1450 1650 900 950 1000 1200
300 1950 2100 2200 2500 1350 1450 1550 1800 950 1050 1100 1250
400 2100 2250 2400 2700 1500 1600 1650 1900 1050 1100 1200 1350
500 2300 2450 2550 2900 1600 1700 1800 2050 1150 1200 1250 1450
630 2550 2700 2850 3150 1800 1900 2000 2200 1250 1350 1400 1550
800 2800 2950 3100 3400 2000 2100 2150 2400 1400 1450 1550 1700
1000 3100 3200 3350 3650 2150 2250 2350 2600 1550 1600 1650 1800
(clculos efectuados segundo o mtodo descrito na norma CEI 949)
DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES E CABOS ELCTRICOS
115
GUIA TCNICO
Exemplos de Cabos de AT
Nos cabos de AT a construo da blindagem semelhante da MT, normalmente
constituda por uma coroa de fios de cobre aplicados helicoidalmente e por uma
fita tambm de cobre aplicada em contra-espira em hlice aberta.
As seces das blindagens so as mais diversas, normalmente acima de 35 mm
2
,
dependendo das correntes de curto circuito dos sistemas onde os cabos vo ser
instalados.
Attulo de exemplo, indicamos os seguintes tipos construtivos:
Quadro 49 - Blindagens usadas nos cabos AT
Seco da Blindagem
(mm2)
N de Fios
Dimetro dos
Fios (mm)
Resistncia hmica
mx. a 20C em c.c.
Intensidade mx. adm.
em curto-circuito (1s)
16 32 0,80 1,150 2,4 kA
25 50 0,80 0,736 3,7 kA
35 35 1,13 0,526 5,2 kA
50 50 1,13 0,368 7,5 kA
60 60 1,13 0,307 8,9 kA
70 70 1,13 0,263 10,4 kA
75 75 1,13 0,245 11,2 kA
95 80 1,23 0,194 14,2 kA
100 67 1,38 0,184 14,9 kA
120 80 1,38 0,153 17,9 kA
130 58 1,70 0,142 19,4 kA
135 60 1,70 0,136 20,1 kA
150 67 1,70 0,123 22,4 kA
160 71 1,70 0,115 23,8 kA
165 73 1,70 0,111 24,6 kA
185 82 1,70 0,099 27,6 kA
250 82 1,97 0,074 37,2 kA
III
C
aptulo
Notas Tcnicas
NOTAS TCNICAS
119
GUIA TCNICO
3.1 - Clculos Elctricos
3.1.1- Caractersticas elctricas
1 - Convenes
Comeamos por apresentar as diferentes convenes de escrita, utilizadas nas
relaes inerentes ao estudo dos fenmenos elctricos, efectuado nas pginas
seguintes:
- ln = logaritmo natural ou neperiano;
- log = logaritmo decimal (ln x = 2,302 log x);
- unidade imaginria ou operador imaginrio;
- a barra, colocada por cima de uma letra, significa que a mesma se refere a
uma grandeza expressa por um nmero complexo.
Exemplo:
2 - Introduo
O funcionamento elctrico de um circuito determinado pelas caractersticas
lineares dos diferentes condutores: resistncia, indutncia, capacidade.
Estas no dependem somente da constituio dos condutores, mas tambm do
tipo de circuito, e, em particular, da posio relativa das fases.
Desde que uma canalizao simtrica seja alimentada por um sistema polifsico
equilibrado, podemos considerar que ela formada por tantos circuitos monof-
sico, distintos e independentes, quantas fases tiver. Cada um desses circuitos
constitudo por um condutor de fase e um condutor fictcio, ligado ao ponto neu-
tro da rede e percorrido por uma corrente nula. Apresenta caractersticas
de transmisso ditas aparentes. Por este facto, o estudo do funcionamento de um
circuito polifsico reduz-se ao de um circuito monofsico.
3 - Resistncia
A resistncia aparente de um condutor, em corrente alternada e a temperatura de
servio, determinada a partir da resistncia em corrente contnua a 20C, tendo
em conta a influencia da temperatura e dos fenmenos ligados alimentao em
tenso alternada.
A - Resistncia linear de um condutor em corrente contnua e temperatura
de 20 C
dada por:
~ j = ~1
Z
-
= R + jLc; mdulo de Z
-
= Z
-
R
20
=
p K
1
K
2
K
3
S
, em ohm / km
20
CAPTULO III
120
GUIA TCNICO
p
20
= resistividade do metal condutor temperatura de 20C,
- para o alumnio
p
20
= 28,264 O mm
2
/km,
- para o cobre
p
20
= 17,241 O mm
2
/km.
(o inverso de
p
20
a condutividade a 20 C);
S = seco real da alma condutora, mm
2
;
K1 = coeficiente dependente da natureza do metal condutor, das transformaes
fsicas que sofre durante a fabricao da alma condutora e da presena even-
tual de um revestimento metlico de proteco (estanho por exemplo);
K
2
= coeficiente que representa a majorao do comprimento, devido ao cablea-
mento dos fios constituintes da alma condutora;
K
3
= coeficient
3
e que representa a majorao do comprimento devido montagem
dos condutores de fase no conjunto final (cabos multipolares).
Os valores de R
20
, para as seces normalizadas e segundo a classe de flexibili-
dade da alma condutora, so fixados pela normalizao portuguesa e internacio-
nal e esto representados nos quadros 8 a 11.
B - Variao da resistncia com a temperatura
A resistncia de um condutor, em corrente contnua e temperatura de u (C),
exprime-se em funo do seu valor temperatura de 20 C por:
Ru = R
20
[1 + o
20
(u -20)]
o
20
= coeficiente de variao da resistividade a 20 C
- para o alumnio o
20
= 4,03 .10
-3
(C
-1
),
- para o cobre o
20
= 3,93 .10
-3
(C
-1
).
O quadro 50 d-nos o valor do coeficiente 1 + o
20
(u - 20), em funo de u.
u
1 + o20 (u ~ 20)
Temperatura do Condutor
C Cobre Alumnio
0 0,921 0,919
5 0,941 0,940
10 0,961 0,960
15 0,980 0,980
20 1,000 1,000
25 1,020 1,020
30 1,039 1,040
35 1,059 1,060
40 1,079 1,081
45 1,098 1,101
50 1,118 1,121
55 1,138 1,141
60 1,157 1,161
65 1,177 1,181
70 1,197 1,202
75 1,216 1,222
80 1,236 1,242
85 1,255 1,262
90 1,275 1,282
95 1,295 1,302
100 1,314 1,322
Quadro 50 - Valores do coeficiente 1+o
20
(u - 20), em funo de u
NOTAS TCNICAS
121
GUIA TCNICO
C - Resistncia em corrente alternada
Num condutor percorrido por corrente alternada, a densidade de corrente no
uniforme; mais elevada na periferia que no centro do condutor. Este fenmeno,
de origem electromagntica, designado por efeito pelicular ou efeito Kelvin.
Por outro lado, desde que vrios condutores, alimentados em tenso alternada,
esto prximos, fenmenos de induo provocam igualmente um desequilbrio na
repartio da densidade de corrente: efeito de proximidade.
Estes dois efeitos traduzem-se, naturalmente, por um aumento da resistncia de
condutores. Assim podemos dizer que:
resistncia em corrente alternada = resistncia em corrente contnua x (1 + Y
s
+ Y
p
)
Ys e Yp so, respectivamente, os coeficientes de efeito pelicular e de proximidade.
O seu mtodo de clculo figura na publicao CEI 60287.
O aumento da resistncia, mais sensvel no cobre do que no alumnio, tanto
mais importante quanto maior a frequncia da rede, o dimetro e a aproximao
dos cabos. Como primeira aproximao, podemos considerar que ele desprezvel
at uma seco de 300 mm
2
em cobre ou 500 mm
2
em alumnio nas frequncias
indstria usadas.
Aresistncia aparente de um condutor em corrente alternada temperatura u ser dada
pela expresso: R = R
20
[1 + o( u- 20)] [ 1 + Y
s
+ Y
p
] (O/km)
4 - Indutncia
Os fenmenos de induo, entre os elementos de um circuito elctrico, depen-
dem em grande parte da disposio relativa dos condutores, e, geralmente, so
traduzidos por relaes relativamente complexas.
No entanto, para uma disposio simtrica dos condutores activos, isto :
- cabos com 2 ou 3 condutores;
- terno de cabos unipolares, dispostos em tringulo ou em esteira, equidistantes
e regularmente transpostos, possvel o emprego de relaes simples que nos
permitem obter valores mdios desses fenmenos.
A - Coeficiente de auto-induo aparente ou induo prpria aparente de um
condutor
Como sabido, quando a intensidade i que atravessa um circuito varia no tempo,
induzida no mesmo circuito uma fora electromotriz igual a e em que
e, L (coeficiente de auto-induo do circuito), e so expressos em volt (V)
Henry (H), e ampere/segundo (A/s), respectivamente.
= ~L
di
dt
di
dt
CAPTULO III
122
GUIA TCNICO
Para uma canalizao simtrica formada por condutores no magnticos, o coefi-
ciente de auto-induo aparente mdio igual para todos os condutores, sendo
dado pela expresso:
L = 0, 05+ 0, 2ln
2a
m
d
|
|
|
|
|
|
10
~3
= 0, 05 + 0, 46 log
2a
m
d
|
|
|
|
|
|
10
~3
(H/ km)
a
m
d
em que:
d = dimetro da alma condutora (mm), incluindo a camada semi-condutora sobre
o condutor (se existir).
a
m
= mdia geomtrica das distncias entre eixos dos condutores (mm)
a = distncia entre eixos dos condutores (mm).
Para valor de a
m
deve considerar-se:
Sistema monofsico
Sistema trifsico em tringulo
Sistema trifsico em esteira
Para os cabos que comportem uma armadura magntica envolvendo o conjunto
das fases, a presena desta provoca um aumento da auto-induo aparente dos
condutores em cerca de 10%.
O grfico 14 indica o valor de L em funo da razo
Grfico 14 - Coeficiente de Auto-Induo Aparente
NOTAS TCNICAS
123
GUIA TCNICO
B - Indutncia mtua entre a alma condutora e o cran
Se dois circuitos esto ligados electromagneticamente, a variao no tempo da
corrente que atravessa um circuito induz no outro uma fora electro-motriz
igual a:
M a indutncia mtua entre os dois circuitos, expressa em Henry (H) se e e
forem expressos em volt (V) e ampere/segundo (A/s) respectivamente.
Os fenmenos de induo entre as almas condutoras e os crans sero considera-
dos, essencialmente, no caso de cabos unipolares munidos de uma banha de
chumbo, devido importncia das correntes susceptveis de serem induzidas nos
crans. As relaes que se apresentam a seguir correspondem a este caso. Pelo
contrrio, para os cabos multipolares nos quais a parte metlica do cran envolve
os conjuntos das fases, e ainda para os cabos unipolares cujos crans so consti-
tudos por fitas, estes fenmenos so bastantes reduzidos em regime normal.
A corrente I(ampere) que percorre a alma condutora, cria no cran uma fora
electromotriz:
E = M c I (V/km)
c = pulsao da corrente = 2 f (rad/s)
M = indutncia mtua, entre a alma condutora e o cran sensivelmente igual
indutncia prpria do cran. No caso de uma disposio simtrica dos
condutores dada por:
M
di
dt
di
dt
M = 0, 2ln
2
am
d
10
~3
(H/ km)
m
a
m
= distncia geomtrica mdia entre eixos dos condutores (mm);
d
m
= dimetro mdio do cran (mm).
5 - Reactncia aparente de um condutor
Os seus valores so calculveis pelas expresses abaixo, conforme se verifique que:
a) as correntes induzidas nos crans so desprezveis:
X= L c, (O/km)
b) as correntes induzidas nos crans no so desprezveis, por exemplo, nos
cabos unipolares com bainha de chumbo:
CAPTULO III
124
GUIA TCNICO
6 - Capacidade
Se num sistema constitudo por dois condutores separados por um material dielc-
trico, a tenso aplicada entre os condutores variar no tempo, circular entre eles
uma corrente:
C a capacidade do sistema, expressa em Farad (F), estando i e expressos
em Ampere (A) e volt/segundo (V/s), respectivamente.
Um cabo constitui um sistema complexo de capacidades, designadas por capaci-
dades parciais, as quais se localizam entre:
- os vrios condutores;
- cada condutor e o elemento tomado como potencial de referncia (revestimento
metlico ou meio exterior).
A - Capacidade aparente de um condutor
Resulta da combinao das capacidades parciais e dada pelas seguintes relaes:
- cabo de campo radial:
- cabo de campo no radial:
cabo com 2 condutores:
cabo com 3 condutores:
Nestas frmulas:
r = permitividade relativa (igualmente designada constante dielctrica ou poder
indutor especfico) do dielctrico que , segundo o caso:
- cabo com cran: inv1ucro isolante;
- cabo sem cran: conjunto das camadas compreendidas entre a alma condutora
e o elemento ao potencial de referncia (armadura ou meio exterior).
de
dt
i = C
de
dt
C =
r
18ln
r
2
r
1
(F / km)
18ln
2br
2
2
~ b
2
|
|
|
|
|
|
|
|
C =
r
(F / km)
r r
2
2
+ b
2
1
C =
r
9ln
3b
2
r
2
2
~ b
2
( )
3
r
1
2
r
2
6
+ b
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/
(F km)
NOTAS TCNICAS
125
GUIA TCNICO
O valor de r para os principais materiais isolantes est indicado no quadro da p-
gina 38. Tratam-se de valores mdios, a 20C e para uma frequncia de 50 Hz,
podendo a permitividade variar em largas propores, em funo da composio
da mistura isolante da frequncia e da temperatura.
r
1
: raio da alma condutora (mm), (compreendendo a camada semi-condutora,
eventual sobre a alma condutora);
r
2
: - cabo com cran: raio sobre o invlucro isolante (mm), (no se entrando em
conta com a camada semi condutora eventualmente sobre o isolante);
- cabo sem cran: raio sob o elemento tomado como potencial de referncia
(mm), (raio sob a armadura ou raio exterior);
b : distncia do eixo do condutor ao eixo do cabo (mm).
Na prtica a capacidade aparente real pode diferir sensivelmente do valor
calculado devido a vrios factores, por exemplo:
- condutores com forma sectorial;
- permitividade relativa no uniforme desde que sejam consideradas vrias
camadas (isolante, enchimentos, bainha...).
Por essa razo, desde que se torne necessrio dispor de um valor preciso da
capacidade aparente, ser prefervel obt-lo atravs de medies*:
- cabo de campo radial: ser igual capacidade parcial entre alma condutora e
cran;
- cabo de campo no radial: a capacidade aparente no directamente mensu-
rvel sendo obtida atravs de vrias medies. Para um cabo tripolar temos,
por exemplo, a seguinte sequncia de medies:
capacidade entre um condutor e os outros dois ligados ao potencial de referncia,
seja C
l
,
capacidade entre dois condutores, ligados entre si, e o terceiro ligado ao potencial
de referncia, seja C
2
.
O valor procurado ento dado pela relao:
7 - Corrente de carga ou corrente capacitiva
Numa canalizao de comprimento l(km), submetida a uma tenso simples sinu-
soidal U
0
(volt) e com uma capacidade C (F), funcionando em vazio, os conduto-
res so percorridos por uma corrente cujo valor na extremidade da alimentao :
Ic=U
0
C c l . 10
-6
(A)
*O mesmo acontece para os cabos de 4 ou 5 condutores, nos quais a capacidade aparente no pode
ser expressa por uma relao simples
C = 2C
1
~
C
2
2
CAPTULO III
126
GUIA TCNICO
8 - Impedncias Aparentes de um Condutor
A impedncia Z
-
de um circuito a razo entre a tenso U
-
aplicada aos seus
terminais e a intensidade I
-
de corrente que o atravessa:
, Z
-
ser expresso em ohm (O) se U
-
for expresso em volt (V) e I
-
em ampere (A)
Para estudar o funcionamento de uma canalizao trifsica, em qualquer regime,
e em particular no caso de curto-circuito, usual utilizar o mtodo das compo-
nentes simtricas, que consiste em decompor o sistema de tenses e correntes
em trs sistemas simtricos, designados respectivamente por sistema directo, sis-
tema inverso e sistema homopolar. A impedncia oferecida pelo circuito depende
do sistema em estudo.
Notaes anteriormente usadas:
R = resistncia aparente de um condutor em corrente alternada temperatura de
servio (O/km),
R
E
= resistncia do cran temperatura de servio (O/km), em corrente alternada,
L = indutncia prpria aparente de um condutor (H/km),
M = indutncia mtua entre a alma condutora e o cran (H/km),
d = dimetro da alma condutora (mm),
d
m
= dimetro mdio do cran (mm),
a
m
= distncia geomtrica mdia entre os condutores (mm),
f = frequncia (Hz),
c = 2 f (rad/s).
A - Impedncia directa Z
d
e inversa Z
i
Se a disposio das fases simtrica, por exemplo em trevo juntivo, estas
impedncias so iguais e dadas pelas expresses que se seguem, nas hipteses:
a) correntes induzidas nos crans, desprezveis:
Z
U
I
=
b) correntes induzidas nos crans, no desprezveis (cabos unipolares com bainha
de chumbo):
Z
-
d = Z
-
i = R+
R
E
1+
R
E
2
M
2
c
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ jc L ~
M
1+
R
E
2
M
2
c
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O/ km) (
Z
-
d = Z
-
i = R + jLc, (O / km); em mdulo: Z
-
= R
2
+ L
2
c
2
NOTAS TCNICAS
127
GUIA TCNICO
B - Impedncia homopolar
O seu valor depende em grande parte do meio envolvente da canalizao: carac-
tersticas do solo, presena nas proximidades de outras canalizaes ou massas
metlicas (por exemplo: tubos, carris), etc.
Por essa razo o mtodo de clculo indicado a seguir, baseado em vrias hipteses
simplificativas, dever ser apenas considerado como meio para obter uma ideia, da
grandeza, da impedncia homopolar. Para obter um valor mais preciso, necess-
rio efectuar uma medio directa no local depois de instalada a canalizao.
Se admitirmos que o retorno da corrente homopolar se efectua simultneamente,
pelo solo e pelos crans ligados terra nas duas extremidades, a impedncia
homopolar dada por:
em que para o caso de um terno de cabos unipolares so dadas por:
Z
-
A , Z
-
E, Z
-
M
Z
-
A = R + 3Rs + j4f ln
2h
3
0, 779d.a
2
|
|
|
|
|
|
|
|
10
~4
(O / km)
m
Z
-
E = R
E
+ 3Rs + j4f ln
2h
3
d a
2
|
|
|
|
|
|
|
|
10
~4
(O / km)
m m
Z
-
M= 3Rs + j4f ln
2h
3
d a
2
|
|
|
|
|
|
|
|
10
~4
(O / km)
m m
Alm das notaes relembradas atrs, temos:
R
s
= resistncia do solo em corrente alternada:
2
f. 10
-4
(O/km),
h = profundidade equivalente de retorno pelo solo:
Sendo ps a resistividade elctrica do solo que poder ser considerada em primeira
aproximao para um solo normal de uma zona temperada igual a l00 O.m.
Nota: Se supusermos que o retorno da corrente homopolar se efectua:
- exclusivamente pelos crans
- exclusivamente pelo solo
659
p
s
f
10
+3
Z
-
o = Z
A
-
+ Z
-
E ~ 2 Z
-
M
Z
-
o = Z
A
-
CAPTULO III
128
GUIA TCNICO
9 - Gradiente de Potencial
O gradiente de potencial num ponto do invlucro isolante o valor do campo
elctrico nesse ponto.
Notaes:
U
o
= tenso simples (fase-neutro) (V);
r
1
= raio da alma condutora (considerando a camada semi-condutora, eventual-
mente colocada sobre a alma) (mm);
r
2
= raio sobre o invlucro isolante de um condutor (no considerando a camada
semi-condutora, eventualmente colocada, sobre o isolante) (mm).
A - Cabo de campo radial (com alma condutora circular)
As linhas do campo elctrico so radiais e, consequentemente, as superfcies equi-
potenciais so cilndricas e concntricas em relao alma condutora. O gradiente,
num dado ponto distante de x (mm) em relao ao centro do condutor, dado por:
O gradiente mximo na superfcie da alma condutora (x=r
1
) e mnimo na peri-
feria do invlucro isolante (x=r
2
).
Estes resultados s so vlidos em tenso alternada, em que a repartio do
campo de origem capacitiva. Pelo contrrio, sob o efeito de uma tenso cont-
nua, o gradiente distribui-se em funo da resistividade do isolante. Em funo da
variao desta, com a temperatura e com o gradiente, pode produzir-se uma
uniformizao da solicitao dielctrica no isolante, ou mesmo, uma inverso,
isto , o gradiente mximo na periferia.
Seco ptima: para uma dada tenso e um dado valor mximo admissvel do
gradiente, existe uma seco ptima cujo raio r sobre a alma condutora, conduz a
um raio mnimo r
2
para o isolante. Temos ento:
Isto explica a razo em escolher a seco ptima, particularmente nos cabos AT,
desde que a intensidade a transmitir seja pequena. A escolha da seco necessria
para o aquecimento, se for menor do que a seco ptima, necessita de um reforo
da espessura do isolante, o que conduzir a um cabo de maiores dimenses.
r
1
=
Gr mximo
U
o
2
= 2, 718r
1
r
;
Gr =
U
x ln
r
2
r
1
V/ mm ( )
o
e
NOTAS TCNICAS
129
GUIA TCNICO
B - Cabo de campo no radial
Se o cabo for alimentado em tenso alternada, o campo elctrico num dado ponto
, constantemente varivel em grandeza e direco. O gradiente mximo na
superfcie da alma condutora e no ponto situado sobre a linha que une o centro
do condutor ao centro do cabo. dado aproximadamente por:
C - Fenmenos de concentrao do campo elctrico
Na vizinhana de uma parte condutora, com um raio de curvatura pequeno, as
linhas do campo sofrem uma concentrao e o gradiente pode crescer em grandes
propores. Este fenmeno designado por efeito de pontas.
uma das razes pela qual, desde que a tenso de servio seja importante,
necessrio munir a alma condutora com uma camada condutora, a fim de evitar
que na vizinhana das irregularidades da superfcie da alma condutora, a solicitao
dielctrica atinja um valor proibitivo.
Pela mesma razo, nas caixas de extremidade, convm a partir de um certo valor
da tenso, limitar o gradiente no final do cran, e reparti-lo regularmente ao longo
da linha de fugas, por meio de um deflector ou de um sistema repartidor do campo.
10 - Resistncia trmica
Os diferentes elementos do cabo e o meio envolvente opem uma certa resistncia
propagao do calor. A diferena de temperatura Au, entre as duas faces de um
elemento, proporcional potncia calorfica W, que o atravessa:
Au = T.W
T a resistncia trmica do elemento considerado. Exprime-se em K.m/W se
Au e W forem expressos em K e watt por metro de cabo, respectivamente.
Esta relao sendo formalmente idntica lei de Ohm, permite que os circuitos
elctricos e trmicos possam ser estudados da mesma maneira, mediante as analogias
seguintes:
diferena de temperatura diferena de potencial
potncia calorifica intensidade de corrente
resistncia trmica resistncia elctrica
Gr mximo =
r
1
ln
1,155r
2
r
1
V/ mm ( )
U
o
CAPTULO III
130
GUIA TCNICO
Desde que o calor se propague por conduo, a resistncia trmica pode escrever-se
sob a forma:
T =
p
T
. F em que
p
T
= resistividade trmica do material constituinte, K.m/W;
F = factor dependente da forma e das dimenses do elemento considerado.
Exemplos:
1 - resistncia trmica de uma bainha cilndrica:
11 - Resistncia de Isolamento
a resistncia elctrica que se ope passagem da corrente atravs do invlucro
isolante. Para os isolamentos tradicionais, as perdas trmicas correspondentes s
frequncias industriais, so desprezveis. A resistncia de isolamento no tem,
em valor absoluto, uma relao directa com a qualidade dielctrica do isolante, e
no permite, contrriamente aos ensaios de comportamento dielctrico, ajuizar
de maneira formal sobre o comportamento do cabo em servio. No entanto, a sua
variao eventual no tempo, ou em funo de outros parmetros, pode indicar
uma modificao das caractersticas do isolante.
A resistncia de isolamento, de um condutor ou cabo de campo radial, calculada
como segue:
r
1
= raio da alma condutora (considerando a camada semi-condutora eventual-
mente colocada sobre a alma condutora) (mm);
r
2
= raio sobre o invlucro isolante (no considerando a camada semi-condutora
eventualmente sobre o isolante) ( mm);
T =
p
T
2
ln
D2
D1
2 - resistncia trmica do solo que envolve um cabo enterrado:
T =
p
T
2
ln
2h
D
+
2h
D
[
\
|
)
j
2
~1
|
|
|
|
|
|
|
|
Se h for muito superior a D:
T =
p
T
2
ln
4h
D
Ri = Ki log
r
2
r
1
( MO. km)
NOTAS TCNICAS
131
GUIA TCNICO
K
i
= constante de isolamento, caracterstica do material, MO.km. Pode variar
sensivelmente, segundo a natureza ou a composio do material, e no sentido
inverso da temperatura.
Os valores mdios de K
i
para os diferentes isolantes usados esto indicados no
quadro 18.
A relao anterior pode estender-se, em primeira aproximao, ao clculo da:
- resistncia de isolamento de um condutor, de campo radial ou no, com:
r
2
= r
1
+ espessura do invlucro isolante individual + espessura da bainha de cintura;
- resistncia de isolamento entre dois condutores, com:
r
2
= r
1
+ espessura total do isolamento entre as duas almas condutoras.
Observaes:
- A resistncia de isolamento funo das caractersticas dimensionais do cabo
e inversamente proporcional ao seu comprimento.
- A resistncia de isolamento, medida numa canalizao instalada, geralmente
inferior do cabo, devido aos acessrios da rede (influncia, por exemplo, da
presena de humidade na superfcie das extremidades e unies).
- Aresistncia de isolamento depende dos tipos de isolantes utilizados (quadro 18).
3.1.2 - Perdas
1 - Perdas de Joule
As perdas por efeito de Joule num condutor, que transmite uma intensidade eficaz
I (ampere), so dadas por:
W
j
= R I
2
, (W/km)
Sendo R a resistncia em corrente alternada temperatura u
2 - Perdas nos revestimentos metlicos
Se um cabo comporta um cran metlico ou uma armadura, a circulao de
corrente alternada na alma condutora provoca perdas nesses elementos:
- por efeito de Joule, devido circulao de correntes indutivas;
- magnticas, por correntes de Foucault e por histerese.
Perdas de Joule no cran
No estudo do funcionamento trmico de um cabo, representam-se essas perdas
suplementares, por um aumento fictcio da resistncia aparente dos condutores.
CAPTULO III
132
GUIA TCNICO
Duas situaes podem verificar-se, conforme for executada a ligao dos crans
terra:
a) se os crans esto ligados entre si e terra, numa das extremidades da canalizao
de comprimento l (km), observa-se na outra extremidade:
- um aumento do potncial dos crans em relao terra dado por El;
- uma diferena de potencial entre os crans que ser dada por:
2 E l em regime monofsico,
em regime trifsico.
Nota: Se estas subidas de potencial forem susceptveis de tomar valores proibiti-
vos, nomeadamente no caso de curto-circuito monofsico da instalao,
necessrio prever um dispositivo que permita limit-las. A subida do
potencial do cran em relao terra e em regime normal no deve
ultrapassar 50 V (ver quadro 52).
b) Se os crans esto ligados, entre si e terra, nas duas extremidades da
canalizao, so percorridos por uma corrente induzida:
El 3
I
E
=
E
R
E
2
+ M
2
c
2
=
I
1+
R
E
2
M
2
c
2
(A)
W
E
= R
E
I
E
2
=
R
E
I
2
1+
R
E
2
M
2
c
2
(W / km)
R
E
= resistncia do cran temperatura de servio (O/km).
- As perdas Joule no cran tero por valor:
O termo representa o aumento fictcio, R da resistncia aparente
do condutor, devido s perdas no cran provocadas pela corrente de circulao.
- A corrente I
E
ao atravessar o cran, cria um fluxo magntico que se ope quele
que criado pela corrente I que atravessa a alma condutora. Este fenmeno pode
traduzir-se por uma diminuio da indutncia prpria aparente do condutor igual a:
R
E
1+
R
E
2
M
2
c
2
M
1+
R
E
2
M
2
c
2
NOTAS TCNICAS
133
GUIA TCNICO
Perdas magnticas
Se o cran ou armadura envolve o conjunto das fases, o campo magntico resul-
tante, assim como as perdas correspondentes so pequenas em regime equilibra-
do. Pelo contrrio, para os cabos unipolares, o aumento da resistncia aparente
pode atingir valores no desprezveis. Isto impede, em particular, o emprego de
armaduras magnticas neste tipo de cabos. Alm disso, necessrio ter um
cuidado especial para que elementos magnticos exteriores aos cabos, no for-
mem um circuito magntico fechado, envolvendo uma s fase (tubos metlicos,
armaes metlicas dos macios de beto, etc.)
3 - Perdas dielctricas
Num dielctrico perfeito, a corrente capacitiva est rigorosamente em avano de
/2 em relao tenso aplicada. Pelo contrrio, no caso dos dielctricos usados
industrialmente o desfasamento ligeiramente inferior a /2. Este facto traduz-se
por uma perda de energia que provoca o aquecimento do isolante.
Tenso Simples
A tg o a chamada tagente do ngulo de perdas do dielctrico, ou factor de
perdas (ou ainda factor de potncia do dielctrico).
O seu valor depende da tenso, da frequncia e da temperatura. Os valores mdi-
os da tg o temperatura de 20 C e frequncia de 50 Hz esto indicados, para
os principais isolantes, no quadro 18.
As perdas no dielctrico de um condutor so dadas por:
W
d
= U
o
2
C c tg o .10
-6
(W/km)
Desenvolvendo esta expresso substituindo a capacidade pela sua expresso de
clculo, obtm-se na nova expresso um factor r.tgo designado por factor de
perdas do dielctrico.
3.1.3 - Intensidade Admissvel em Regime Permanente
O calor produzido:
- nos condutores por efeito de Joule;
- no invlucro isolante e no revestimento metlico se o cabo for alimentado em
tenso alternada;
atravessa, por conduo, as diferentes camadas do cabo, sendo depois libertado
no meio exterior por dois processos:
- conveco e irradiao se o cabo est colocado ao ar;
- por conduo se o cabo est enterrado no solo.
CAPTULO III
134
GUIA TCNICO
Desde que, no mesmo intervalo de tempo, a soma das perdas trmicas produzidas,
seja igual s perdas dissipadas para o meio ambiente, estabelece-se um estado de
equilbrio, e a temperatura da alma condutora toma um valor constante. Este no
dever ultrapassar um valor fixado pelo comportamento do isolante escolhido e,
eventualmente, pelo comportamento dos outros materiais constituintes do cabo, a
fim de assegurar, para o mesmo, uma durao de vida normal.
Chama-se intensidade mxima admissvel em regime permanente ao valor da
intensidade que provoca, para um determinado meio envolvente, o aquecimento
dos condutores at ao valor mximo permitido.
A CEI 60287 apresenta o mtodo de clculo intensidade admissvel em regime
permanente plena carga, tendo em conta o modelo de representao de um
cabo do ponto de vista trmico:
Notas:
I
p
= intensidade admissvel num condutor em regime permanente (A);
u
p
= temperatura admissvel na alma condutora em permanncia (C);
u
o
= temperatura do meio envolvente (ar ou solo) (C);
R = resistncia de um condutor em corrente alternada, temperatura de servio (O/m);
W
d
= perdas dielctricas no isolante de um condutor (W/m);
T
1
= resistncia trmica do inv1ucro isolante de um condutor (K.m/W);
T
2
= resistncia trmica da bainha interior (K.m/W);
T
3
= resistncia trmica da bainha exterior (K.m/W);
T
4
= resistncia trmica do meio envolvente (K.m/W);
n = nmero de condutores efectivamente percorridos pela corrente elctrica;
l
= razo entre as perdas no cran e as perdas de Joule nos condutores;
2
= razo entre as perdas na armadura e as perdas de Joule nos condutores.
Figura 2 - Esquema para o clculo da Intensidade Admissvel em Regime Permanente
NOTAS TCNICAS
135
GUIA TCNICO
Admitindo-se que:
- as perdas dielctricas, uniformemente repartidas no isolante, podem considerar-se
como sendo geradas no meio das resistncias trmicas T
l
dos invlucros isolantes;
-as resistncias trmicas dos revestimentos metlicos so desprezveis, comparadas
com as dos restantes elementos,
a frmula geral, que d a intensidade admissvel em regime permanente Ip , :
u
p
~ u
o
= RIp
2
+1/ 2W
d
( )
T
1
+ RIp
2
1+
1
( )+ W
d [ |
nT
2
+
[
+ RIp
2
1+
1
+
2
( )+ W
d [ |
n T
3
+ T
4
( )
|
Caso as perdas dielctricas e as perdas nos revestimentos metlicos sejam consi-
deradas desprezveis, comparadas com as perdas de Joule nos condutores:
I
p
=
u
p
~ u
o
R T
1
+ n(T
2
+ T
3
+ T
4
)
[ |
Esta ltima relao permite determinar:
a) a intensidade admissvel I`
p
para uma temperatura ambiente u`
o
diferente de u
o
:
I'
p
= I
p
u
p
~ u'
o
u
p
~ u
o
b) a temperatura u, atingida pela alma condutora para uma intensidade a transmitir
I diferente de I
p
, obtm-se resolvendo a seguinte equao:
I
I
p
=
u~ u
o
u
p
~ u
o
1+ o
20
u
p
~ 20
( )
1+ o
20
u ~ 20 ( )
Para as condies de temperatura ambiente geralmente usadas para a colocao
no solo (u
o
= 20 C) ou ao ar livre (u
o
= 30 C) e para diferentes valores da
temperatura mxima admissvel up:
- os quadros 34 e 35 do o valor da razo em funo de u`
o
;
- os grficos 15 e 16 do o valor de u em funo da razo .
I'
p
I
p
I
I
p
CAPTULO III
136
GUIA TCNICO
Grfico 15 - Temperatura da Alma Condutora para uma Intensidade
Diferente da Intensidade Admissvel em Permanncia
Temperatura ambiente: 20 C
NOTAS TCNICAS
137
GUIA TCNICO
Grfico 16 - Temperatura da Alma Condutora para uma Intensidade
Diferente da Intensidade Admissvel em Permanncia
Temperatura ambiente: 30 C
CAPTULO III
138
GUIA TCNICO
3.2 - Proteco de Pessoas e Bens nas Instalaes
de Baixa Tenso
A - Introduo
Aescolha das medidas de proteco a adoptar numa instalao depende, essencial-
mente, do material utilizado e das condies de alimentao e explorao.
As indicaes dadas nas pginas seguintes destinam-se a precisar vrios termos e
noes, relativas proteco contra as sobreintensidades e os choques elctricos,
numa instalao BT. Tratam-se de elementos simplificados condizentes para
cada caso, com as normas e textos regulamentares aplicveis em particular o
RSIUEE. As prescries deste ltimo so, em grande parte, retiradas dos traba-
lhos internacionais efectuados no quadro da CEI e do CENELEC.
B - Terminologia
- condutor activo: condutor destinado a transmisso de energia elctrica,
incluindo tambm o condutor neutro, em corrente alternada, e o condutor de
retorno, em corrente contnua;
- parte activa: condutor activo ou pea condutora de material elctrico susceptvel
de se encontrar sob tenso, em servio normal;
- massa: todo o elemento metlico susceptvel de ser tocado e, normalmente,
isolado das partes activas, mas podendo acidentalmente ficar sob tenso;
- tomada de terra: toda a pea ou todo o conjunto de peas condutoras, em
contacto directo com o solo, assegurando, assim, uma ligao eficaz com a
terra;
- corrente de defeito: corrente resultante de uma ligao acidental, de impe-
dncia desprezvel ou no, entre dois pontos a potenciais diferentes;
- corrente de fuga: corrente que se escoa, num circuito electricamente so,
para a terra ou para elementos condutores, resultante da resistncia de isola-
mento e da capacidade do circuito;
- sobreintensidade: corrente superior a corrente nominal. Distinguem-se:
corrente de sobrecarga: sobreintensidade criada num circuito electrica-
mente so, resultante de um pedido adicional de potncia;
corrente de curto-circuito: sobreintensidade provocada por um defeito de
impedncia muito baixa;
- contacto directo: contacto entre uma pessoa e uma parte activa;
- contacto indirecto: contacto entre uma pessoa e uma massa colocada aciden-
talmente sob tenso;
- tenso de contacto: tenso que aparece, durante um defeito de isolamento,
entre partes simultaneamente acessveis a uma pessoa;
NOTAS TCNICAS
139
GUIA TCNICO
- condutor de proteco: condutor utilizado, em certas medidas de proteco,
contra contactos indirectos, ligando as massas:
quer a outras massas;
quer a elementos condutores, no fazendo parte da instalao elctrica, mas
susceptveis de propagar um potencial;
quer a tomadas de terra, a um condutor ligado terra ou a uma parte activa
ligada a terra;
- condutor de terra: condutor de proteco ligado a uma tomada de terra;
- dispositivo de proteco da corrente diferencial residual (ou, simplesmente
dispositivo diferencial): dispositivo sensvel soma vectorial das correntes
que circulam nos diferentes condutores activos. A resultante desta composta
pelas correntes de fuga e de defeito, a jusante do ponto onde o dispositivo est
instalado. O circuito magntico do transformador, do dispositivo diferencial
dever envolver, por consequncia, todos os condutores activos do circuito, o
neutro, inclusive. O condutor de proteco dever, pelo contrrio, passar no
exterior do circuito magntico.
C - Proteco dos condutores contra sobreintensidades
Todos os condutores activos devero ser protegidos contra as sobreintensidades,
por aparelhos de corte automtico. A natureza destes ltimos (corta-circuito fus-
vel, disjuntor), as suas caractersticas de funcionamento e as suas aplicaes
devero ser de tal maneira escolhidos, que o aquecimento resultante da sobrein-
tensidade prevista no seja prejudicial ao comportamento dos condutores, s suas
ligaes e ao meio envolvente. O neutro no deve possuir qualquer aparelho de
proteco.
Regras prticas segundo o regulamento de segurana de instalaes de utilizao
de energia elctrica:
- dispositivo de proteco contra sobrecargas:
a sua intensidade limite de no funcionamento (I
nf
) no dever ser superior
a 1,15 vezes intensidade de corrente mxima admissvel na canalizao
(I
z
),
a sua intensidade nominal (I
n
), ou de regulao, dever ser superior intensidade
de corrente mxima admissvel na canalizao (I
z
). de notar que a seco dos
condutores da canalizao ser escolhida de tal maneira que a intensidade de
servio do circuito (I
s
) seja no mximo igual intensidade corrente (I
z
).
CAPTULO III
140
GUIA TCNICO
A figura seguinte esquematiza as relaes atrs consideradas:
Caractersticas do
Aparelho de Proteco
Valores de Referncia
das Canalizaes
a) I
n
f s 1,15I
z
b) I
s
s I
n
s I
Z
- o dispositivo de proteco contra os curto-circuitos dever responder s duas
condies seguintes:
poder de corte pelo menos igual corrente de curto-circuito prevista nesse
ponto da instalao;
tempo de corte t (segundos) inferior ao valor calculado pela seguinte frmula
(com um limite mximo de 5 segundos):
t = k
S
I
cc
S = seco dos condutores a proteger (mm
2
);
I
cc
= intensidade de curto-circuito prevista (A);
k = constante definida no quadro seguinte.
- por outro lado, a proteco contra as sobrecargas e os curto-circuitos poder
ser assegurada, segundo o caso, por:
um mesmo dispositivo;
dispositivos distintos. necessrio ter em ateno que a energia, que o dis-
positivo de proteco contra os curto-circuitos deixa passar, no danifique o
dispositivo de proteco contra sobrecargas. Recomenda-se no ultrapassar
uma razo de 2,5 entre as suas correntes nominais respectivas.
Natureza do metal condutor
Natureza do Isolante
Cobre Alumnio
PVC ......................................................... 115 74
Borracha, PEX, EPR, Silicone ................ 135 87
Quadro 51 - Valor da Constante k
NOTAS TCNICAS
141
GUIA TCNICO
D - Proteco das pessoas contra os choques elctricos
a) Proteco contra contactos directos
Ela , essencialmente, assegurada por medidas preventivas, tomadas ao nvel da
construo do material e da sua instalao. Estas consistem em evitar permanen-
temente todo e qualquer contacto, voluntrio ou fortuito, entre as pessoas ou os
objectos que elas possam manipular ou transportar e as partes activas da instala-
o elctrica. So asseguradas:
por isolamento das partes activas;
por meio de obstculos;
por afastamento.
Em certos casos, estas medidas podem ser complementadas com o uso de um
dispositivo diferencial, conferindo igualmente uma proteco contra contactos
indirectos.
b) Proteco contra contactos indirectos
Medidas passivas ou preventivas, sem originarem corte automtico da
alimentao. Se elas tm um certo interesse terico, revelam-se, muitas vezes,
de difcil aplicao prtica. Estas medidas so, por consequncia, reservadas a
certas partes das instalaes, nomeadamente, desde que a aplicao de medidas
activas seja impraticvel.
Consistem, quer em impedir qualquer contacto simultneo de massas e elementos
com um potencial elevado, quer em tornar esses contactos menos perigosos
recorrendo, por exemplo a:
- emprego da tenso reduzida de segurana (50 V em tenso alternada, 75 V em
tenso contnua);
- emprego de materiais da classe II de isolamento;
- separao de segurana dos circuitos;
- afastamento ou uso de obstculos;
- isolamento das massas;
- estabelecimento de ligaes equipotenciais;
- etc.
CAPTULO III
142
GUIA TCNICO
Medidas activas ou operativas, com corte automtico da alimentao:
- um dispositivo de proteco deve colocar, automaticamente sem tenso, a
parte da instalao que ele protege, desde que, durante um defeito nesta, seja
susceptvel o aparecimento de uma tenso de contacto perigosa, isto , de:
50 V em instalaes que alimentem aparelhos de utilizao fixos ou mveis
que no possuam massas susceptveis de serem empunhadas;
25 V em instalaes que alimentem aparelhos de utilizao fixos ou mveis
que possuam massas susceptveis de serem empunhadas ou aparelhos de
utilizao portteis.
O corte da tenso dever ser efectuado num tempo inferior ao determinado no
quadro 52, em funo da tenso de contacto previsvel. Este quadro corresponde
a instalaes correntes (locais no molhados) alimentadas em tenso alternada ou
tenso contnua, nas condies normais de explorao e manuteno.
Valores mais severos podero ser considerados em certos casos particulares.
Massas:
- todas as massas da instalao devero ser ligadas a um condutor de proteco;
- as massas, simultaneamente acessveis, devero estar ligadas mesma tomada
de terra, mesmo que pertenam a instalaes diferentes;
- o aparecimento de tenses de contacto perigosas, durante o tempo de funcio-
namento do dispositivo de proteco, dever ser evitado por meio de ligaes
equipotenciais:
ligao equipotencial principal: sempre necessria na entrada de cada edifcio,
entre todas as canalizaes metlicas, os elementos condutores e a tomada
de terra, a fim de evitar, particularmente, a propagao de potenciais vindos
do exterior,
ligaes equipotenciais secundrias: realizadas, s em certos casos entre as
massas e os elementos condutores simultaneamente acessveis, nomeadamente,
desde que o corte no possa ser assegurado de uma maneira suficientemente
rpida;
Tenso do contacto previsvel Tempo mximo de actuao do
(V) aparelho de proteco
(V)
25 5
50 1
70 0,5
80 0,4
110 0,2
150 0,1
220 0,05
280 0,03
Quadro 52 - Tempo de actuao dos aparelhos de proteco
NOTAS TCNICAS
143
GUIA TCNICO
Exclusividade da identificao: os condutores de proteco devero ser exclusi-
vamente de cor verde-amarelo (ver seco 1.5.2).
A seco dos condutores de proteco determinada, essencialmente, pelo
aquecimento admissvel, provocado pela passagem da corrente de defeito, pela
impedncia de defeito e pela resistncia mecnica necessria. O quadro 53 indica
a relao, geralmente utilizada, entre a seco do condutor de proteco e a sec-
o dos condutores de fase correspondentes.
* Para os cabos flexveis a seco do condutor de proteco igual seco dos condutores de fase.
A seco dos condutores de terra determinada de maneira anloga e no
deve, em caso algum, ser inferior a:
25 mm
2
, para um condutor em cobre nu,
100 mm
2
, para um condutor em ao galvanizado.
- esquemas das ligaes terra
As caractersticas do dispositivo de proteco devero ser coordenadas com o
esquema de ligaes terra da instalao em estudo.
Distinguem-se trs esquemas de ligao terra, assegurando nveis de segurana
equivalentes, de modo que todas as prescries correspondentes sejam respeita-
das. A escolha do esquema a utilizar depende, em cada caso, das condies de
alimentao e de explorao e dever ser objecto de um exame detalhado.
O quadro 54 resume as principais caractersticas e condies de utilizao dos v-
rios esquemas.
Seco das fases Seco mnima dos condutores
mm
2
de proteco*
mm
2
S s 10 S
S = 16 10
25 s S s 35 16
S > 35 S/2
Quadro 53 - Seco dos condutores de proteco
CAPTULO III
144
GUIA TCNICO
Quadro 54 - Esquema de Ligao Terra
NOTAS TCNICAS
145
GUIA TCNICO
Quadro 54 (cont.) - Esquema de Ligao Terra
CAPTULO III
146
GUIA TCNICO
3.3 - Clculos Mecnicos
3.3.1. - Esforos Electrodinmicos em Caso de Curto-Circuito
Durante as sobrecargas bruscas e, em particular, durante os curto-circuitos desen-
volvem-se esforos electrodinmicos entre os condutores de fase. Estes esforos
no tm repercusses importantes no caso de cabos multipolares ou monopolares
enterrados.
Pelo contrrio, no caso de cabos unipolares colocados ao ar livre, se no forem
tomadas medidas de proteco no momento da instalao (ver ponto 2 da seco
4.1.2) os esforos so susceptveis de provocar deslocamentos importantes e vio-
lentos dos cabos, podendo ser prejudiciais, quer segurana das pessoas que se
encontrem nas proximidades, quer boa conservao do material.
O esforo electrodinmico, desenvolvido por metro de canalizaco, dado por:
F = K
I
cc
2
a
10
~5
F uma fora de atraco, se os condutores forem percorridos por correntes de
sentido idntico, e de repulso, no caso contrrio;
I
cc
= intensidade de curto-circuito (A), (em tenso alternada: valor eficaz da
componente alternada);
a = distncia entre eixos das fases com defeito (mm);
K = coeficiente dependente da forma dos condutores, do seu nmero, da sua
disposio relativa e da natureza do curto-circuito. Podemos admitir, em
primeira aproximao, os seguintes valores:
daN / m
Quadro 55 - Esforos electrodinmicos
NOTAS TCNICAS
147
GUIA TCNICO
3.3.2 - Determinao da Seco das Armaduras em Fios de Ao
As armaduras em fios de ao so, geralmente, destinadas a resistir aos esforos de
traco longitudinais aplicados aos cabos, quer de forma permanente, em funo
das condies de utilizao, quer temporariamente, no momento da instalao.
Por exemplo, o caso das canalizaes:
- enterradas, em terreno instvel, ou susceptvel de sofrer movimentos;
- submarinas ou subfluviais;
- enfiadas em tubos;
- em galerias ou poos de minas;
- areas;
- verticais ou inclinadas.
de notar que as armaduras, nas quais os fios so solidrios com a bainha exterior,
oferecem uma melhor garantia contra os riscos de deformao e de toro.
Em funo do esforo de traco aplicado, prevista a utilizao de uma ou duas
camadas de fios.
A seco total da armadura dada por:
S =
Fk
C
r
, mm
2
F = esforo de traco previsto (daN),
k = coeficiente de segurana aplicado. Segundo as condies, estar compreendido
entre 3 e 6,
C
r
= resistncia ruptura, do ao que constitui os fios (daN/mm
2
).
Os fios de ao, de uso corrente, apresentam uma carga de ruptura de 45 a
60 daN/mm
2
.
Em certos casos, necessrio recorrer a um ao especial, de resistncia mecnica
mais elevada, por exemplo, ao de 140 a 160 daN/mm
2
.
Quando da colocao vertical do cabo, a armadura , geralmente, obrigada a
suportar todo o peso do mesmo, at ao ponto de fixao. A sua seco calcula-se,
ento, da seguinte maneira:
S =
phk
C
r
~
p' h
C
r
k
~ 8h
, mm
2
S, k, C
r
= j atrs definidos,
h = altura de suspenso (m),
P = peso do cabo, incluindo a armadura (daN/m),
P`= peso do cabo sem armadura (daN/m).
CAPTULO III
148
GUIA TCNICO
Esta relao mostra que, para um ao de carga de ruptura C
r
e para um coeficiente
de segurana k dados, impossvel ultrapassar uma altura igual a:
Cr
8k
3.3.3. - Esforo de Traco durante o Enfiamento do Cabo em Tubos
As disposies gerais relativas colocao dos cabos em tubos sero indicadas
no captulo IV, seco 4.1.2.
necessrio assegurar, previamente, que o esforo de traco terico no ultra-
passe o valor admissvel para o tipo de cabo considerado (ver quadro 24).
O valor do esforo de traco depende de numerosos parmetros que no podem
ser rigorosamente avaliados: valor exacto dos coeficientes de atrito esttico e
dinmico, influncia das mudana de direco, presso do cabo contra as paredes
nas curvas, etc.
O mtodo de clculo indicado a seguir permitir, contudo, uma estimativa
aproximada.
O esforo de traco exercido na extremidade do cabo e num ponto qualquer da
passagem em tubo dado por:
F = n W
c
k
o
pl, daN
Os diferentes parmetros so explicitados a seguir:
n = nmero de cabos enfiados simultaneamente no mesmo tubo,
W
c
= factor de correco representando a influncia da disposio relativa dos
cabos enfiados simultaneamente:
1 cabo por tubo: W
c
= 1,
3 cabos por tubo: o valor mdio de W
c
, correspondente a uma disposio
parcialmente em esteira, parcialmente em tringulo, dado pelo grfico
da pgina 144, em funo da razo entre o dimetro interior do tubo e o
dimetro dos cabos,
p = peso por metro de cabo, daN/m,
k
o
= coeficiente de atrito. Depende da natureza da banha exterior dos cabos, da
natureza do tubo, do emprego eventual de um lubrificante, etc. Tem, por
outro lado, um valor esttico superior ao valor dinmico, o que explica que
o esforo de traco mximo atingido, geralmente, durante os arranques
que se seguem s paragens da operao de desenrolar o cabo.
C
r
NOTAS TCNICAS
149
GUIA TCNICO
u > 0 se a traco efectuada para cima,
relativamente horizontal,
u < 0 se a traco efectuada para baixo,
relativamente horizontal.
c) comprimento aparente na sada de uma curva:
l
o
= comprimento aparente do percurso, entubado, antes da curva (m),
u = ngulo de curvatura (radianos),
R = raio de curvatura (m),
k = W
c
k
o
coeficiente efectivo de atrito.
A ttulo indicativo, fornecemos, a seguir, os valores experimentais de k
o
no caso
de enfiamento em tubos termoplsticos:
l = comprimento aparente do percurso, dentro de tubos, a montante do ponto
considerado (m).
Obtm-se gradualmente, a partir da entrada no tubo, pela aplicao das
seguintes regras:
a) comprimento aparente de um troo em linha recta: igual ao comprimento real;
b) comprimento aparente de um troo inclinado, de comprimento real x:
=
Cosu +
1
W
c
K
o
Sinu
[
\
|
|
)
j
j
l
Quadro 56 - Valores de K
0
para enfiamento em tubos termoplstcos
CAPTULO III
150
GUIA TCNICO
Curvatura no plano horizontal:
l = l
o
chku + l
o
2
+
R
k
[
\
|
)
j
2
sh ku
Apresentamos, no grfico da pgina 145 os valores da razo em funo de
Desde que podemos considerar, com uma boa preciso, a seguinte relao
aproximada: l = l
o
e
ku
Curvatura no plano vertical:
As relaes correspondentes so mais complexas e saem do mbito deste livro.
Os nossos servios tcnicos esto vossa disposio para fornecer estas relaes
a pedido, e para estudar os problemas que possam surgir no enfiamento dos
cabos em tubos.
Grfico 17 - Factor de Correco Wc para o Enfiamento de
3 Cabos no mesmo Tubo
l
l
0
kue
R
kl
o
klo
R
~10
NOTAS TCNICAS
151
GUIA TCNICO
G
r
f
i
c
o
1
8
-
E
n
f
i
a
m
e
n
t
o
e
m
T
u
b
o
s
c
o
m
u
m
a
C
u
r
v
a
t
u
r
a
n
o
P
l
a
n
o
H
o
r
i
z
o
n
t
a
l
CAPTULO III
152
GUIA TCNICO
3.4 - Grandezas e Unidades
Quadro 57 - Grandezas e unidades
A ttulo informativo, apresenta-se nos quadros seguintes (quadro 57 a 60)
Unidades do Sistema Internacional.
NOTAS TCNICAS
153
GUIA TCNICO
Quadro 57 - Grandezas e unidades (continuao)
CAPTULO III
154
GUIA TCNICO
Quadro 57 - Grandezas e unidades (continuao)
NOTAS TCNICAS
155
GUIA TCNICO
Quadro 58 - Alfabeto grego
Quadro 59 - Numerao romana
Quadro 60 - Prefixos de unidades
IV
C
aptulo
Tcnica de Colocao dos Cabos
Localizao de Defeitos
em Redes Subterrneas
Acondicionamento de
Cabos Elctricos
TCNICA DE COLOCAO DOS CABOS LOCALIZAO DE DEFEITOS EM REDES SUBTERRNEAS ACONDICIONAMENTO DE CABOS ELCTRICOS
159
GUIA TCNICO
4.1 - Tcnica de Colocao dos Cabos
4.1.1 - Introduo
As pginas seguintes tm por objectivo fornecer indicaes de ordem geral e
chamar a ateno para particularidades relativas aos vrios modos de colocao
dos cabos geralmente usados, nomeadamente, para canalizaes em baixa
tenso, veiculando uma grande potncia, e para canalizaes em mdia e alta
tenso. Iremos abordar os seguintes aspectos:
- a colocao no solo;
- a colocao ao ar livre ou em galeria;
- a colocao em tubos;
- a colocao dos condutores e cabos de baixa tenso em caminhos de cabos,
atrs de tectos falsos ou encastrados, em calhas ou tabuleiros, em rodaps, nos
vazios das construes, etc.
conveniente atender, ainda, s indicaes dadas nos textos de apresentao dos
condutores e cabos correspondentes, assim como s prescries regulamentares.
4.1.2 - Condies Gerais de Instalao
1 - Colocao no Solo
Disposies Gerais
a) Nos termos da regulamentao portuguesa
Os cabos que constituem as canalizaes subterrneas devem ser protegidos con-
tra as deterioraes resultantes do abatimento de terras, do contacto com corpos
duros, do choque das ferramentas metlicas manipuladas pelo homem e, se tal
tiver lugar, da aco qumica causada pelos elementos do solo.
Os cabos que comportam uma armadura em ao colocada sobre uma bainha de
estanquidade podem, por este facto, ser directamente enterrados. Uma proteco
mecnica independente, constituda por caleira de beto, tubos, lajes, etc, , em
princpio, necessria no caso de cabos no armados. No entanto, estes podem ser
directamente enterrados, sem proteco complementar, desde que eles prprios
possam suportar o efeito de esmagamento da terra e o contacto com corpos duros
e, alm disso, comportem um cran metlico ligado terra.
b) Profundidade de colocao
Dever ser determinada em funo das condies locais e da tenso de servio da
canalizao. Considera-se uma profundidade mnima de colocao dos cabos no solo:
- 0,60 a 0,70 m, em terreno normal;
CAPTULO IV
160
GUIA TCNICO
- 1 metro, sob vias de comunicao,
sendo geralmente suficiente para os cabos BT e MT.
Para os cabos de alta e muito alta tenso, colocados em caleira de beto pr-
-fabricada e cheia de areia, aconselha-se a colocao da parte inferior dos ternos
nas profundidades mnimas seguintes:
- colocao fora das aglomeraes ou nas subestaes: 0,80 m;
- colocao em aglomeraes :1,20 m.
Por vezes, podemos ser levados a usar profundidades de colocao inferiores aos
valores anteriores (nomeadamente, em terreno rochoso, devido a obstculos ou
razes econmicas). Convm, ento, assegurar que os cabos no correm o risco
de serem deteriorados, particularmente, durante o abatimento de terras ou do con-
tacto com agentes exteriores. Uma proteco mecnica satisfatria dever,
ento, ser prevista: chapa de ao, tubos, etc.
c) Dispositivo avisador
Tanto as canalizaes enterradas como as caleiras ou tubos devero possuir por
cima, a uma altura mnima de 0,10 m (de preferncia 0,20 m), um dispositivo
avisador constitudo por uma grelha metlica, protegida contra a corroso, ou
uma grelha plstica.
d) Raio de curvatura
conveniente respeitar, em quaisquer circunstncias, os valores mnimos indica-
dos nos quadros 21 a 23.
e) Proximidade com outras canalizaes
Proximidade entre canalizaes de energia:
Desaconselhamos a sobreposio de vrias canalizaes. Com efeito, alm de ser
uma soluo desfavorvel no aspecto trmico, torna delicada qualquer interveno
posterior nos cabos das camadas inferiores.
Recomenda-se, em cada caso, a definio da disposio relativa das canalizaes
colocadas lado a lado, no seguimento de um estudo que tenha em conta, nomea-
damente, a reduo das capacidades de transporte (ver ponto 3D da seco 2.2.2),
o espao disponvel, o custo da obra civil, etc. Ser previsto pelo menos um espa-
amento de 0,20 m entre os bordos mais prximos de duas canalizaes vizinhas,
permitindo estabelecer um compromisso, a fim de minimizar a influncia trmica
entre as canalizaes, a largura da vala e os riscos de deteriorao durante a colo-
cao ou em caso de incidente.
TCNICA DE COLOCAO DOS CABOS LOCALIZAO DE DEFEITOS EM REDES SUBTERRNEAS ACONDICIONAMENTO DE CABOS ELCTRICOS
161
GUIA TCNICO
Proximidade entre canalizaes de energia e de telecomunicaes:
- se as canalizaes se cruzarem, dever ser deixada uma distncia mnima de
0,20m entre elas;
- se as canalizaes seguirem o mesmo traado, o afastamento mnimo a prever,
ao longo do mesmo, de 0,50m, a no ser que sejam tomadas medidas que
assegurem uma proteco suficiente do cabo de telecomunicaes, em caso de
incidente que afecte a canalizao de energia.
importante notar que os valores anteriores constituem os valores das distncias
mnimas de segurana. Em cada caso e, em particular, se se tratar de uma linha
de telecomunicaes com um comprimento grande, desejvel proceder a um
exame particular da questo, juntamente com o servio de explorao do circuito
de telecomunicaes, a fim de definir as disposies a adoptar, nomeadamente,
no que se refere aos riscos de perturbao por induo electromagntica.
Proximidade dos suportes das linhas areas:
Os cabos devem ser, em princpio, colocados a mais de 0,50 m dos bordos extre-
mos dos suportes ou dos seus macios. Esta distncia aumentada para 1,50 m
nos suportes submetidos a esforos que lhes provoquem oscilaes importantes,
as quais se transmitem s fundaes.
Proximidade de canalizaes no elctricas (condutas de gua, de gs, de
hidrocarbonetos, de vapor, etc.):
A distancia mnima a prever, quer no caso de cruzamento, quer no caso de
percursos paralelos, de 0,20 m.
Colocao Directamente no Solo
O fundo da vala dever ser preparado, a fim de ser eliminada toda a rudeza do
terreno susceptvel de deteriorar a bainha exterior dos cabos. Estes so colocados
no meio de duas camadas de terra fina (excluindo as pedras com mais de 2 mm)
ou de areia isenta de qualquer sujidade (lama, produtos qumicos, etc), com 10 a
15 cm de espessura cada . O enchimento da vala, pelo menos at 10 cm abaixo
do dispositivo avisador, efectuado com a terra retirada aquando da abertura da
mesma. conveniente limp-la dos materiais que possam danificar os cabos,
nomeadamente com a ajuda de um crivo. O enchimento efectuado em vrias
camadas sucessivas, cuidadosamente calcadas. Teremos o cuidado, no caso de
utilizao de engenhos mecnicos de compactagem, de evitar o esmagamento e a
sacudidela dos cabos.
Em certos casos, podemos ser levados a substituir toda ou parte da terra por
materiais de caractersticas trmicas favorveis (ver ponto 3C da seco 2.2.2).
CAPTULO IV
162
GUIA TCNICO
Colocao em Caleira
As caleiras podem ser realizadas no local, em alvenaria, ou serem constitudas
por elementos pr-fabricados, em beto armado montados uns a seguir aos
outros. Devem apresentar, principalmente, as seguintes caractersticas:
- possuir dimenses interiores tais que permitam a existncia de um espao
livre, entre os cabos e a face interior das coberturas;
- serem de muita boa qualidade e possurem um acabamento cuidado;
- apresentarem uma superfcie interior perfeitamente lisa no comportando
nenhuma aspereza;
- encastrarem-se uns nos outros por intermdio de encaixes suficientes, para
que no haja o risco de se afastarem uns em relao aos outros.
O fundo da vala dever ser cuidadosamente nivelado, a fim de permitir a ligao
dos elementos da caleira. Se for de prever movimentos do terreno, os referidos
elementos devem ser colocados sobre um tapete de beto, de modo que fiquem
solidrios uns com os outros.
Nas curvas, a utilizao de elementos rectilneos, mesmo com um comprimento
pequeno, ou de um elemento curvo desaconselhvel. prefervel a construo
de uma curva ligada base da caleira. Depois da colocao dos cabos, ser cons-
trudo um muro de cada lado da canalizao, constitudo por tijolos e cimento,
sendo enchido o espao interior, no qual esto os cabos, com areia ou terra fina,
antes de ser coberto com lajes apropriadas de beto armado.
No caso de canalizaes constitudas por trs cabos unipolares, colocados em
caleira de beto armado, prefervel colocar os trs cabos dentro da mesma
caleira. Escolheremos, por exemplo, uma caleira de fundo parablico, permitindo
a colocao dos cabos em tringulo. Ser deixado pelo menos um espao de
1 cm entre os dois cabos situados na parte superior.
O nvel de proteco mecnica, conferida aos acessrios (junes e derivaes),
dever ser equivalente ao do cabo.
Figura 3 - Esquema de colocao dos
cabos directamente no solo
TCNICA DE COLOCAO DOS CABOS LOCALIZAO DE DEFEITOS EM REDES SUBTERRNEAS ACONDICIONAMENTO DE CABOS ELCTRICOS
163
GUIA TCNICO
Imediatamente aps a colocao dos cabos, as caleiras so cheias com areia,
sendo em seguida fechadas com tampas, eventualmente unidas com cimento.
O enchimento da vala feito de maneira semelhante usada para canalizaes
directamente no solo.
Nas canalizaes MT e AT, os acessrios de juno e de derivao devero ser
colocados em cmaras de dimenses apropriadas, construdas quer em alvenaria
quer em elementos pr-fabricados em beto, cheias de areia e fechadas com lajes.
2 - Colocao em Galeria ou ao Ar Livre
S aos cabos munidos de uma bainha exterior de proteco permitida uma
colocao ao ar livre.
Os cabos sem bainha exterior de proteco devero ser colocados no interior de
condutas apropriadas.
As vrias formas de colocao e fixao escolhidas devem, essencialmente:
- respeitar os raios de curvatura mnimos dos cabos (ver quadros 21 a 23);
- permitir uma dissipao satisfatria das perdas trmicas;
- evitar todo o efeito prejudicial dos deslocamentos, que podem resultar das
dilataes trmicas em regime normal e das solicitaes electrodinmicas, no
caso de curto-circuito (ver seco 3.3.1), por exemplo: deslocao dos cabos
para fora dos suportes, formao de barrigas com um raio inferior ao raio de
curvatura mnimo, ondulaes proibitivas, escorregamento para o ponto mais
baixo se a canalizao for desnivelada, etc.
Colocao ao Longo das Paredes com a Ajuda de Abraadeiras, Presilhas,
Colocao em Consolas, etc.
Em percurso horizontal, esta disposio s aceitvel para cabos pouco sensveis
s solicitaes mecnicas, devido a disposies especiais na sua constituio, e no
deve comprometer o seu comportamento dielctrico. Os processos de fixao
Figura 4 - Esquema de colocao
dos cabos em caleira
CAPTULO IV
164
GUIA TCNICO
escolhidos devem, em particular, evitar todo o risco de ferimento ou quebra dos
cabos nas arestas, devido aos movimentos atrs descritos. Os cabos devem ser
fixos em pontos suficientemente prximos, para no curvarem sob o efeito do
seu prprio peso. Indica-se, a este respeito, uma distncia mxima entre duas
fixaes sucessivas de:
- 0,40 m para os cabos sem revestimento metlico;
- 0,75 m para os cabos com revestimento metlico.
Os cabos devero ser fixados nos dois lados, aquando de uma mudana de direco
e na proximidade imediata das entradas nas aparelhagens.
Em percurso vertical, deve ser dada uma ateno especial fixao dos cabos,
cuja constituio no est especificamente concebida para resistir s solicitaes
mecnicas, nomeadamente, nos cabos MT e AT no armados, com dimenses
importantes. Aconselhamos o uso de abraadeiras, cujo dimetro interior seja
superior 5 a 10 mm ao dimetro exterior do cabo, a fim de permitir uma folga
elstica. A largura da abraadeira dever ser, no mnimo, igual ao dimetro
exterior do cabo e a distncia entre duas abraadeiras consecutivas deve ser
apropriada s dimenses do cabo. Em caso de cabos unipolares, as abraadeiras
devero ser em madeira ou material amagntico.
Colocao em Caminhos de Cabos ou em Tabuleiros
Esta disposio assegura uma repartio uniforme do peso, ao contrrio dos
modos de colocao anteriores. Os caminhos de cabos so, normalmente, cons-
trudos em cimento ou metal. Neste ltimo caso, so de preferncia perfurados, a
fim de permitirem uma melhor circulao do ar volta dos cabos. aconselh-
vel, no caso de canalizaes que veiculem uma grande potncia e que sejam
realizadas com cabos unipolares, colocar estes de uma forma ondulada, utilizan-
do dispositivos de fixao especialmente concebidos para esse efeito.
Os cabos podem, assim, efectuar movimentos de dilatao e de contraco
sucessivos sem correr o risco de se encontrarem sob tenso mecnica, em caso
de colocao fora de servio a baixa temperatura.
Estas fixaes devero responder aos seguintes imperativos:
- dominar os movimentos provocados pelas dilataes e pelas solicitaes
electrodinmicas;
- manter uma disposio em tringulo.
Preconizamos o emprego de abraadeiras flexveis, em material no degradvel
(fios de nylon, por exemplo), dispostas em intervalos regulares, em funo da
especificao dos cabos.
Desaconselhamos o emprego de fixaes em metal, que so pouco elsticas e
podem ferir os cabos, ou fixaes formadas por uma nica tira sinttica que, com
o tempo se pode partir ou soltar deixando os cabos fora do lugar.
TCNICA DE COLOCAO DOS CABOS LOCALIZAO DE DEFEITOS EM REDES SUBTERRNEAS ACONDICIONAMENTO DE CABOS ELCTRICOS
165
GUIA TCNICO
Proximidade entre Canalizaes
aconselhvel prever um intervalo livre entre canalizaes vizinhas, colocadas
num mesmo tabuleiro, a fim de limitar a influncia trmica (ver pgina 80), de
possibilitar s canalizaes uma certa liberdade de movimentos e de favorecer a
manipulao dos cabos. Desaconselhamos a colocao de vrias canalizaes,
sobre um mesmo tabuleiro, em camadas sobrepostas. Pelo contrrio, possvel
prever vrios tabuleiros sobrepostos, sendo guardada uma distncia de 30 cm entre
tabuleiros, o que tornar desprezvel a influncia trmica e permitir tambm uma
manipulao fcil dos cabos.
Alm disso, ser razovel, dentro do possvel, nunca prever num mesmo tabuleiro
canalizaes pertencentes a redes de tenso diferentes.
3 - Colocao em Tubos
, geralmente, desaconselhvel colocar um cabo armado, com fitas, dentro de
tubos.
Este modo de colocao adapta-se, particularmente, realizao de troos nos
quais necessrio:
- limitar as agresses provocadas pelo desenrolar do cabo, realizado por meio
de um carro apropriado, e as eventuais intervenes posteriores inerentes;
- conceder aos cabos uma proteco reforada.
por isso que escolhido geralmente, para canalizaes de telecomunicaes e
para certas passagens de canalizaes de energia, particularmente nas travessias
das vias de comunicao.
As seguintes indicaes, que so completadas com os elementos de ordem trmica
dados na pgina 83, destinam-se a guiar a escolha do tubo e a sua aplicao.
Natureza dos Tubos
funo das caractersticas desejadas em cada caso. Distinguem-se:
- os tubos em material termoplstico (PE ou PVC). Aconselhamos o seu emprego
na maior parte dos casos, devido s suas inmeras vantagens: leveza, boas carac-
tersticas mecnicas, resistncia corroso, fraco coeficiente de atrito, preo de
revenda interessante, possibilidade de fornecimento em grandes comprimentos;
- os tubos em ao ou em ferro fundido so mais utilizados no caso de se preverem
solicitaes mecnicas elevadas, nomeadamente risco de esmagamento.
No necessitam de um encastramento de proteco. A sua natureza magntica
impede, no entanto, que seja colocada uma fase por tubo.
CAPTULO IV
166
GUIA TCNICO
Dimetro de Tubos
Dever permitir um enfiamento satisfatrio dos cabos sem risco de os arranhar.
A razo entre o dimetro interno do tubo e o dimetro exterior de um cabo,
equipado para ser enfiado, dever ser, na prtica:
- compreendida entre 2,5 e 2,8 no caso de trs cabos por tubo;
- superior a 1,5 no caso de um cabo por tubo.
Nota: os tubos em beto ou cimento no so aconselhveis. Esto menos adapta-
dos que os anteriores ao enfiamento dos cabos, em virtude do seu coefici-
ente de atrito elevado e do risco de danificao das bainhas exteriores.
Traado do Percurso em Tubos
As suas caractersticas (comprimento, mudana de direco, raios de curvatura) no
devem provocar um esforo de traco prejudicial durante o enfiamento do cabo.
Os esforos de traco admissveis para os vrios tipos de cabos esto indicados
no quadro 24.
Disposio dos Tubos
Ligao dos tubos entre si:
Dever ser realizada com todo o cuidado, de modo a que no fiquem rebarbas ou
rugosidades susceptveis de danificar o cabo durante o enfiamento. Se os tubos
forem encaixados uns nos outros, o sentido de enfiamento dever coincidir com
o dos encaixes.
Macio envolvente:
Desde que sejam susceptveis de aparecer solicitaes mecnicas (sob as vias de
comunicao, por exemplo), ser necessrio dispor os tubos no metlicos dentro
de um macio de beto.
No caso de enfiamento de uma fase por tubo, teremos o cuidado para que as
ferragens eventuais no se fechem volta de uma nica fase.
Extremidades dos tubos:
- cabos colocados em caleira: os tubos so ligados s caleiras por construes em
alvenaria, realizadas segundo o critrio utilizado para as curvas (ver pgina 161).
Esta construo dever estar perfeitamente ligada ao fundo das caleiras e
geratriz inferior dos tubos;
- cabos colocados directamente na terra: construes em forma de trampolim de-
vero ser dispostas de cada lado dos tubos, para evitar que os cabos corram o
risco de se partirem sada dos tubos ou em caso de movimentos do terreno;
TCNICA DE COLOCAO DOS CABOS LOCALIZAO DE DEFEITOS EM REDES SUBTERRNEAS ACONDICIONAMENTO DE CABOS ELCTRICOS
167
GUIA TCNICO
4 - Colocao na Vertical
Perante a necessidade de instalar cabos AT ou MAT, em poos verticais, nomea-
damente, nas centrais hidrulicas de bombagem, existem especificaes de
cabos adaptadas a estas condies de explorao.
As mudanas de especificao incidem, essencialmente, sobre:
- a bainha semi-condutora, estriada, sobre o
isolante;
- a supresso da bainha de chumbo e a sua
substituio por uma camada de fios de
alumnio, recoberta por uma fita do mes-
mo material;
- a bainha de proteco, aderente fita de
alumnio anelada, para assegurar um
bloqueio nas abraadeiras de fixao.
A colocao do cabo efectua-se segundo
uma disposio sinusoidal, como a represen-
tada no esquema ao lado. A fixao do cabo
assegurada por abraadeiras especiais.
- por outro lado, as extremidades dos tubos so obturadas com gesso ou estuque,
com interposio, no caso de cabos no armados, de uma camada elstica entre
o cabo e o gesso.
Figura 5 - Disposio dos tubos
Figura 6 - Colocao na vertical
CAPTULO IV
168
GUIA TCNICO
5 - Nota importante
necessrio velar, para que as condies de instalao dos cabos no provo-
quem um desequilbrio entre as impedncias dos vrios condutores ou fases em
funcionamento normal, podendo originar por exemplo:
- desequilbrios na carga entre os condutores, susceptveis de provocarem
aquecimentos anormais;
- desequilbrios entre as quedas de tenso das vrias fases, podendo perturbar o
funcionamento dos receptores.
Tais desequilbrios provm, geralmente, das resistncias de contacto das extremi-
dades e da colocao em paralelo de vrias canalizaes. conveniente adoptar
as seguintes precaues:
- resistncias de contacto: assegurar uma execuo e um aperto idnticos nas
conexes dos vrios condutores;
- canalizaes em paralelo: prever a mesma seco para as vrias canalizaes e
comprimentos de cabo idnticos. Alm disso, se se tratarem de canalizaes, vei-
culando uma potncia elevada e constitudas por cabos unipolares com uma gran-
de seco, os fenmenos de induo entre os vrios cabos, afectos a uma mesma
fase, podem originar desequilbrios importantes. Nesse caso, aconselhvel:
- agrupar num s conjunto, em esteira ou trevo, trs cabos pertencendo a
fases diferentes e espaar os ternos assim formados;
- transpor regularmente os cabos pertencentes ao mesmo terno;
- ligar os crans entre si somente numa extremidade, o que, geralmente per-
mitido devido aos comprimentos curtos que caracterizam este tipo de ligao.
4.1.3 - Montagem dos Cabos
As pginas seguintes no constituem instrues detalhadas de colocao, mas tm
propsito de chamar a ateno para um dado nmero de pontos e indicar
regras simples que devem estar presentes numa montagem cuidadosa e segura.
Transporte e Manuteno
Durante o transporte, as bobinas cheias devem ser colocadas na vertical, assentes
nas duas faces e nunca deitadas.
Na chegada aos estaleiros, dever ser efectuado um exame a cada bobina, parti-
cularmente, o estado das abas ou aduelas de proteco e o aspecto dos capacetes
nas extremidades dos cabos.
O descarregamento poder efectuar-se com a ajuda de uma rampa prpria, tendo
em conta a travagem da bobina ou, de preferncia, com a ajuda de um brao
TCNICA DE COLOCAO DOS CABOS LOCALIZAO DE DEFEITOS EM REDES SUBTERRNEAS ACONDICIONAMENTO DE CABOS ELCTRICOS
169
GUIA TCNICO
mecnico e por intermdio de uma barra colocada no orifcio central da bobina.
A linga dever possuir um comprimento suficiente, para evitar um esforo peri-
goso sobre as abas. estritamente desaconselhvel colocar directamente a linga
volta da bobina, sobre a camada exterior do cabo, devido ao risco de deteriorao
que este corre. Nunca devemos deixar cair as bobinas ao cho.
O rebolar das bobinas limitado a curtas distncias e o sentido de rotao no
dever provocar o desenrolar das espiras de cabo. Em caso de armazenagem, as
bobina devero repousar em terreno plano, estvel e convenientemente caladas.
Se um comprimento de cabo for retirado, a extremidade do cabo que fica na
bobina imediatamente tapada com uma carapua estanque.
1 - Desenrolamento dos Cabos
Precaues Comuns aos Diferentes Processos de Desenrolamento
a) Antes do desenrolamento
- temperatura: o quadro 17 indica as temperaturas mnimas, s quais os cabos
podem ser desenrolados em funo dos seus materiais constituintes (conside-
rar o material isolante ou bainha que autorize a temperatura mais baixa). Des-
de que as condies o imponham, dever ser efectuado um aquecimento pr-
vio dos cabos;
- limpar cuidadosamente o percurso, de maneira a retirar todas as pedras e
objectos susceptveis de danificar os cabos;
- colocar e fixar solidamente as roldanas;
- em linha recta: 1 roldana todos os 2 ou 5 m, em funo da natureza do cabo;
- nas mudanas de direco: roldanas de ngulo em nmero suficiente.
As roldanas utilizadas devem apresentar uma superfcie lisa e rodar livremente;
- ter em ateno a ordem de desenrolamento dos vrios troos de cabo, no caso
dos cabos unipolares, que devero ser permutados.
b) Durante o desenrolamento
- bobina: dever rodar livremente em torno de um eixo introduzido no orifcio
central e montado sobre macacos. O desenrolamento efectuado, de prefern-
cia, pelo lado superior da bobina. Dever ser previsto um nmero suficiente
de homens para assegurar, em permanncia, o controlo e a travagem da rota-
o, evitando a formao de barrigas e a separao das vrias espiras, assim
como para vigiar a extremidade interior;
- raio de curvatura: a todo o momento e em qualquer ponto, convm respeitar
os valores mnimos indicados nos quadros 21 a 23;
CAPTULO IV
170
GUIA TCNICO
- esforo de traco no dever, nunca, ultrapassar os valores descritos no
quadro 24, em funo do tipo de cabo, sobretudo no caso de um arranque a se-
guir a uma paragem. Na medida do possvel, o desenrolamento dever proces-
sar-se de modo regular, sem saces violentos nem choques;
- de abolir qualquer formao de ns, tores e encaracolamentos no cabo,
durante o desenrolamento. No caso de incidente, o desenrolamento dever ser
parado imediatamente, sendo para tal indispensvel uma boa comunicao ao
longo do percurso;
- desenrolamento provisrio (em troos fora do traado normal): se bem que pos-
sa ser necessrio recorrer a ele em certas condies, trata-se de uma operao
muito delicada, que s se far excepcionalmente e com pessoal especializado,
tomando precaues reforadas (raios de curvatura, esforos, etc.);
- comprimento: convm prever, nas junes e nas extremidades, comprimentos
suficientes, dependentes do tipo de cabo, para a montagem dos acessrios.
Alm disso, a fim de permitir uma eventual modificao posterior da disposio
das extremidades, aconselhvel prever um comprimento superior e enrol-lo
prximo da extremidade.
c) Aps o desenrolamento
- regulao: os cabos perdem a sua flexibilidade pouco a pouco, no entanto, no
caso de troos ao ar livre, os cabos sero montados com ligeiras ondulaes, a
fim de permitirem os movimentos de dilatao. Todas as precaues so toma-
das no momento da instalao definitiva, para que os cabos no sejam feridos.
de proibir, em particular, o uso de ferramentas mecnicas ou cortantes;
- cobertura: convm verificar que esta no foi danificada durante o desenrolar
e, se for necessrio, reconstitui-la;
Proteco dos cabos colocados no solo:
- cabos directamente no solo: devemos cobri-los, logo aps desenrolados e ins-
talados, com uma camada, de pelo menos 10 cm, de terra escolhida ou areia;
- cabos em caleira: verificar que os cabos esto na sua posio correcta e que
no h pedras na caleira nem nas unies entre os elementos que a constituem.
Ench-la com areia, colocar as tampas sem exercer esforos anormais e verificar
o bom alinhamento dos vrios elementos de proteco (cimentar, se for necessrio).
2 - Precaues Particulares
Dependem do modo usado no desenrolamento do cabo, em funo do traado do
terreno, do tipo de cabo, do pessoal e do material empregue, etc.
a) Desenrolamento a partir duma plataforma de camio ou vago
Este mtodo s possvel nos casos em que o traado acompanha a via de comu-
TCNICA DE COLOCAO DOS CABOS LOCALIZAO DE DEFEITOS EM REDES SUBTERRNEAS ACONDICIONAMENTO DE CABOS ELCTRICOS
171
GUIA TCNICO
nicao e no h obstculos entre eles. O mtodo simples, necessita de uma
mo de obra reduzida e traz poucos riscos para o cabo que depositado no seu
lugar definitivo, medida que desenrolado. Os pontos particulares a ter em
ateno so a fixao dos suportes da bobina na plataforma, o controlo e a trava-
gem da rotao da bobina.
b) Desenrolamento mo
Alm dos homens necessrios para controlar a bobina e para as passagens
difceis (tubos, esquinas, obstculos...), devemos dispor de homens em nmero
suficiente, repartidos pelas dificuldades do percurso e pela posio das roldanas.
O espao entre homens assim como a cadncia com que o cabo puxado depen-
dem do peso do cabo. Convm velar, particularmente, pela manuteno de uma
cadncia regular e uniforme e evitar os choques do cabo com o solo ou outros
obstculos.
c) Desenrolamento com guincho
No poder ser empregue sozinho ou em complemento dos outros mtodos de
desenrolar, desde que o esforo de traco aplicado corra o risco de ultrapassar
os valores mximos, indicados no quadro 24, para cada tipo de cabo.
A regulao do guincho dever ser flexvel e progressiva, e o esforo de traco
dever ser permanentemente controlado com um dinammetro. Convm aplicar
a traco de maneira regular e directamente sobre a alma condutora, por interm-
dio de uma pina de traco apropriada, a no ser que o cabo disponha duma
armadura em fios de ao. O uso de mangas extensveis, constitudas por fios de
ao entranados e colocadas sobre a bainha exterior, s , em princpio, aceitvel
em caso do esforo de traco ser muito reduzido.
O cabo de traco dever ser ligado ao cabo elctrico por intermdio de uma pina
prpria, de maneira a evitar qualquer risco de toro exagerada.
d) Desenrolamento com a ajuda de mquinas ou de lagartas de traco
Este mtodo, desde que correctamente aplicado, permite, em comparao com os
anteriores, desenrolar comprimentos mais importantes num intervalo de tempo e
com um pessoal mais reduzido, em condies de segurana equivalentes e at
mesmo superiores.
O esforo aplicado, por atrito, por meio de roletes ou correias de borracha,
sobre a bainha exterior do cabo, sendo comandado mecnica ou electricamente.
Uma pina complementar normalmente colocada no extremo do cabo. As m-
quinas so distribudas e solidamente fixas, em funo das particularidades
do percurso. Sero colocadas, nomeadamente, uma ou vrias mquinas nas
CAPTULO IV
172
GUIA TCNICO
passagens delicadas ( curvas, entrada e sada dos tubos... ). A passagem nesses
ltimos dever ser permanentemente vigiada. O estado da superfcie dos elemen-
tos que puxam o cabo assim como a sua fora de presso contra a bainha devem
evitar toda e qualquer patinagem e o consequente desgaste. Uma boa transmisso
de informaes ao longo do percurso e uma sincronizao cuidadosa das vrias
mquinas so elementos primordiais para um desenrolamento satisfatrio.
e) Precaues particulares a tomar durante o enfiamento nos tubos
Alm das precaues inerentes ao enfiamento do cabo, com a ajuda de pina de
traco (ver atrs), conveniente seguir as indicaes seguintes:
- Preparao do traado:
- escolher os tubos e as caractersticas do traado (comprimento, mudana
de direco, raios de curvatura...), de modo a que o esforo de traco no
tome um valor proibitivo (ver indicaes gerais, na pgina 165, o mtodo
de clculo do esforo de traco terico, na seco 3.3.3);
- deixar, na medida do possvel, aberturas e cmaras intermedirias, nomeada-
mente nas esquinas, que permitiro vigiar o enfiamento e colocar eventual-
mente roldanas ou mquinas de traco nesses pontos.
- Antes do desenrolamento:
- limpar cuidadosamente o interior dos tubos, a fim de retirar todas as pedras ou
corpos estranhos (com ar comprimido, por exemplo) e assegurar que nenhuma
rugosidade ou deformao possa entravar o processo de desenrolamento;
- na entrada dos tubos, dispor guias para cabos, a fim de que a bainha dos
mesmos no corra o risco de roar nas arestas.
- Durante o desenrolamento:
- se o percurso no rectilneo, escolher o sentido de traco, de maneira a
que as curvas fiquem o mais prximo possvel do incio do desenrolamento;
- no caso de vrios cabos num mesmo tubo, enfiar o conjunto dos cabos
simultaneamente;
- utilizar um cabo de traco antigiratria, flexvel, mas de pequena elasticidade;
- verificar, permanentemente, com a ajuda de um dinammetro, que o esfor-
o de traco no ultrapassa o valor admissvel;
- vigiar e guiar os cabos, na entrada dos tubos;
- se for necessrio, lubrificar a bainha dos cabos, na entrada dos tubos
(sabo, azeite...), ou injectar gua, a fim de diminuir o atrito;
- assegurar uma traco, o mais regular possvel, e evitar paragens inteis, j
que o esforo de traco poder ser, com efeito, muito importante no arranque.
TCNICA DE COLOCAO DOS CABOS LOCALIZAO DE DEFEITOS EM REDES SUBTERRNEAS ACONDICIONAMENTO DE CABOS ELCTRICOS
173
GUIA TCNICO
3 - Colocao dos Cabos Flexveis nos Tambores de Enrolamento
A complexidade da arquitectura dos cabos flexveis, que equipam os tambores e
as mquinas mveis, implica que sejam tomadas precaues particulares, quer no
momento da primeira montagem, quer ao longo da explorao, a fim de permitir
aos cabos um melhor comportamento, em face das solicitaes mecnicas a que
so expostos durante o servio.
Colocao dos Cabos
Se pudermos desenrolar o cabo no solo antes de o colocarmos no tambor, devemos
faz-lo pelo lado de cima da bobina, depois de termos limpo o solo dos detritos,
pedras, pontas aguadas, etc. aconselhvel o uso de roldanas;
Se no for possvel desenrolar o cabo no solo (espao reduzido), colocar a
bobina o mais longe possvel do tambor e efectuar a transferncia segundo um
dos dois esquemas da figura 7.
Recomendaes importantes:
- o cabo nunca dever ser submetido a esforos;
- a sua extremidade livre dever conservar a extenso necessria, a fim de
poder rodar sobre ela prpria. No se deve submeter o cabo a deformaes
em forma de S;
- se o cabo no puder ser desenrolado rectilineamente no solo, desaconselhvel
disp-lo sob a forma de rolo;
- no caso das extremidades j terem sido aplicadas antes da montagem do cabo
no tambor, necessrio ter o cuidado de no as danificar durante as vrias
operaes de manuseamento;
Figura 7 - Esquemas de Desenrolamento do cabo
CAPTULO IV
174
GUIA TCNICO
- as abraadeiras de fixao no devem esmagar o cabo e o seu dimetro nunca
dever ser tal, que impea os movimentos dos condutores, no interior da bainha
de proteco;
- antes da montagem das extremidades e sua fixao definitiva, o cabo dever
ser enrolado e desenrolado 2 ou 3 vezes, a fim de o acomodar.
Manuteno em Servio
Recomenda-se uma verificao peridica do estado do cabo. Em particular se
forem constatados fenmenos de toro ou princpios de deformao anormal, o
utilizador no dever hesitar em desligar o cabo, a fim de o poder estender no
solo e o libertar das solicitaes ocasionais. O cabo ser seguidamente enrolado
como indicado atrs.
4.2 - Localizao dos Defeitos em Redes Subterrneas
4.2.1 - Introduo
O progressivo desenvolvimento das redes subterrneas em meios urbanos e a sua
crescente importncia justificam a necessidade de dispor de tcnicas e meios
simples e eficazes para localizao de defeitos nessas redes. As vantagens destas
redes so inmeras sendo mesmo em alguns casos a nica soluo tcnica de que
possvel lanar mo.
Como principais vantagens podemos referir:
- insensibilidade praticamente total s condies climticas e, em particular s
intempries;
- atravancamento bastante reduzido;
- ausncia de riscos elctricos directos para os indivduos.
A nvel das desvantagens e, ignorando a questo econmica, do ponto de vista da
localizao dos defeitos, devemos assinalar por um lado a sua invisibilidade e por
outro o facto de a grande maioria dos defeitos ser do tipo permanente, sendo a estru-
tura do isolamento modificada de forma irreversvel.
Os meios e tcnicas de localizao de um defeito em redes de cabos subterrneos
devem apresentar as seguintes caractersticas principais:
- a simplicidade, que se justifica pela necessidade de poderem os meios em
causa ser implementados por pessoal sem grande especializao ou seja,
apenas com uma formao mnima adequada;
- a rapidez, que est ligada com a possibilidade de se efectuar uma reposio
do servio to breve quanto possvel, nomeadamente dos troos de rede que
no foram directamente afectados pelo defeito;
TCNICA DE COLOCAO DOS CABOS LOCALIZAO DE DEFEITOS EM REDES SUBTERRNEAS ACONDICIONAMENTO DE CABOS ELCTRICOS
175
GUIA TCNICO
- a preciso, que pretende minimizar os custos da reparao a efectuar, em
particular a parte referente a trabalhos de construo civil.
Devemos ainda lembrar a necessidade de preceder a aplicao de qualquer mto-
do de deteco de defeitos, de medidas de segurana bsicas, de modo a assegu-
rar que no existem riscos para os operadores. Em particular, deve ter-se em
ateno o facto de a generalidade dos cabos das redes de baixa tenso serem do
tipo multipolar, enquanto em redes de mdia, alta e muito alta tenso predomi-
nam ou so exclusivamente usados cabos unipolares.
4.2.2 - Tipos e Natureza dos Principais Defeitos
1 - Classificao dos Tipos de Defeitos
A origem e a natureza so critrios normalmente utilizados para classificar os
diferentes defeitos encontrados nas redes subterrneas.
Quanto respectiva origem temos:
- defeitos de origem externa que se devem essencialmenle a problemas de
agresso mecnica, a uma progressiva penetrao de humidade, devido
deteriorao da bainha exterior do cabo, ou ainda a um defeito de montagem a
nvel de um acessrio;
- defeitos de origem interna que podem ter origem num defeito de fabrico do cabo
(situao que tende a ser cada vez mais rara dado aos numerosos e rigorosos
ensaios de qualificao a que o mesmo submetido), num aquecimento local
bastante forte (por exemplo, como consequncia de uma elevada resistncia
trmica do terreno envolvente), no aparecimento de solicitaes dielctricas
importantes (sobretenses) ou no progressivo envelhecimento do dielctrico.
Quanto respectiva natureza temos:
- defeitos no elctricos, tais como fugas de leo ou gs em cabos de constituio
especial;
- defeitos elctricos que podem ser de isolamento (os mais frequentes), de
continuidade e defeitos ditos intermitentes, do tipo explosor, os quais so
caractersticos dos cabos de tenses elevadas.
A frequncia de defeitos em redes de cabos subterrneos bastante baixa e tende
progressivamente a ser menor. Para este facto muito contribuiu a introduo dos
cabos de isolamento sinttico, podendo afirmar-se que, na generalidade das redes
de distribuio actuais, a taxa de avarias no superior a um defeito por cada
100 km de ligao trifsica e por ano.
2 - Caracterizao dos Defeitos Elctricos
Apresentaremos de seguida uma breve caracterizao dos diferentes defeitos
elctricos.
CAPTULO IV
176
GUIA TCNICO
Defeito de Isolamento
Trata-se do tipo de defeito mais frequente e que se pode caracterizar electrica-
mente atravs do esquema da figura 8.
Surge-nos assim o defeito representado por uma resistncia shunt R
d
colocada
entre a alma condutora e o cran metlico (no caso de um defeito fase-terra) ou
entre dois condutores (caso de um defeito fase-fase), em paralelo com um explosor
de tenso de escorvamento U
d
.
A resistncia R
d
, constituda por um trajecto ou Ponte de carbono, mais ou
menos contnuo, e o seu valor pode situar-se numa larga gama desde alguns O
at vrios M O . habitual classificar o defeito de isolamento como sendo de
baixa impedncia sempre que R
d
s5 k O e como de alta impedncia sempre que
R
d
> 0,5 M O.
A caracterizao deste tipo de defeito feita a partir da medio de R
d
e do valor
da tenso de escorvamento do explosor. O defeito diz-se franco se a tenso de
escorvamento em corrente contnua nula ou extremamente baixa.
Defeito de Continuidade
Este defeito corresponde existncia de um corte, num ou em vrios condutores
de fase, a que se encontra associado uma resistncia de defeito Shunt, mais ou
menos elevada, em geral superior a 10 k O.
A figura 9 apresenta o esquema elctrico deste tipo de defeito.
Figura 8 - Defeito de isolamento
Figura 9 - Defeito de continuidade
TCNICA DE COLOCAO DOS CABOS LOCALIZAO DE DEFEITOS EM REDES SUBTERRNEAS ACONDICIONAMENTO DE CABOS ELCTRICOS
177
GUIA TCNICO
Defeito Tipo Explosor
Trata-se de um defeito de isolamento em que a assistncia R
d
muito elevada,
mas que quando submetido a uma tenso progressivamente crescente se comporta
como um explosor de tenso de escorvamento U
d
. No escorvamento, toda a ener-
gia armazenada na capacidade do cabo vai descarregar-se no explosor. Se a fonte
de tenso a que o cabo est ligado for suficientemente potente, o cabo volta a
carregar-se de novo e o processo repete-se: o conhecido fenmeno de relaxao.
A figura 10 apresenta o esquema elctrico deste tipo de defeito.
Tendo em conta os valores habituais dos parmetros em jogo, o tempo de carga do
cabo at tenso U
d
pode variar entre alguns dcimos de segundo e alguns segun-
dos, enquanto a descarga mais rpida, ocorrendo em alguns milisegundos.
4.2.3 - Tcnicas de Localizao de Defeitos Elctricos
1 - Aspectos Gerais
Agrande diversidade de defeitos e suas caractersticas implica no s a necessida-
de de adopo de mtodos de localizao adequados como eventualmente a tenta-
tiva de modificao das caractersticas do defeito. necessrio reunir condies
mnimas, ao nvel de pessoal, de material e de plantas da rede, para ser atingido o
objectivo com eficcia e rapidez. A competncia do pessoal, adquirida com a
prtica, obtida com o conhecimento dos diversos mtodos, sendo por isso neces-
sria uma especializao mnima. O equipamento ter custos iniciais, com a
aquisio de alguns aparelhos, que sero rapidamente rentabilizados pela reduo
do tempo necessrio execuo dos trabalhos e da extenso das valas a abrir.
As vrias etapas que compreendem a localizao de um defeito so ordenadas da
seguinte maneira:
- manobras da aparelhagem de corte;
- anlise do defeito;
- modificao eventual das caractersticas do defeito;
- localizao distancia;
- localizao no terreno.
Figura 10 - Defeito tipo explosor
CAPTULO IV
178
GUIA TCNICO
2 - Consignao do Cabo e Anlise do Defeito
Ser necessrio efectuar as operaes de consignao do cabo com defeito, antes
que os trabalhos de localizao se iniciem, a fim de garantir a segurana de
pessoas e equipamentos. Estas operaes consistem no isolamento da parte da
rede com defeito (colocao dos aparelhos de corte na posio de abertura e
desconexo das extremidades do cabo, com a finalidade de o separar electrica-
mente da rede), na verificao da ausncia total de tenso no cabo e na ligao
dos extremos terra como a figura 11 indica:
Os mtodos habitualmente utilizados para a determinao das caractersticas do
defeito baseiam-se na medida de resistncias de isolamento e de continuidade
dos condutores, tendo sempre o mximo cuidado em evitar erros que poderiam
falsear significativamente o diagnstico de caracterizao.
A medida da resistncia de isolamento consiste na determinao da resistncia
aparente entre o condutor e o cran ligado terra ou entre dois condutores, utili-
zando para o efeito uma tenso contnua cujo valor pode oscilar entre alguns volt
e alguns kilovolt, em funo do valor dessa resistncia aparente. Para a generali-
dade dos cabos, um ohmmetro de trs escalas suficiente. Assim, para as medi-
das de continuidade aconselhvel uma escala de 0,1 a 100 k O sendo a fonte
de tenso contnua da ordem do volt. Nas medidas de isolamento, no caso de
defeito de continuidade, j se torna necessrio recorrer a uma escala na gama
do k O, nomeadamente entre 0,1 e 100 k O, sendo a fonte de tenso contnua da
ordem de alguns volt. Finalmente, para as medidas de isolamento torna-se
necessrio dispor de uma escala na gama dos M O, nomeadamente de 0,1 a
100 M O, e a fonte de tenso contnua deve possuir uma amplitude no mnimo
igual a 500 V, podendo ir at cerca de 5 000 V.
No caso dos defeitos de continuidade pode ser til o recurso a medidas de capa-
cidade, as quais so aplicveis sempre que o valor de R
d
seja elevado (superior a
10 k O). Para estas medidas utiliza-se uma clssica ponte de Sauty, a qual pode
ser dotada de compensao srie (ponte de Wien) para valores de R
d
superiores a
1 M O ou de compensao paralela (ponte de Nerst) para valores de R
d
a partir
de 10 k O.
3 - Modificao das Caractersticas do Defeito
Como se referiu, trata-se de uma operao que nem sempre necessria. O seu
objectivo proporcionar uma maior facilidade nas medies a efectuar, permitin-
Figura 11 - Anlise do defeito
TCNICA DE COLOCAO DOS CABOS LOCALIZAO DE DEFEITOS EM REDES SUBTERRNEAS ACONDICIONAMENTO DE CABOS ELCTRICOS
179
GUIA TCNICO
do a utilizao de certos mtodos de localizao que de outro modo no seriam
aplicveis.
Esta operao pode revestir essencialmente duas formas:
- queima do defeito;
- aumento da resistncia de isolamento (re-isolamento).
No caso da queima pretende-se essencialmente uma reduo do valor da resis-
tncia R
d
do defeito de isolamento pela criao de uma ponte consistente de
carbono ou ainda, no caso de um defeito do tipo explosor, tentar obter a partir
dele um defeito de isolamento.
A operao de queima pode ser realizada em corrente contnua ou corrente alter-
nada, tratando-se em geral de uma operao longa e cujo sucesso nem sempre
est partida assegurado, sobretudo no caso de cabos de isolamento sinttico.
Quando realizada em corrente alternada, utiliza-se para o efeito um transforma-
dor com indutncia de fugas varivel, de modo a estabelecer um circuito resso-
nante com a capacidade do cabo. A corrente mxima assim obtida na situao
de ressonncia. importante a realizao de um controlo apertado da tenso na
ressonncia de modo a garantir que no se ultrapassem os valores mximos
previstos pelo isolamento do cabo. Por outro lado, como o valor da potncia for-
necida na ressonncia elevado, importa efectuar verificaes peridicas do
valor da resistncia do defeito, interrompendo a operao logo que o referido
valor se apresenta abaixo do nvel desejado.A operao de queima em corrente
contnua tem lugar com o auxlio de um gerador de alta tenso contnua, limitada
a cerca de trs vezes o valor da tenso de servio fase terra U
o
do cabo em ensaio
e com a potncia da ordem dos 10 kW. Para que a queima no se efectue sob uma
intensidade de corrente muito elevada, pode ser necessrio incluir uma resistn-
cia srie de limitao.
No que se refere segunda operao, de aumento da resistncia de isolamento de
defeito ou re-isolamento do defeito, a sua realizao apenas se pode concretizar
na hiptese de defeitos que se apresentam j fortemente impedantes (vrios k O).
Consiste na injeco de uma ou mais ondas de choque entre a alma condutora e o
cran tendo o cuidado de no ultrapassar uma amplitude de 3 U
o
ou, excepcional-
mente, em cabos novos de 4 U
o
.
A terminar este ponto, convm sublinhar que a identificao to perfeita quanto
possvel das caractersticas do defeito, desempenha um papel deveras fundamental
para o bom xito das operaes de localizao da avaria no cabo.
4 - Mtodos de Localizao Distncia
Entre os diversos mtodos de localizao distancia encontramos duas grandes
famlias, a saber:
CAPTULO IV
180
GUIA TCNICO
- Mtodos de ponte (ou de anel);
- Mtodos ecomtricos.
Na primeira famlia agrupam-se todos os mtodos baseados em medies efectu-
adas com pontes resistivas (baseadas no princpio da ponte de Wheatstone)
ou pontes capacitivas (baseadas no princpio da ponte de Sauty), enquanto na
segunda famlia se encontram todos os mtodos baseados na propagao e
reflexo de impulsos e ondas electromagnticas ao longo do cabo.
Mtodos de Ponte
De um modo geral estes mtodos tm como base o princpio da ponte de Wheatstone
(para defeitos de isolamento) ou da ponte de Sauty (para defeitos de continuidade).
As figuras 12 e 13 apresentam o princpio de funcionamento da ponte de
Wheatstone, assim como, o esquema elctrico da sua aplicao a um defeito
de isolamento, montagem conhecida com a designao de anel de Murray:
Como observaes fundamentais ao mtodo convm referir:
- A resistncia de defeito R
d
no intervm directamente na preciso da medida,
mas condiciona obviamente a respectiva sensibilidade, a qual funo do
valor das correntes i
l
e i
2
no anel;
- Ligado com o ponto anterior est o valor da fonte de tenso contnua de ali-
mentao E. Como indicaes gerais podemos referir que, se R
d
for da ordem
do k O ou inferior, basta utilizar uma fonte da ordem da dezena de volt. Para
valores de R
d
entre 1 k O e algumas dezenas de k O, E ter necessidade de
atingir algumas centenas de volt, entre 500 V a 1000 V. Para valores elevados
de R
d
(algumas dezenas de k O) impe-se uma operao prvia de queima do
defeito;
Figura 12 - Ponte de
Wheatstone
Figura 13 - Anel de Murray
TCNICA DE COLOCAO DOS CABOS LOCALIZAO DE DEFEITOS EM REDES SUBTERRNEAS ACONDICIONAMENTO DE CABOS ELCTRICOS
181
GUIA TCNICO
- O mtodo ainda aplicvel na hiptese de seces diferentes ou condutores de
natureza diferente, atravs de uma conveniente correco dos comprimentos em
funo da razo das seces e da razo das resistividades, operao que no
apresenta qualquer dificuldade especial;
- A presena de derivaes obriga utilizao de uma tcnica de aproximaes
sucessivas que vai permitindo o levantamento das vrias indeterminaes que
se apresentam;
- Embora basicamente o princpio seja o mesmo, existem diversas montagens
utilizveis de acordo com a especificidade do defeito. Com essa finalidade so
referidas na literatura especializada as montagens de Murray, Murray-Fisher,
Hilhorn e Werren, entre outras.
No que se refere ponte de Sauty, a figura 14 apresenta o princpio de funciona-
mento assim como a aplicao da ponte a um defeito de continuidade.
Como observaes principais ao mtodo, importa referir as seguintes:
- As capacidades do cabo C
x
e C
L
no so perfeitas, isto , apresentam perdas no
nulas e, por outro lado, como o defeito pode estar mais ou menos isolado, o equi-
lbrio perfeito inatingvel. No sentido de ultrapassar parcialmente essa dificulda-
de podem usar-se duas variantes da ponte de Sauty designadas respectivamente
por ponte de Wien e por ponte de Nernst (Figura 15 e Figura 16 respectivamente);
Figura 14 - Ponte de Sauty
Figura 15 - Ponte de Wien Figura 16 - Ponte de Nernst
CAPTULO IV
182
GUIA TCNICO
- A ponte de Wien dotada de uma resistncia de compensao srie sendo
aplicvel para cortes de condutor bem isolados (R
d
superior a k O). A ponte
de Nernst apresenta uma resistncia de compensao colocada em paralelo
com as capacidades e aplicvel para cortes do condutor com isolamento
menor (R
d
no inferior a 10 k O);
- De qualquer modo para se conseguir uma mais perfeita percepo do estado
de equilbrio aconselhvel o recurso a um detector do tipo visual e no do
tipo acstico tradicionalmente utilizado;
- Adificuldade resultante da eventual inexistncia de uma fase s no cabo ultra-
passvel atravs da realizao de medies nas duas extremidades do cabo se
R
d
for aproximadamente igual a R`
d
ou ento atravs do conhecimento prvio
da capacidade linear do cabo e recorrendo a uma capacidade padro externa;
- A fonte alternada de frequncia musical que alimenta a ponte deve apresentar
uma onda sinusoidal to pura quanto possvel;
- Nos cabos de campo no radial, situao habitual dos cabos de baixa tenso,
necessrio levar em linha de conta a influncia das capacidades parciais na
medio efectuada o que leva em geral a uma perda de preciso;
- Em qualquer situao a ponte utilizada deve ser insensvel aos 50 Hz da
frequncia industrial.
A finalizar esta referncia aos mtodos de ponte apresentamos as seguintes
concluses:
foram os primeiros mtodos utilizados neste domnio e os servios prestados ao
longo de algumas dcadas extremamente relevantes;
na poca actual os mtodos de ponte podem considerar-se largamente suplantados
pelos chamados mtodos ecomtricos, que abordaremos a seguir, principalmente
por trs tipos de razes:
- apresentam um espectro de utilizao relativamente limitado,
- os tempos de interveno correspondentes so em geral bastante longos,
- para se conseguir uma boa preciso as precaues exigdas so bastantes
numerosas o que implica o recurso a verdadeiros especialistas;
convm, no entanto, no esquecer que o seu custo em termos de equipamento
incomparavelmente mais baixo e que estes mtodos podem ainda constituir um
elemento de ajuda importante;
as pontes resistivas de alta tenso, devido ao seu custo elevado, so economicamente
injustificveis.
Mtodos Ecomtricos
Tratam-se de mtodos baseados na anlise da resposta de um cabo ou de uma
parte de uma rede de cabos a um impulso ou a uma onda electromagntica de
alta frequncia.
TCNICA DE COLOCAO DOS CABOS LOCALIZAO DE DEFEITOS EM REDES SUBTERRNEAS ACONDICIONAMENTO DE CABOS ELCTRICOS
183
GUIA TCNICO
Para uma correcta aplicao destes mtodos torna-se indispensvel o conheci-
mento de noes bsicas sobre a teoria da propagao de ondas mveis em circuitos
de constantes repartidas, designadamente o comportamento dessas ondas em face
das diversas descontinuidades de impedncia caracterstica presentes na rede
(juno, derivao, extremidade aberta, extremidade em curto circuito, etc.)
Como observaes de carcter geral a este tipo de mtodos de referir que:
- tratam-se de mtodos que, em geral, fornecem excelentes resultados, mesmo
em casos particularmente difceis;
- o custo do equipamento o principal factor limitativo na utilizao destes
mtodos;
- um aspecto a ter em conta e que pode constituir uma limitao importante diz
respeito ao fenmeno da atenuao, sobretudo em troos de cabo particular-
mente longos;
- o fenmeno da distoro cuja ocorrncia fica a dever-se essencialmente ao fac-
to da velocidade de propagao da onda no ser independente da frequncia,
deve ser tido em considerao; desta forma as leituras dos tempos de propaga-
o devem ser sempre efectuadas entre as duas origens dos impulsos partida
e chegada, (figuras 17 e 18);
- a adaptao da impedncia interna da fonte de emisso de impulsos impedncia
caracterstica do cabo um factor essencial para evitar reflexes mltiplas que
muito prejudicam a clareza dos registos grficos (ecogramas).
No que segue indicaremos as caractersticas principais e os campos de aplicao
dos principais mtodos ecomtricos habitualmente utilizados.
Embora se possam classificar os mtodos de impulsos em vrias categorias,
optamos por dividir estes mtodos em trs grupos principais:
Figura 17 Figura 18
CAPTULO IV
184
GUIA TCNICO
A) Ecometria em Baixa Tenso
O princpio de aplicao destes mtodos exige a ligao ao cabo de um gerador
de impulsos (ecmetro), sendo o registo efectuado por meio de um osciloscpio
(figura 19).
Para uma conveniente visualizao do oscilograma, a frequncia de emisso dos
impulsos deve ser suficientemente elevada, mas no superior frequncia que
corresponde ao tempo de ida e volta do impulso no cabo, de modo a no haver
sobreposio de dois impulsos, convenientemente desfasados.
O valor do comprimento l
x
pretendido pode ser obtido pela expresso seguinte:
em que t
x
corresponde ao tempo de ida e volta da
onda no cabo e que pode ser obtido a partir dos
oscilogramas registados. V a velocidade de
propagao da onda no cabo.
Alguns dos oscilogramas tpicos so apresentados a seguir na figura 20.
- Este ecograma refere-se a um defeito de
continuidade em que R
d
de valor superior
ao de Z
c
(impedncia caracterstica). O factor
de reflexo positivo;
- Neste caso o defeito de isolamento, sendo
o factor de reflexo negativo;
- Finalmente temos o ecograma obtido com
uma caixa de unio, sem haver mudana nas
caractersticas do cabo.
No que se refere medio dos tempos t
x
, habitualmente utiliza-se a base de
tempo do osciloscpio eventualmente com recurso a um defasador.
l
x
=
1
2
vtx
Figura 19 - Ecometria em baixa tenso
Figura 20 - Oscilogramas tpicos
TCNICA DE COLOCAO DOS CABOS LOCALIZAO DE DEFEITOS EM REDES SUBTERRNEAS ACONDICIONAMENTO DE CABOS ELCTRICOS
185
GUIA TCNICO
O mtodo que em linhas gerais foi apresentado susceptvel de algumas varian-
tes que procuram corresponder a situaes mais complexas e de interpretao
mais exigente. Assim, podemos encontrar como variantes principais:
- Mtodo de comparao de fases
Neste mtodo pode-se fazer aparecer simultaneamente no cran do osciloscpio
os ecogramas relativos a uma fase s e a outra defeituosa.
- Mtodo diferencial
Nesta variante, o ecmetro ligado simultaneamente a duas fases do cabo, uma
s e outra avariada, sendo os impulsos recebidos por um transformador auxiliar
que apenas transmite ao primrio as diferenas de forma ou amplitude que se
verifica entre os impulsos reflectidos. Dadas as caractersticas da montagem, no
ecograma surgem apenas registadas as reflexes provocadas pelo defeito.
- Mtodo da reflexo sobre arco de queima
Este mtodo constitui uma tentativa de extenso do domnio de aplicao da eco-
metria clssica de baixa tenso a casos particulares de defeitos de continuidade e
de isolamento (com valores de R
d
inferiores a 200 O).
Trata-se de uma tcnica que permite cobrir os defeitos de isolamento cuja quei-
ma, no se revela possvel, atravs da associao do ecmetro de baixa tenso ao
aparelho de queima de modo a conseguir que os impulsos se reflictam no arco.
Exige uma precauo indispensvel e que corresponde utilizao de um filtro
para impedir que a tenso utilizada na queima seja aplicada ao ecmetro.
um mtodo de criao bastante recente e que veio permitir tcnica da ecometria
em baixa tenso o tratamento de praticamente todos os tipos de defeitos, apenas
com a excepo dos do tipo explosor.
B) Ecometria em Alta Tenso
Como ficou claro da exposio precedente sobre a ecometria de baixa tenso,
tratam-se de mtodos apenas aplicveis no casos de defeitos que apresentam uma
baixa impedncia No caso de tal no se verificar impunha-se uma modificao
da impedncia do defeito.
Os mtodos ecomtricos de alta tenso so os que se adaptam s situaes em
que o defeito apresenta uma elevada impedncia ou do tipo explosor.
Classicamente eram utilizados dois mtodos:
O mtodo da onda de choque utilizado quando estamos perante um caso de
defeito cujo escorvamento s tem lugar a uma tenso bastante elevada (entre
alguns kV e algumas dezenas de kV). O valor de l
x
dado pela expresso clssica
CAPTULO IV
186
GUIA TCNICO
l
x
= 1/2.v.t
x
sendo no entanto necessrio corrigir o tempo t
x
, subtraindo-lhe o
atraso At relativo ao escorvamento da onda de choque no local do defeito.
O mtodo das oscilaes de relaxao (alta tenso contnua) assenta no prin-
cpio de que um cabo previamente carregado e colocado em curto-circuito, entra
em oscilao de um quarto de onda. O sistema de ondas de relaxao registado
no cran do ecmetro, sendo o (pseudo) perodo T correspondente a um percurso
de quatro vezes o local do defeito e a extremidade de medida.
Modernamente outros mtodos foram surgindo no domnio da ecometria de alta
tenso, no sentido de ultrapassar as dificuldades registadas com os dois mtodos
anteriores. Dentre esses mtodos de referir a ecometria utilizando a reflexo
dos impulsos sobre o arco de queima do defeito ( mtodo idntico ao j referido
para a baixa tenso) e a ecometria em impulsos de corrente. Dada a importncia
adquirida nos ltimos anos por estes ltimos mtodos, justifica-se o seu trata-
mento com algum detalhe.
C) Ecometria utilizando Impulsos de Corrente
Os mtodos ecomtricos de alta tenso apresentam vrios inconvenientes e
limitaes, tais como:
- falta de clareza dos ecogramas, em parte resultante da necessidade de utilizar
um divisor capacitivo para deteco e registo de fenmenos;
- dificuldades na medida do tempo t
x
devido ao atraso no escorvamento da
onda de choque no local do defeito;
- domnio relativamente restrito de aplicao, nomeadamente redes sem derivaes.
Pode dizer-se que a ecometria de impulsos de corrente surgiu no sentido de tentar
contornar as dificuldades apontadas. O mtodo tem como base o princpio que, quan-
do uma corrente de intensidade i circula num condutor, a colocao na sua proximi-
dade de um captador linear permite obter nos seus terminais um sinal proporcional a
di/dt. O captador linear constitudo por uma espira de indutncia L fechado sobre
uma resistncia R de aproximadamente 100 O. Aespira desempenha o papel de uma
antena YAGI, captando preferencialmente a frequncia cujo quarto de onda
corresponde ao comprimento do quadro da espira. Nestas condies os ecogramas
obtidos so particularmente selectivos facilitando a medida de t
x
.
Afigura seguinte apresenta um esquema do equipamento utilizado e das correspon-
dentes ligaes (21a) assim como um desenho esquemtico dum oscilograma (21b).
Figura 21a - Esquema de equipamento Figura 21b - Esquema de oscilograma
TCNICA DE COLOCAO DOS CABOS LOCALIZAO DE DEFEITOS EM REDES SUBTERRNEAS ACONDICIONAMENTO DE CABOS ELCTRICOS
187
GUIA TCNICO
Esta tcnica aplicvel habitualmente sob as trs formas usuais da ecometria:
- mtodo directo;
- mtodo de comparao;
- mtodo diferencial.
O mtodo de comparao utilizado quando no se conhecem as caractersticas
de propagao do cabo, sendo ento necessrio o estudo comparativo de uma
fase s com a fase do defeito.
O mtodo diferencial permite a sobreposio de dois ou mais registos o que permite
detectar com preciso e sem ambiguidade o ponto de divergncia dos ecogramas.
Existe ainda o mtodo das ondas estacionrias, relativamente pouco divulgado,
dado apresentar um domnio de aplicao bastante restrito, que consiste na criao
de um regime de ondas estacionrias entre uma extremidade do cabo e o local do
defeito.
Para aplicao deste mtodo torna-se necessrio dispor de um gerador de alta
frequncia, varivel entre 30 KHz e 50 MHz, com possibilidade de uma tenso
de sada e amplitude regulvel. Alm deste gerador preciso dispor de um
voltmetro para deteco dos mximos de tenso.
D) Concluses
Da apresentao anterior sobre os mtodos ecomtricos podem retirar-se diversas
concluses que resumimos a seguir:
Com a introduo da reflexo sobre o arco de queima e dos impulsos de corrente,
os mtodos ecomtricos representam actualmente a tcnica de ponta em matria
de deteco e localizao de avarias em cabos;
Estes mtodos cobrem praticamente todo o conjunto possvel de tipos de defeito
e permitem o seu tratamento em tempos geralmente mais curtos que os conse-
guidos com os mtodos de ponte, o que conduz a uma reduo dos tempos de
indisponibilidade das redes;
Os mtodos tradicionais de ecometria em alta tenso (onda de choque e relaxao)
vem o seu interesse bastante reduzido quando possvel dispor dos mtodos de
impulsos de corrente;
Como nota negativa, de assinalar que, o custo actual do equipamento necessrio
para a aplicao destes mtodos constitui um travo aprecivel, no que se refere
ao desejo de vrias entidades, exploradoras de redes de cabos subterrneos, de se
dotarem correctamente dos meios necessrios a uma rpida e eficiente deteco e
localizao de avarias nessas redes.
CAPTULO IV
188
GUIA TCNICO
5 - Mtodo de Localizao no Terreno
Aps a etapa inicial em que se incluiu a determinao das caractersticas da
avaria, passamos a dispor de uma estimativa do valor da distncia entre a
extremidade acessvel do cabo e o local do defeito.
O erro global que de esperar numa localizao distncia encontra-se compre-
endido entre 0,5% e 5%, sendo habitual encontrar valores mdios para esse
erro entre 1% e 2%. Tendo em considerao este erro, seramos conduzidos
abertura de valas de grande comprimento, da ordem da dezena de metros, o que
economicamente desaconselhvel. Como tal impe-se uma localizao da avaria
feita directamente no terreno, de modo a que o erro final no ultrapasse um metro.
Por outro lado, quando no se dispe de uma planta de implantao da rede de
cabos suficientemente clara e actualizada pode ser necessrio seguir o traado do
cabo em causa e, eventualmente, poder distingui-lo de outros colocados na sua
vizinhana directa. No que se refere a este ltimo ponto, so utilizados mtodos
do tipo electromagntico. Quanto ao primeiro aspecto focado, pode dizer-se que
so correctamente utilizados dois tipos de mtodos:
O mtodo da deteco do campo magntico ao longo do cabo serve para a
determinao do traado dos cabos e assenta na deteco, ao longo do percurso
do cabo, do campo magntico criado por uma corrente de frequncia musical
(em geral entre 400 e 1200 Hz). Esse campo magntico detectado com o
auxlio de uma pequena bobina com ncleo de ferrite, ligado a um receptor
adequado (auscultador telefnico).
Este mtodo utilizvel em cabos multipolares apenas quando se trata de um
defeito de isolamento de resistncia muito baixa (inferior a 10 O).
O mtodo de deteco de vibraes do solo, cujo princpio assenta na deteco
acstica, superfcie do solo do rudo produzido por descargas elctricas no
local do defeito (ondas de choque).
O arco produzido no local do defeito d origem a um sinal acstico, o qual se
propaga no solo em ondas esfricas constituindo uma espcie de mini tremor de
terra cujo epicentro se localiza no local do defeito.
TCNICA DE COLOCAO DOS CABOS LOCALIZAO DE DEFEITOS EM REDES SUBTERRNEAS ACONDICIONAMENTO DE CABOS ELCTRICOS
189
GUIA TCNICO
Os detectores utilizados integram geralmente como equipamento essencial, um
geofone (microfone direccional), um amplificador e um par de auscultadores
telefnicos.
A intensidade do rudo produzido pelas descargas no local do defeito depende,
em grande parte, da energia de cada onda de choque enviada para o cabo. Para
que a localizao ocorra em boas condies, necessrio garantir nveis mni-
mos de energia da ordem dos 1000 J em baixa tenso e dos 2500 J em mdia e
alta tenses.
Este problema particularmente crtico nos meios urbanos devido existncia
de inmeros rudos parasitas. Uma soluo prtica actualmente usada consiste em
utilizar uma bobina que detecte o campo magntico produzido pela onda de cho-
que sua passagem e, em seguida, fornece um sinal que determina a colocao
em funcionamento do sistema de captao do rudo de descarga.
Apresentamos de uma forma esquemtica os vrios meios de deteco mais
utilizados na localizao no terreno.
I - audio de um rudo surdo como Pouf;
II - sentir as vibraes do terreno com a ponta do p;
III - uso de vara metlica para aumentar a sensibilidade;
IV - sismofone de mercrio;
V - sismofone de mercrio e vara metlica;
VI- geofone.
Figura 22 - Mtodo de deteco de vibraes do solo
Figura 23 - Esquema dos vrios meios de deteco mais utilizados na localizao no terreno
CAPTULO IV
190
GUIA TCNICO
4.3 - Ensaios Aps Colocao
Os ensaios efectuados sobre os cabos, aps colocao, tm por finalidade a cons-
tatao de que os cabos no foram danificados durante a sua instalao, que a
montagem dos acessrios foi efectuada de maneira satisfatria, assim como, em
certos casos, a medio das caractersticas elctricas da canalizao instalada.
Distinguem-se:
- os ensaios efectuados sobre comprimentos individuais, aps o desenrolamento,
consistindo numa medio da resistncia de isolamento. Mas para os cabos
de AT limitamo-nos, geralmente, a um ensaio da rigidez dielctrica da bainha
exterior, efectuada em corrente contnua;
- os ensaios sobre a canalizao instalada, aps a montagem dos acessrios,
consistem em:
medio da resistncia de isolamento das isolaes,
verificao da concordncia de fases,
nos cabos AT: medio de resistncia de isolamento das bainhas exteriores.
Alm disso, quando acordado com o cliente, um ensaio de tenso alternada poder
ser efectuado entre condutores e o cran ou a terra. Esta verificao geralmente pre-
vista sob uma tenso de U
o
durante 24 horas, nos cabos MT e de AT.
Outras condies de tenso de ensaio e durao de ensaio podem ser utilizadas, aps
mtuo acordo.
TCNICA DE COLOCAO DOS CABOS LOCALIZAO DE DEFEITOS EM REDES SUBTERRNEAS ACONDICIONAMENTO DE CABOS ELCTRICOS
191
GUIA TCNICO
4.4 - Acondicionamento de Cabos Elctricos
Para o acondicionamento armazenamento e transporte dos cabos nus e isolados,
so utilizados vrios tipos de bobinas tanto a nvel dimensional como construtivo.
Com algumas excepes nos cabos de alta tenso onde so utilizadas bobinas
metlicas, normalmente so utilizadas bobinas fabricadas em madeira. Estas so
construdas em conformidade com as normas e especificaes existentes para o
efeito, garantindo a proteco necessria dos cabos nelas acondicionados.
4.4.1 - Clculo do comprimento mximo de condutor numa bobina
a) Base de Clculo
O volume til V
dr
de uma bobina dado pela equao (1).
Esse volume descrito na figura 24.
V
dr
= (d
1
2
- d
2
2
) B/4 (1)
Sendo:
V
dr
o volume til da bobina (m
3
)
d
1
, d
2
os dimetros exterior e do tambor (m)
B a largura interior til (distncia entre abas) (m)
Figura 24 - Volume til
numa bobina
CAPTULO IV
192
GUIA TCNICO
b) Factor de Acondicionamento
A quantidade de condutor que pode ser enrolado numa bobina depende do espao
livre entre as diversas espiras (forma de enrolamento) de cabo.
Se o factor de acondicionamento definido atravs da razo entre o volume
utilizado e o volume total, dois casos extremos h a considerar, cada um correspon-
dendo a um factor indicado nas figuras 25 e 26.
O factor de acondicionamento k
p
aplicado figura 26 (espao mximo entre
espiras do condutor) dado por:
K
p
= /4 = 0,785
No caso da figura 25 os espaos livres entres espiras so minimizados, sendo neste
caso k
p
dado por:
K
p
= /2 x 1.732 = 0,907
Normalmente, k
p
= 0,87 considerado como suficiente para a prtica corrente.
Figura 25 - Espao livre mnimo Figura 26 - Espao livre mximo
TCNICA DE COLOCAO DOS CABOS LOCALIZAO DE DEFEITOS EM REDES SUBTERRNEAS ACONDICIONAMENTO DE CABOS ELCTRICOS
193
GUIA TCNICO
c) Espao livre da ltima camada de condutor
prtica corrente considerar um espao mnimo de proteco entre a ltima cama-
da de condutor e o fecho da bobina (final da aba da bobina) de 2 vezes o dimetro
do condutor. Considerando que para condutores de pequena seco o acondiciona-
mento normalmente efectuado em bobinas pequenas e para condutores de seco
mais elevada em bobinas maiores, os valores apresentados na tabela seguintes so
os mais recomendados.
O espao indicado na tabela 1 corresponde a um factor de reduo de aproximada-
mente k
s
= 0,8 aplicado ao volume V
dr
.
Utilizando a equao
(1)
, o comprimento mximo de condutor numa bobina pode
ser calculado:
V
dr
k
s
k
p
= D
2
L /4
Ou seja:
L = 0,886 V
dr
/ D
2
= 0,89 V
dr
/ D
2
Sendo:
k
s
o factor de reduo = 0,8
k
p
o factor de acondicionamento = 0,87
V
dr
o volume da bobina (m
3
)
D o dimetro do condutor (m)
L o comprimento mximo de condutor (m)
Quadro 61 - Espao livre na bobina
CAPTULO IV
194
GUIA TCNICO
4.4.2 - Dimetro mnimo do ncleo da bobina
Uma das preocupaes fundamentais no acondicionamento dos cabos a utiliza-
o de bobinas de forma que o ncleo (tambor) das mesmas nunca seja inferior ao
raio mnimo de curvatura dos cabos nelas acondicionados.
Desta forma, os dimetros dos ncleos das bobinas so os indicados no Quadro 62.
4.4.3 - Capacidade de acondicionamento
Nos quadros 63 ao 66, so apresentadas as capacidades de acondicionamento para
os diversos tipos de bobinas normalmente utilizadas tanto para cabos nus como
para cabos isolados.
Quadro 62- Dimetro mnimo do ncleo da bobina
TCNICA DE COLOCAO DOS CABOS LOCALIZAO DE DEFEITOS EM REDES SUBTERRNEAS ACONDICIONAMENTO DE CABOS ELCTRICOS
195
GUIA TCNICO
Q
u
a
d
r
o
6
3
-
C
a
p
a
c
i
d
a
d
e
d
a
s
b
o
b
i
n
a
s
p
a
r
a
c
a
b
o
s
i
s
o
l
a
d
o
s
(
m
e
t
r
o
s
)
CAPTULO IV
196
GUIA TCNICO
Q
u
a
d
r
o
6
4
-
C
a
p
a
c
i
d
a
d
e
d
a
s
b
o
b
i
n
a
s
p
a
r
a
c
a
b
o
s
i
s
o
l
a
d
o
s
(
m
e
t
r
o
s
)
TCNICA DE COLOCAO DOS CABOS LOCALIZAO DE DEFEITOS EM REDES SUBTERRNEAS ACONDICIONAMENTO DE CABOS ELCTRICOS
197
GUIA TCNICO
Q
u
a
d
r
o
6
5
-
C
a
p
a
c
i
d
a
d
e
d
a
s
b
o
b
i
n
a
s
p
a
r
a
c
a
b
o
s
i
s
o
l
a
d
o
s
(
m
e
t
r
o
s
)
CAPTULO IV
198
GUIA TCNICO
Q
u
a
d
r
o
6
6
-
C
a
p
a
c
i
d
a
d
e
d
a
s
b
o
b
i
n
a
s
p
a
r
a
c
a
b
o
s
n
u
s
(
m
e
t
r
o
s
)
TCNICA DE COLOCAO DOS CABOS LOCALIZAO DE DEFEITOS EM REDES SUBTERRNEAS ACONDICIONAMENTO DE CABOS ELCTRICOS
199
GUIA TCNICO
Quadro 66A - Capacidade das bobinas especiais para cabos nus (m)
CAPTULO IV
200
GUIA TCNICO
4.4.4 - Identificao das Bobinas
A identificao de uma bobina efectuada atravs das marcaes existentes na
face exterior da cada aba, designadamente:
- matrcula;
- Logtipo da empresa;
- sentido de rolamento da bobina no pavimento.
4.4.5 - Transporte e Manuteno
Durante o transporte, as bobinas cheias devem ser colocadas na vertical, assentes
nas duas faces e nunca deitadas.
Na chegada aos estaleiros, dever ser efectuado um exame a cada bobina, parti-
cularmente, o estado das abas ou aduelas de proteco e o aspecto dos capacetes
nas extremidades dos cabos.
O descarregamento poder efectuar-se com a ajuda de uma rampa prpria, tendo
em conta a travagem da bobina ou, de preferncia, com a ajuda de um brao
mecnico e por intermdio de uma barra colocada no orifcio central da bobina.
A linga dever possuir um comprimento suficiente, para evitar um esforo peri-
goso sobre as abas. estritamente desaconselhvel colocar directamente a linga
volta da bobina, sobre a camada exterior do cabo, devido ao risco de deteriorao
que este corre. Nunca devemos deixar cair as bobinas ao cho.
O rebolar das bobinas limitado a curtas distncias e o sentido de rotao no
dever provocar o desenrolar das espiras de cabo. Em caso de armazenagem, as
bobina devero repousar em terreno plano, estvel e convenientemente caladas.
Se um comprimento de cabo for retirado, a extremidade do cabo que fica na
bobina imediatamente tapada com uma carapua estanque.
V
C
aptulo
Caractersticas Tcnicas dos
Condutores de Energia
e Cabos Elctricos
C
aptulo
Cabos nus para Transporte
de Energia Elctrica
V.I
CARACTERSTICAS TCNICAS DOS CONDUTORES DE ENERGIA E CABOS ELCTRICOS
205
GUIA TCNICO
5.1- Cabos nus para Transporte de Energia Elctrica
5.1.1 - Introduo
A Solidal e Quintas Condutores fabricam actualmente condutores nus de cobre e
alumnio associado ou no a outros metais tais como liga de alumnio, ao galva-
nizado e ao coberto a alumnio do tipo ACS (aluminium clad steel), cuja aplica-
o est hoje generalizada, e quase em exclusivo, nas linhas areas de transporte
de energia.
Da nossa gama de fabrico salientam-se as seguintes construes:
- Condutores de cobre
- Condutores de alumnio AAC (all aluminium conductors) - designados
por AL1
- Condutores de liga de alumnio AAAC (all aluminium alloy conductors)
- designados por AL2, AL3, AL4 e AL5.
- Condutores de alumnio com alma de ao ACSR (aluminium conductors
steel reinforced) - designados por AL1/ST1A, AL1/ST2B, AL1/ST3D,
AL1/ST4A e AL1/ST5E
- Condutores de liga de alumnio com alma de ao AACSR (aluminium
alloy conductors steel reinforced) - designados por AL2/ST1A, AL3/ST1A,
AL4/ST1A, AL5/ST1A.
- Condutores de alumnio com alma de liga ACAR (aluminium conductors
alloy reinforced) designados por AL1/AL2, AL1/AL3, AL1/AL4 e
AL1/AL5
Apreferncia do alumnio, ou suas ligas, em detrimento do cobre, deve-se s van-
tagens que o primeiro oferece, quer do ponto de vista tcnico quer econmico,
quando utilizado nos condutores das linhas areas nuas.
Salientamos as seguintes consideraes:
- Relao condutividade elctrica / peso: da anlise do quadro abaixo podemos
concluir que, para um condutor de alumnio apresentar uma resistncia elc-
trica (ou condutividade) idntica a outro de cobre, a razo entre as suas seces
ser igual a 1,6 e como consequncia dos seus pesos especficos o condutor
de alumnio ter 48% do peso do condutor de cobre;
- Relao resistncia mecnica / peso: o quadro 67 contm os valores da tenso li-
mite de ruptura para os condutores de alumnio trefilado duro e cobre trefilado du-
ro. Como a seco do condutor de alumnio tem um valor 1,6 vezes superior do
condutor de cobre, com igual resistncia elctrica, obtemos uma tenso limite de
ruptura idntica para ambos os condutores nesta situao. Desde que seja neces-
sria uma resistncia ruptura elevada so includos fios de ao na composio
do cabo, proporcionando-lhe assim uma relao resistncia mecnica / peso com
valores superiores. Este facto conduz a uma instalao mais econmica, dado que
so reduzidos o nmero de apoios e de materiais acessrios necessrios monta-
gem, alm de permitir menores flechas para os condutores.
- Economia: o baixo preo associado sua estabilidade no tempo fazem com que
o alumnio seja o metal eleito por excelncia para a aplicao nas linhas areas.
CAPTULO V
206
GUIA TCNICO
Quadro 67 - Caractersticas fsicas, elctricas e mecnicas
5.1.2 - Proteco dos condutores contra a corroso
Quando sujeitos a ambientes desfavorveis e quando solicitado, os condutores
podero ser protegidos contra a corroso atravs da aplicao de uma massa
neutra protectora.
A aplicao da massa protectora pode ser efectuada atravs de quatro casos
distintos, de acordo com o indicado no quadro 68.
No quadro 68 so descritos os quatro casos.
CARACTERSTICAS TCNICAS DOS CONDUTORES DE ENERGIA E CABOS ELCTRICOS
207
GUIA TCNICO
Quadro 68 - Aplicao de Massa Protectora nos cabos
CAPTULO V
208
GUIA TCNICO
Clculo da quantidade de Massa Protectora
Assumindo que a massa protectora preenche na totalidade os espaos entre os
fios do condutor, o volume de massa para cada caso atrs referido dado pelas
seguintes equaes:
Caso 1: V
g
= 0,25 (D
s
2
- n
s
d
s
2
)
Caso 2: V
g
= 0,25 (D
0
- 2d
a
2
) - (n
a
- n
0
) d
a
2
- n
s
d
s
2
)
Caso 3: V
g
= 0,25 (D
0
2
- n
a
d
a
2
- n
s
d
s
2
)
Caso 4: V
g
= 0,125 n
0
(D
0
- d
a
)
2
sin (360/n
0
) - 0,125 (2n
a
- n
0
- 2)d
a
2
- 0,25 n
s
d
s
2
Sendo:
V
g
o volume de massa no condutor, por unidade de comprimento.
D
o
o dimetro externo do condutor.
D
s
o dimetro do ncleo de ao.
d
a
o dimetro dos fios de alumnio da ltima camada.
d
s
o dimetro dos fios de ao.
n
a
o nmero de fios de alumnio no condutor.
n
0
o nmero de fios da ltima camada do condutor.
n
s
o nmero de fios de ao no condutor.
Dado que existe uma relao geomtrica entre os parmetros destas equaes,
possvel expressar a quantidade total de massa protectora num condutor atravs da
relao seguinte:
M
g
= kd
a
2
Sendo:
M
g
a quantidade de massa protectora (kg/km).
K o factor que depende do tipo de condutor, da densidade da massa
protectora e do preenchimento (relao de volume terico).
CARACTERSTICAS TCNICAS DOS CONDUTORES DE ENERGIA E CABOS ELCTRICOS
209
GUIA TCNICO
Quadro 69 - Coeficientes k para quantidade de massa protectora nos cabos
Nota: os valores de k indicados na tabela para os 4 casos de aplicao de massa protectora
baseiam-se numa densidade de 0,87 g/cm
3
e um factor de preenchimento de 0,8.
CAPTULO V
210
GUIA TCNICO
5.1.3 - Cabos de Alumnio do tipo AAC
Aplicaes:
Os cabos de alumnio so normalmente usados em linhas areas.
Normas de referncia:
EN 50889
EN 50182
Construo:
Os cabos de alumnio so condutores cableados concntricos, compostos de uma
ou mais camadas de fios de alumnio do tipo AL1.
Quadro 70 - Composies dos condutores de alumnio
CARACTERSTICAS TCNICAS DOS CONDUTORES DE ENERGIA E CABOS ELCTRICOS
211
GUIA TCNICO
Q
u
a
d
r
o
7
1
-
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
T
c
n
i
c
a
s
d
o
s
C
a
b
o
s
d
e
A
l
u
m
n
i
o
u
s
a
d
o
s
e
m
I
n
g
l
a
t
e
r
r
a
-
A
L
1
CAPTULO V
212
GUIA TCNICO
Q
u
a
d
r
o
7
2
-
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
T
c
n
i
c
a
s
d
o
s
C
a
b
o
s
d
e
A
l
u
m
n
i
o
u
s
a
d
o
s
e
m
E
s
p
a
n
h
a
-
A
L
1
CARACTERSTICAS TCNICAS DOS CONDUTORES DE ENERGIA E CABOS ELCTRICOS
213
GUIA TCNICO
Q
u
a
d
r
o
7
3
-
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
T
c
n
i
c
a
s
d
o
s
C
a
b
o
s
d
e
A
l
u
m
n
i
o
u
s
a
d
o
s
e
m
A
l
e
m
a
n
h
a
-
A
L
1
CAPTULO V
214
GUIA TCNICO
5.1.4 - Cabos de Liga de Alumnio do tipo AAAC
Aplicaes:
Os cabos de liga de alumnio so normalmente usados em linhas areas.
So usados normalmente em substituio dos cabos AAC quando se pretende uma
maior resistncia mecnica, e dos cabos ACSR quando se pretende igualmente
uma maior resistncia corroso.
Normas de referncia:
EN 50183
EN 50182
Construo:
Os cabos de liga de alumnio so condutores cableados concntricos, compostos
de uma ou mais camadas de fios de liga de alumnio do tipo AL2, AL3, AL4
ou AL5.
Quadro 74 - Composies dos cabos de liga de alumnio
CARACTERSTICAS TCNICAS DOS CONDUTORES DE ENERGIA E CABOS ELCTRICOS
215
GUIA TCNICO
Q
u
a
d
r
o
7
5
-
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
T
c
n
i
c
a
s
d
o
s
C
a
b
o
s
d
e
L
i
g
a
d
e
A
l
u
m
n
i
o
u
s
a
d
o
s
e
m
I
n
g
l
a
t
e
r
r
a
-
A
L
3
CAPTULO V
216
GUIA TCNICO
Q
u
a
d
r
o
7
6
-
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
T
c
n
i
c
a
s
d
o
s
C
a
b
o
s
d
e
L
i
g
a
d
e
A
l
u
m
n
i
o
u
s
a
d
o
s
e
m
I
n
g
l
a
t
e
r
r
a
-
A
L
5
CARACTERSTICAS TCNICAS DOS CONDUTORES DE ENERGIA E CABOS ELCTRICOS
217
GUIA TCNICO
Q
u
a
d
r
o
7
7
-
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
T
c
n
i
c
a
s
d
o
s
C
a
b
o
s
d
e
L
i
g
a
d
e
A
l
u
m
n
i
o
u
s
a
d
o
s
e
m
E
s
p
a
n
h
a
-
A
L
2
CAPTULO V
218
GUIA TCNICO
Q
u
a
d
r
o
7
8
-
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
T
c
n
i
c
a
s
d
o
s
C
a
b
o
s
d
e
L
i
g
a
d
e
A
l
u
m
n
i
o
u
s
a
d
o
s
n
a
A
l
e
m
a
n
h
a
-
A
L
3
CARACTERSTICAS TCNICAS DOS CONDUTORES DE ENERGIA E CABOS ELCTRICOS
219
GUIA TCNICO
Q
u
a
d
r
o
7
9
-
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
T
c
n
i
c
a
s
d
o
s
C
a
b
o
s
d
e
L
i
g
a
d
e
A
l
u
m
n
i
o
u
s
a
d
o
s
e
m
P
o
r
t
u
g
a
l
-
A
L
4
Q
u
a
d
r
o
8
0
-
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
T
c
n
i
c
a
s
d
o
s
C
a
b
o
s
d
e
L
i
g
a
d
e
A
l
u
m
n
i
o
u
s
a
d
o
s
e
m
F
r
a
n
a
-
A
L
4
CAPTULO V
220
GUIA TCNICO
5.1.5 - Cabos de Alumnio com Alma de Ao do tipo ACSR
Cabos de Alumnio com Alma de ACS do tipo ACSR/AW
Aplicaes:
Os cabos de alumnio com alma de ao so normalmente usados em linhas areas.
Normas de referncia:
EN 50189; EN 50889; EN 61232; EN 50182
Construo:
Os cabos de alumnio com alma de ao ou ACS so condutores cableados concn-
tricos, compostos de uma ou mais camadas de fios de alumnio do tipo AL1, e um
ncleo (alma) de ao galvanizado de alta resistncia do tipo ST1A, ST2B, ST3D,
ST4A, ST5E ou de ACS (ao coberto a alumnio) do tipo 20 SA.
Devido s numerosas combinaes possveis de fios de alumnio e ao, pode-se
variar a proporo dos mesmos, a fim de se obter a melhor relao entre capaci-
dade de transporte de corrente e resistncia mecnica para cada aplicao.
Quadro 81 - Composies dos cabos de alumnio com alma de ao ou ACS
CARACTERSTICAS TCNICAS DOS CONDUTORES DE ENERGIA E CABOS ELCTRICOS
221
GUIA TCNICO
Q
u
a
d
r
o
8
2
-
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
T
c
n
i
c
a
s
d
o
s
C
a
b
o
s
d
e
A
l
u
m
n
i
o
c
o
m
A
l
m
a
d
e
A
o
u
s
a
d
o
s
e
m
P
o
r
t
u
g
a
l
-
A
L
1
/
S
T
1
A
Q
u
a
d
r
o
8
3
-
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
T
c
n
i
c
a
s
d
o
s
C
a
b
o
s
d
e
A
l
u
m
n
i
o
c
o
m
A
l
m
a
d
e
A
C
S
u
s
a
d
o
s
e
m
P
o
r
t
u
g
a
l
-
A
L
1
/
2
0
S
A
CAPTULO V
222
GUIA TCNICO
Q
u
a
d
r
o
8
4
-
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
T
c
n
i
c
a
s
d
o
s
C
a
b
o
s
d
e
A
l
u
m
n
i
o
c
o
m
A
l
m
a
d
e
A
o
u
s
a
d
o
s
e
m
I
n
g
l
a
t
e
r
r
a
-
A
L
1
/
S
T
1
A
CARACTERSTICAS TCNICAS DOS CONDUTORES DE ENERGIA E CABOS ELCTRICOS
223
GUIA TCNICO
Q
u
a
d
r
o
8
5
-
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
T
c
n
i
c
a
s
d
o
s
C
a
b
o
s
d
e
A
l
u
m
n
i
o
c
o
m
A
l
m
a
d
e
A
o
u
s
a
d
o
s
e
m
E
s
p
a
n
h
a
-
A
L
1
/
S
T
1
A
CAPTULO V
224
GUIA TCNICO
Q
u
a
d
r
o
8
6
-
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
T
c
n
i
c
a
s
d
o
s
C
a
b
o
s
d
e
A
l
u
m
n
i
o
c
o
m
A
l
m
a
d
e
A
o
u
s
a
d
o
s
n
a
A
l
e
m
a
n
h
a
-
A
L
1
/
S
T
1
A
CARACTERSTICAS TCNICAS DOS CONDUTORES DE ENERGIA E CABOS ELCTRICOS
225
GUIA TCNICO
Q
u
a
d
r
o
8
7
-
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
T
c
n
i
c
a
s
d
o
s
C
a
b
o
s
d
e
A
l
u
m
n
i
o
c
o
m
A
l
m
a
d
e
A
o
u
s
a
d
o
s
e
m
F
r
a
n
a
-
A
L
1
/
S
T
1
A
Q
u
a
d
r
o
8
8
-
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
T
c
n
i
c
a
s
d
o
s
C
a
b
o
s
d
e
A
l
u
m
n
i
o
c
o
m
A
l
m
a
d
e
A
o
u
s
a
d
o
s
e
m
F
r
a
n
a
-
A
L
1
/
S
T
6
C
CAPTULO V
226
GUIA TCNICO
5.1.6 - Cabos de Liga de Alumnio com Alma de Ao do tipo AACSR
Aplicaes:
Os cabos de alumnio com alma de ao so normalmente usados em linhas areas.
So cabos semelhantes aos ACSR, com a substituio dos fios de alumnio AL1
por fios de liga de alumnio AL2, AL3, AL4 ou AL5.
So normalmente indicados para grandes vos onde impraticvel a utilizao de
torres intermedirias, existindo por isso a necessidade de utilizao de cabos com
maior resistncia mecnica.
Normas de referncia:
EN 50183; EN 50189; EN 50182
Construo:
Os cabos de liga de alumnio com alma de ao so condutores cableados concntri-
cos, compostos de uma ou mais camadas de fios de liga de alumnio do tipo AL2,
AL3, AL4 ou AL5, e um ncleo (alma) de ao galvanizado de alta resistncia do
tipo ST1A, ST2B, ST3D, ST4Aou ST5E.
Devido s numerosas combinaes possveis de fios de liga de alumnio e ao,
pode-se variar a proporo dos mesmos, a fim de se obter a melhor relao entre
capacidade de transporte de corrente e resistncia mecnica para cada aplicao.
Quadro 89 - Composies dos cabos de liga de alumnio com alma de ao
CARACTERSTICAS TCNICAS DOS CONDUTORES DE ENERGIA E CABOS ELCTRICOS
227
GUIA TCNICO
Q
u
a
d
r
o
9
0
-
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
T
c
n
i
c
a
s
d
o
s
C
a
b
o
s
d
e
L
i
g
a
A
l
u
m
n
i
o
c
o
m
A
l
m
a
d
e
A
o
u
s
a
d
o
s
e
m
I
n
g
l
a
t
e
r
r
a
-
A
L
5
/
S
T
1
A
Q
u
a
d
r
o
9
1
-
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
T
c
n
i
c
a
s
d
o
s
C
a
b
o
s
d
e
L
i
g
a
A
l
u
m
n
i
o
c
o
m
A
l
m
a
d
e
A
o
u
s
a
d
o
s
e
m
E
s
p
a
n
h
a
-
A
L
2
/
S
T
1
A
CAPTULO V
228
GUIA TCNICO
Q
u
a
d
r
o
9
2
-
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
T
c
n
i
c
a
s
d
o
s
C
a
b
o
s
d
e
L
i
g
a
A
l
u
m
n
i
o
c
o
m
A
l
m
a
d
e
A
o
u
s
a
d
o
s
n
a
A
l
e
m
a
n
h
a
-
A
L
3
/
S
T
1
A
CARACTERSTICAS TCNICAS DOS CONDUTORES DE ENERGIA E CABOS ELCTRICOS
229
GUIA TCNICO
Q
u
a
d
r
o
9
3
-
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
T
c
n
i
c
a
s
d
o
s
C
a
b
o
s
d
e
L
i
g
a
A
l
u
m
n
i
o
c
o
m
A
l
m
a
d
e
A
o
u
s
a
d
o
s
e
m
F
r
a
n
a
-
A
L
4
/
S
T
6
C
CAPTULO V
230
GUIA TCNICO
Seco do Cabo
(mm
2
, AWG ou MCM, sq.in.)
E
l
e
v
a
o
d
a
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
(
0
C
a
c
i
m
a
d
e
4
0
0
C
a
m
b
i
e
n
t
e
)
I
n
t
e
n
s
i
d
a
d
e
d
e
C
o
r
r
e
n
t
e
A
d
m
i
s
s
v
e
l
(
a
)
5.1.7 - Curvas de Elevao da Temperatura
Aintensidade de corrente mxima admissvel num cabo areo nu est limitada pela
elevao da temperatura desse cabo (at ao valor mximo permitido pelo metal
constituinte) provocada pela passagem dessa corrente. A temperatura mxima ad-
missvel num condutor nu no deve provocar alteraes das propriedades mecni-
cas exigveis para os metais constituintes, nomeadamente a resistncia traco e
o alongamento.
Nenhuma aco de recozimento notada nos fios de alumnio at uma temperatura
de 75 C, mesmo ao fim de um tempo em servio prolongado, e at 100 C o reco-
zimento produzido fraco. Um cabo AAC em servio permanente e a uma tempe-
ratura de 100 C sofrer, ao fim de alguns meses, uma reduo at 10% do seu
limite de ruptura provocada pelo recozimento. J num cabo ACSR essa reduo
no ser superior a 5% devido presena do ao na composio do mesmo.
As curvas de elevao da temperatura que apresentamos nos grficos 19 a 21,
fornecem a intensidade de corrente admissvel nos cabos AAC e ACSR em funo
da elevao da temperatura desses acima de 40 C (temperatura ambiente),
considerando o vento a incidir transversalmente sobre o cabo e com uma veloci-
dade de 0,61 m/s.
Grfico 19- Curvas de Elevao da Temperatura dos Cabos AAC
(Velocidade do vento 0,61 m/s perpendicularmente ao cabo)
CARACTERSTICAS TCNICAS DOS CONDUTORES DE ENERGIA E CABOS ELCTRICOS
231
GUIA TCNICO
I
n
t
e
n
s
i
d
a
d
e
d
e
C
o
r
r
e
n
t
e
A
d
m
i
s
s
v
e
l
(
A
)
S
e
c
o
T
o
t
a
l
d
o
C
a
b
o
(
m
m
2
)
Elevao da Temperatura
(
o
C acima de 40
o
C ambiente)
Grfico 20 - Curvas de Elevao da Temperatura dos Cabos ACSR
(Medidas Canadianas)
(Velocidade do vento 0,61 m/s perpendicularmente ao cabo)
Elevao da Temperatura
(
o
C acima de 40
o
C ambiente)
I
n
t
e
n
s
i
d
a
d
e
d
e
C
o
r
r
e
n
t
e
A
d
m
i
s
s
v
e
l
(
A
)
S
e
c
o
T
o
t
a
l
d
o
C
a
b
o
(
m
m
2
)
Grfico 21 - Curvas de Elevao da Temperatura dos Cabos ACSR
(Medidas Inglesas)
(Velocidade do vento 0,61 m/s perpendicularmente ao cabo)
Cabos de Guarda com Fibra
ptica Incorporada
C
aptulo
V.II
CARACTERSTICAS TCNICAS DOS CONDUTORES DE ENERGIA E CABOS ELCTRICOS
235
GUIA TCNICO
5.2- Cabos de Guarda com Fibra ptica Incorporada*
5.2.1 - Fibra ptica: Conceitos bsicos e perspectivas de evoluo
5.2.1.1 - Introduo
A crescente procura de servios multimdia verificada na ltima dcada,
estimulou o desenvolvimento de infraestruturas suportadas por fibra ptica.
Em paralelo, o desenvolvimento de equipamentos activos (amplificadores
em fibra, multiplexadores, lasers DFB,...) associado a uma evoluo da
prpria fibra ptica, optimizaram a explorao das capacidades intrnsecas a
esta tecnologia: largura de banda, transparncia protocolar e fiabilidade.
5.2.1.2 - Conceitos bsicos
5.2.1.2.1 - Propagao do raio luminoso ~ anlise geomtrica
A transmisso de luz nas fibras pticas, resulta de grosso modo de um
processo de confinamento da mesma ao longo de guia de onda constitudo
por um cilindro de vidro central (ncleo - ndice de refraco n
1
), rodeado
por um tubo do mesmo material base (bainha -ndice de refraco n
2
) mas
com um ndice de refraco ligeiramente inferior - Figura 27.
Figura 27 - Estrutura base de uma fibra ptica com um perfil de ndice de refraco em degrau.
O confinamento assegurado por um processo de reflexes internas totais na
interface do ncleo com a banha da fibra ptica (Figura 28).
* Tambm designado por O.P.G.W. (optical power ground wire).
CAPTULO V
236
GUIA TCNICO
Figura 28 - Reflexo interna na interface ncleo/bainha.
Para um raio luminoso que se propaga de uma regio de ndice de refraco
n
1
para uma outra regio com um menor ndice de refraco (n
2
), a relao
entre os ngulos apresentados na Figura 28 dada pela Lei de Snell:
(1)
onde u
i
: ngulo de incidncia
u
t
: ngulo de transmisso.
O limite da reflexo interna total ocorre quando u
t
=90:
(2)
Para esta situao limite o ngulo de incidncia designado por ngulo crti-
co u
c
. Assim a condio de propagao de um raio luminoso que incide na
interface ncleo/bainha com um angulo u :
(3)
5.2.1.2.2 - Atenuao
Os mecanismos fsicos bsicos que contribuem para a atenuao da potncia
ptica transmitida ao longo da fibra so de grosso modo:
(i) Absoro intrnseca;
(ii) Absoro pelas impurezas;
(iii) Espalhamento ('Scattering)
Quer a absoro devida aos materiais intrnsecos prpria fibra, quer a
absoro associada presena de gua (ies OH
-
) e de outras impurezas
sin sin u u u u ( ) > ( ) = >
c c
sin u
i
2
1
n
n
( ) =
n n
1 i 2 t
sin sin u u ( ) = ( )
CARACTERSTICAS TCNICAS DOS CONDUTORES DE ENERGIA E CABOS ELCTRICOS
237
GUIA TCNICO
inerentes ao processo de fabricao das fibras pticas (tais como metais de
transio - Fe, Cu, Ni,...), tm um comportamento espectral definido quer
pela vibrao atmica quer pela condio de ressonncia electrnica associa-
da a esse elemento.
O fenmeno de espalhamento de Rayleigh resulta de variaes microscpi-
cas (numa escala muito inferior ao comprimento de onda da luz) da densida-
de dos vrios compostos utilizados na fabricao da fibra ptica.
O comportamento espectral do coeficiente de atenuao associado a este
fenmeno dado por:
(4)
onde C: constante intrnseca fibra
: comprimento de onda
O coeficiente de atenuao total (o) para uma determinada fibra ptica de-
finido como:
(5)
onde P
0
: potncia ptica injectada na fibra
P: potncia ptica no final de um percurso ptico de comprimento L
O comportamento espectral de uma fibra ptica apresentado na Figura 29.
P P = ~
[ |
0
exp o L
o
Rayleigh
C
4
=
Figura 29. Comportamento espectral do coeficiente de atenuao de uma fibra ptica standard.
CAPTULO V
238
GUIA TCNICO
5.2.1.2.3 - Disperso cromtica
As vrias componentes espectrais de um sinal ptico percorrem a mesma
distncia ao longo de uma fibra ptica em intervalos de tempo distintos.
Numa fibra ptica multimodo este fenmeno explicado pela propagao
em diferentes modos com geometria de propagao distinta: disperso
inter-modal. No caso particular da propagao de um nico modo - fibras
monomodo, a disperso do sinal resulta de aspectos intra-modais: Disperso
material e disperso do guia de onda.
A disperso material est associada natureza multi-cromtica de um deter-
minado sinal ptico que se propaga ao longo de uma fibra. Como cada com-
ponente espectral deste sinal 'v a fibra com um ndice de refraco
especfico, a velocidade de propagao no constante para a gama de
comprimentos de onda em questo. Assim cada componente espectral deste
sinal demora um determinado tempo a percorrer a via ptica, provocando o
alargamento temporal do mesmo.
A disperso do guia de onda determinada pela fraco de luz propagada
atravs da bainha, e como o ndice de refraco da bainha diferente do ndi-
ce de refraco do ncleo, ento os modos propagadores nestas duas regies
viajam com velocidade distintas.
A disperso total para uma fibra monomodo dada pelo somatrio destes
dois tipos de disperso (Figura 30).
Figura 30 - Comportamento espectral das componentes da disperso cromtica.
5.2.1.2.4 - Disperso modal de polarizao (PMD)
Uma fibra ptica concebida para a propagao de um nico modo (modo
fundamental) no verdadeiramente monomodo, j que na realidade esta
fibra suporta dois modos degenerados polarizados num plano ortogonal ao
eixo da fibra (Figura 31).
CARACTERSTICAS TCNICAS DOS CONDUTORES DE ENERGIA E CABOS ELCTRICOS
239
GUIA TCNICO
Numa situao ideal a fibra ptica seria um guia de onda com uma simetria
perfeitamente circular e com um perfil de ndices de refraco uniforme ao
longo de toda a sua extenso. Na realidade as imperfeies inerentes ao pro-
cesso de fabrico, bem como vrios aspectos fsicos (temperatura, tenses
mecnicas,...) presentes ao longo do tempo de vida do cabo de fibra ptica,
determinam um comportamento aleatrio destas assimetrias. Assim os dois
modos polarizados em planos ortogonais propagam-se com velocidades dis-
tintas, determinadas pela diferena entre os ndices de refraco efectivos
nestes dois planos. Esta diferena conhecida por birrefringncia:
(6)
n
i
representa o ndice de refraco efectivo no plano i.
A diferena entre as velocidades de propagao dos dois modos, determina
um atraso temporal At entre os dois ao fim de um percurso ptico com uma
extenso L:
(7)
onde v
gi
: velocidade de grupo no eixo i
A: variao da constante de propagao associada birrefringncia.
A A t = ~ =
L
v
L
v
L
g g
x y
B = ~ n n
x y
Figura 31 - A perspectiva de uma fibra ptica como uma sequncia aleatria
de vrios elementoscom uma determinada birrefringncia.
CAPTULO V
240
GUIA TCNICO
Como uma fibra ptica real pode ser considerada uma sequncia aleatria de
elementos com um birrefringncia especfica (Figura 31), a disperso dos
modos de polarizao (PMD) resulta de uma anlise estatstica do comporta-
mento de At. Devido ao seu carcter estatstico, o atraso entre os dois modos
de polarizao no tem um comportamento linear relativamente ao compri-
mento da fibra. Assim a unidade indicada para o valor do PMD dada em
ps/vkm.
Os efeitos mais nefastos do PMD resultam do alargamento dos impulsos
pticos num sistema de telecomunicaes digitais por fibra ptica. Este fen-
meno pode provocar interferncias inter-digitais, resultando num aumento
significativo do BER ('Bit-error-rate). Uma boa regra para evitar este tipo
de situaes consiste em manter o valor de At em nveis inferiores a 10% do
perodo do bit. O grfico 22 apresenta os nveis mximos de disperso para
vrios tributrios de uma arquitectura SDH ('Synchronous Digital
Hierarchy).
Grfico 22 - Disperso mxima para vrias taxas de dbito.
5.2.1.3 - Evoluo da fibra ptica
A exploso do nmero de utilizadores da Internet em meados nos anos 90,
desencadeou nos operadores de telecomunicaes uma procura de solues
que permitissem optimizar a capacidade das fibras e a reduo do nmero de
conversores ptico/elctrico/ptico nas rotas implementadas.
Numa fibra monomodo standard (ITU-T G.652) os valores mais baixo de
atenuao encontram-se na janela de 1550 nm, enquanto que os nveis de
disperso cromtica so mnimos na janela de 1310 nm. Assim, e embora a
janela de 1550 nm permita reduzir o nmero de amplificadores de sinal em
relao janela de 1310 nm, esta ltima garante um maior dbito (maior
CARACTERSTICAS TCNICAS DOS CONDUTORES DE ENERGIA E CABOS ELCTRICOS
241
GUIA TCNICO
nmero de canais) para uma mesma distncia entre regeneradores de sinal.
A situao ideal seria conciliar numa mesma janela estas duas valncias.
A primeira abordagem surgiu com a fibra monomodo com disperso
deslocada (ITU-T G.653), cuja construo permitia deslocar para a janela de
1550 nm os comprimentos de onda com disperso cromtica nula (Figura 32).
Figura 32 - Curvas de disperso - fibra monomodo standard e com disperso deslocada.
O advento da tecnologia de amplificadores em fibra dopada com rbio
(EDFA) e a utilizao de arquitecturas com multiplexagem em comprimento
de onda (WDM), permitiu aumentar significativamente a distncia entre
os conversores ptico/elctrico, e um melhor aproveitamento da largura de
banda, respectivamente.
No entanto o resultado da conjugao destas duas tecnologias, revelou-se in-
compatvel com a utilizao das fibras pticas monomodo com disperso
deslocada. Isto porque os efeitos no lineares associados aos elevados nveis
de potncia ptica gerados pelos EDFAs, revelaram-se incompatveis com a
utilizao de arquitecturas WDM e particularmente DWDM ('Dense Wave-
length Division Multiplexing). De todos os efeitos no lineares, o fenmeno
conhecido como 'Four Wave Mixing (FWM) o mais prejudicial para
arquitecturas DWDM com canais equiespaados. Este fenmeno respons-
vel pelo aparecimento de rplicas da sequncia dos canais originais desloca-
das em comprimento de onda (Figura 33). Os efeitos so particularmente
acentuados quando os novos canais se propagam mesma velocidade dos
canais originais, situao natural quando a distribuio espectral destes
canais coincide com a janela de disperso cromtica nula.
CAPTULO V
242
GUIA TCNICO
Figura 33 - Sistema de 6 canais DWDM a 100 GHz. Os canais a 1530 nm e 1531.6 nm esto
a tracejado de forma a visualizar os sinais parasitas gerados por FWM (mais claro).
Com o intuito de minimizar estes efeitos, surgiu em meados dos anos 90 uma
nova fibra monomodo com disperso deslocada, mas com o comprimento de
onda de disperso nula deslocado da zona de operao - NZDSF ('Non-Zero
Dispersion Shifted Fiber). Neste tipo de fibra ptica o comprimento de
onda de corte de disperso cromtica nula desviado da gama de funciona-
mento dos EDFA, de forma a introduzir uma ligeira disperso suficiente
para limitar fenmenos como o FWM (Figura 34).
Figura 34: Disperso cromtica deslocada para a janela de 1550 nm.
Mais recentemente o desenvolvimento de uma nova verso da NZDSF com
um maior ncleo LCF ('Large Core Fibers), permitiu uma reduo adicio-
nal dos efeitos no lineares atravs da diminuio da densidade de potncia
no ncleo das fibras.
CARACTERSTICAS TCNICAS DOS CONDUTORES DE ENERGIA E CABOS ELCTRICOS
243
GUIA TCNICO
5.2.2 - Fundamentos de reflectometria ptica temporal (OTDR)
5.2.2.1 - Introduo
Desde o seu aparecimento na dcada de 70, o OTDR ('Optical Time Domain
Reflectometer) tornou-se um dos instrumentos mais versteis na caracteri-
zao de fibras e redes pticas.
O seu funcionamento pode ser entendido como um 'radar ptico que envia
impulsos de luz para uma fibra ptica, para depois recolher informao de
uma pequena fraco dessa luz que reflectida na sua direco. A informa-
o obtida desta forma permite elaborar um diagrama da potncia ptica
reflectida em funo da distncia. O OTDR determina a posio do aconteci-
mento reflectivo a partir tempo de vo dos impulsos de luz (OTDR-aconte-
cimento-OTDR), e do valor da velocidade de propagao da luz na fibra
(determinada pelo conhecimento do ndice de refraco do ncleo da fibra):
(1)
onde: t - tempo de vo do impulso ptico, c - velocidade da luz no vazio
( ), e n - ndice de refraco da fibra.
O diagrama da distribuio espacial de potncia ptica frequentemente
denominado por padro de 'backscatter, ou 'assinatura do percurso ptico.
5.2.2.2 - Princpio de funcionamento
Uma fonte de luz (LASER) envia impulsos de luz de alta potncia e curta
durao (10 ns - 10 s), para a fibra ptica a testar. Uma fraco muito
pequena desta radiao reflectida na direco do OTDR onde captada por
um detector de elevada sensibilidade (Figura 35).
3 10
8
m s
L
c t
n
=
2
Figura 35. Diagrama de blocos genrico de um OTDR.
CAPTULO V
244
GUIA TCNICO
O monitor do OTDR mostra a curva da potncia reflectida em funo da dis-
tncia. A partir desta distribuio espacial de potncia possivel calcular a
perda introduzida entre dois pontos, e o valor do coeficiente de atenuao
(obtido pela razo: perda de potncia/distncia). A Figura 36 mostra um
padro de 'backscatter genrico, no qual podemos distinguir dois tipos de
acontecimentos: os reflectivos - associados a descontinuidades do ndice de
refraco que provocam reflexes de Fresnel (conectores, interfaces fibra-ar,
etc); e os no-reflectivos - acontecimentos responsveis pela introduo de
perdas num percurso ptico sem descontinuidades (micro-curvaturas, juntas
por fuso, etc).
Figura 36 - Alguns dos acontecimentos mais vulgares numa fibra ptica, e respectivas
assinaturas no padro de 'backscatter.
A ligao entre estes acontecimentos feita por patamares de decaimento
uniforme de potncia ptica, provocados por um fenmeno de disperso
de luz que est na base do princpio de funcionamento do prprio OTDR.
A diferena entre os nveis de potncia destes patamares imediatamente
antes e depois de um dado acontecimento determina o valor da perda intro-
duzida (Figura 37).
CARACTERSTICAS TCNICAS DOS CONDUTORES DE ENERGIA E CABOS ELCTRICOS
245
GUIA TCNICO
Figura 37. 'Assinatura caracterstica de um acontecimento no reflectivo
(p.e. junta por fuso).
5.2.2.3 - Parmetros que condicionam a medio
5.2.2.3.1. Banda dinmica
A banda dinmica uma espcie de figura de mrito utilizada para indicar a
capacidade de medida de um OTDR. Uma banda dinmica superior permite
monitorar troos de fibra mais longos, e consequentemente detectar aconte-
cimentos normalmente ocultados pelo rudo electrnico.
Por definio a banda dinmica para um dado comprimento de onda de
funcionamento e largura dos impulsos pticos, corresponde diferena
(em dcibeis) entre o nvel inicial da potncia ptica reflectida e o patamar
de rudo. Esta diferena pode ser especificada em relao ao valor RMS
('root-mean-square) do patamar de rudo ou em relao ao seu valor de
pico (Figura 38).
Figura 38 - Padro de 'backscatter registado num OTDR sem banda dinmica suficiente.
CAPTULO V
246
GUIA TCNICO
A figura 38 mostra um padro de 'backscatter, no qual a diferena entre o
nvel do sinal reflectido pela extremidade da fibra mais afastada do OTDR e o
patamar de rudo, de tal maneira reduzida que no permite tirar concluses
fundamentadas em relao a possveis acontecimentos nessa zona (por exem-
plo a junta por fuso situada a 8400 metros do OTDR no visvel). Para
optimizar a banda dinmica de um OTDR necessrio reduzir o patamar de
rudo, e/ou aumentar a potncia do sinal injectado de forma a melhorar a rela-
o sinal-rudo. No caso do operador do OTDR optar pela primeira soluo
dever aumentar a durao do tempo de aquisio, aproveitando desta forma
a natureza aleatria do rudo. Na segunda opo o operador dever aumentar
a largura do impulso ptico injectado pelo OTDR na fibra.
5.2.2.3.1.1 - Durao do tempo de aquisio
A sequncia de impulsos reflectidos permite ao OTDR recolher durante um
intervalo de tempo pr-determinado um certo nmero de valores de potncia
relativos a vrias posies ao longo da fibra. O processador de sinal do
OTDR realiza ento uma mdia dos valores correspontes a uma determinada
posio enquanto calcula a respectiva localizao na fibra.
Devido ao seu comportamento aleatrio o rudo pode ser atenuado realizan-
do vrias mdias sobre os vrios valores de potncia reflectida em funo da
distncia. Desta forma, ao aumentar o tempo de aquisio do OTDR, o ope-
rador optimiza a relao sinal-rudo, obtendo um padro de 'backscatter de
melhor qualidade (Figura 39).
Figura 39 - O padro de 'backscatter em funo do tempo de aquisio.
5.2.2.3.1.2 - Largura do impulso ptico
No ponto anterior foi discutido como a durao do tempo de aquisio pode
influenciar a relao sinal-rudo da medio. Uma forma alternativa de obter
CARACTERSTICAS TCNICAS DOS CONDUTORES DE ENERGIA E CABOS ELCTRICOS
247
GUIA TCNICO
resultados semelhantes, consiste em melhorar o nvel da potncia ptica que
chega ao detector do OTDR, aumentando a potncia injectada na fibra. Para
tal, o operador deve optimizar as condies de injeco da luz na fibra, pres-
tando particular ateno qualidade das juntas por conectores ou outros dis-
positivos que estabelecem a ligao ptica entre o OTDR e a fibra a testar.
Depois deste procedimento (efectuado para cada medio) o operador pode ainda sele-
cionar impulsos pticos de maior durao (Figura 40). Esta opo
permite melhorar a relao sinal-rudo sem dispender o tempo exigido pela
soluo discutida no ponto anterior. No entanto o operador dever ter em conta a rela-
o de compromisso entre a melhoria da banda dinmica e a perda de resoluo, que es-
ta soluo impe (este problema discutido no ponto 5.2.2.3.2).
Figura 40 - Distribuio espacial de diferentes impulsos pticos na fibra.
5.2.2.3.2 - Resoluo espacial, zona morta
Enquanto que a banda dinmica determina a extenso mxima da fibra a
testar, a zona morta define a capacidade do OTDR distinguir dois aconteci-
mentos sucessivos. As zonas mortas representam intervalos de tempo
(posteriormente convertidos em distncias) em que o detector do OTDR per-
manece saturado. O sistema de deteco ptica do OTDR concebido para
um regime de funcionamento com nveis de potncia muito baixos. Assim
qualquer acontecimento associado a fortes reflexes (por exemplo, reflexes
de Fresnel em juntas por conectores, cortes perfeitos da fibra, etc) provoca
um sbito pico de potncia que suficiente para saturar o detector. Aps
a saturao o detector demora ainda um certo tempo para recuperar, o que
aumenta a extenso da zona morta.
Existem duas definies para zona morta (Figura 41):
(i) zona morta de atenuao: distncia entre o nicio da reflexo e o
ponto onde o detector recupera at 0.5 dB em relao ao patamar de
'backscatter. Este o ponto a partir do qual o OTDR recupera
a capacidade de medir a atenuao e as perdas;
CAPTULO V
248
GUIA TCNICO
(ii) zona morta de um acontecimento: distncia entre o incio da
reflexo e o ponto onde o detector recupera 1.5 dB em relao ao
pico de reflexo. A partir deste ponto o OTDR ainda no consegue
medir atenuao mas j possivel identificar uma segunda
reflexo.
Figura 41 - Zona morta de um acontecimento reflectivo.
A zona morta determina a capacidade do OTDR em distinguir dois aconteci-
mentos sucessivos, definindo desta forma a sua resoluo espacial. A resolu-
o espacial de dois pontos consecutivos definida como:
(2)
onde: t - largura do impulso ptico;
c - velocidade da luz no vazio ( );
n - ndice de refraco da fibra.
No entanto esta expresso s vlida para impulsos pticos com uma forma
rectangular, nos quais a largura determina a resoluo mxima. Para determi-
nar o valor exacto da resoluo necessrio ter em conta a largura de banda
do detector e os intervalos de amostragem.
Tal como indica a expresso (2) a resoluo espacial de grosso modo defi-
nida pela largura dos impulsos pticos. Assim para melhorar a resoluo do
OTDR o operador pode selecionar impulsos mais estreitos, na condio da
3 10
8
m s
Az
c
n
=
t
2
CARACTERSTICAS TCNICAS DOS CONDUTORES DE ENERGIA E CABOS ELCTRICOS
249
GUIA TCNICO
potncia ptica associada permitir ainda uma banda dinmica suficiente para
uma medio correcta.
Na Figura 42 est representado o resultado da monitorizao de uma fibra,
com impulsos pticos de larguras distintas. Os impulsos mais estreitos (Figu-
ra 42.a) permitem ao operador distinguir dois acontecimentos prximos, no
entanto na ltima metade da extenso de fibra a relao sinal-rudo degrada-
se consideravelmente. Ao contrrio, na Figura 42.b, ao utilizar impulsos mais
largos o operador consegue ver a totalidade da fibra, mas os dois aconteci-
mentos vizinhos deixam de ser perceptveis.
Figura 42 - Impulsos mais estreitos (a) garantem melhor resoluo mas prejudicam a banda
dinmica; enquanto que os impulsos mais largos optimizam a banda dinmica mas
no permitem ao OTDR distinguir dois acontecimentos vizinhos.
Os impulsos pticos mais largos provocam o aumento das zonas mortas limi-
tando desta forma a capacidade do OTDR distinguir dois acontecimentos
muito prximos.
5.2.2.4 - Anlise bi-direccional
O OTDR apresenta frequentemente valores de atenuao distintos em medi-
ces realizadas nas duas extremidades da mesma fibra. Da mesma forma,
vulgar surgirem no monitor do OTDR juntas por fuso que apresentam um
'ganho e no perda! O que no deixa de ser estranho para um operador de
OTDR desprevenido, sensibilizado para o facto da intensidade da luz reflec-
tida diminuir em funo da distncia.
Para um fibra com um perfil de ndices de refraco em degrau, e admitindo
um comportamento linear na transmisso de potncia ptica, a intensidade
(S) da luz recolhida pelo OTDR por 'Rayleigh scattering dada pela
seguinte expresso (Brinkmeyer, 1980):
CAPTULO V
250
GUIA TCNICO
(3)
em que, l: comprimento de onda, n
1
: ndice de refraco do ncleo da fibra, e
w a largura do campo modal.
Assim a intensidade do sinal recolhido pelo OTDR depende de factores
sujeitos a variaes impostas pelas condies ambientais, o que justifica o
facto da mesma fibra apresentar valores de coeficiente de atenuao distin-
tos. No caso particular de uma junta entre duas fibras com dimetros modais
ligeiramente diferentes, as condies de reflexo a montante da mesma sero
diferentes das condies encontradas a jusante. Quando o factor S da fibra a
jusante da junta for superior ao da fibra a montante, ento o padro do
OTDR apresentar um 'ganho. Da mesma forma, ao colocar o OTDR na
outra extremidade da fibra, o padro resultante apresentar neste ponto uma
perda exagerada (Figura 43). Para eliminar este problema o operador dever
realizar um teste bi-direccional, colocando o OTDR nas duas extremidades
da fibra ptica a testar. O valor correcto das perdas na junta por fuso
obtido pela mdia dos valores obtidos em cada medio.
S
n
=
[
\
|
)
j 0 038
1
2
2
.
c
Figura 43 - A influncia de diferentes propriedades de 'backscattering
no clculo das perdas em juntas por fuso.
Outro tipo de fenmeno vulgar nos testes realizados com um OTDR,
conhecido como acontecimento '0 dB. Estes acontecimentos so basica-
mente um 'ganho aparente em que o acrscimo de potncia compensa as
perdas reais, fazendo desaparecer a junta do padro de 'backscatter apre-
sentado pelo OTDR. Novamente, um teste bi-direccional permite revelar
a localizao da junta por fuso.
A anlise bi-direccional permite ainda detectar acontecimentos at a oculta-
dos na zona morta de um acontecimento reflectivo. O detector satura com o
pico de Fresnel desse acontecimento, fica temporariamente 'cego e no
consegue detectar os acontecimentos imediatamente a jusante.
CARACTERSTICAS TCNICAS DOS CONDUTORES DE ENERGIA E CABOS ELCTRICOS
251
GUIA TCNICO
Para alm de garantir medies de atenuao mais rigorosas, uma anlise
bi-direccional permite ainda testar extenses de fibra superiores s permiti-
das pela banda dinmica do OTDR disponvel. De facto, os padres obtidos
das duas extremidades da fibra, podem ser colocados topo-a-topo de forma a
caracterizar a totalidade do troo de fibra ptica (Figura 44).
Regra geral o prprio OTDR permite o alinhamento dos acontecimentos
registados numa determinada direco com os obtidos na direco oposta.
Na sequncia desta operao, elaborada uma tabela com os valores mdios
da atenuao para cada acontecimento, e respectiva localizao.
Figura 44 - As duas curvas do padro de 'backscatter de uma fibra,
obtidas por um teste bi-direccional.
5.2.2.5 - Ecos
Todos os impulsos pticos que regressam ao OTDR so parcialmente reflecti-
dos no seu conector de entrada, e injectados de novo na fibra a testar. Regra
geral estes impulsos so de baixa intensidade sendo eliminados depois de per-
corridos alguns metros de fibra. Existem no entanto situaes que implicam
o aparecimento de fortes reflexes de Fresnel, com energia suficiente para
serem reflectidas no conector de entrada do OTDR e provocar o aparecimento
no padro de 'backscatter de uma repetio ou eco, localizado numa distn-
cia mltipla ao acontecimento reflectivo que a provocou (Figura 45). Estas
imagens 'fantasma podem ser eliminadas colocando um gel com ndice de
refraco semelhante ao do ncleo da fibra ('index matching gel), nas juntas
com descontinuidades fsicas responsveis por reflexes de Fresnel.
CAPTULO V
252
GUIA TCNICO
Figura 45 - Uma forte reflexo no ponto A (junta por conectores) provoca o aparecimento de
uma imagem 'fantasma no ponto B (situado no dobro da distncia de A).
CARACTERSTICAS TCNICAS DOS CONDUTORES DE ENERGIA E CABOS ELCTRICOS
253
GUIA TCNICO
5.2.3 - O desenho de cabos OPGW e a sua influncia no desempe-
nho mecnico das fibras pticas
A componente elctrica/mecnica dos cabos OPGW dever prever a salvaguarda
do desempenho da componente ptica dos mesmos. Assim a sua concepo deve-
r minimizar a tenso mecnica nas fibras resultante de fenmenos mecnicos/tr-
micos. A especificidade do desenho de um cabo OPGW determinada pela uni-
dade ptica, j que a componente elctrica/mecnica normalmente assegurada
por uma combinao de fios de liga de alumnio e fios de ao cobertos por uma
pelcula de alumnio (ACS).
Para um dos mais populares modelos de cabo OPGW, a unidade ptica resulta da
introduo no processo de cablagem de um tubo de ao-inox com fibras pticas,
em substituio de um dos fios da(s) camada(s) interior(s) do cabo (p.e. o
desenho da Figura 46).
Figura 46. Cabo OPGW com tubo de ao-inox com fibras pticas incorporadas.
A cablagem do tubo de ao-inox impe uma trajectria em hlice para as fibras
pticas. Esta hlice determina a presena de um nvel residual de tenso mecni-
ca resultado da curvatura.
Para uma espiral com um dimetro D, a deformao imposta pelo raio de curva-
tura dado pela seguinte equao:
(1)
na qual d representa o dimetro da fibra de vidro (mm) e P o passo da
hlice (mm).
A tenso mecnica resultante :
(2)
CAPTULO V
254
GUIA TCNICO
Em que E
0
representa o mdulo de elasticidade inicial da fibra (72 GPa) e o um
factor de correco relativo ao comportamento no-linear da relao tenso/defor-
mao (tipicamente o = 6).
A equao 2 permite avaliar o comportamento da tenso na fibra em funo do
passo de cablagem dos tubos e do dimetro da respectiva hlice. O dimetro da
hlice descrita pelas fibras no interior do tubo de ao-inox na soluo representa-
da na Figura 1 estar dentro do intervalo: 3.65 mm < D < 8.25 mm. Assim para
um passo de cablagem entre 90 mm e 130 mm, a tenso mecnica por curvatura
nas fibras representada pelo grfico 23.
Grfico 23 - Nvel de tenso nas fibras em funo do passo de cablagem do tubo de ao-inox
e dimetro da hlice, para o cabo OPGW descrito na Figura 46
As gamas de passos de hlice sugeridas, enquadram-se dentro das prticas indus-
triais correntes para este tipo de cabo OPGW, assim como na perspectiva da
obteno de um excesso de fibra relativamente ao comprimento linear do cabo
compatvel com a margem de alongamento/contraco perspectivado para o cabo
durante a sua vida til.
A tenso mecnica nas fibras deve ser mantida abaixo de um nvel de segurana
definido pelo proof-test das fibras e por processos de fadiga resultantes da propa-
gao de micro-fissuras no vidro. prtica corrente considerar um nvel de segu-
rana correspondente a 1/5 do valor do proof-test das fibras. Para fibras submeti-
das a uma tenso de proof-test de 700 MPa, o nvel de tenso nas fibras durante
o seu tempo de vida dever ser mantido abaixo de 140 MPa.
O eventual alongamento/deformao das fibras durante o tempo de vida do cabo
poder ser minimizado, dotando a unidade ptica com um excesso de fibra relati-
vamente ao comprimento linear do cabo suficiente para absorver as deformaes
temporrias e permanentes do mesmo. A reduo do passo da hlice dos tubos
pticos permite optimizar o valor do excesso de fibra relativamente ao compri-
mento linear de cabo.
Tal como indica o Grfico 23, o valor da tenso mecnica introduzida nas fibras
pticas devido hlice imposta pelos passos de cablagem mais curtos bastante
inferior ao limite de segurana (140 MPa)
CARACTERSTICAS TCNICAS DOS CONDUTORES DE ENERGIA E CABOS ELCTRICOS
255
GUIA TCNICO
Q
u
a
d
r
o
9
4
-
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
T
c
n
i
c
a
s
d
o
s
C
a
b
o
s
O
P
G
W
(
n
c
l
e
o
p
t
i
c
o
e
m
A
C
S
)
Q
u
a
d
r
o
9
5
-
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
T
c
n
i
c
a
s
d
o
s
C
a
b
o
s
O
P
G
W
(
n
c
l
e
o
p
t
i
c
o
e
m
S
T
)
F
i
g
u
r
a
4
7
-
D
i
v
e
r
s
a
s
c
o
m
p
o
s
i
e
s
d
o
s
C
a
b
o
s
O
P
G
W
Cabos IsoIados
de Baixa Tenso
C
aptuIo
V.III
CARACTERSTICAS TCNICAS DOS CONDUTORES DE ENERGIA E CABOS ELCTRICOS
259
GUIA TCNICO
5.3 - Cabos Isolados de Baixa Tenso
5.3.1 - Cabos com Alma Condutora de Alumnio
A ~ Condutores Cableados (Classe 2)
As almas condutoras, circulares ou sectoriais, so normalmente compactadas.
A forma sectorial s pode ser utilizada nas seces nominais de pelo menos 25
mm2.
B ~ Condutores macios (Classe 1)
As almas macias, de seces entre 10 e 35 mm2 devem ser circulares; de sec-
es superiores a 35 mm2 devem ser circulares para cabos monocondutores e cir-
culares ou sectoriais para multicondutores.
H ainda, no caso dos monocondutores, as almas multisectoriais constitudas por
4 perfis sectoriais macios de 90, cableados entre si (ex. 4x95=380 mm2
1 - Cabos no Armados do Tipo LVV, LSVV, LXV, LSXV
Normas de fabrico: CEI 60502 - 1; HD 603 S1
Tenso estipulada: 0,6 /lkV
Descrio:
1- Alma condutora da classe 2 (LVV,LXV) ou da classe 1 (LSVV, LSXV)
2 - Isolamento a PVC (LVV, LSVV) ou a PEX (LXV,LSXV)
3 - Fita cintagem (Poliester)
4 - Bainha exterior em PVC
Utilizao:
Transporte e distribuio de energia. Os cabos LSVV monocondutores encon-
tram grande aplicao nas canalizaes de baixa tenso, entre os terminais do
transformadores e os quadros gerais de B T.
Figura 48 - Cabos isolados de baixa tenso com alma de Alumnio no armados
CAPTULO V
260
GUIA TCNICO
Quadro 96 - Caractersticas Dimensionais
Condutores Multifilares (LVV)
Quadro 97 - Condutores Slidos (LSVV)
Espessura Nominal 1 Condutor 2 Condutores 3 Condutores 4 Condutores
Seco do Isolamento
(mm
2
) (mm) Peso Peso Peso Peso
(mm) (Kg/Km) (mm) (Kg/Km) (mm) (Kg/Km) (mm) (Kg/Km)
16 1,0 10,5 140 18,4 340 19,5 420 21,0 500
25 1,2 12,1 190 21,0 450 23,0 560 23,4 600
35 1,2 13,2 230 18,5 440 21,6 600 24,3 700
50 1,4 14,7 290 21,2 560 25,1 800 28,5 950
70 1,4 16,4 380 24,0 750 27,9 1050 31,8 1200
95 1,6 18,6 480 27,0 970 31,4 1350 36,7 1650
120 1,6 20,2 570 29,0 1150 34,7 1600 39,6 2000
150 1,8 22,0 660 31,9 1400 38,4 2000 44,6 2350
185 2,0 24,6 850 35,4 1700 42,1 2400 49,0 2900
240 2,2 27,4 1050 39,5 2150 47,8 3100 55,5 3800
300 2,4 30,1 1300 44,2 2700 52,6 3800 61,0 4600
400 2,6 33,9 1650 49,6 3300 60,2 4900 69,5 5800
500 2,8 37,2 2000 - - - - - -
630 2,8 42,5 2500 - - - - - -
Espessura Nominal 1 Condutor 2 Condutores 3 Condutores 4 Condutores
Seco do Isolamento
(mm
2
) (mm) Peso Peso Peso Peso
(mm) (Kg/Km) (mm) (Kg/Km) (mm) (Kg/Km) (mm) (Kg/Km)
16 1,0 10,1 140 13,7 240 15,8 330 17,6 420
25 1,2 11,7 190 16,0 340 18,6 470 20,9 600
35 1,2 12,7 230 17,5 420 20,4 580 23,4 770
50 1,4 14,4 300 20,0 550 23,7 780 27,0 1000
70 1,4 15,9 380 22,5 710 26,4 1000 29,8 1300
95 1,6 17,8 470 25,4 930 30,0 1320 34,4 1750
120 1,6 19,2 570 27,2 1100 32,8 1600 37,2 2100
150 1,8 21,0 690 30,1 1250 36,1 1950 41,9 2600
185 2,0 23,4 850 34,4 1660 39,6 2350 45,7 3200
240 2,2 - - 37,1 2100 45,0 3100 52,0 4100
280 2,4 28,3 1250 - - - - - -
300 2,6 - - 41,6 2600 49,4 3750 57,1 5000
380 2,6 31,9 1580 - - - - - -
480 2,8 35,5 2000 - - - - - -
600 2,8 38,4 2350 - - - - - -
740 2,8 42,0 2850 - - - - - -
CARACTERSTICAS TCNICAS DOS CONDUTORES DE ENERGIA E CABOS ELCTRICOS
261
GUIA TCNICO
Quadro 98 - Caractersticas Elctricas dos Cabos: LVV, LSVV
(
1
)
-
A
s
i
n
t
e
n
s
i
d
a
d
e
s
d
e
c
o
r
r
e
n
t
e
s
o
i
n
d
i
c
a
d
a
s
p
a
r
a
u
m
c
a
b
o
m
o
n
o
p
o
l
a
r
s
e
m
i
n
f
l
u
n
c
i
a
s
t
r
m
i
c
a
s
e
x
t
e
r
i
o
r
e
s
.
N
o
c
a
s
o
d
e
a
s
s
o
c
i
a
e
s
d
e
c
a
b
o
s
m
o
n
o
p
o
l
a
r
e
s
(
t
e
r
n
o
s
j
u
n
t
i
v
o
s
p
o
r
e
x
e
m
p
l
o
)
m
u
l
t
i
p
l
i
c
a
r
o
s
v
a
l
o
r
e
s
i
n
d
i
c
a
d
o
s
p
o
r
0
,
8
0
.
(
2
)
-
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
d
o
s
o
l
o
d
e
2
0
C
.
(
3
)
-
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
d
o
a
m
b
i
e
n
t
e
d
e
3
0
C
.
(
4
)
-
A
s
q
u
e
d
a
s
d
e
t
e
n
s
o
s
o
i
n
d
i
c
a
d
a
s
p
a
r
a
u
m
a
c
a
n
a
l
i
z
a
o
t
r
i
f
s
i
c
a
.
(
5
)
-
A
s
i
n
t
e
n
s
i
d
a
d
e
s
e
q
u
e
d
a
s
d
e
t
e
n
s
o
s
o
i
n
d
i
c
a
d
a
s
p
a
r
a
u
m
a
c
a
n
a
l
i
z
a
o
m
o
n
o
f
s
i
c
a
.
(
6
)
-
A
s
i
n
t
e
n
s
i
d
a
d
e
s
e
q
u
e
d
a
s
d
e
t
e
n
s
o
s
o
i
n
d
i
c
a
d
a
s
p
a
r
a
u
m
a
c
a
n
a
l
i
z
a
o
t
r
i
f
s
i
c
a
.
1
C
o
n
d
u
t
o
r
(
1
)
2
C
o
n
d
u
t
o
r
e
s
(
5
)
3
e
4
C
o
n
d
u
t
o
r
e
s
(
6
)
S
e
c
o
I
n
s
t
a
l
a
o
I
n
s
t
a
l
a
o
Q
u
e
d
a
d
e
I
n
s
t
a
l
a
o
I
n
s
t
a
l
a
o
Q
u
e
d
a
d
e
I
n
s
t
a
l
a
o
I
n
s
t
a
l
a
o
Q
u
e
d
a
d
e
N
o
m
i
n
a
l
S
u
b
t
e
r
r
n
e
a
A
o
A
r
T
e
n
s
o
S
u
b
t
e
r
r
n
e
a
A
o
A
r
T
e
n
s
o
S
u
b
t
e
r
r
n
e
a
A
o
A
r
T
e
n
s
o
m
m
2
(
2
)
(
3
)
A
U
=
V
/
A
K
m
(
2
)
(
3
)
A
U
=
V
/
A
K
m
(
2
)
(
3
)
A
U
=
V
/
A
K
m
I
n
t
e
n
s
i
d
a
d
e
I
n
t
e
n
s
i
d
a
d
e
C
o
s
=
0
,
8
(
4
)
I
n
t
e
n
s
i
d
a
d
e
I
n
t
e
n
s
i
d
a
d
e
C
o
s
=
0
,
8
I
n
t
e
n
s
i
d
a
d
e
I
n
t
e
n
s
i
d
a
d
e
C
o
s
=
0
,
8
1
6
1
1
0
8
0
3
,
3
0
0
9
5
6
7
3
,
7
6
0
9
0
6
2
3
,
2
8
0
2
5
1
4
5
1
0
2
2
,
1
1
0
1
2
5
8
9
2
,
3
9
0
1
1
0
8
0
2
,
0
9
0
3
5
1
8
0
1
2
9
1
,
5
5
0
1
5
0
1
0
7
1
,
7
5
0
1
3
0
9
3
1
,
5
3
0
5
0
2
1
0
1
5
1
1
,
1
8
0
1
7
5
1
2
9
0
,
3
1
0
1
5
0
1
0
7
1
,
1
5
0
7
0
2
7
5
1
9
6
0
,
8
3
4
2
2
5
1
6
0
0
,
9
2
7
1
9
5
1
3
8
0
,
8
2
1
9
5
3
3
0
2
3
6
0
,
6
2
6
2
7
0
1
9
1
0
,
6
8
7
2
3
5
1
6
9
0
,
6
1
4
1
2
0
3
9
0
2
7
6
0
,
5
1
2
3
0
5
2
1
8
0
,
5
5
8
2
7
0
1
9
1
0
,
5
0
2
1
5
0
4
4
0
3
1
1
0
,
4
3
2
3
5
0
2
4
9
0
,
4
6
7
3
1
0
2
2
2
0
,
4
2
4
1
8
5
5
0
5
3
6
0
0
,
3
6
3
3
9
0
2
7
6
0
,
3
8
7
3
5
5
2
5
4
0
,
3
5
4
2
4
0
5
9
0
4
2
3
0
,
2
9
6
4
5
5
3
2
5
0
,
3
1
2
4
1
0
2
9
4
0
,
2
8
8
2
8
0
6
4
0
4
6
3
0
,
2
7
3
3
0
0
6
8
5
4
9
0
0
,
2
5
3
5
1
0
3
6
5
0
,
2
6
3
4
7
0
3
3
4
0
,
2
4
5
3
8
0
7
8
0
5
6
1
0
,
2
1
9
4
0
0
8
1
0
5
8
3
0
,
2
1
5
6
1
0
4
3
6
0
,
2
3
6
5
6
0
4
0
1
0
,
2
0
4
4
8
0
9
1
0
6
5
0
0
,
1
9
0
5
0
0
9
3
5
6
6
8
0
,
1
8
5
6
0
0
1
0
5
0
7
4
8
0
,
1
6
9
6
3
0
1
0
8
0
7
7
4
0
,
1
6
1
7
4
0
1
1
9
0
8
5
4
0
,
1
4
9
CAPTULO V
262
GUIA TCNICO
Quadro 99 - Caractersticas Dimensionais
Condutores Multifilares (LXV)
Quadro 100 - Condutores Slidos (LSXV)
Espessura Nominal 1 Condutor 2 Condutores 3 Condutores 4 Condutores
Seco do Isolamento
(mm
2
) (mm) Peso Peso Peso Peso
(mm) (Kg/Km) (mm) (Kg/Km) (mm) (Kg/Km) (mm) (Kg/Km)
16 0,7 9,9 125 17,2 333 18,3 409 19,8 485
25 0,9 11,5 169 19,8 441 21,8 547 22,2 582
35 0,9 12,6 206 17,3 423 20,4 574 23,1 665
50 1,0 13,9 256 19,6 538 23,5 767 26,9 906
70 1,1 15,8 343 22,8 723 26,7 1010 30,6 1147
95 1,1 17,6 425 25,0 940 29,4 1305 34,7 1590
120 1,2 19,4 513 27,4 1108 30,1 1537 38,0 1916
150 1,4 21,2 592 30,3 1352 36,8 1928 43,0 2254
185 1,6 23,8 768 33,8 1632 40,5 2298 47,4 2764
240 1,7 26,4 943 37,5 2076 45,8 2989 53,5 3652
300 1,8 28,9 1166 41,8 2586 50,2 3629 58,6 4372
400 2,0 32,7 1490 47,2 3136 57,8 4654 67,1 5472
500 2,2 36,0 1806 - - - - - -
630 2,4 41,7 2302 - - - - - -
Espessura Nominal 1 Condutor 2 Condutores 3 Condutores 4 Condutores
Seco do Isolamento
(mm
2
) (mm) Peso Peso Peso Peso
(mm) (Kg/Km) (mm) (Kg/Km) (mm) (Kg/Km) (mm) (Kg/Km)
16 0,7 9,5 126 12,5 212 14,6 288 16,4 364
25 0,9 11,1 170 14,8 300 17,4 410 19,7 520
35 0,9 12,2 207 16,3 374 19,2 511 22,2 678
50 1,0 13,6 267 18,4 484 22,1 681 25,4 868
70 1,1 15,3 345 21,3 640 25,2 895 28,6 1160
95 1,1 16,8 417 23,4 824 28,0 1261 32,4 1538
120 1,2 18,4 516 25,6 992 31,2 1438 35,6 1884
150 1,4 20,2 624 28,5 1118 34,5 1752 40,3 2336
185 1,6 22,6 771 32,0 1502 38,0 2113 44,1 2884
240 1,7 - - 35,1 1896 43,0 2794 50,0 3692
280 1,8 27,1 1125 - - - - - -
300 1,8 - - 39,2 2350 47,0 3375 54,7 4500
380 2,0 30,7 1427 - - - - - -
480 2,2 34,3 1820 - - - - - -
600 2,4 37,6 2170 - - - - - -
740 2,6 41,2 2626 - - - - - -
CARACTERSTICAS TCNICAS DOS CONDUTORES DE ENERGIA E CABOS ELCTRICOS
263
GUIA TCNICO
Quadro 101 - Caractersticas Elctricas dos Cabos: LXV, LSXV
(
1
)
-
A
s
i
n
t
e
n
s
i
d
a
d
e
s
d
e
c
o
r
r
e
n
t
e
s
o
i
n
d
i
c
a
d
a
s
p
a
r
a
u
m
c
a
b
o
m
o
n
o
p
o
l
a
r
s
e
m
i
n
f
l
u
n
c
i
a
s
t
r
m
i
c
a
s
e
x
t
e
r
i
o
r
e
s
.
N
o
c
a
s
o
d
e
a
s
s
o
c
i
a
e
s
d
e
c
a
b
o
s
m
o
n
o
p
o
l
a
r
e
s
(
t
e
r
n
o
s
j
u
n
t
i
v
o
s
p
o
r
e
x
e
m
p
l
o
)
m
u
l
t
i
p
l
i
c
a
r
o
s
v
a
l
o
r
e
s
i
n
d
i
c
a
d
o
s
p
o
r
0
,
8
0
.
(
2
)
-
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
d
o
s
o
l
o
d
e
2
0
C
.
(
3
)
-
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
d
o
a
m
b
i
e
n
t
e
d
e
3
0
C
.
(
4
)
-
A
s
q
u
e
d
a
s
d
e
t
e
n
s
o
s
o
i
n
d
i
c
a
d
a
s
p
a
r
a
u
m
a
c
a
n
a
l
i
z
a
o
t
r
i
f
s
i
c
a
.
(
5
)
-
A
s
i
n
t
e
n
s
i
d
a
d
e
s
e
q
u
e
d
a
s
d
e
t
e
n
s
o
s
o
i
n
d
i
c
a
d
a
s
p
a
r
a
u
m
a
c
a
n
a
l
i
z
a
o
m
o
n
o
f
s
i
c
a
.
(
6
)
-
A
s
i
n
t
e
n
s
i
d
a
d
e
s
e
q
u
e
d
a
s
d
e
t
e
n
s
o
s
o
i
n
d
i
c
a
d
a
s
p
a
r
a
u
m
a
c
a
n
a
l
i
z
a
o
t
r
i
f
s
i
c
a
.
1
C
o
n
d
u
t
o
r
(
1
)
2
C
o
n
d
u
t
o
r
e
s
(
5
)
3
e
4
C
o
n
d
u
t
o
r
e
s
(
6
)
S
e
c
o
I
n
s
t
a
l
a
o
I
n
s
t
a
l
a
o
Q
u
e
d
a
d
e
I
n
s
t
a
l
a
o
I
n
s
t
a
l
a
o
Q
u
e
d
a
d
e
I
n
s
t
a
l
a
o
I
n
s
t
a
l
a
o
Q
u
e
d
a
d
e
N
o
m
i
n
a
l
S
u
b
t
e
r
r
n
e
a
A
o
A
r
T
e
n
s
o
S
u
b
t
e
r
r
n
e
a
A
o
A
r
T
e
n
s
o
S
u
b
t
e
r
r
n
e
a
A
o
A
r
T
e
n
s
o
m
m
2
(
2
)
(
3
)
A
U
=
V
/
A
K
m
(
2
)
(
3
)
A
U
=
V
/
A
K
m
(
2
)
(
3
)
A
U
=
V
/
A
K
m
I
n
t
e
n
s
i
d
a
d
e
I
n
t
e
n
s
i
d
a
d
e
C
o
s
=
0
,
8
I
n
t
e
n
s
i
d
a
d
e
I
n
t
e
n
s
i
d
a
d
e
C
o
s
=
0
,
8
I
n
t
e
n
s
i
d
a
d
e
I
n
t
e
n
s
i
d
a
d
e
C
o
s
=
0
,
8
1
6
1
0
5
3
,
5
0
0
1
0
4
9
1
4
,
0
0
0
8
7
7
9
3
,
4
9
0
2
5
1
8
0
1
3
5
2
,
2
4
0
1
3
3
1
0
8
2
,
5
5
0
1
1
0
9
8
2
,
2
3
0
3
5
2
1
5
1
6
6
1
,
6
5
0
1
6
0
1
3
5
1
,
8
6
0
1
3
4
1
2
2
1
,
6
3
0
5
0
2
5
7
2
0
5
1
,
2
9
0
1
8
8
1
6
4
1
,
3
9
0
1
6
0
1
4
9
1
,
2
2
0
7
0
3
1
5
2
6
0
0
,
8
8
3
2
3
3
2
1
1
0
,
9
8
4
1
9
7
1
9
2
0
,
8
7
0
9
5
3
7
7
3
2
1
0
,
6
6
2
2
7
5
2
5
7
0
,
7
2
8
2
3
4
2
3
5
0
,
6
5
1
1
2
0
4
3
0
3
7
5
0
,
5
4
0
3
1
4
3
0
0
0
,
5
9
0
2
6
6
2
7
3
0
,
5
3
0
1
5
0
4
8
2
4
3
2
0
,
4
5
5
3
5
9
3
4
6
0
,
4
9
4
3
0
0
3
1
6
0
,
4
4
7
1
8
5
5
4
5
5
0
0
0
,
3
8
1
3
9
8
3
9
7
0
,
3
7
1
3
3
7
3
6
3
0
,
3
7
2
2
4
0
6
4
0
6
0
3
0
,
3
1
5
4
5
8
4
7
0
0
,
3
2
8
3
8
8
4
3
0
0
,
3
0
3
2
8
0
6
9
0
6
5
8
0
,
2
8
5
3
0
0
7
2
5
6
9
7
0
,
2
7
1
5
2
0
5
4
3
0
,
2
9
3
4
4
0
4
9
7
0
,
2
4
8
3
8
0
8
2
0
8
1
0
0
,
2
2
8
4
0
0
8
3
5
8
2
9
0
,
2
2
4
4
8
0
9
2
2
9
3
6
0
,
1
9
7
5
0
0
9
5
0
9
6
3
0
,
1
9
1
6
0
0
1
0
0
5
1
0
1
5
0
,
1
7
4
6
3
0
1
0
3
5
1
0
5
0
0
,
1
6
0
7
4
0
1
1
5
0
1
1
7
5
0
,
1
3
8
CAPTULO V
264
GUIA TCNICO
2 - Cabos Armados do Tipo LVAV, LSVAV, LXAV, LSXAV
Norma de fabrico: CEI 60502 - 1; HD 603 S1
Tenso estipulada: 0,6 / lkV
Descrio:
1 - Alma condutora da classe 2 (LVAV, LXAV) ou da classe 1 (LSVAV, LSXAV)
2 - Isolamento a PVC (LVAV, LSVAV) ou a PEX (LXAV, LSXAV)
3 - Fita de cintagem (Poliester)
4 - Bainha interior de PVC
5 - Armadura de fitas de ao
6 - Bainha exterior de PVC
Utilizao:
Transporte e distribuio de energia. Prprias para canalizao enterrada.
Figura 49 - Cabos isolados de baixa tenso com alma de Alumnio armados
CARACTERSTICAS TCNICAS DOS CONDUTORES DE ENERGIA E CABOS ELCTRICOS
265
GUIA TCNICO
Quadro 102 - Caractersticas Dimensionais
Condutores Multifiliares (LVAV)
*Cabo com armadura amagntica em caso de tenso alternada.
*Cabo com armadura amagntica em caso de tenso alternada.
Espessura Nominal 1 Condutor* 2 Condutores 3 Condutores 4 Condutores
Seco do Isolamento
(mm
2
) (mm) Peso Peso Peso Peso
(mm) (Kg/Km) (mm) (Kg/Km) (mm) (Kg/Km) (mm) (Kg/Km)
16 1,0 13,2 250 21,3 650 23,2 880 25,4 940
25 1,2 14,8 320 24,5 980 27,1 1200 29,3 1200
35 1,2 17,1 500 23,5 920 26,6 1150 29,4 1300
50 1,4 18,6 620 26,3 1100 30,0 1450 33,2 1650
70 1,4 20,3 730 28,6 1300 32,8 1700 39,0 2400
95 1,4 23,3 900 32,1 1650 38,8 2600 43,4 3000
120 1,6 24,9 1050 34,8 1900 41,7 3000 47,8 3600
150 1,8 27,1 1250 39,3 2600 46,2 3500 52,0 4050
185 2,0 29,3 1450 43,2 3100 50,5 4200 57,6 5000
240 2,2 32,1 1700 47,8 3800 56,8 5100 64,1 6100
300 2,4 36,4 2100 52,6 4500 61,4 6000 70,2 7200
400 2,6 40,5 2900 58.4 5400 68,9 7400 78,5 8700
500 2,8 44,0 3400 - - - - - -
630 2,8 50,3 4200 - - - - - -
Espessura Nominal 1 Condutor* 2 Condutores 3 Condutores 4 Condutores
Seco do Isolamento
(mm
2
) (mm) Peso Peso Peso Peso
(mm) (Kg/Km) (mm) (Kg/Km) (mm) (Kg/Km) (mm) (Kg/Km)
16 1,0 12,8 250 17,6 540 21,7 780 22,7 880
25 1,2 14,6 310 19,8 690 24,6 1000 26,0 1150
35 1,2 16,6 500 22,6 870 25,5 1100 28,1 1350
50 1,4 18,3 610 25,1 1050 28,6 1350 31,8 1650
70 1,4 19,8 720 27,2 1250 31,1 1650 37,1 2500
95 1,6 22,5 900 30,5 1550 37,2 2500 41,2 3050
120 1,6 23,9 1050 33,1 1850 39,6 2850 45,4 3650
150 1,8 26,1 1200 36,9 2500 43,8 3400 49,3 4200
185 2,0 28,2 1400 41,0 3000 47,8 4000 54,5 5100
240 2,2 - - 45,3 3600 53,2 4900 60,6 6300
280 2,4 33,0 1900 - - - - - -
300 2,4 - - 49,8 4300 58,0 5900 66,1 7400
380 2,6 39,1 2800 - - - - - -
480 2,8 42,3 3300 - - - - - -
600 2,8 45,2 3800 - - - - - -
740 2,8 49,8 4500 - - - - - -
Quadro 103 - Condutores Slidos (LSVAV)
CAPTULO V
266
GUIA TCNICO
Quadro 104 - Caractersticas Elctricas dos Cabos: LVAV, LSVAV
(
1
)
-
A
s
i
n
t
e
n
s
i
d
a
d
e
s
d
e
c
o
r
r
e
n
t
e
s
o
i
n
d
i
c
a
d
a
s
p
a
r
a
u
m
c
a
b
o
m
o
n
o
p
o
l
a
r
s
e
m
i
n
f
l
u
n
c
i
a
s
t
r
m
i
c
a
s
e
x
t
e
r
i
o
r
e
s
.
N
o
c
a
s
o
d
e
a
s
s
o
c
i
a
e
s
d
e
c
a
b
o
s
m
o
n
o
p
o
l
a
r
e
s
(
t
e
r
n
o
s
j
u
n
t
i
v
o
s
p
o
r
e
x
e
m
p
l
o
)
m
u
l
t
i
p
l
i
c
a
r
o
s
v
a
l
o
r
e
s
i
n
d
i
c
a
d
o
s
p
o
r
0
,
8
0
.
(
2
)
-
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
d
o
s
o
l
o
d
e
2
0
C
.
(
3
)
-
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
d
o
a
m
b
i
e
n
t
e
d
e
3
0
C
.
(
4
)
-
A
s
q
u
e
d
a
s
d
e
t
e
n
s
o
s
o
i
n
d
i
c
a
d
a
s
p
a
r
a
u
m
a
c
a
n
a
l
i
z
a
o
t
r
i
f
s
i
c
a
.
(
5
)
-
A
s
i
n
t
e
n
s
i
d
a
d
e
s
e
q
u
e
d
a
s
d
e
t
e
n
s
o
s
o
i
n
d
i
c
a
d
a
s
p
a
r
a
u
m
a
c
a
n
a
l
i
z
a
o
m
o
n
o
f
s
i
c
a
.
(
6
)
-
A
s
i
n
t
e
n
s
i
d
a
d
e
s
e
q
u
e
d
a
s
d
e
t
e
n
s
o
s
o
i
n
d
i
c
a
d
a
s
p
a
r
a
u
m
a
c
a
n
a
l
i
z
a
o
t
r
i
f
s
i
c
a
.
1
C
o
n
d
u
t
o
r
(
1
)
2
C
o
n
d
u
t
o
r
e
s
(
5
)
3
e
4
C
o
n
d
u
t
o
r
e
s
(
6
)
S
e
c
o
I
n
s
t
a
l
a
o
I
n
s
t
a
l
a
o
Q
u
e
d
a
d
e
I
n
s
t
a
l
a
o
I
n
s
t
a
l
a
o
Q
u
e
d
a
d
e
I
n
s
t
a
l
a
o
I
n
s
t
a
l
a
o
Q
u
e
d
a
d
e
N
o
m
i
n
a
l
S
u
b
t
e
r
r
n
e
a
A
o
A
r
T
e
n
s
o
S
u
b
t
e
r
r
n
e
a
A
o
A
r
T
e
n
s
o
S
u
b
t
e
r
r
n
e
a
A
o
A
r
T
e
n
s
o
m
m
2
(
2
)
(
3
)
A
U
=
V
/
A
K
m
(
2
)
(
3
)
A
U
=
V
/
A
K
m
(
2
)
(
3
)
A
U
=
V
/
A
K
m
I
n
t
e
n
s
i
d
a
d
e
I
n
t
e
n
s
i
d
a
d
e
C
o
s
=
0
,
8
(
4
)
I
n
t
e
n
s
i
d
a
d
e
I
n
t
e
n
s
i
d
a
d
e
C
o
s
=
0
,
8
I
n
t
e
n
s
i
d
a
d
e
I
n
t
e
n
s
i
d
a
d
e
C
o
s
=
0
,
8
1
6
1
1
0
8
0
3
,
3
0
0
9
5
6
7
3
,
7
6
0
9
0
6
2
3
,
2
8
0
2
5
1
4
5
1
0
2
2
,
1
1
0
1
2
5
8
9
2
,
3
9
0
1
1
0
8
0
2
,
0
9
0
3
5
1
8
0
1
2
9
1
,
5
5
0
1
5
0
1
0
7
1
,
7
5
0
1
3
0
9
3
1
,
5
3
0
5
0
2
1
0
1
5
1
1
,
1
8
0
1
7
5
1
2
9
0
,
3
1
0
1
5
0
1
0
7
1
,
1
5
0
7
0
2
7
5
1
9
6
0
,
8
3
4
2
2
5
1
6
0
0
,
9
2
7
1
9
5
1
3
8
0
,
8
2
1
9
5
3
3
0
2
3
6
0
,
6
2
6
2
7
0
1
9
1
0
,
6
8
7
2
3
5
1
6
9
0
,
6
1
4
1
2
0
3
9
0
2
7
6
0
,
5
1
2
3
0
5
2
1
8
0
,
5
5
8
2
7
0
1
9
1
0
,
5
0
2
1
5
0
4
4
0
3
1
1
0
,
4
3
2
3
5
0
2
4
9
0
,
4
6
7
3
1
0
2
2
2
0
,
4
2
4
1
8
5
5
0
5
3
6
0
0
,
3
6
3
3
9
0
2
7
6
0
,
3
8
7
3
5
5
2
5
4
0
,
3
5
4
2
4
0
5
9
0
4
2
3
0
,
2
9
6
4
5
5
3
2
5
0
,
3
1
2
4
1
0
2
9
4
0
,
2
8
8
2
8
0
6
4
0
4
6
3
0
,
2
7
3
3
0
0
6
8
5
4
9
0
0
,
2
5
3
5
1
0
3
6
5
0
,
2
6
3
4
7
0
3
3
4
0
,
2
4
5
3
8
0
7
8
0
5
6
1
0
,
2
1
9
4
0
0
8
1
0
5
8
3
0
,
2
1
5
6
1
0
4
3
6
0
,
2
3
6
5
6
0
4
0
1
0
,
2
0
4
4
8
0
9
1
0
6
5
0
0
,
1
9
0
5
0
0
9
3
5
6
6
8
0
,
1
8
5
6
0
0
1
0
5
0
7
4
8
0
,
1
6
9
6
3
0
1
0
8
0
7
7
4
0
,
1
6
1
7
4
0
1
1
9
0
8
5
4
0
,
1
4
9
CARACTERSTICAS TCNICAS DOS CONDUTORES DE ENERGIA E CABOS ELCTRICOS
267
GUIA TCNICO
Quadro 105 - Caractersticas Dimensionais
Condutores Multifilares (LXAV)
Quadro 106 - Condutores Slidos (LSXAV)
Espessura Nominal 1 Condutor* 2 Condutores 3 Condutores 4 Condutores
Seco do Isolamento
(mm2) (mm) Peso Peso Peso Peso
(mm) (Kg/Km) (mm) (Kg/Km) (mm) (Kg/Km) (mm) (Kg/Km)
16 0,7 12,6 235 20,1 620 22,0 835 24,2 880
25 0,9 14,2 299 23,3 938 25,9 1137 27,1 1116
35 0,9 16,5 476 22,3 872 25,4 1078 28,2 1204
50 1,0 17,8 586 24,7 1032 28,4 1348 31,6 1514
70 1,1 19,7 693 27,4 1226 31,6 1589 37,8 2252
95 1,1 22,7 845 20,9 1540 37,6 2435 42,2 2780
120 1,2 24,1 993 33,2 1786 40,1 2829 46,6 3372
150 1,4 26,3 1182 37,7 2464 45,4 3296 51,2 3778
185 1,6 28,5 1368 41,6 2936 48,9 3954 56,0 4672
240 1,7 31,1 1593 45,8 3586 54,8 4779 62,1 5672
300 1,8 35,2 1966 50,2 4232 59,0 5598 67,8 6664
400 2,0 39,3 2740 56,0 5080 66,5 6920 76,1 8060
500 2,2 42,8 3206
630 2,4 49,5 3804
Espessura Nominal 1 Condutor* 2 Condutores 3 Condutores 4 Condutores
Seco do Isolamento
(mm2) (mm) Peso Peso Peso Peso
(mm) (Kg/Km) (mm) (Kg/Km) (mm) (Kg/Km) (mm) (Kg/Km)
16 0,7 12,2 236 16,4 512 20,5 738 21,5 824
25 0,9 13,4 290 18,6 650 23,4 940 24,8 1070
35 0,9 16,0 477 21,4 824 24,3 1031 26,9 1258
50 1,0 17,5 577 23,5 984 27,0 1251 30,2 1518
70 1,1 18,2 685 26,0 1180 29,9 1545 35,9 2360
95 1,1 21,9 847 29,9 1444 36,0 2341 40,0 2838
120 1,2 23,1 996 31,5 1742 38,0 2688 43,8 3434
150 1,4 25,3 1134 35,3 2368 42,2 3202 47,7 3936
185 1,6 27,4 1321 39,4 2842 46,2 3763 52,9 4784
240 1,7 43,3 3396 51,2 4594 58,6 5892
280 1,8 31,8 1775
300 1,8 47,4 4050 55,6 5225 63,7 6900
380 2,0 37,9 2647
480 2,2 41,1 3120
600 2,4 44,4 3620
740 2,6 49,4 4276
*Cabo com armadura amagntica em caso de tenso alternada.
*Cabo com armadura amagntica em caso de tenso alternada.
CAPTULO V
268
GUIA TCNICO
Quadro 107 - Caractersticas Elctricas dos Cabos: LXAV, LSXAV
(
1
)
-
A
s
i
n
t
e
n
s
i
d
a
d
e
s
d
e
c
o
r
r
e
n
t
e
s
o
i
n
d
i
c
a
d
a
s
p
a
r
a
u
m
c
a
b
o
m
o
n
o
p
o
l
a
r
s
e
m
i
n
f
l
u
n
c
i
a
s
t
r
m
i
c
a
s
e
x
t
e
r
i
o
r
e
s
.
N
o
c
a
s
o
d
e
a
s
s
o
c
i
a
e
s
d
e
c
a
b
o
s
m
o
n
o
p
o
l
a
r
e
s
(
t
e
r
n
o
s
j
u
n
t
i
v
o
s
p
o
r
e
x
e
m
p
l
o
)
m
u
l
t
i
p
l
i
c
a
r
o
s
v
a
l
o
r
e
s
i
n
d
i
c
a
d
o
s
p
o
r
0
,
8
0
.
(
2
)
-
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
d
o
s
o
l
o
d
e
2
0
C
.
(
3
)
-
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
d
o
a
m
b
i
e
n
t
e
d
e
3
0
C
.
(
4
)
-
A
s
q
u
e
d
a
s
d
e
t
e
n
s
o
s
o
i
n
d
i
c
a
d
a
s
p
a
r
a
u
m
a
c
a
n
a
l
i
z
a
o
t
r
i
f
s
i
c
a
.
(
5
)
-
A
s
i
n
t
e
n
s
i
d
a
d
e
s
e
q
u
e
d
a
s
d
e
t
e
n
s
o
s
o
i
n
d
i
c
a
d
a
s
p
a
r
a
u
m
a
c
a
n
a
l
i
z
a
o
m
o
n
o
f
s
i
c
a
.
(
6
)
-
A
s
i
n
t
e
n
s
i
d
a
d
e
s
e
q
u
e
d
a
s
d
e
t
e
n
s
o
s
o
i
n
d
i
c
a
d
a
s
p
a
r
a
u
m
a
c
a
n
a
l
i
z
a
o
t
r
i
f
s
i
c
a
.
1
C
o
n
d
u
t
o
r
(
1
)
2
C
o
n
d
u
t
o
r
e
s
(
5
)
3
e
4
C
o
n
d
u
t
o
r
e
s
(
6
)
S
e
c
o
I
n
s
t
a
l
a
o
I
n
s
t
a
l
a
o
Q
u
e
d
a
d
e
I
n
s
t
a
l
a
o
I
n
s
t
a
l
a
o
Q
u
e
d
a
d
e
I
n
s
t
a
l
a
o
I
n
s
t
a
l
a
o
Q
u
e
d
a
d
e
N
o
m
i
n
a
l
S
u
b
t
e
r
r
n
e
a
A
o
A
r
T
e
n
s
o
S
u
b
t
e
r
r
n
e
a
A
o
A
r
T
e
n
s
o
S
u
b
t
e
r
r
n
e
a
A
o
A
r
T
e
n
s
o
m
m
2
(
2
)
(
3
)
A
U
=
V
/
A
K
m
(
2
)
(
3
)
A
U
=
V
/
A
K
m
(
2
)
(
3
)
A
U
=
V
/
A
K
m
I
n
t
e
n
s
i
d
a
d
e
I
n
t
e
n
s
i
d
a
d
e
C
o
s
=
0
,
8
(
4
)
I
n
t
e
n
s
i
d
a
d
e
I
n
t
e
n
s
i
d
a
d
e
C
o
s
=
0
,
8
I
n
t
e
n
s
i
d
a
d
e
I
n
t
e
n
s
i
d
a
d
e
C
o
s
=
0
,
8
1
6
1
0
5
3
,
5
0
0
1
0
4
9
1
4
,
0
0
0
8
7
7
9
3
,
4
9
0
2
5
1
8
0
1
3
5
2
,
2
4
0
1
3
3
1
0
8
2
,
5
5
0
1
1
0
9
8
2
,
2
3
0
3
5
2
1
5
1
6
6
1
,
6
5
0
1
6
0
1
3
5
1
,
8
6
0
1
3
4
1
2
2
1
,
6
3
0
5
0
2
5
7
2
0
5
1
,
2
9
0
1
8
8
1
6
4
1
,
3
9
0
1
6
0
1
4
9
1
,
2
2
0
7
0
3
1
5
2
6
0
0
,
8
8
3
2
3
3
2
1
1
0
,
9
8
4
1
9
7
1
9
2
0
,
8
7
0
9
5
3
7
7
3
2
1
0
,
6
6
2
2
7
5
2
5
7
0
,
7
2
8
2
3
4
2
3
5
0
,
6
5
1
1
2
0
4
3
0
3
7
5
0
,
5
4
0
3
1
4
3
0
0
0
,
5
9
0
2
6
6
2
7
3
0
,
5
3
0
1
5
0
4
8
2
4
3
2
0
,
4
5
5
3
5
9
3
4
6
0
,
4
9
4
3
0
0
3
1
6
0
,
4
4
7
1
8
5
5
4
5
5
0
0
0
,
3
8
1
3
9
8
3
9
7
0
,
3
7
1
3
3
7
3
6
3
0
,
3
7
2
2
4
0
6
4
0
6
0
3
0
,
3
1
5
4
5
8
4
7
0
0
,
3
2
8
3
8
8
4
3
0
0
,
3
0
3
2
8
0
6
9
0
6
5
8
0
,
2
8
5
3
0
0
7
2
5
6
9
7
0
,
2
7
1
5
2
0
5
4
3
0
,
2
9
3
4
4
0
4
9
7
0
,
2
4
8
3
8
0
8
2
0
8
1
0
0
,
2
2
8
4
0
0
8
3
5
8
2
9
0
,
2
2
4
4
8
0
9
2
2
9
3
6
0
,
1
9
7
5
0
0
9
5
0
9
6
3
0
,
1
9
1
6
0
0
1
0
0
5
1
0
1
5
0
,
1
7
4
6
3
0
1
0
3
5
1
0
5
0
0
,
1
6
0
7
4
0
1
1
5
0
1
1
7
5
0
,
1
3
8
CARACTERSTICAS TCNICAS DOS CONDUTORES DE ENERGIA E CABOS ELCTRICOS
269
GUIA TCNICO
5.3.2 - Cabos com Alma Condutora de Cobre
1 - Cabos no Armados Tipo VV, XV, e Armados do Tipo VAV, XAV
Normas de fabrico: CEI 60502 - 1; HD 603 S1
Tenso estipulada: 0,6/ lkV
Descrio:
1 - Alma condutora da classe 2
2 - Isolamento a PVC (VV)
ou PEX (XV)
3 - Fita de cintagem (Poliester)
4 - Bainha exterior de PVC
Utilizao:
Transporte e distribuio de energia.
Descrio:
1 - Alma condutora da classe 2
2 - Isolamento a PVC (VAV)
ou PEX (XAV)
3 - Bainha interior de PVC
4 - Armadura
5 - Bainha exterior de PVC
Utilizao:
Transporte e distribuio de energia. Prprios para canalizao enterrada.
Figura 50 - Cabos no armados
Figura 51 - Cabos armado
A ~ Condutores Cableados (Classe 2)
As almas condutoras, circulares ou sectoriais, so normalmente compactadas.
A forma sectorial s pode ser utilizada nas seces nominais de pelo menos 25
mm2.
B ~ Condutores macios (Classe 1)
As almas condutoras de cobre devem utilizar cobre recozido, nu ou revestido de
camada metlica (ex. estanho).
As almas de cobre macio devem ser circulares
CAPTULO V
270
GUIA TCNICO
Quadro 108 - Caractersticas Dimensionais
Cabos No Armados (VV)
Quadro 109 - Cabos Armados (VAV)
Espessura Nominal 1 Condutor 2 Condutores 3 Condutores 4 Condutores
Seco do Isolamento
(mm2) (mm) Peso Peso Peso Peso
(mm) (Kg/Km) (mm) (Kg/Km) (mm) (Kg/Km) (mm) (Kg/Km)
1,5 0,8 5,8 50 10 130 10,5 155 11,2 180
2,5 0,8 6,2 60 10,8 170 11,3 200 12,2 245
4 1,0 7,1 85 12,6 230 13,3 290 14,4 340
6 1,0 7,6 105 13,6 300 14,4 360 15,6 440
10 1,0 8,9 155 16,8 450 17,8 560 19,3 700
16 1,0 9,9 220 18,8 620 19,8 780 21,1 900
25 1,2 11,6 340 22,2 900 23,6 1150 25,0 1320
35 1,2 12,3 420 18,4 850 21,6 1240 24,3 1450
50 1,4 13,9 550 21,2 1150 24,9 1650 28,3 1960
70 1,4 15,7 770 23,7 1550 27,9 2250 31,8 2650
95 1,6 17,5 1050 27,0 2100 31,9 3120 36,6 3660
120 1,6 19,7 1300 29,3 2600 34,7 3850 39,9 4550
150 1,8 21,4 1580 32,5 3200 38,8 4720 44,2 5150
185 2,0 23,9 1830 36,0 4000 42,9 5900 49,0 7000
240 2,2 27,0 2550 40,5 5100 48,2 7600 55,2 8900
300 2,4 29,8 3200 44,6 6400 53,4 9450 61,2 11100
400 2,6 33,2 4050 50,6 8450 60,5 12400 69,1 14450
500 2,8 36,8 5000 - - - - - -
Espessura Nominal 1 Condutor* 2 Condutores 3 Condutores 4 Condutores
Seco do Isolamento
(mm2) (mm) Peso Peso Peso Peso
(mm) (Kg/Km) (mm) (Kg/Km) (mm) (Kg/Km) (mm) (Kg/Km)
1,5 0,8 - - 13,3 260 13,8 290 14,6 330
2,5 0,8 - - 14,1 310 14,6 340 15,5 390
4 1,0 - - 15,9 390 16,6 450 17,7 520
6 1,0 - - 16,9 470 17,7 540 18,9 640
10 1,0 13,4 310 19,5 630 20,5 750 22,1 900
16 1,0 14,6 380 21,5 820 22,6 1000 23,9 1080
25 1,2 16,2 520 25,1 1160 26,5 1410 27,8 1530
35 1,2 16,8 620 22,0 960 25,2 1550 28,0 1800
50 1,4 18,4 780 24,9 1430 28,8 2000 32,2 2390
70 1,4 20,0 1000 27,4 1880 31,8 2660 35,7 3150
95 1,6 22,1 1310 31,9 2800 37,2 3950 41,7 4600
120 1,6 23,8 1580 34,2 3340 40,2 4750 46,7 5720
150 1,8 25,5 1900 37,8 4050 44,3 5700 49,6 6700
185 2,0 27,8 2300 41,3 4900 48,4 6980 54,7 8270
240 2,2 30,9 2950 46,0 6200 53,9 8900 61,0 9750
300 2,4 33,7 3600 50,5 7650 59,3 10900 67,0 12850
400 2,6 38,3 4900 56,7 9800 67,0 14200 75,6 16500
500 2,8 41,9 6000 - - - - - -
*Cabo com armadura amagntica em caso de tenso alternada.
CARACTERSTICAS TCNICAS DOS CONDUTORES DE ENERGIA E CABOS ELCTRICOS
271
GUIA TCNICO
Quadro 110 - Caractersticas Elctricas dos Cabos: VV, VAV
(
1
)
-
A
s
i
n
t
e
n
s
i
d
a
d
e
s
d
e
c
o
r
r
e
n
t
e
s
o
i
n
d
i
c
a
d
a
s
p
a
r
a
u
m
c
a
b
o
m
o
n
o
p
o
l
a
r
s
e
m
i
n
f
l
u
n
c
i
a
s
t
r
m
i
c
a
s
e
x
t
e
r
i
o
r
e
s
.
N
o
c
a
s
o
d
e
a
s
s
o
c
i
a
e
s
d
e
c
a
b
o
s
m
o
n
o
p
o
l
a
r
e
s
(
t
e
r
n
o
s
j
u
n
t
i
v
o
s
p
o
r
e
x
e
m
p
l
o
)
m
u
l
t
i
p
l
i
c
a
r
o
s
v
a
l
o
r
e
s
i
n
d
i
c
a
d
o
s
p
o
r
0
,
8
0
.
(
2
)
-
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
d
o
s
o
l
o
d
e
2
0
C
.
(
3
)
-
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
d
o
a
m
b
i
e
n
t
e
d
e
3
0
C
.
(
4
)
-
A
s
q
u
e
d
a
s
d
e
t
e
n
s
o
s
o
i
n
d
i
c
a
d
a
s
p
a
r
a
u
m
a
c
a
n
a
l
i
z
a
o
t
r
i
f
s
i
c
a
.
(
5
)
-
A
s
i
n
t
e
n
s
i
d
a
d
e
s
e
q
u
e
d
a
s
d
e
t
e
n
s
o
s
o
i
n
d
i
c
a
d
a
s
p
a
r
a
u
m
a
c
a
n
a
l
i
z
a
o
m
o
n
o
f
s
i
c
a
.
(
6
)
-
A
s
i
n
t
e
n
s
i
d
a
d
e
s
e
q
u
e
d
a
s
d
e
t
e
n
s
o
s
o
i
n
d
i
c
a
d
a
s
p
a
r
a
u
m
a
c
a
n
a
l
i
z
a
o
t
r
i
f
s
i
c
a
.
1
C
o
n
d
u
t
o
r
(
1
)
2
C
o
n
d
u
t
o
r
e
s
(
5
)
3
e
4
C
o
n
d
u
t
o
r
e
s
(
6
)
S
e
c
o
I
n
s
t
a
l
a
o
I
n
s
t
a
l
a
o
Q
u
e
d
a
d
e
I
n
s
t
a
l
a
o
I
n
s
t
a
l
a
o
Q
u
e
d
a
d
e
I
n
s
t
a
l
a
o
I
n
s
t
a
l
a
o
Q
u
e
d
a
d
e
N
o
m
i
n
a
l
S
u
b
t
e
r
r
n
e
a
A
o
A
r
T
e
n
s
o
S
u
b
t
e
r
r
n
e
a
A
o
A
r
T
e
n
s
o
S
u
b
t
e
r
r
n
e
a
A
o
A
r
T
e
n
s
o
m
m
2
(
2
)
(
3
)
A
U
=
V
/
A
K
m
(
2
)
(
3
)
A
U
=
V
/
A
K
m
(
2
)
(
3
)
A
U
=
V
/
A
K
m
I
n
t
e
n
s
i
d
a
d
e
I
n
t
e
n
s
i
d
a
d
e
C
o
s
=
0
,
8
I
n
t
e
n
s
i
d
a
d
e
I
n
t
e
n
s
i
d
a
d
e
C
o
s
=
0
,
8
I
n
t
e
n
s
i
d
a
d
e
I
n
t
e
n
s
i
d
a
d
e
C
o
s
=
0
,
8
A
A
(
4
)
A
A
A
A
1
1
4
,
5
3
4
,
8
0
0
1
3
3
0
,
1
0
0
1
,
5
3
4
2
3
2
0
,
2
0
0
3
0
1
9
2
3
,
3
0
0
2
5
1
7
2
0
,
2
0
0
2
,
5
4
5
3
1
1
2
,
4
0
0
4
0
2
6
1
4
,
3
0
0
3
5
2
4
1
2
,
4
0
0
4
6
0
4
2
7
,
7
7
0
5
0
3
5
8
,
9
4
0
4
5
3
1
7
,
7
4
0
6
7
5
5
2
5
,
2
2
0
6
5
4
4
6
,
0
0
0
6
0
4
2
5
,
1
9
0
1
0
1
0
5
7
4
3
,
1
4
0
9
0
6
1
3
,
6
0
0
8
0
5
7
3
,
1
2
0
1
6
1
3
5
9
6
2
,
0
2
0
1
2
0
8
3
2
,
3
0
0
1
1
0
7
9
1
,
9
9
0
2
5
1
8
0
1
2
7
1
,
3
1
0
1
5
5
1
1
0
1
,
4
8
0
1
3
5
9
6
1
,
2
8
0
3
5
2
2
5
1
5
8
0
,
9
6
3
1
8
5
1
3
2
1
,
0
8
0
1
6
5
1
1
4
0
,
9
4
6
5
0
2
6
0
1
8
4
0
,
7
3
4
2
2
0
1
5
8
0
,
8
2
2
1
9
0
1
3
2
0
,
7
1
8
7
0
3
4
5
2
4
2
0
,
5
3
3
2
8
0
1
9
8
0
,
5
8
9
2
4
5
1
7
1
0
,
5
2
0
9
5
4
1
0
2
9
0
0
,
4
0
6
3
3
5
2
3
7
0
,
4
4
3
2
9
5
2
0
6
0
,
3
9
3
1
2
0
4
8
5
3
4
3
0
,
3
4
0
3
8
0
2
6
8
0
,
3
6
8
3
4
0
2
3
7
0
,
3
2
6
1
5
0
5
5
0
3
8
7
0
,
2
9
9
4
3
5
3
0
8
0
,
3
1
3
3
9
0
2
7
2
0
,
2
7
9
1
8
5
6
3
0
4
4
4
0
,
2
5
0
4
9
0
3
4
3
0
,
2
6
5
4
4
5
3
1
2
0
,
2
3
8
2
4
0
7
4
0
5
2
3
0
,
2
1
0
5
7
0
4
0
0
0
,
2
1
8
5
1
5
3
6
0
0
,
1
9
8
3
0
0
8
5
5
6
0
2
0
,
1
8
3
6
4
0
4
4
8
0
,
1
8
8
5
9
0
4
1
3
0
,
1
7
2
4
0
0
1
0
1
5
7
2
1
0
,
1
6
0
7
6
0
5
3
6
0
,
1
6
4
7
0
0
4
9
2
0
,
1
5
0
5
0
0
1
1
7
0
8
2
2
0
,
1
4
0
CAPTULO V
272
GUIA TCNICO
Quadro 111 - Caractersticas Dimensionais
Cabos No Armados (XV)
Quadro 112 - Cabos Armados (XAV)
Espessura Nominal 1 Condutor 2 Condutores 3 Condutores 4 Condutores
Seco do Isolamento
(mm2) (mm) Peso Peso Peso Peso
(mm) (Kg/Km) (mm) (Kg/Km) (mm) (Kg/Km) (mm) (Kg/Km)
1,5 0,7 5,7 47 9,8 123 10,3 144 11,0 165
2,5 0,7 6,1 56 10,8 170 11,1 187 12,0 227
4 0,7 6,8 77 12,6 230 12,7 264 13,8 305
6 0,7 7,3 94 13,6 300 13,8 327 15,0 396
10 0,7 8,6 142 16,8 450 17,2 520 18,7 647
16 0,7 9,9 205 18,8 620 18,3 735 19,8 840
25 0,9 11,5 319 22,2 900 22,4 1087 23,8 1236
35 0,9 12,6 396 18,4 850 20,4 1168 23,1 1354
50 1,0 13,9 516 21,2 1150 23,5 1548 26,9 1824
70 1,1 15,8 733 23,7 1550 26,7 2139 30,6 2502
95 1,1 17,6 995 27,0 2100 29,4 2955 34,7 3440
120 1,2 19,4 1243 29,3 2600 30,1 3675 38,0 4332
150 1,4 221,2 1512 32,5 3200 36,8 4516 43,0 4878
185 1,6 23,8 1830 36,0 4000 40,5 5654 47,4 6672
240 1,7 26,4 2550 40,5 5100 45,8 7279 53,5 8472
300 1,8 28,9 3200 44,6 6400 50,2 9048 58,6 10564
400 2,0 32,7 4050 50,6 8450 57,8 11920 67,1 13810
500 2,2 36,0 5000
Espessura Nominal 1 Condutor* 2 Condutores 3 Condutores 4 Condutores
Seco do Isolamento
(mm2) (mm) Peso Peso Peso Peso
(mm) (Kg/Km) (mm) (Kg/Km) (mm) (Kg/Km) (mm) (Kg/Km)
1,5 0,7 13,1 253 13,6 279 14,4 315
2,5 0,7 13,9 301 14,4 327 15,3 372
4 0,7 15,3 373 16,0 424 17,1 485
6 0,7 16,3 448 17,1 507 18,2 596
10 0,7 13,1 297 18,9 603 19,9 710 21,5 847
16 0,7 14,3 365 20,9 790 22,0 955 23,3 1020
25 0,9 16,1 499 24,9 918 25,3 1347 26,6 1446
35 0,9 16,5 596 21,4 888 25,0 1478 27,4 1704
50 1,0 18,0 746 24,1 1362 28,0 1898 31,4 2254
70 1,1 19,7 963 26,8 1806 31,2 2549 35,1 3002
95 1,1 21,6 1255 30,9 2690 36,2 3785 40,7 4380
120 1,2 23,4 1523 33,4 3226 39,4 4579 45,9 5492
150 1,4 25,1 1832 37,0 3914 43,5 5496 48,8 6428
185 1,6 27,4 2218 40,5 4736 47,6 6734 53,9 7942
240 1,7 30,4 2843 45,0 5986 52,9 8579 60,0 9332
300 1,8 33,3 3466 49,7 7382 58,5 10498 66,2 12314
400 2,0 37,7 4740 55,5 9480 65,8 13720 74,4 15860
500 2,2 41,3 5806
*Cabo com armadura amagntica em caso de tenso alternada.
CARACTERSTICAS TCNICAS DOS CONDUTORES DE ENERGIA E CABOS ELCTRICOS
273
GUIA TCNICO
Quadro 113 - Caractersticas Elctricas dos Cabos: XV, XAV
(
1
)
-
A
s
i
n
t
e
n
s
i
d
a
d
e
s
d
e
c
o
r
r
e
n
t
e
s
o
i
n
d
i
c
a
d
a
s
p
a
r
a
u
m
c
a
b
o
m
o
n
o
p
o
l
a
r
s
e
m
i
n
f
l
u
n
c
i
a
s
t
r
m
i
c
a
s
e
x
t
e
r
i
o
r
e
s
.
N
o
c
a
s
o
d
e
a
s
s
o
c
i
a
e
s
d
e
c
a
b
o
s
m
o
n
o
p
o
l
a
r
e
s
(
t
e
r
n
o
s
j
u
n
t
i
v
o
s
p
o
r
e
x
e
m
p
l
o
)
m
u
l
t
i
p
l
i
c
a
r
o
s
v
a
l
o
r
e
s
i
n
d
i
c
a
d
o
s
p
o
r
0
,
8
0
.
(
2
)
-
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
d
o
s
o
l
o
d
e
2
0
C
.
(
3
)
-
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
d
o
a
m
b
i
e
n
t
e
d
e
3
0
C
.
(
4
)
-
A
s
q
u
e
d
a
s
d
e
t
e
n
s
o
s
o
i
n
d
i
c
a
d
a
s
p
a
r
a
u
m
a
c
a
n
a
l
i
z
a
o
t
r
i
f
s
i
c
a
.
(
5
)
-
A
s
i
n
t
e
n
s
i
d
a
d
e
s
e
q
u
e
d
a
s
d
e
t
e
n
s
o
s
o
i
n
d
i
c
a
d
a
s
p
a
r
a
u
m
a
c
a
n
a
l
i
z
a
o
m
o
n
o
f
s
i
c
a
.
(
6
)
-
A
s
i
n
t
e
n
s
i
d
a
d
e
s
e
q
u
e
d
a
s
d
e
t
e
n
s
o
s
o
i
n
d
i
c
a
d
a
s
p
a
r
a
u
m
a
c
a
n
a
l
i
z
a
o
t
r
i
f
s
i
c
a
.
1
C
o
n
d
u
t
o
r
(
1
)
2
C
o
n
d
u
t
o
r
e
s
(
5
)
3
e
4
C
o
n
d
u
t
o
r
e
s
(
6
)
S
e
c
o
I
n
s
t
a
l
a
o
I
n
s
t
a
l
a
o
Q
u
e
d
a
d
e
I
n
s
t
a
l
a
o
I
n
s
t
a
l
a
o
Q
u
e
d
a
d
e
I
n
s
t
a
l
a
o
I
n
s
t
a
l
a
o
Q
u
e
d
a
d
e
N
o
m
i
n
a
l
S
u
b
t
e
r
r
n
e
a
A
o
A
r
T
e
n
s
o
S
u
b
t
e
r
r
n
e
a
A
o
A
r
T
e
n
s
o
S
u
b
t
e
r
r
n
e
a
A
o
A
r
T
e
n
s
o
m
m
2
(
2
)
(
3
)
A
U
=
V
/
A
K
m
(
2
)
(
3
)
A
U
=
V
/
A
K
m
(
2
)
(
3
)
A
U
=
V
/
A
K
m
I
n
t
e
n
s
i
d
a
d
e
I
n
t
e
n
s
i
d
a
d
e
C
o
s
=
0
,
8
I
n
t
e
n
s
i
d
a
d
e
I
n
t
e
n
s
i
d
a
d
e
C
o
s
=
0
,
8
I
n
t
e
n
s
i
d
a
d
e
I
n
t
e
n
s
i
d
a
d
e
C
o
s
=
0
,
8
A
A
(
4
)
A
A
A
A
1
2
4
3
2
,
1
0
2
4
3
7
,
0
0
2
1
3
2
,
0
0
1
,
5
4
8
3
2
2
1
,
5
0
3
2
2
6
2
4
,
8
0
3
0
2
4
2
1
,
4
0
2
,
5
6
3
4
3
1
3
,
2
0
4
3
3
5
1
5
,
2
0
4
0
3
2
1
3
,
1
0
4
8
2
5
7
-
8
,
2
7
0
5
5
4
5
9
,
5
1
0
5
2
4
2
8
,
2
4
0
6
1
0
3
7
2
5
,
6
0
6
8
5
8
6
,
3
8
0
6
4
5
3
5
,
5
3
0
1
0
1
3
7
9
9
3
,
3
4
0
9
0
8
0
3
,
8
3
0
8
6
7
3
3
,
3
1
0
1
6
1
7
7
1
3
1
2
,
1
4
0
1
1
5
1
0
5
2
,
4
4
0
1
1
1
9
6
2
,
1
1
0
2
5
2
2
9
1
7
7
1
,
3
6
0
1
4
9
1
4
3
1
,
5
7
0
1
4
3
1
3
0
1
,
3
5
0
3
5
2
7
5
2
1
8
1
,
0
2
0
1
7
8
1
7
6
1
,
1
5
0
1
7
3
1
6
0
1
,
0
1
0
5
0
3
2
7
2
6
6
0
,
7
7
6
2
1
1
2
1
5
0
,
8
7
0
2
0
5
1
9
5
0
,
7
7
4
7
0
4
0
2
3
3
8
0
,
5
6
2
2
5
9
2
7
0
0
,
6
2
3
2
5
2
2
4
7
0
,
5
5
9
9
5
4
8
2
4
1
6
0
,
4
2
7
3
1
0
3
3
5
0
,
4
6
9
3
0
3
3
0
5
0
,
4
2
5
1
2
0
5
5
0
4
8
7
0
,
3
5
6
3
5
2
3
9
0
0
,
3
8
7
3
4
6
3
5
5
0
,
3
5
3
1
5
0
6
1
8
5
5
9
0
,
3
0
6
3
9
6
4
4
7
0
,
3
2
9
3
9
0
4
0
7
0
,
3
0
3
1
8
5
7
0
1
6
4
8
0
,
2
6
1
4
4
9
5
1
4
0
,
2
2
7
4
4
1
4
6
9
0
,
2
5
9
2
4
0
8
1
9
7
7
9
0
,
2
1
8
5
2
1
6
1
0
0
,
2
2
8
5
1
1
5
5
1
0
,
2
1
5
3
0
0
9
3
1
9
0
2
0
,
1
8
9
4
0
0
1
0
7
3
1
1
0
0
0
,
1
6
5
5
0
0
1
2
2
3
1
2
4
6
0
,
1
4
4
CAPTULO V
274
GUIA TCNICO
2 - Cabo do Tipo PT- N07 VA7 V - U (R)
(Antiga designao: V H V)
Norma de fabrico: NP - 3325
Tenso estipulada: 450 / 750 V
Os valores de intensidades mximas admissveis referem-se s condies seguin-
tes:
- Regime permanente;
- Temperatura ambiente de 30 C e temperatura mxima junto alma condutora
de 70 C.
Descrio:
1) Alma condutora rgida de Cobre
2) Isolamento de PVC
3) Bainha interior de PVC
4) Fios de continuidade em Cobre estanhado
S) Blindagem em fita da Alumnio
6) Bainha exterior de PVC
Utilizao:
Transporte e distribuio de energia em edifcios e instalaes industriais, coman-
do e sinalizao.
Montados ao ar livre ou em interiores em caleiras ou condutas.
Figura 52 - Cabo do Tipo PT- N07 VA7 V - U (R)
Quadro 114 - Caractersticas dos cabos PT- N07 VA7 V - U (R)
CARACTERSTICAS TCNICAS DOS CONDUTORES DE ENERGIA E CABOS ELCTRICOS
275
GUIA TCNICO
3 - Cabo do Tipo PT-N05 VV H2-U
(Antiga designao: V V D)
Norma de fabrico: NP - 3325
Tenso estipulada: 300/500 V
Descrio:
1) Alma condutora rgida de Cobre
2) Isolamento de PVC
3) Bainha exterior de PVC
Utilizao:
Utiliza-se em instalaes fixas vista, no interior de edifcios.
Os valores de intensidades mximas admissveis referem-se s condies seguintes:
- Regime permanente;
- Temperatura ambiente de 30 C e temperatura mxima junto alma condutora de
70 C.
Figura 53 - Cabo do Tipo PT-N05 VV H2-U
Quadro 115 - Caractersticas dos cabos PT-N05 VV H2-U
CAPTULO V
276
GUIA TCNICO
4 - Condutores Tipo H 0 7 V - U (R ou K)
Norma de fabrico: NP - 2356
Tenso estipulada: 450 / 750 V
Descrio:
1) Alma condutora da classe 1 (U), da classe 2 (R) ou da classe 5 (K)
2) Isolamento de PVC
Utilizao:
Aplicado na montagem de quadros elctricos e em interiores de edifcios em
instalaes embebidas.
Os valores de intensidades mximas admissveis referem-se s condies seguintes:
- Regime permanente;
- Temperatura ambiente de 30 C e temperatura mxima junto alma condutora
de 70 C.
A - Caso de condutores, at ao mximo de 3, enfiados no mesmo tubo.
B - Caso de condutores instalados ao ar com uma distncia entre si inferior ao
seu dimetro exterior.
C - Caso de condutores instalados ao ar com uma distncia entre si igual ou su-
perior ao seu dimetro exterior.
Nota: H 0 7 V - U Seco s10 mm
2
H 0 7 V - R Seco s 400 mm
2
H 0 7 V - K Seco s 240 mm
2
Quadro 116 - Caractersticas dos condutores H 0 7 V - U (R ou K)
Figura 54 - Condutores do Tipo H 0 7 V - U (R ou K)
CARACTERSTICAS TCNICAS DOS CONDUTORES DE ENERGIA E CABOS ELCTRICOS
277
GUIA TCNICO
5 - Condutores do Tipo H 0 5 V - U (K)
Norma de fabrico: NP - 2356
Tenso estipulada: 300/500 V
Descrio:
1) Alma condutora da classe 1 (U) ou da classe 5 (K)
2) Isolamento a PVC
Utilizao:
Em instalaes fixas protegidas, estabelecidas no interior de aparelhos de utiliza-
o. Apropriados para canalizaes vista ou embebidos (protegidos por tubos)
para circuitos de sinalizao ou controlo.
Os valores de intensidades mximas admissveis referem-se s condies seguintes:
- Regime permanente;
- Temperatura ambiente de 30 C e temperatura mxima junto alma condutora
de 70 C.
A - Caso de condutores, at ao mximo de 3, enfiados no mesmo tubo.
B - Caso de condutores instalados ao ar com uma distncia entre si inferior ao
seu dimetro exterior.
C - Caso de condutores instalados ao ar com uma distncia entre si igual ou
superior ao seu dimetro exterior.
Quadro 117 - Caractersticas dos condutores H 0 5 V - U (K)
Figura 55 - Condutores do Tipo H 0 5 V - U (K)
CAPTULO V
278
GUIA TCNICO
6 - Cabo do Tipo H05 VV - F
Norma de fabrico: NP - 2356
Tenso estipulada: 300/500 V
Descrio:
1) Alma condutora flexvel de Cobre
2) Isolamento de PVC
3) Bainha exterior de PVC
Utilizao:
Utilizado nas ligaes dos aparelhos domsticos, em sinalizao e comando.
Os valores de intensidades mximas admissveis referem-se s condies
seguintes:
- Regime permanente;
- Temperatura ambiente de 30 C e temperatura mxima junto alma condutora
de 70 C .
Quadro 118 - Caractersticas dos cabos H05 VV - F
Figura 56 - Cabos do Tipo H05VV - F
CARACTERSTICAS TCNICAS DOS CONDUTORES DE ENERGIA E CABOS ELCTRICOS
279
GUIA TCNICO
7 - Cabo do Tipo H03VH - H
Norma de fabrico: NP - 2356
Tenso estipulada: 300/300 V
Descrio:
1) Alma condutora da classe 6
2) Isolamento de PVC
Utilizao:
Utilizado nas ligaes dos aparelhos domsticos mveis.
Quadro 119 - Caractersticas dos cabos H03VH - H
Figura 57 - Cabos do Tipo H03VH - H
CAPTULO V
280
GUIA TCNICO
8 - Cabo do Tipo H03 VV H2 - F
Norma de fabrico: NP - 2356
Tenso estipulada: 300/300 V
Descrio:
1) Alma condutora da classe 5
2) Isolamento a PVC
3) Bainha exterior de PVC
Utilizao:
Em instalaes semi-fixas ou mveis em exteriores ou interiores. Utilizado para
comando e sinalizao.
Os valores de intensidades mximas admissveis referem-se s condies seguintes:
- Regime permanente;
- Temperatura ambiente de 30 C e temperatura mxima junto alma condutora
de 70 C.
Quadro 120 - Caractersticas dos cabos H03 VV H2 - F
Figura 58 - Cabos do Tipo H03 VV H2 - F
CARACTERSTICAS TCNICAS DOS CONDUTORES DE ENERGIA E CABOS ELCTRICOS
281
GUIA TCNICO
9 - Cabo do Tipo H03VV - F
Norma de fabrico: NP - 2356
Tenso estipulada: 300/300 V
Descrio:
1) Alma condutora flexvel de cobre
2) Isolamento de PVC
3) Bainha exterior de PVC
Utilizao:
Utilizado nas ligaes dos aparelhos domsticos em sinalizao e comando.
Quadro 121 - Caractersticas dos cabos H03VV - F
Figura 59 - Cabos do Tipo H03VV - F
Cabos IsoIados Agrupados
em Feixe (Torada)
C
aptuIo
V.IV
CARACTERSTICAS TCNICAS DOS CONDUTORES DE ENERGIA E CABOS ELCTRICOS
285
GUIA TCNICO
5.4 - Introduo
As redes de distribuio area de baixa tenso, que eram constitudas em condu-
tores nus de cobre, alumnio ou liga de alumnio, apoiadas em isoladores, foram
praticamente substitudas por redes areas isoladas, constitudas por condutores
isolados agrupados em feixe (toradas), do tipo LXS e XS.
H dois sistemas com grande aplicao: sistema sem neutro tensor e sistema
com neutro tensor.
O sistema sem neutro tensor (figura 60) consiste num feixe de condutores de
igual seco, tanto para o neutro, como para as fases. Aalma condutora em alu-
mnio multifilar compactado, sendo igual para todos os condutores, nas seces
normalizadas. O esforo de traco aplicado sobre o cabo suportado pelos con-
dutores principais. Este sistema cabo torada LXS e XS foi adoptado em Por-
tugal pela EDP/EP (DMA C33-209/N - Cabos Isolados para Redes de Energia).
Figura 60 - Sistema sem neutro tensor
O sistema com neutro tensor (figura 61) consiste num feixe de condutores de fase,
cableados volta do condutor neutro, que alm da funo elctrica, serve de fio ten-
sor do conjunto. Os condutores de fase so em alumnio multifilar nas diversas sec-
es normalizadas e o neutro tensor, tambm multifilar, em liga de Al + Si + Mg
normalmente de 54,6 mm
2
ou 80 mm
2
de seco, comercialmente designado por Al-
melec.
Este sistema aplicado, principalmente, em Frana e em Espanha.
Figura 61 - Sistema com neutro tensor
Campo de aplicao dos cabos torada: os cabos torada aplicam-se, princi-
palmente, nas redes rurais de distribuio pblica.
CAPTULO V
286
GUIA TCNICO
Vantagens das Redes Areas Isoladas
Autilizao, em Portugal, das redes areas isoladas veio proporcionar as seguin-
tes vantagens, relativamente s redes areas nuas:
Na qualidade de servio:
- diminuio do tempo de interrupo do fornecimento elctrico, durante a
eventual substituio dos troos de rede danificados;
- possibilidade de montagem, quer de novos circuitos, quer na derivao de cir-
cuitos j existentes, sem necessidade de interrupo do fornecimento de energia.
- diminuio do nmero de avarias, ocorridas durante a explorao das redes.
Na economia:
- reduo da altura dos postes e apoios, por necessitarem de menor distncia ao
solo e entre condutores;
- reduo da probabilidade de incndio, originado por sobreintensidade ou queda
de condutores nas proximidades da rede, nomeadamente, em zonas arborizadas;
- reduo do custo da montagem da rede;
- reduo do nmero de rvores a abater.
Na segurana:
- maior facilidade e segurana na execuo dos trabalhos de conservao e ex-
plorao (possibilidade de efectuar trabalhos em tenso);
- diminuio dos riscos de contactos acidentais com peas em tenso ou entre
condutores.
Na esttica:
- diminui o espao visual ocupado, em relao s redes nuas, mais notado no
caso de redes em fachada;
- reduo do impacto ambiental, pela reduo da quantidade de rvores a abater
na instalao da rede;
- melhor integrao na paisagem rural e facilidade de integrao nos meios
urbanos (montagem nas fachadas dos edifcios).
CARACTERSTICAS TCNICAS DOS CONDUTORES DE ENERGIA E CABOS ELCTRICOS
287
GUIA TCNICO
Designao:
As toradas so designadas pelas letras LXS ou XS, consoante se trate de con-
dutores com almas em alumnio ou em cobre, o tipo de isolante e o tipo de
aplicao. s referidas letras, seguem-se o nmero de condutores constituintes
da torada e a seco nominal. Pode, ainda, ser indicada a tenso nominal dos
condutores (0,6/1 kV).
Marcao dos Condutores:
A marcao de identificao de cada um feita com tinta de cor branca:
as fases so marcadas com um, dois e trs e comportam os algarismos
1, 2 e 3;
o condutor de fase um marcado com X, alm da indicao do nmero;
os condutores de iluminao pblica so marcados com IPl e IP2;
o neutro leva a identificao do fabricante.
Alm das marcaes indicadas, poder levar, eventualmente, o ano de fabrico e a
marca do cliente.
As marcaes referidas so espaadas, no mximo, de 50 mm.
5.4.1 - Caractersticas Gerais das Redes em Torada
5.4.1.1- Cabos
- Alma condutora das fases e neutro (no tensor)
A alma condutora multifilar cableada, de seco recta circular, em:
alumnio duro ou 3/4 duro, para as seces de 16, 25, 35, 50, 70 e 95 mm
2
.
cobre macio, para as seces de 4, 6 e 10 mm
2
.
- Neutro tensor
liga de alumnio, magnsio e silcio normalmente nas seces de 54,6 e 80 mm
2
- Isolamento:
O isolamento de cada um dos condutores constituintes do feixe :
obtido por extruso;
em polietileno reticulado (PEX).
CAPTULO V
288
GUIA TCNICO
Agrupamento dos condutores:
Os condutores so agrupados em feixe, com as seguintes designaes:
almas condutoras em alumnio:
LXS 2x16 LXS 4x16+Kx16 LXS 4x95+Kx16
LXS 3x16 LXS 4x25+Kx16 LXS 4x95+Kx25
LXS 3x25 LXS 4x35+Kx16
LXS 3x35 LXS 4x50+Kx16
LXS 3x50 LXS 4x70+Kx16
K = 0, 1, 2
almas condutoras em cobre:
XS 2x4 XS 4x6
XS 2x6 XS 4x10
XS 2x10
As caractersticas dimensionais e elctricas esto mencionadas nos quadros
122 e 123.
Quadro 122 - Caractersticas Dimensionais dos Condutores
Utilizados nos Cabos Torada
LIGA DE ALUMNIO
CARACTERSTICAS TCNICAS DOS CONDUTORES DE ENERGIA E CABOS ELCTRICOS
289
GUIA TCNICO
Quadro 123 - Caractersticas Dimensionais e Elctricas dos Cabos Torada
5.4.1.2 - Acessrios de Montagem de uma Rede em Torada
A execuo de uma rede area, com cabo torada, exige a utilizao de acessrios
prprios, quer para a fixao dos condutores, quer para as ligaes dos mesmos
no plano elctrico, sem os quais no poder ser garantido um funcionamento
seguro.
CAPTULO V
290
GUIA TCNICO
Com a grande variedade de execues possveis para uma rede em torada
(redes montadas em postes, nas fachadas dos edifcios, etc.), a gama de acessrios
disponvel , no entanto, suficientemente verstil, para satisfazer todas as
solicitaes geralmente encontradas.
Os principais acessrios que equipam uma rede so enumerados a seguir:
- pinas de amarrao;
- pinas de suspenso;
- ligadores bimetlicos;
- beros de guiamento;
- ganchos;
- seccionadores, com ou sem caixa de fusveis;
- unies de cravao;
- mangas termoretrcteis.
5.4.1.3 - Tipo de Montagem
Uma das principais razes do sucesso das redes em cabo torada a possibilida-
de de adaptao destas a percursos de difcil execuo, com outro tipo de canali-
zaes. Descrevemos, a seguir, os principais tipos de montagem utilizados:
- redes tensas em fachada: o cabo fica sob tenso mecnica. Devem ser apli-
cadas nos casos em que a forma dos edifcios permita vencer vos superiores
a 10 m. No necessrio o recurso a postes;
- redes pousadas em fachada: o cabo est sem tenso mecnica. Devem ser
aplicadas nos casos em que a forma dos edifcios no permita alinhamento ou
as fachadas no suportem os esforos resultantes das tenses mecnicas;
- redes tensas em apoios: o cabo est montado, sob tenso mecnica, em apoios
(postes, postaletes ou consolas). Devem ser aplicadas quando no houver
possibilidade de aplicar outros tipos de montagem.
5.4.1.4 - Postes
Dos tipos de montagem atrs descritos, so as redes tensas em apoios, as que
mais se utilizam, atendendo, quer sua extenso, quer seco dos cabos que
utilizam. Os apoios correntemente usados so os postes de madeira ou de beto,
os quais enumeraremos a seguir, assim como a regulamentao em vigor:
CARACTERSTICAS TCNICAS DOS CONDUTORES DE ENERGIA E CABOS ELCTRICOS
291
GUIA TCNICO
postes de beto:
o fabrico dos postes de beto deve respeitar o disposto nas normas NP-261 e
P-628. As ligaes terra dos postes de beto devem respeitar o disposto na norma
P-628. Estas so constitudas por condutores de cobre nu, com 25 mm
2
de seco,
protegidos por tubos isolantes at 2,5 m acima do solo e 0,45 m abaixo deste.
Dimenses Principais
- postes de madeira:
o fabrico dos postes de madeira deve respeitar o disposto na norma NP-267.
Estes so os mais indicados para as redes em torada (aspecto econmico, paisa-
gstico e maior facilidade de transporte, em zonas rurais de difcil acesso).
Dimenses Principais
Quadro 124 - Dimenses dos postes de beto
Figura 62 - Esquema dos postes de beto
Figura 63 - Esquema dos postes de madeira
CAPTULO V
292
GUIA TCNICO
Na seco seguinte (5.4.2) iremos abordar, entre vrios aspectos do dimensiona-
mento das redes, aquele relacionado com o clculo de postes.
5.4.2 - Dimensionamento das Redes em Torada
Atenso estipulada das redes em torada 0,6/1 kV, que corresponde tenso que
define o limite de uma rede BT. Actualmente, o uso de cabos torada j se
estendeu at ao domnio da mdia tenso, estando em preparao a documenta-
o, que trata a utilizao deste tipo de redes.
5.4.2.1- Escolha da Seco da Alma Condutora
A escolha da seco da alma condutora dos cabos torada feita nas pginas
seguintes, sob o ponto de vista elctrico e trmico. Para uma melhor compreenso
do mtodo a seguir, aconselhvel a consulta do captulo II deste guia tcnico.
1 - Determinao da Intensidade a Transmitir em Regime Normal
O clculo da intensidade a transmitir igual ao efectuado na seco 2.2.1.
Os coeficientes de simultaneidade, a aplicar nas instalaes de utilizao, estabe-
lecidas em locais residenciais ou de uso profissional, que condicionam o valor da
potncia instalada a considerar, so os seguintes:
- para as canalizaes principais, os factores de correco so obtidos pela frmula:
C = 0, 2 +
0,8
n
C = coeficiente de simultaneidade
n = nmero de instalaes a alimentar
Quadro 125 - Dimenses dos postes de beto
CARACTERSTICAS TCNICAS DOS CONDUTORES DE ENERGIA E CABOS ELCTRICOS
293
GUIA TCNICO
- para os ramais, os factores de correco esto indicados no quadro seguinte:
2 - Seco Necessria para o Aquecimento em Regime Permanente
Aintensidade mxima admissvel ou capacidade de transporte, em regime perma-
nente, o valor da intensidade que provoca, no estado de equilbrio trmico, o
aquecimento da alma dos condutores at ao valor mximo permitido e que para
os cabos torada igual a 90 C. Atravs do clculo da intensidade fictcia
(seco 2.2.2) e Quadro 123 obteremos a seco mais aconselhvel.
3 - Seco Necessria para o Aquecimento em Regime Varivel
O clculo da seco das almas condutoras, quando forem previstos regimes de
carga variveis, apresentado na seco 2.2.3. Os cabos torada tero que ser
protegidos contra eventuais sobrecargas no consideradas no dimensionamento
dos mesmos. As caractersticas dos aparelhos de proteco devero satisfazer as
condies que figuram na seco 3.2 .
4 - Seco Necessria para o Aquecimento em Caso de Curto-Circuito
Em caso de curto-circuito, os cabos tero que suportar a passagem de intensidades
de corrente muito superiores s consideradas em regime permanente. No quadro
123, esto indicadas as correntes de curto-circuito mximas admissveis, durante
um segundo, para as seces normalizadas dos cabos torada. Caso seja necessrio
um estudo mais aprofundado, na seco 2.2.4 apresenta-se o mtodo de clculo
que relaciona o tempo de durao do curto-circuito, a seco e composio da
alma condutora com o valor da intensidade de curto-circuito.
5 - Seco Necessria para a Queda de Tenso
Com a extenso, geralmente grande, rede de redes em torada, teremos que garan-
tir uma tenso em qualquer ponto de utilizao, que permita um funcionamento
Quadro 126 - Factores de correco
CAPTULO V
294
GUIA TCNICO
satisfatrio por parte dos receptores a alimentar. Na seco 2. 2. 5, apresentado
o mtodo de clculo da seco da alma condutora que permite no ultrapassar a
queda de tenso mxima admissvel.
Apresentamos, a seguir, um mtodo simplificado, atravs de um baco (grfico
24) que nos d as seces das almas condutoras, em funo das piores situaes
encontradas.
Grfico 24 - baco para Determinao da Seco
6 - Seco Necessria do Ponto de Vista Elctrico
Das seces para as almas condutoras, anteriormente calculadas, escolhemos
aquela de maior valor e, para a seco do cabo torada, escolhemos a seco
normalizada, imediatamente superior a esta.
A seco necessria do ponto de vista econmico calculada segundo o mtodo
descrito em 2.2.7.
5.4.2.2 - Clculo Mecnico e Condies de Montagem
1 - Instalao dos Cabos
Ainstalao de uma rede area tensa em apoios condicionada por vrios factores,
nomeadamente, peso dos condutores, distncia entre apoios, aco do vento, etc,
que constituem as principais solicitaes mecnicas s quais o cabo sujeito.
A figura 64 especifica os parmetros a considerar, aquando da montagem
do cabo entre dois apoios (vo).
CARACTERSTICAS TCNICAS DOS CONDUTORES DE ENERGIA E CABOS ELCTRICOS
295
GUIA TCNICO
h = altura mnima ao solo, m
H = altura dos apoios (no considerando a altura da fundao), m
d = flecha a meio vo, m
L= vo, m
Nos quadros 129 a 132 esto indicados os valores das flechas (f) na montagem,
em funo da temperatura ambiente no momento da montagem, dos vos (a) e
dos vrios tipos de cabo torada. Estes valores so designados por tabelas de
regulao e esto calculados, para que no seja ultrapassado o esforo de traco
mximo (T), aplicado ao cabo.
2 - Tenses Mximas nos Cabos
O quadro 127 fornece os valores da tenso mxima (o mx.) a aplicar aos
feixes das diferentes seces utilizadas. Partindo da fora mnima de ruptura (N)
da alma de cada condutor (ver quadro 122) e considerando um coeficiente de
segurana igual a 2,5, obtemos a tenso mxima atrs referida.
(1) almas condutoras em alumnio
(2) almas condutoras em cobre
Quadro 127 - Tenso mxima nos cabos
Figura 64 - Montagem do cabo entre dois apoios
CAPTULO V
296
GUIA TCNICO
A traco mxima (T), obtida para um feixe de quatro condutores, considera que a
fora aplicada igual em todos os condutores do feixe ( necessrio que os quatro
condutores estejam bem fixos e de maneira igual para todos, pela cunha da pina). Os
valores de T foram calculados por forma a no se exceder uma fora mxima de 6 kN,
a fim de reduzir os esforos sobre os apoios nos ngulos, derivaes e fins de linha.
Os valores das flechas indicados nos quadros 129 a 132 foram calculados para os
valores que figuram no quadro 127 anterior, a partir da equao de mudana de estado.
3 - Verificao da Estabilidade dos Apoios de Beto
O emprego dos postes de beto, como apoios das redes areas isoladas, hoje
em dia a soluo encontrada na grande maioria dos casos, sendo os postes de
madeira reservados para aplicao em locais de difcil acesso, o que os torna pre-
ferveis aos postes de beto, devido ao seu peso inferior. H, ainda, a salientar o
emprego dos postes de madeira, em casos em que o aspecto paisagstico impor-
tante (por exemplo, redes em zonas florestais ou parques naturais).
Para o clculo da estabilidade dos apoios de beto, aplica-se a seguinte simbologia:
T = traco mxima do feixe da linha principal, N;
T
D
= traco mxima do feixe da linha derivada, N;
d = dimetro aparente do feixe, mm;
a
m
= semi-soma dos vos adjacentes, m;
o = coeficiente de reduo;
c = coeficiente de forma;
q = presso dinmica do vento, N/m
2
.
Observaes:
- sempre que as grandezas se refiram a linhas derivadas, o seu smbolo ser afecta-
do de um apstrofo (exemplo: d`= dimetro aparente do feixe da linha derivada);
- as foras resultantes da aplicao das frmulas seguintes so expressas em
Newton (N).
Apoios de Alinhamento
Nos apoios de alinhamento, havendo igualdade de tenso mecnica e de seces,
o esforo sobre os apoios resume-se ao esforo devido ao vento:
F
v
= o . c . q . s
a = 0,6
c = 1,3
q = 0,75 x 750 = 563 N/m
2
(75% do valor fixado no R.S.L.A.T.)
s = rea da superfcie batida pelo vento, m
2
s= d . a . 10
-3
ento F
v
= 439 . d . a
m
. 10
-3
Sempre que exista desigualdade de traces, resulta um esforo longitudinal que
deve ser considerado na escolha dos apoios.
CARACTERSTICAS TCNICAS DOS CONDUTORES DE ENERGIA E CABOS ELCTRICOS
297
GUIA TCNICO
Apoios de ngulo
Nos apoios de ngulo o esforo determinado pela expresso:
F = 2Tsen
u
2
+ 439. d. a
m
cos
2
u
2
.
10
~3
onde u o ngulo de desvio do traado.
Apoios de Derivao
Para o clculo dos apoios de derivao, consideramos o vento a actuar normal-
mente direco da linha principal (se o poste for de alinhamento), ou segundo a
bissectriz do ngulo da linha principal:
- esforo no sentido da bissectriz do ngulo da linha principal:
F = 439 d.a
m
cos
2
u
2
d'
a'
2
cos
2
[
\
|
)
j
.10
~3
N+
N+ 2Tsen
u
2
T
D
senN
onde a` o comprimento do vo da linha derivada
adjacente.
- esforo no sentido normal bissectriz do ngulo
da linha principal:
F
x
= T
d
cos
Apoios de Fim de Linha
Para o clculo dos apoios de fim de linha deve-se considerar o vento a actuar
perpendicularmente linha.
Esforo no sentido perpendicular linha:
Fy = 439 . d .
a
2
. 10
~3
a = comprimento do vo adjacente ao poste, m
Esforo na direco da linha:
F
x
= T
CAPTULO V
298
GUIA TCNICO
No quadro 128 indicam-se os esforos do vento (Fv) nos apoios de alinhamento
(valores expressos em newton).
4 - Aplicao das Espias
Sempre que a estabilidade de um poste necessite de um reforo, aconselhvel a
aplicao de espias. Estas so constitudas por cabos ou varetas com elos de ligao
robustos, de ao galvanizado, possuindo uma fora de rotura mnima de 600 daN.
Os arames ou fios constituintes dos cabos no devem ter um dimetro inferior a
3 mm.
Na parte enterrada das espias e numa extenso de 0,50 m fora do solo, deve ser
utilizado varo de ao de dimetro no inferior a 12 mm, devidamente protegido
contra a corroso.
O espiamento dos postes uma tcnica que pode ser conveniente, nomeadamente,
nos casos seguintes:
- apoios de ngulo, com esforo cabea elevado;
- apoios terminais de rede, em que a ampliao desta possa transform-los em
apoios de ngulo ou de alinhamento;
- apoios de alinhamento ou de ngulo em que se faa uma derivao.
As espias devem ser fixadas aos apoios, no furo imediatamente abaixo do das
ferragens de fixao das pinas.
Na parte enterrada utilizada uma ancora ou macio que assegure uma conveniente
amarrao da espia.
Quadro 128 - Esforos do vento (Fv) nos apoios de alinhamento
CARACTERSTICAS TCNICAS DOS CONDUTORES DE ENERGIA E CABOS ELCTRICOS
299
GUIA TCNICO
Dimensionamento das Espias
No dimensionamento das espias deve atender-se a que o ngulo que a espia faz
com a vertical no seja inferior a 30C, ou seja, de acordo com a figura 65:
arc tgo~ 0, 6
d
h
[
\
|
)
j
Fe =
F
seno
, N
F = resultante das foras de traco
dos condutores
O valor da fora vertical descendente
Fa a suportar pelos apoios calculado
pela expresso:
Fa =
F
tgo
, N
Exemplo:
Considerando que o esforo a suportar pelo apoio de 6 000 N (sem espia) e que
o ngulo o de 40, o valor a suportar pela espia :
Fe =
6 000
sen 40
= 9 334 N
Fa =
6 000
tg 40
= 7 151N
Como se verifica, o esforo devido aco dos condutores (que sem espia seria
inteiramente suportado pelo apoio) totalmente suportado pela espia. O apoio
apenas est sujeito ao esforo vertical.
e o valor da fora vertical a suportar pelo apoio :
O valor da fora Fe a suportar pela espia,
calculado pela expresso:
Fa
h
Figura 65 - Dimensionamento das espias
CAPTULO V
300
GUIA TCNICO
5.4.2.3 - Tabelas de Regulao
Quadro 129 - Cabo Torada LXS 4 x 16 + K x 16 (K = 0, 1, 2)
a - vo (m) f - flecha (cm) T - traco (n)
CARACTERSTICAS TCNICAS DOS CONDUTORES DE ENERGIA E CABOS ELCTRICOS
301
GUIA TCNICO
Quadro 130 - Cabo Torada LXS 4 x 25 + K x 16 (K = 0, 1, 2)
CAPTULO V
302
GUIA TCNICO
Quadro 131 - Cabo Torada LXS 4 x 50 + K x 16 (K = 0, 1, 2)
CARACTERSTICAS TCNICAS DOS CONDUTORES DE ENERGIA E CABOS ELCTRICOS
303
GUIA TCNICO
Quadro 132 - Cabo Torada LXS 4 x 70 + K x 16 (K = 0, 1, 2)
Cabos IsoIados
de Mdia e AIta Tenso
C
aptuIo
V.V
CARACTERSTICAS TCNICAS DOS CONDUTORES DE ENERGIA E CABOS ELCTRICOS
307
GUIA TCNICO
5.5 - Cabos Isolados de Mdia e Alta Tenso
5.5.1 - Descrio do processo de fabrico
A SOLIDAL, aps vultuoso investimento industrial realizado, adquiriu capacida-
de para a partir de agora, incluir os cabos isolados de ALTA TENSO na sua
gama de fabrico.
Efectivamente com o investimento realizado durante o ano de 1998, a SOLIDAL
adquiriu a mais recente tecnologia de fabrico e equipamento que lhe permitem
fabricar cabos acima dos 45 kV pela 1 vez em Portugal.
A linha de fabrico agora instalada, linha de Vulcanizao em Catenria de Azoto
(CCVL - Continuous Catenary Vulcanization Line), est preparada para o
fabrico de cabos isolados at aos 225 kV.
As isolaes destes cabos so constitudas pela extruso de compostos quer de
Polietileno Reticulado (PEX), quer de Borracha de Etileno-Propileno de alto
mdulo de elasticidade (HEPR), satisfazendo ambos as necessidades da globa-
lidade do mercado.
A tecnologia referida mantm a utilizao do processo de tripla extruso simult-
nea, introduzindo no entanto inovaes importantes entre as quais se destacam:
- Aoperao de reticulao, efectuada em contnuo durante a extruso, proces-
sada em atmosfera seca e sobreaquecida de azoto.
Refira-se a este propsito que os valores normais do contedo residual de gua
neste processo da ordem dos 30 a 80 ppm, enquanto que no processo de
reticulao em gua ou vapor se situam acima de 1000 ppm.
- A movimentao/transferncia de matrias primas para a alimentao das
extrusoras da linha de produo efectuada em circuito fechado a partir de
salas limpas respeitando as exigncias da ~classe 1000, assegurando deste
modo a impossibilidade de contaminao das mesmas antes do seu processa-
mento, minimizando as possibilidades de formao de incluses ou vacolos.
- O controlo dimensional dos cabos efectuado por intermdio de cmaras
~Raios X, mediante as quais possvel controlar, em curso do processo de
fabrico, os dimetros, as espessuras e as excentridades das vrias camadas
extrudidas. Em funo deste controlo, realizada permanentemente e com
elevada preciso a regulao automtica dos parmetros de fabrico, de modo a
que sejam respeitadas os valores pr-estabelecidos.
- Autilizao das geraes mais recentes de matrias primas com caractersticas
melhoradas.
Todo este conjunto de inovaes propiciam SOLIDAL:
a melhoria da qualidade ~standard dos cabos produzidos, promovendo
uma maior segurana e longevidade das instalaes elctricas que
incorporem estes cabos;
o alargamento da sua gama para fabricos do mais elevado nvel tecnolgico;
a satisfao das exigncias tcnicas do mercado nacional e internacional,
neste sector.
CAPTULO V
308
GUIA TCNICO
5.5.2 - Cabos de Mdia Tenso
Normas de referncia:
CEI 60502 - 2; HD 620 51
Caractersticas Principais:
Alma condutora: Alumnio ou cobre multifilar compactado
Semicondutor interior: Composto semicondutor extrudido
Isolante: PEX - Polietileno reticulado ou HEPR - Borracha de
etileno propileno de alto mdulo de elasticidade
Semicondutor interior: Composto semicondutor extrudido
Blindagem: Fios e fita de cobre ou fita de cobre
Bainha exterior: PVC ou PE (de baixa, mdia ou alta densidade)
Caractersticas de bloqueio penetraao de humidade:
Estanquidade: longitudinal No condutor e/ou na blindagem, conforme
defenido no Capitulo I, pargrafo 1.2.6
Colocada apenas sob encomenda
Estanquidade: transversal Sob a bainha exterior, por aplicao de fitas
metlicas aderentes bainha exterior
Colocada apenas sob encomenda
Proteco mecanica: Armadura em fitas de ao ou alumnio
colocadas apenas sob encomenda
Tipos de Cabo:
Figura 66 - Cabo monopolar
Figura 67 - Cabo tripolar armado
Figura 68 - Torada area
Figura 69 - Trimonopolar
Nota:
1 - Os quadros 133 ao 136, apresentam as caractersticas dimensionais e elctricas dos cabos monopolares de 6/10kV, 8,7/15kV,
12/20kVe 18/30kV. As intensidades admissveis esto indicadas no ponto 5.5.2.1 (quadro 137), nas condies de instalao indicadas.
2 - Nos quadros 138 a 140 esto indicadas as caractersticas dos cabos tripolares, torada area e trimonopolares de mdia tenso.
CARACTERSTICAS TCNICAS DOS CONDUTORES DE ENERGIA E CABOS ELCTRICOS
309
GUIA TCNICO
Q
u
a
d
r
o
1
3
3
-
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
T
c
n
i
c
a
s
C
a
b
o
M
o
n
o
p
o
l
a
r
L
X
H
I
V
/
L
X
H
I
O
V
/
X
H
I
V
/
X
H
I
O
V
T
e
n
s
o
-
6
/
1
0
k
V
1
2
3
4
5
6
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
D
i
m
e
n
s
i
o
n
a
i
s
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
E
l
c
t
r
i
c
a
s
D
i
m
e
t
r
o
R
e
s
i
s
t
n
c
i
a
S
e
c
o
E
s
p
e
s
s
u
r
a
s
o
b
r
e
E
s
p
e
s
s
u
r
a
D
i
m
e
t
r
o
P
e
s
o
e
l
c
t
r
i
c
a
D
C
a
R
e
s
i
s
t
n
c
i
a
e
l
c
t
r
i
c
a
C
a
p
a
c
i
d
a
d
e
I
n
d
u
t
n
c
i
a
R
e
a
t
n
c
i
a
I
m
p
e
d
n
c
i
a
N
o
m
i
n
a
l
I
s
o
l
a
o
I
s
o
l
a
o
B
a
n
h
a
e
x
t
e
r
i
o
r
A
p
r
o
x
i
m
a
d
o
2
0
C
(
O
/
K
m
)
A
C
a
9
0
C
C
L
X
L
Z
9
0
C
(
m
m
)
(
m
m
)
(
m
m
)
(
m
m
)
(
m
m
)
(
k
g
/
k
m
)
(
O
/
K
m
)
(
F
/
k
m
)
(
m
H
/
k
m
)
(
O
/
k
m
)
(
O
/
k
m
)
A
l
C
u
A
l
C
u
A
l
C
u
A
l
C
u
3
5
1
5
.
4
1
.
6
2
2
.
5
6
0
0
8
1
0
0
.
8
6
8
0
.
5
2
4
1
.
1
1
3
0
.
6
6
8
0
.
2
4
0
.
4
1
9
0
.
1
3
2
1
.
1
2
0
.
6
8
5
0
1
6
.
4
1
.
7
2
3
.
5
6
6
0
9
5
0
0
.
6
4
1
0
.
3
8
7
0
.
8
2
2
0
.
4
9
3
0
.
2
6
0
.
4
0
3
0
.
1
2
7
0
.
8
3
0
.
5
1
7
0
1
8
.
2
1
.
7
2
5
.
5
7
6
0
1
1
8
0
0
.
4
4
3
0
.
2
6
8
0
.
5
6
8
0
.
3
4
2
0
.
3
0
0
.
3
7
8
0
.
1
1
9
0
.
5
8
0
.
3
6
9
5
1
9
.
8
1
.
8
2
7
.
0
8
8
0
1
4
6
0
0
.
3
2
0
0
.
1
9
3
0
.
4
1
0
0
.
2
4
6
0
.
3
3
0
.
3
6
1
0
.
1
1
3
0
.
4
3
0
.
2
7
1
2
0
2
1
.
4
1
.
8
2
9
.
0
9
8
0
1
7
2
0
0
.
2
5
3
0
.
1
5
3
0
.
3
2
4
0
.
1
9
5
0
.
3
6
0
.
3
4
6
0
.
1
0
9
0
.
3
4
0
.
2
2
1
5
0
3
.
4
2
2
.
7
1
.
9
3
0
.
5
1
1
0
0
2
0
1
0
0
.
2
0
6
0
.
1
2
4
0
.
2
6
4
0
.
1
5
8
0
.
3
9
0
.
3
3
7
0
.
1
0
6
0
.
2
8
0
.
1
9
1
8
5
2
4
.
8
1
.
9
3
2
.
5
1
2
5
0
2
3
8
0
0
.
1
6
4
0
.
0
9
9
0
.
2
1
0
0
.
1
2
6
0
.
4
3
0
.
3
2
4
0
.
1
0
2
0
.
2
3
0
.
1
6
2
4
0
2
6
.
9
2
.
0
3
4
.
5
1
4
6
0
2
9
5
0
0
.
1
2
5
0
.
0
7
5
0
.
1
6
0
0
.
0
9
6
0
.
4
8
0
.
3
1
3
0
.
0
9
8
0
.
1
9
0
.
1
4
3
0
0
2
9
.
2
2
.
1
3
7
.
0
1
7
3
0
3
5
7
0
0
.
1
0
0
0
.
0
6
0
0
.
1
2
8
0
.
0
7
7
0
.
5
2
0
.
3
0
4
0
.
0
9
5
0
.
1
6
0
.
1
2
4
0
0
3
1
.
9
2
.
2
4
0
.
0
2
0
2
0
4
3
8
0
0
.
0
7
8
0
.
0
4
7
0
.
1
0
0
0
.
0
6
0
0
.
5
8
0
.
2
9
5
0
.
0
9
3
0
.
1
4
0
.
1
1
5
0
0
3
4
.
9
2
.
3
4
3
.
0
2
4
0
0
5
4
9
0
0
.
0
6
1
0
.
0
3
7
0
.
0
7
8
0
.
0
4
7
0
.
6
4
0
.
2
8
6
0
.
0
9
0
0
.
1
2
0
.
1
0
6
3
0
3
8
.
9
2
.
4
4
7
.
5
2
8
7
0
6
8
1
0
0
.
0
4
7
0
.
0
2
8
0
.
0
6
0
0
.
0
3
6
0
.
7
2
0
.
2
7
6
0
.
0
8
7
0
.
1
1
0
.
0
9
D
e
s
c
r
i
o
:
1
-
A
l
m
a
r
g
i
d
a
e
m
a
l
u
m
n
i
o
o
u
c
o
b
r
e
2
-
B
a
n
h
a
s
e
m
i
c
o
n
d
u
t
o
r
a
i
n
t
e
r
i
o
r
3
-
I
s
o
l
a
o
e
m
P
E
X
4
-
C
a
m
a
d
a
s
e
m
i
c
o
n
d
u
t
o
r
a
e
x
t
e
r
i
o
r
5
-
c
r
a
n
m
e
t
l
i
c
o
e
m
c
o
b
r
e
(
f
i
t
a
o
u
f
i
o
s
e
f
i
t
a
)
6
-
B
a
n
h
a
e
x
t
e
r
i
o
r
e
m
P
V
C
(
p
o
d
e
r
s
e
r
e
m
P
E
,
s
o
b
e
n
c
o
m
e
n
d
a
)
.
N
o
t
a
:
O
s
v
a
l
o
r
e
s
d
a
t
a
b
e
l
a
s
o
f
o
r
n
e
c
i
d
o
s
a
t
t
u
l
o
i
n
d
i
c
a
t
i
v
o
,
c
o
n
s
i
d
e
r
a
n
d
o
u
m
a
i
n
s
t
a
l
a
o
e
m
t
r
e
v
o
j
u
n
t
i
v
o
.
CAPTULO V
310
GUIA TCNICO
Q
u
a
d
r
o
1
3
4
-
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
T
c
n
i
c
a
s
C
a
b
o
M
o
n
o
p
o
l
a
r
L
X
H
I
V
/
L
X
H
I
O
V
/
X
H
I
V
/
X
H
I
O
V
T
e
n
s
o
-
8
,
7
/
1
5
k
V
1
2
3
4
5
6
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
D
i
m
e
n
s
i
o
n
a
i
s
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
E
l
c
t
r
i
c
a
s
D
i
m
e
t
r
o
R
e
s
i
s
t
n
c
i
a
S
e
c
o
E
s
p
e
s
s
u
r
a
s
o
b
r
e
E
s
p
e
s
s
u
r
a
D
i
m
e
t
r
o
P
e
s
o
e
l
c
t
r
i
c
a
D
C
a
R
e
s
i
s
t
n
c
i
a
e
l
c
t
r
i
c
a
C
a
p
a
c
i
d
a
d
e
I
n
d
u
t
n
c
i
a
R
e
a
t
n
c
i
a
I
m
p
e
d
n
c
i
a
N
o
m
i
n
a
l
I
s
o
l
a
o
I
s
o
l
a
o
B
a
n
h
a
e
x
t
e
r
i
o
r
A
p
r
o
x
i
m
a
d
o
2
0
C
(
O
/
K
m
)
A
C
a
9
0
C
C
L
X
L
Z
9
0
C
(
m
m
)
(
m
m
)
(
m
m
)
(
m
m
)
(
m
m
)
(
k
g
/
k
m
)
(
O
/
K
m
)
(
F
/
k
m
)
(
m
H
/
k
m
)
(
O
/
k
m
)
(
O
/
k
m
)
A
l
C
u
A
l
C
u
A
l
C
u
A
l
C
u
3
5
1
7
.
6
1
.
7
2
5
.
0
6
8
0
9
0
0
0
.
8
6
8
0
.
5
2
4
1
.
1
1
3
0
.
6
6
8
0
.
1
9
0
.
4
4
0
0
.
1
3
8
1
.
1
2
0
.
6
8
5
0
1
8
.
6
1
.
7
2
6
.
0
7
4
0
1
0
3
0
0
.
6
4
1
0
.
3
8
7
0
.
8
2
2
0
.
4
9
3
0
.
2
1
0
.
4
2
1
0
.
1
3
2
0
.
8
3
0
.
5
1
7
0
2
0
.
4
1
.
8
2
8
.
0
8
6
0
1
2
8
0
0
.
4
4
3
0
.
2
6
8
0
.
5
6
8
0
.
3
4
2
0
.
2
4
0
.
3
9
6
0
.
1
2
4
0
.
5
8
0
.
3
6
9
5
2
2
.
0
1
.
8
2
9
.
5
9
7
0
1
5
5
0
0
.
3
2
0
0
.
1
9
3
0
.
4
1
0
0
.
2
4
6
0
.
2
6
0
.
3
7
7
0
.
1
1
8
0
.
4
3
0
.
2
7
1
2
0
2
3
.
6
1
.
9
3
1
.
0
1
1
0
0
1
8
3
0
0
.
2
5
3
0
.
1
5
3
0
.
3
2
4
0
.
1
9
5
0
.
2
9
0
.
3
6
2
0
.
1
1
4
0
.
3
4
0
.
2
3
1
5
0
4
.
5
2
4
.
9
1
.
9
3
2
.
5
1
2
0
0
2
1
1
0
0
.
2
0
6
0
.
1
2
4
0
.
2
6
4
0
.
1
5
8
0
.
3
1
0
.
3
5
2
0
.
1
1
0
0
.
2
9
0
.
1
9
1
8
5
2
7
.
0
2
.
0
3
5
.
0
1
3
8
0
2
5
0
0
0
.
1
6
4
0
.
0
9
9
0
.
2
1
0
0
.
1
2
6
0
.
3
4
0
.
3
3
8
0
.
1
0
6
0
.
2
4
0
.
1
7
2
4
0
2
9
.
1
2
.
1
3
7
.
0
1
6
0
0
3
0
8
0
0
.
1
2
5
0
.
0
7
5
0
.
1
6
0
0
.
0
9
6
0
.
3
8
0
.
3
2
7
0
.
1
0
3
0
.
1
9
0
.
1
4
3
0
0
3
1
.
4
2
.
1
3
9
.
5
1
8
5
0
3
6
9
0
0
.
1
0
0
0
.
0
6
0
0
.
1
2
8
0
.
0
7
7
0
.
4
1
0
.
3
1
5
0
.
0
9
9
0
.
1
6
0
.
1
3
4
0
0
3
4
.
1
2
.
2
4
2
.
5
2
1
6
0
4
5
1
0
0
.
0
7
8
0
.
0
4
7
0
.
1
0
0
0
.
0
6
0
0
.
4
5
0
.
3
0
5
0
.
0
9
6
0
.
1
4
0
.
1
1
5
0
0
3
7
.
1
2
.
3
4
5
.
5
2
5
4
0
5
6
3
0
0
.
0
6
1
0
.
0
3
7
0
.
0
7
8
0
.
0
4
7
0
.
5
0
0
.
2
9
6
0
.
0
9
3
0
.
1
2
0
.
1
0
6
3
0
4
1
.
1
2
.
4
4
9
.
5
3
0
3
0
6
9
7
0
0
.
0
4
7
0
.
0
2
8
0
.
0
6
0
0
.
0
3
6
0
.
5
6
0
.
2
8
5
0
.
0
9
0
0
.
1
1
0
.
1
0
D
e
s
c
r
i
o
:
1
-
A
l
m
a
r
g
i
d
a
e
m
a
l
u
m
n
i
o
o
u
c
o
b
r
e
2
-
B
a
n
h
a
s
e
m
i
c
o
n
d
u
t
o
r
a
i
n
t
e
r
i
o
r
3
-
I
s
o
l
a
o
e
m
P
E
X
4
-
C
a
m
a
d
a
s
e
m
i
c
o
n
d
u
t
o
r
a
e
x
t
e
r
i
o
r
5
-
c
r
a
n
m
e
t
l
i
c
o
e
m
c
o
b
r
e
(
f
i
t
a
o
u
f
i
o
s
e
f
i
t
a
)
6
-
B
a
n
h
a
e
x
t
e
r
i
o
r
e
m
P
V
C
(
p
o
d
e
r
s
e
r
e
m
P
E
,
s
o
b
e
n
c
o
m
e
n
d
a
)
.
N
o
t
a
:
O
s
v
a
l
o
r
e
s
d
a
t
a
b
e
l
a
s
o
f
o
r
n
e
c
i
d
o
s
a
t
t
u
l
o
i
n
d
i
c
a
t
i
v
o
,
c
o
n
s
i
d
e
r
a
n
d
o
u
m
a
i
n
s
t
a
l
a
o
e
m
t
r
e
v
o
j
u
n
t
i
v
o
.
CARACTERSTICAS TCNICAS DOS CONDUTORES DE ENERGIA E CABOS ELCTRICOS
311
GUIA TCNICO
Q
u
a
d
r
o
1
3
5
-
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
T
c
n
i
c
a
s
C
a
b
o
M
o
n
o
p
o
l
a
r
L
X
H
I
V
/
L
X
H
I
O
V
/
X
H
I
V
/
X
H
I
O
V
T
e
n
s
o
-
1
2
/
2
0
k
V
D
e
s
c
r
i
o
:
1
-
A
l
m
a
r
g
i
d
a
e
m
a
l
u
m
n
i
o
o
u
c
o
b
r
e
2
-
B
a
n
h
a
s
e
m
i
c
o
n
d
u
t
o
r
a
i
n
t
e
r
i
o
r
3
-
I
s
o
l
a
o
e
m
P
E
X
4
-
C
a
m
a
d
a
s
e
m
i
c
o
n
d
u
t
o
r
a
e
x
t
e
r
i
o
r
5
-
c
r
a
n
m
e
t
l
i
c
o
e
m
c
o
b
r
e
(
f
i
t
a
o
u
f
i
o
s
e
f
i
t
a
)
6
-
B
a
n
h
a
e
x
t
e
r
i
o
r
e
m
P
V
C
(
p
o
d
e
r
s
e
r
e
m
P
E
,
s
o
b
e
n
c
o
m
e
n
d
a
)
.
1
2
3
4
5
6
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
D
i
m
e
n
s
i
o
n
a
i
s
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
E
l
c
t
r
i
c
a
s
D
i
m
e
t
r
o
R
e
s
i
s
t
n
c
i
a
S
e
c
o
E
s
p
e
s
s
u
r
a
s
o
b
r
e
E
s
p
e
s
s
u
r
a
D
i
m
e
t
r
o
P
e
s
o
e
l
c
t
r
i
c
a
D
C
a
R
e
s
i
s
t
n
c
i
a
e
l
c
t
r
i
c
a
C
a
p
a
c
i
d
a
d
e
I
n
d
u
t
n
c
i
a
R
e
a
t
n
c
i
a
I
m
p
e
d
n
c
i
a
N
o
m
i
n
a
l
I
s
o
l
a
o
I
s
o
l
a
o
B
a
n
h
a
e
x
t
e
r
i
o
r
A
p
r
o
x
i
m
a
d
o
2
0
C
(
O
/
K
m
)
A
C
a
9
0
C
C
L
X
L
Z
9
0
C
(
m
m
)
(
m
m
)
(
m
m
)
(
m
m
)
(
m
m
)
(
k
g
/
k
m
)
(
O
/
K
m
)
(
F
/
k
m
)
(
m
H
/
k
m
)
(
O
/
k
m
)
(
O
/
k
m
)
A
l
C
u
A
l
C
u
A
l
C
u
A
l
C
u
3
5
1
9
.
6
1
.
8
2
7
.
0
7
7
0
9
8
0
0
.
8
6
8
0
.
5
2
4
1
.
1
1
3
0
.
6
6
8
0
.
1
7
0
.
4
5
7
0
.
1
4
4
1
.
1
2
0
.
6
8
5
0
2
0
.
6
1
.
8
2
8
.
0
8
3
0
1
1
3
0
0
.
6
4
1
0
.
3
8
7
0
.
8
2
2
0
.
4
9
3
0
.
1
8
0
.
4
3
8
0
.
1
3
8
0
.
8
3
0
.
5
1
7
0
2
2
.
4
1
.
9
3
0
.
0
9
6
0
1
3
8
0
0
.
4
4
3
0
.
2
6
8
0
.
5
6
8
0
.
3
4
2
0
.
2
1
0
.
4
1
1
0
.
1
2
9
0
.
5
8
0
.
3
7
9
5
2
4
.
0
1
.
9
3
1
.
5
1
0
8
0
1
6
6
0
0
.
3
2
0
0
.
1
9
3
0
.
4
1
0
0
.
2
4
6
0
.
2
3
0
.
3
9
1
0
.
1
2
3
0
.
4
3
0
.
2
8
1
2
0
2
5
.
6
2
.
0
3
3
.
5
1
2
1
0
1
9
4
0
0
.
2
5
3
0
.
1
5
3
0
.
3
2
4
0
.
1
9
5
0
.
2
5
0
.
3
7
6
0
.
1
1
8
0
.
3
5
0
.
2
3
1
5
0
5
.
5
2
6
.
9
2
.
0
3
4
.
5
1
3
2
0
2
2
2
0
0
.
2
0
6
0
.
1
2
4
0
.
2
6
4
0
.
1
5
8
0
.
2
6
0
.
3
6
5
0
.
1
1
5
0
.
2
9
0
.
2
0
1
8
5
2
9
.
0
2
.
1
3
7
.
0
1
5
0
0
2
6
3
0
0
.
1
6
4
0
.
0
9
9
0
.
2
1
0
0
.
1
2
6
0
.
2
9
0
.
3
5
0
0
.
1
1
0
0
.
2
4
0
.
1
7
2
4
0
3
1
.
1
2
.
1
3
9
.
0
1
7
1
0
3
2
0
0
0
.
1
2
5
0
.
0
7
5
0
.
1
6
0
0
.
0
9
6
0
.
3
2
0
.
3
3
7
0
.
1
0
6
0
.
1
9
0
.
1
4
3
0
0
3
3
.
4
2
.
2
4
1
.
5
1
9
9
0
3
8
3
0
0
.
1
0
0
0
.
0
6
0
0
.
1
2
8
0
.
0
7
7
0
.
3
5
0
.
3
2
6
0
.
1
0
3
0
.
1
6
0
.
1
3
4
0
0
3
6
.
1
2
.
3
4
4
.
5
2
3
1
0
4
6
6
0
0
.
0
7
8
0
.
0
4
7
0
.
1
0
0
0
.
0
6
0
0
.
3
8
0
.
3
1
5
0
.
0
9
9
0
.
1
4
0
.
1
2
5
0
0
3
9
.
1
2
.
4
4
7
.
5
2
7
1
0
5
8
0
0
0
.
0
6
1
0
.
0
3
7
0
.
0
7
8
0
.
0
4
7
0
.
4
2
0
.
3
0
5
0
.
0
9
6
0
.
1
2
0
.
1
1
6
3
0
4
3
.
1
2
.
5
5
2
.
0
3
2
1
0
7
1
5
0
0
.
0
4
7
0
.
0
2
8
0
.
0
6
0
0
.
0
3
6
0
.
4
7
0
.
2
9
4
0
.
0
9
2
0
.
1
1
0
.
1
0
N
o
t
a
:
O
s
v
a
l
o
r
e
s
d
a
t
a
b
e
l
a
s
o
f
o
r
n
e
c
i
d
o
s
a
t
t
u
l
o
i
n
d
i
c
a
t
i
v
o
,
c
o
n
s
i
d
e
r
a
n
d
o
u
m
a
i
n
s
t
a
l
a
o
e
m
t
r
e
v
o
j
u
n
t
i
v
o
.
CAPTULO V
312
GUIA TCNICO
Q
u
a
d
r
o
1
3
6
-
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
T
c
n
i
c
a
s
C
a
b
o
M
o
n
o
p
o
l
a
r
L
X
H
I
V
/
L
X
H
I
O
V
/
X
H
I
V
/
X
H
I
O
V
T
e
n
s
o
-
1
8
/
3
0
k
V
D
e
s
c
r
i
o
:
1
-
A
l
m
a
r
g
i
d
a
e
m
a
l
u
m
n
i
o
o
u
c
o
b
r
e
2
-
B
a
n
h
a
s
e
m
i
c
o
n
d
u
t
o
r
a
i
n
t
e
r
i
o
r
3
-
I
s
o
l
a
o
e
m
P
E
X
4
-
C
a
m
a
d
a
s
e
m
i
c
o
n
d
u
t
o
r
a
e
x
t
e
r
i
o
r
5
-
c
r
a
n
m
e
t
l
i
c
o
e
m
c
o
b
r
e
(
f
i
t
a
o
u
f
i
o
s
e
f
i
t
a
)
6
-
B
a
n
h
a
e
x
t
e
r
i
o
r
e
m
P
V
C
(
p
o
d
e
r
s
e
r
e
m
P
E
,
s
o
b
e
n
c
o
m
e
n
d
a
)
.
1
2
3
4
5
6
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
D
i
m
e
n
s
i
o
n
a
i
s
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
E
l
c
t
r
i
c
a
s
D
i
m
e
t
r
o
R
e
s
i
s
t
n
c
i
a
S
e
c
o
E
s
p
e
s
s
u
r
a
s
o
b
r
e
E
s
p
e
s
s
u
r
a
D
i
m
e
t
r
o
P
e
s
o
e
l
c
t
r
i
c
a
D
C
a
R
e
s
i
s
t
n
c
i
a
e
l
c
t
r
i
c
a
C
a
p
a
c
i
d
a
d
e
I
n
d
u
t
n
c
i
a
R
e
a
t
n
c
i
a
I
m
p
e
d
n
c
i
a
N
o
m
i
n
a
l
I
s
o
l
a
o
I
s
o
l
a
o
B
a
n
h
a
e
x
t
e
r
i
o
r
A
p
r
o
x
i
m
a
d
o
2
0
C
(
O
/
K
m
)
A
C
a
9
0
C
C
L
X
L
Z
9
0
C
(
m
m
)
(
m
m
)
(
m
m
)
(
m
m
)
(
m
m
)
(
k
g
/
k
m
)
(
O
/
K
m
)
(
F
/
k
m
)
(
m
H
/
k
m
)
(
O
/
k
m
)
(
O
/
k
m
)
A
l
C
u
A
l
C
u
A
l
C
u
A
l
C
u
3
5
2
4
.
6
1
.
9
3
2
.
0
1
0
1
0
1
2
2
0
0
.
8
6
8
0
.
5
2
4
1
.
1
1
3
0
.
6
6
8
0
.
1
3
0
.
4
9
3
0
.
1
5
5
1
.
1
2
0
.
6
9
5
0
2
5
.
6
2
.
0
3
3
.
5
1
0
9
0
1
3
8
0
0
.
6
4
1
0
.
3
8
7
0
.
8
2
2
0
.
4
9
3
0
.
1
4
0
.
4
7
3
0
.
1
4
9
0
.
8
4
0
.
5
2
7
0
2
7
.
4
2
.
0
3
5
.
0
1
2
2
0
1
6
4
0
0
.
4
4
3
0
.
2
6
8
0
.
5
6
8
0
.
3
4
2
0
.
1
6
0
.
4
4
3
0
.
1
3
9
0
.
5
8
0
.
3
7
9
5
2
9
.
0
2
.
1
3
7
.
0
1
3
6
0
1
9
4
0
0
.
3
2
0
0
.
1
9
3
0
.
4
1
0
0
.
2
4
6
0
.
1
7
0
.
4
2
3
0
.
1
3
3
0
.
4
3
0
.
2
8
1
2
0
3
0
.
6
2
.
1
3
9
.
0
1
4
9
0
2
2
2
0
0
.
2
5
3
0
.
1
5
3
0
.
3
2
4
0
.
1
9
5
0
.
1
9
0
.
4
0
5
0
.
1
2
7
0
.
3
5
0
.
2
3
1
5
0
8
.
0
3
1
.
9
2
.
2
4
0
.
0
1
6
3
0
2
5
4
0
0
.
2
0
6
0
.
1
2
4
0
.
2
6
4
0
.
1
5
8
0
.
2
0
0
.
3
9
4
0
.
1
2
4
0
.
2
9
0
.
2
0
1
8
5
3
4
.
0
2
.
2
4
2
.
0
1
8
1
0
2
9
4
0
0
.
1
6
4
0
.
0
9
9
0
.
2
1
0
0
.
1
2
6
0
.
2
2
0
.
3
7
7
0
.
1
1
8
0
.
2
4
0
.
1
7
2
4
0
3
6
.
1
2
.
3
4
4
.
5
2
0
6
0
3
5
5
0
0
.
1
2
5
0
.
0
7
5
0
.
1
6
0
0
.
0
9
6
0
.
2
4
0
.
3
6
3
0
.
1
1
4
0
.
2
0
0
.
1
5
3
0
0
3
8
.
4
2
.
4
4
7
.
0
2
3
6
0
4
2
0
0
0
.
1
0
0
0
.
0
6
0
0
.
1
2
8
0
.
0
7
7
0
.
2
6
0
.
3
5
1
0
.
1
1
0
0
.
1
7
0
.
1
3
4
0
0
4
1
.
1
2
.
5
5
0
.
0
2
7
0
0
5
0
6
0
0
.
0
7
8
0
.
0
4
7
0
.
1
0
0
0
.
0
6
0
0
.
2
8
0
.
3
3
8
0
.
1
0
6
0
.
1
5
0
.
1
2
5
0
0
4
4
.
1
2
.
6
5
3
.
0
3
1
3
0
6
2
2
0
0
.
0
6
1
0
.
0
3
7
0
.
0
7
8
0
.
0
4
7
0
.
3
1
0
.
3
2
7
0
.
1
0
3
0
.
1
3
0
.
1
1
6
3
0
4
8
.
1
2
.
7
5
7
.
5
3
6
7
0
7
6
1
0
0
.
0
4
7
0
.
0
2
8
0
.
0
6
0
0
.
0
3
6
0
.
3
4
0
.
3
1
4
0
.
0
9
9
0
.
1
2
0
.
1
1
N
o
t
a
:
O
s
v
a
l
o
r
e
s
d
a
t
a
b
e
l
a
s
o
f
o
r
n
e
c
i
d
o
s
a
t
t
u
l
o
i
n
d
i
c
a
t
i
v
o
,
c
o
n
s
i
d
e
r
a
n
d
o
u
m
a
i
n
s
t
a
l
a
o
e
m
t
r
e
v
o
j
u
n
t
i
v
o
.
CARACTERSTICAS TCNICAS DOS CONDUTORES DE ENERGIA E CABOS ELCTRICOS
313
GUIA TCNICO
5.5.2.1 - Intensidade em regime permanente para cabos monopolares
mm2 Al. Cu Al. Cu Al. Cu Al. Cu Al. Cu Al. Cu Al. Cu
16 84 109 88 113 80 103 81 104 97 125 99 128 116 150
26 108 140 112 144 102 132 103 133 127 163 130 167 153 196
36 129 166 134 172 122 157 123 159 154 198 157 203 185 238
60 152 196 157 203 144 186 146 188 184 238 189 243 222 286
70 186 239 192 246 176 227 178 229 230 296 236 303 278 356
96 221 285 229 293 210 271 213 274 280 361 287 369 338 434
120 252 323 260 332 240 308 242 311 324 417 332 426 391 500
160 281 361 288 366 267 343 271 347 368 473 376 481 440 559
186 317 406 324 410 303 387 307 391 424 543 432 550 504 637
240 367 469 373 470 351 447 356 453 502 641 511 647 593 745
300 414 526 419 524 397 504 402 510 577 735 586 739 677 846
400 470 590 466 572 451 564 457 571 673 845 676 837 769 938
Esteira horizontal Esteira horizontal
Cabos enterrados directamente
no solo
Cabos entubados lnstalao ao ar
Seco
Nominal
condutor
Trevo Juntivo Esteira horizontal Trevo juntivo Esteira horizontal Trevo Juntivo
mm2 Al. Cu Al. Cu Al. Cu Al. Cu Al. Cu Al. Cu Al. Cu
16 82 106 84 109 77 99 78 100 90 116 92 119 107 138
26 105 136 109 140 99 128 100 129 119 153 121 156 141 181
36 126 162 130 167 118 153 120 154 144 186 147 190 171 221
60 149 192 153 198 140 181 142 183 174 224 178 229 207 266
70 182 234 188 242 172 222 174 224 218 280 223 287 259 334
96 217 280 224 289 206 266 208 269 266 343 273 352 317 409
120 247 319 256 329 235 303 238 306 309 398 317 407 368 474
160 277 357 287 369 264 341 267 344 352 454 361 465 419 540
186 314 403 325 417 300 386 303 390 406 522 417 534 484 621
240 364 467 377 484 350 449 354 454 483 619 495 634 575 736
300 411 526 426 545 397 509 401 515 556 712 570 728 659 843
400 471 597 487 618 456 580 462 588 651 825 667 843 770 977
Seco
Nominal
condutor
Cabos enterrados directamente
no solo
Cabos entubados lnstalao ao ar
Trevo Juntivo Esteira horizontal Trevo juntivo Esteira horizontal Trevo Juntivo Esteira horizontal Esteira horizontal
Quadro 137- Cabos monopolares isolados a XLPE
Tenso 3,6/6 kV a 18/30 kV
Quadro 137A - Cabos monopolares isolados a EPR/HEPR
Tenso 3,6/6 kV a 18/30 kV
Temperatura mxima do condutor 90C
Temperatura mxima ao ar livre 30C
Temperatura mxima do solo 20C
Profundidade de instalao 0,8m
Resistncia trmica do solo 1,5K.m/W
Resistncia trmica nos tubos 1,2K.m/W
Modo de ligao das blindagens - Ligao terra em ambas as extremidade
CAPTULO V
314
GUIA TCNICO
5.5.2.2 - Cabo Tripolar LXHIAV / LXHIOAV / XHIAV / XHIOAV
Tenses: 6/10 kV, 8, 7/15 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
Descrio:
1- Alma rgida em alumnio ou cobre
2 - Bainha semi-condutora extrudida
3 - Camada isolante em PEX
4 - Bainha semi-condutora extrudida
5 - Fita semi-condutora
6 - cran metlico em cobre
7 - Bainha de enchimento
8 - Armadura em fita de ao
9 - Bainha exterior
Quadro 138 - Caractersticas Dimensionais
Figura 70 - Cabo tripolar
CARACTERSTICAS TCNICAS DOS CONDUTORES DE ENERGIA E CABOS ELCTRICOS
315
GUIA TCNICO
5 6
5.5.2.3 - Cabos Auto-suportados (S) trimonopolares cableados
subterrneos e toradas areas
(isolamento em PEX)
Tenses: 6/10 kV, 8,7/15 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
Descrio:
Torada area Trimonopolar
1 - Alma rgida em alumnio 1 - Alma rgida em alumnio
2 - Camada semi-condutora extrudida 2 - Camada semi-condutora extrudida
3 - Camada isolante em PEX 3 - Camada isolante em PEX
4 - Camada semi-condutora extrudida 4 - Camada semi-condutora extrudida
5 - cran metlico em cobre 5 - cran metlico em cobre
6 - Fita hidroexpansiva (opcional) 6 - Fita hidroexpansiva (opcional)
7 - Bainha em PVC, PEX ou PE 7 - Bainha em PVC, PEX ou PE
8 - Bainha em PVC, PEX ou PE
9 - Tensor em ao
Quadro 139 - Caractersticas Dimensionais / Intensidade em Regime Permanente
(*) Fabrico para 18/30 kV sob encomenda.
(**) Com cabo portador de 50 mm
2
de ao. Outras seces do cabo portador podem ser fornecidas,
sob pedido.
7 2 1 3
8 9
4 5 6 7 2 1 3 4
Figura 71b - Cabo trimonopolar Cableado Subeterrneo (T) Figura 71a - Torada Area (TA)
CAPTULO V
316
GUIA TCNICO
5.5.2.4 - Intensidade em regime permanente para cabos tripolares
mm2 Al. Cu Al. Cu Al. Cu Al. Cu Al. Cu Al. Cu
16 78 101 67 87 84 109 78 101 68 88 85 110
26 100 129 87 112 110 142 100 129 87 112 111 143
36 119 153 103 133 132 170 119 154 104 134 133 172
60 140 181 122 158 158 204 140 181 123 158 159 205
70 171 221 150 193 196 253 171 220 150 194 196 253
96 203 262 179 231 236 304 204 263 180 232 238 307
120 232 298 205 264 273 351 232 298 206 264 274 352
160 260 334 231 297 309 398 259 332 231 296 309 397
186 294 377 262 336 355 455 293 374 262 335 354 453
240 340 434 305 390 415 531 338 431 304 387 415 529
300 384 489 346 441 475 606 380 482 343 435 472 599
400 438 553 398 501 552 696 432 541 393 492 545 683
Ao ar
Seco
Nominal
condutor
Enterrado
directamente no solo
Enterrado em tubo Ao ar
Enterrado
directamente no solo
Enterrado em tubo
Cabos no armados Cabos armados
mm2 Al. Cu Al. Cu Al. Cu Al. Cu Al. Cu Al. Cu
16 76 98 65 84 80 104 76 98 66 85 81 104
26 97 125 84 109 105 135 97 125 85 109 105 136
36 116 150 101 130 127 164 116 150 101 131 127 164
60 137 176 119 154 151 195 137 177 120 155 153 197
70 167 216 147 189 189 243 168 216 147 190 190 244
96 200 258 176 227 229 296 200 257 176 227 230 296
120 227 292 201 258 263 339 227 292 201 259 264 339
160 255 328 226 291 299 385 254 327 226 291 300 385
186 289 371 257 330 343 441 288 368 257 328 343 439
240 335 429 300 384 406 519 332 424 299 381 402 513
300 378 482 340 434 462 590 374 475 338 429 459 583
400 432 545 392 494 538 678 426 534 387 485 530 666
Enterrado
directamente no solo
Enterrado em tubo Ao ar
Cabos no armados Cabos armados
Seco
Nominal
condutor
Enterrado
directamente no solo
Enterrado em tubo Ao ar
Quadro 140 - Cabos tripolares isolados a XLPE
Tenso 3,6/6 kV a 18/30 kV
Quadro 140A - Cabos tripolares isolados a EPR/HEPR
Tenso 3,6/6 kV a 18/30 kV
Temperatura mxima do condutor 90C
Temperatura mxima ao ar livre 30C
Temperatura mxima do solo 20C
Profundidade de instalao 0,8m
Resistncia trmica do solo 1,5K.m/W
Resistncia trmica nos tubos 1,2K.m/W
Modo de ligao das blindagens - Ligao terra em ambas as extremidade
CARACTERSTICAS TCNICAS DOS CONDUTORES DE ENERGIA E CABOS ELCTRICOS
317
GUIA TCNICO
5.5.3 - Cabos de Alta Tenso
Normas de referncia:
CEI 60840; HD 632 S1
Caractersticas Principais:
Alma condutora: Alumnio ou cobre multifilar compactado
Semicondutor interior: Composto semicondutor extrudido
Isolante: PEX - Polietileno reticulado ou HEPR - Borracha de
etileno propileno de alto mdulo de elasticidade
Semicondutor interior: Composto semicondutor extrudido
Blindagem: Fios e fita de cobre ou fita de cobre
Bainha exterior: PVC ou PE (de baixa, mdia ou alta densidade)
Caractersticas de bloqueio penetraao de humidade:
Estanquidade: longitudinal No condutor e/ou na blindagem, conforme
defenido no Capitulo I, pargrafo 1.2.6
Colocada apenas sob encomenda
Estanquidade: transversal Sob a bainha exterior, por aplicao de fitas
metlicas aderentes bainha exterior
Colocada apenas sob encomenda
Tipos de Cabo:
Figura 72 - Cabo monopolar
Nota:
1 - Os quadros 141 ao 145, apresentam as caractersticas dimensionais e elctricas das composies mais simples dos cabos
26/45kV, 36/60kV, 64/110kV, 76/138kV, e 87/150kV. Dadas as particularidades das instalaes de Alta Tenso, as intensidades
admissveis no esto indicadas, mas podero ser fornecidas mediante indicao das condies de instalao.
2 - Nos pontos 5.5.3.1 so apresentados os cabos de 36/60kV adoptados pela EDP - Electricidade de Portugal, incluindo
capacidade de transporte nas condies de instalao indicadas MS DMA C33 - 281/N, caractrsticas dimensionais e elctricas.
CAPTULO V
318
GUIA TCNICO
Q
u
a
d
r
o
1
4
1
-
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
T
c
n
i
c
a
s
C
a
b
o
M
o
n
o
p
o
l
a
r
L
X
H
I
V
/
L
X
H
I
O
V
/
X
H
I
V
/
X
H
I
O
V
T
e
n
s
o
-
2
6
/
4
5
k
V
D
e
s
c
r
i
o
:
1
-
A
l
m
a
r
g
i
d
a
e
m
a
l
u
m
n
i
o
o
u
c
o
b
r
e
2
-
B
a
n
h
a
s
e
m
i
c
o
n
d
u
t
o
r
a
i
n
t
e
r
i
o
r
3
-
I
s
o
l
a
o
e
m
P
E
X
4
-
C
a
m
a
d
a
s
e
m
i
c
o
n
d
u
t
o
r
a
e
x
t
e
r
i
o
r
5
-
c
r
a
n
m
e
t
l
i
c
o
e
m
c
o
b
r
e
(
f
i
t
a
o
u
f
i
o
s
e
f
i
t
a
)
6
-
B
a
n
h
a
e
x
t
e
r
i
o
r
e
m
P
V
C
(
p
o
d
e
r
s
e
r
e
m
P
E
,
s
o
b
e
n
c
o
m
e
n
d
a
)
.
1
2
3
4
5
6
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
D
i
m
e
n
s
i
o
n
a
i
s
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
E
l
c
t
r
i
c
a
s
D
i
m
e
t
r
o
R
e
s
i
s
t
n
c
i
a
S
e
c
o
E
s
p
e
s
s
u
r
a
s
o
b
r
e
E
s
p
e
s
s
u
r
a
D
i
m
e
t
r
o
P
e
s
o
e
l
c
t
r
i
c
a
D
C
a
R
e
s
i
s
t
n
c
i
a
e
l
c
t
r
i
c
a
C
a
p
a
c
i
d
a
d
e
I
n
d
u
t
n
c
i
a
R
e
a
t
n
c
i
a
I
m
p
e
d
n
c
i
a
N
o
m
i
n
a
l
I
s
o
l
a
o
I
s
o
l
a
o
B
a
n
h
a
e
x
t
e
r
i
o
r
A
p
r
o
x
i
m
a
d
o
2
0
C
(
O
/
K
m
)
A
C
a
9
0
C
C
L
X
L
Z
9
0
C
(
m
m
)
(
m
m
)
(
m
m
)
(
m
m
)
(
m
m
)
(
k
g
/
k
m
)
(
O
/
K
m
)
(
F
/
k
m
)
(
m
H
/
k
m
)
(
O
/
k
m
)
(
O
/
k
m
)
A
l
C
u
A
l
C
u
A
l
C
u
A
l
C
u
1
2
0
3
2
.
0
2
.
2
4
1
.
0
1
6
5
0
2
3
8
0
0
.
2
5
3
0
.
1
5
3
0
.
3
2
4
0
.
1
9
5
0
.
1
8
0
.
4
1
7
0
.
1
3
1
0
.
3
5
0
.
2
4
1
5
0
3
3
.
3
2
.
2
4
2
.
5
1
7
7
0
2
6
8
0
0
.
2
0
6
0
.
1
2
4
0
.
2
6
4
0
.
1
5
8
0
.
1
9
0
.
4
0
5
0
.
1
2
7
0
.
2
9
0
.
2
0
1
8
5
3
5
.
4
2
.
3
4
4
.
5
1
9
9
0
3
1
2
0
0
.
1
6
4
0
.
0
9
9
0
.
2
1
0
0
.
1
2
6
0
.
2
1
0
.
3
8
8
0
.
1
2
2
0
.
2
4
0
.
1
8
2
4
0
3
7
.
5
2
.
4
4
7
.
0
2
2
5
0
3
7
3
0
0
.
1
2
5
0
.
0
7
5
0
.
1
6
0
0
.
0
9
6
0
.
2
3
0
.
3
7
4
0
.
1
1
7
0
.
2
0
0
.
1
5
3
0
0
8
.
5
3
9
.
8
2
.
4
4
9
.
0
2
5
4
0
4
3
7
0
0
.
1
0
0
0
.
0
6
0
0
.
1
2
8
0
.
0
7
7
0
.
2
5
0
.
3
6
0
0
.
1
1
3
0
.
1
7
0
.
1
4
4
0
0
4
2
.
5
2
.
5
5
2
.
0
2
8
9
0
5
2
4
0
0
.
0
7
8
0
.
0
4
7
0
.
1
0
0
0
.
0
6
0
0
.
2
7
0
.
3
4
7
0
.
1
0
9
0
.
1
5
0
.
1
2
5
0
0
4
5
.
5
2
.
6
5
5
.
5
3
3
2
0
6
4
1
0
0
.
0
6
1
0
.
0
3
7
0
.
0
7
8
0
.
0
4
7
0
.
3
0
0
.
3
3
5
0
.
1
0
5
0
.
1
3
0
.
1
2
6
3
0
4
9
.
5
2
.
7
5
9
.
5
3
8
8
0
7
8
2
0
0
.
0
4
7
0
.
0
2
8
0
.
0
6
0
0
.
0
3
6
0
.
3
3
0
.
3
2
2
0
.
1
0
1
0
.
1
2
0
.
1
1
8
0
0
5
3
.
7
2
.
9
6
4
.
0
4
6
4
0
9
5
9
0
0
.
0
3
7
0
.
0
2
2
0
.
0
4
7
0
.
0
2
8
0
.
3
6
0
.
3
1
1
0
.
0
9
8
0
.
1
1
0
.
1
0
1
0
0
0
5
7
.
8
3
.
0
6
8
.
5
5
4
0
0
1
1
5
9
0
0
.
0
2
9
0
.
0
1
8
0
.
0
3
7
0
.
0
2
2
0
.
4
0
0
.
3
0
1
0
.
0
9
5
0
.
1
0
0
.
1
0
N
o
t
a
:
O
s
v
a
l
o
r
e
s
d
a
t
a
b
e
l
a
s
o
f
o
r
n
e
c
i
d
o
s
a
t
t
u
l
o
i
n
d
i
c
a
t
i
v
o
,
c
o
n
s
i
d
e
r
a
n
d
o
u
m
a
i
n
s
t
a
l
a
o
e
m
t
r
e
v
o
j
u
n
t
i
v
o
.
CARACTERSTICAS TCNICAS DOS CONDUTORES DE ENERGIA E CABOS ELCTRICOS
319
GUIA TCNICO
Q
u
a
d
r
o
1
4
2
-
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
T
c
n
i
c
a
s
C
a
b
o
M
o
n
o
p
o
l
a
r
L
X
H
I
V
/
L
X
H
I
O
V
/
X
H
I
V
/
X
H
I
O
V
T
e
n
s
o
-
3
6
/
6
6
k
V
D
e
s
c
r
i
o
:
1
-
A
l
m
a
r
g
i
d
a
e
m
a
l
u
m
n
i
o
o
u
c
o
b
r
e
2
-
B
a
n
h
a
s
e
m
i
c
o
n
d
u
t
o
r
a
i
n
t
e
r
i
o
r
3
-
I
s
o
l
a
o
e
m
P
E
X
4
-
C
a
m
a
d
a
s
e
m
i
c
o
n
d
u
t
o
r
a
e
x
t
e
r
i
o
r
5
-
c
r
a
n
m
e
t
l
i
c
o
e
m
c
o
b
r
e
(
f
i
t
a
o
u
f
i
o
s
e
f
i
t
a
)
6
-
B
a
n
h
a
e
x
t
e
r
i
o
r
e
m
P
V
C
(
p
o
d
e
r
s
e
r
e
m
P
E
,
s
o
b
e
n
c
o
m
e
n
d
a
)
.
1
2
3
4
5
6
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
D
i
m
e
n
s
i
o
n
a
i
s
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
E
l
c
t
r
i
c
a
s
D
i
m
e
t
r
o
R
e
s
i
s
t
n
c
i
a
S
e
c
o
E
s
p
e
s
s
u
r
a
s
o
b
r
e
E
s
p
e
s
s
u
r
a
D
i
m
e
t
r
o
P
e
s
o
e
l
c
t
r
i
c
a
D
C
a
R
e
s
i
s
t
n
c
i
a
e
l
c
t
r
i
c
a
C
a
p
a
c
i
d
a
d
e
I
n
d
u
t
n
c
i
a
R
e
a
t
n
c
i
a
I
m
p
e
d
n
c
i
a
N
o
m
i
n
a
l
I
s
o
l
a
o
I
s
o
l
a
o
B
a
n
h
a
e
x
t
e
r
i
o
r
A
p
r
o
x
i
m
a
d
o
2
0
C
(
O
/
K
m
)
A
C
a
9
0
C
C
L
X
L
Z
9
0
C
(
m
m
)
(
m
m
)
(
m
m
)
(
m
m
)
(
m
m
)
(
k
g
/
k
m
)
(
O
/
K
m
)
(
F
/
k
m
)
(
m
H
/
k
m
)
(
O
/
k
m
)
(
O
/
k
m
)
A
l
C
u
A
l
C
u
A
l
C
u
A
l
C
u
1
2
0
3
5
.
0
2
.
3
4
4
.
0
1
8
6
0
2
5
9
0
0
.
2
5
3
0
.
1
5
3
0
.
3
2
4
0
.
1
9
5
0
.
1
6
0
.
4
3
2
0
.
1
3
6
0
.
3
5
0
.
2
4
1
5
0
3
6
.
3
2
.
3
4
5
.
5
1
9
9
0
2
9
0
0
0
.
2
0
6
0
.
1
2
4
0
.
2
6
4
0
.
1
5
8
0
.
1
7
0
.
4
1
9
0
.
1
3
2
0
.
3
0
0
.
2
1
1
8
5
3
8
.
4
2
.
4
4
8
.
0
2
2
2
0
3
3
4
0
0
.
1
6
4
0
.
0
9
9
0
.
2
1
0
0
.
1
2
6
0
.
1
9
0
.
4
0
2
0
.
1
2
6
0
.
2
5
0
.
1
8
2
4
0
4
0
.
5
2
.
5
5
0
.
0
2
4
9
0
3
9
7
0
0
.
1
2
5
0
.
0
7
5
0
.
1
6
0
0
.
0
9
6
0
.
2
0
0
.
3
8
7
0
.
1
2
2
0
.
2
0
0
.
1
6
3
0
0
1
0
.
0
4
2
.
8
2
.
5
5
2
.
5
2
7
9
0
4
6
3
0
0
.
1
0
0
0
.
0
6
0
0
.
1
2
8
0
.
0
7
7
0
.
2
2
0
.
3
7
3
0
.
1
1
7
0
.
1
7
0
.
1
4
4
0
0
4
5
.
5
2
.
6
5
5
.
5
3
1
5
0
5
5
1
0
0
.
0
7
8
0
.
0
4
7
0
.
1
0
0
0
.
0
6
0
0
.
2
4
0
.
3
5
9
0
.
1
1
3
0
.
1
5
0
.
1
3
5
0
0
4
8
.
5
2
.
7
5
8
.
5
3
6
1
0
6
7
0
0
0
.
0
6
1
0
.
0
3
7
0
.
0
7
8
0
.
0
4
7
0
.
2
6
0
.
3
4
6
0
.
1
0
9
0
.
1
3
0
.
1
2
6
3
0
5
2
.
5
2
.
8
6
2
.
5
4
1
8
0
8
1
2
0
0
.
0
4
7
0
.
0
2
8
0
.
0
6
0
0
.
0
3
6
0
.
2
9
0
.
3
3
2
0
.
1
0
4
0
.
1
2
0
.
1
1
8
0
0
5
6
.
7
3
.
0
6
7
.
5
4
9
7
0
9
9
2
0
0
.
0
3
7
0
.
0
2
2
0
.
0
4
7
0
.
0
2
8
0
.
3
2
0
.
3
2
1
0
.
1
0
1
0
.
1
1
0
.
1
0
1
0
0
0
6
0
.
8
3
.
1
7
1
.
5
5
7
5
0
1
1
9
4
0
0
.
0
2
9
0
.
0
1
8
0
.
0
3
7
0
.
0
2
2
0
.
3
5
0
.
3
1
1
0
.
0
9
8
0
.
1
0
0
.
1
0
N
o
t
a
:
O
s
v
a
l
o
r
e
s
d
a
t
a
b
e
l
a
s
o
f
o
r
n
e
c
i
d
o
s
a
t
t
u
l
o
i
n
d
i
c
a
t
i
v
o
,
c
o
n
s
i
d
e
r
a
n
d
o
u
m
a
i
n
s
t
a
l
a
o
e
m
t
r
e
v
o
j
u
n
t
i
v
o
.
CAPTULO V
320
GUIA TCNICO
Q
u
a
d
r
o
1
4
3
-
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
T
c
n
i
c
a
s
C
a
b
o
M
o
n
o
p
o
l
a
r
L
X
H
I
V
/
L
X
H
I
O
V
/
X
H
I
V
/
X
H
I
O
V
T
e
n
s
o
-
6
4
/
1
1
0
k
V
D
e
s
c
r
i
o
:
1
-
A
l
m
a
r
g
i
d
a
e
m
a
l
u
m
n
i
o
o
u
c
o
b
r
e
2
-
B
a
n
h
a
s
e
m
i
c
o
n
d
u
t
o
r
a
i
n
t
e
r
i
o
r
3
-
I
s
o
l
a
o
e
m
P
E
X
4
-
C
a
m
a
d
a
s
e
m
i
c
o
n
d
u
t
o
r
a
e
x
t
e
r
i
o
r
5
-
c
r
a
n
m
e
t
l
i
c
o
e
m
c
o
b
r
e
(
f
i
t
a
o
u
f
i
o
s
e
f
i
t
a
)
6
-
B
a
n
h
a
e
x
t
e
r
i
o
r
e
m
P
V
C
(
p
o
d
e
r
s
e
r
e
m
P
E
,
s
o
b
e
n
c
o
m
e
n
d
a
)
.
1
2
3
4
5
6
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
D
i
m
e
n
s
i
o
n
a
i
s
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
E
l
c
t
r
i
c
a
s
D
i
m
e
t
r
o
R
e
s
i
s
t
n
c
i
a
S
e
c
o
E
s
p
e
s
s
u
r
a
s
o
b
r
e
E
s
p
e
s
s
u
r
a
D
i
m
e
t
r
o
P
e
s
o
e
l
c
t
r
i
c
a
D
C
a
R
e
s
i
s
t
n
c
i
a
e
l
c
t
r
i
c
a
C
a
p
a
c
i
d
a
d
e
I
n
d
u
t
n
c
i
a
R
e
a
t
n
c
i
a
I
m
p
e
d
n
c
i
a
N
o
m
i
n
a
l
I
s
o
l
a
o
I
s
o
l
a
o
B
a
n
h
a
e
x
t
e
r
i
o
r
A
p
r
o
x
i
m
a
d
o
2
0
C
(
O
/
K
m
)
A
C
a
9
0
C
C
L
X
L
Z
9
0
C
(
m
m
)
(
m
m
)
(
m
m
)
(
m
m
)
(
m
m
)
(
k
g
/
k
m
)
(
O
/
K
m
)
(
F
/
k
m
)
(
m
H
/
k
m
)
(
O
/
k
m
)
(
O
/
k
m
)
A
l
C
u
A
l
C
u
A
l
C
u
A
l
C
u
2
4
0
5
2
.
5
2
.
9
6
3
.
0
3
6
1
0
5
1
0
0
0
.
1
2
5
0
.
0
7
5
0
.
1
6
0
0
.
0
9
6
0
.
1
5
0
.
4
3
3
0
.
1
3
6
0
.
2
1
0
.
1
7
3
0
0
5
4
.
8
2
.
9
6
5
.
0
3
9
6
0
5
7
9
0
0
.
1
0
0
0
.
0
6
0
0
.
1
2
8
0
.
0
7
7
0
.
1
6
0
.
4
1
7
0
.
1
3
1
0
.
1
8
0
.
1
5
4
0
0
5
7
.
5
3
.
1
6
8
.
5
4
4
1
0
6
7
7
0
0
.
0
7
8
0
.
0
4
7
0
.
1
0
0
0
.
0
6
0
0
.
1
7
0
.
4
0
1
0
.
1
2
6
0
.
1
6
0
.
1
4
5
0
0
1
6
.
0
6
0
.
5
3
.
1
7
1
.
5
4
9
0
0
7
9
9
0
0
.
0
6
1
0
.
0
3
7
0
.
0
7
8
0
.
0
4
7
0
.
1
8
0
.
3
8
6
0
.
1
2
1
0
.
1
4
0
.
1
3
6
3
0
6
4
.
5
3
.
3
7
5
.
5
5
5
9
0
9
5
3
0
0
.
0
4
7
0
.
0
2
8
0
.
0
6
0
0
.
0
3
6
0
.
2
0
0
.
3
7
0
0
.
1
1
6
0
.
1
3
0
.
1
2
8
0
0
6
8
.
7
3
.
4
8
0
.
0
6
4
3
0
1
1
3
8
0
0
.
0
3
7
0
.
0
2
2
0
.
0
4
7
0
.
0
2
8
0
.
2
2
0
.
3
5
5
0
.
1
1
2
0
.
1
2
0
.
1
2
1
0
0
0
7
2
.
8
3
.
5
8
4
.
5
7
3
0
0
1
3
4
9
0
0
.
0
2
9
0
.
0
1
8
0
.
0
3
7
0
.
0
2
2
0
.
2
4
0
.
3
4
4
0
.
1
0
8
0
.
1
1
0
.
1
1
N
o
t
a
:
O
s
v
a
l
o
r
e
s
d
a
t
a
b
e
l
a
s
o
f
o
r
n
e
c
i
d
o
s
a
t
t
u
l
o
i
n
d
i
c
a
t
i
v
o
,
c
o
n
s
i
d
e
r
a
n
d
o
u
m
a
i
n
s
t
a
l
a
o
e
m
t
r
e
v
o
j
u
n
t
i
v
o
.
CARACTERSTICAS TCNICAS DOS CONDUTORES DE ENERGIA E CABOS ELCTRICOS
321
GUIA TCNICO
Q
u
a
d
r
o
1
4
4
-
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
T
c
n
i
c
a
s
C
a
b
o
M
o
n
o
p
o
l
a
r
L
X
H
I
V
/
L
X
H
I
O
V
/
X
H
I
V
/
X
H
I
O
V
T
e
n
s
o
-
7
6
/
1
3
8
k
V
D
e
s
c
r
i
o
:
1
-
A
l
m
a
r
g
i
d
a
e
m
a
l
u
m
n
i
o
o
u
c
o
b
r
e
2
-
B
a
n
h
a
s
e
m
i
c
o
n
d
u
t
o
r
a
i
n
t
e
r
i
o
r
3
-
I
s
o
l
a
o
e
m
P
E
X
4
-
C
a
m
a
d
a
s
e
m
i
c
o
n
d
u
t
o
r
a
e
x
t
e
r
i
o
r
5
-
c
r
a
n
m
e
t
l
i
c
o
e
m
c
o
b
r
e
(
f
i
t
a
o
u
f
i
o
s
e
f
i
t
a
)
6
-
B
a
n
h
a
e
x
t
e
r
i
o
r
e
m
P
V
C
(
p
o
d
e
r
s
e
r
e
m
P
E
,
s
o
b
e
n
c
o
m
e
n
d
a
)
.
1
2
3
4
5
6
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
D
i
m
e
n
s
i
o
n
a
i
s
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
E
l
c
t
r
i
c
a
s
D
i
m
e
t
r
o
R
e
s
i
s
t
n
c
i
a
S
e
c
o
E
s
p
e
s
s
u
r
a
s
o
b
r
e
E
s
p
e
s
s
u
r
a
D
i
m
e
t
r
o
P
e
s
o
e
l
c
t
r
i
c
a
D
C
a
R
e
s
i
s
t
n
c
i
a
e
l
c
t
r
i
c
a
C
a
p
a
c
i
d
a
d
e
I
n
d
u
t
n
c
i
a
R
e
a
t
n
c
i
a
I
m
p
e
d
n
c
i
a
N
o
m
i
n
a
l
I
s
o
l
a
o
I
s
o
l
a
o
B
a
n
h
a
e
x
t
e
r
i
o
r
A
p
r
o
x
i
m
a
d
o
2
0
C
(
O
/
K
m
)
A
C
a
9
0
C
C
L
X
L
Z
9
0
C
(
m
m
)
(
m
m
)
(
m
m
)
(
m
m
)
(
m
m
)
(
k
g
/
k
m
)
(
O
/
K
m
)
(
F
/
k
m
)
(
m
H
/
k
m
)
(
O
/
k
m
)
(
O
/
k
m
)
A
l
C
u
A
l
C
u
A
l
C
u
A
l
C
u
2
4
0
5
6
.
5
3
.
0
6
7
.
0
4
0
3
0
5
5
2
0
0
.
1
2
5
0
.
0
7
5
0
.
1
6
0
0
.
0
9
6
0
.
1
4
0
.
4
4
6
0
.
1
4
0
0
.
2
1
0
.
1
7
3
0
0
5
8
.
8
3
.
1
6
9
.
5
4
4
2
0
6
2
6
0
0
.
1
0
0
0
.
0
6
0
0
.
1
2
8
0
.
0
7
7
0
.
1
5
0
.
4
3
0
0
.
1
3
5
0
.
1
9
0
.
1
6
4
0
0
6
1
.
5
3
.
2
7
2
.
5
4
8
7
0
7
2
2
0
0
.
0
7
8
0
.
0
4
7
0
.
1
0
0
0
.
0
6
0
0
.
1
6
0
.
4
1
3
0
.
1
3
0
0
.
1
6
0
.
1
4
5
0
0
1
8
.
0
6
4
.
5
3
.
3
7
5
.
5
5
4
1
0
8
5
0
0
0
.
0
6
1
0
.
0
3
7
0
.
0
7
8
0
.
0
4
7
0
.
1
7
0
.
3
9
8
0
.
1
2
5
0
.
1
5
0
.
1
3
6
3
0
6
8
.
5
3
.
4
8
0
.
0
6
0
9
0
1
0
0
3
0
0
.
0
4
7
0
.
0
2
8
0
.
0
6
0
0
.
0
3
6
0
.
1
9
0
.
3
8
1
0
.
1
2
0
0
.
1
3
0
.
1
2
8
0
0
7
2
.
7
3
.
5
8
4
.
5
6
9
7
0
1
1
9
2
0
0
.
0
3
7
0
.
0
2
2
0
.
0
4
7
0
.
0
2
8
0
.
2
0
0
.
3
6
6
0
.
1
1
5
0
.
1
2
0
.
1
2
1
0
0
0
7
6
.
8
3
.
7
8
9
.
0
7
9
0
0
1
4
0
9
0
0
.
0
2
9
0
.
0
1
8
0
.
0
3
7
0
.
0
2
2
0
.
2
2
0
.
3
5
4
0
.
1
1
1
0
.
1
2
0
.
1
1
N
o
t
a
:
O
s
v
a
l
o
r
e
s
d
a
t
a
b
e
l
a
s
o
f
o
r
n
e
c
i
d
o
s
a
t
t
u
l
o
i
n
d
i
c
a
t
i
v
o
,
c
o
n
s
i
d
e
r
a
n
d
o
u
m
a
i
n
s
t
a
l
a
o
e
m
t
r
e
v
o
j
u
n
t
i
v
o
.
CAPTULO V
322
GUIA TCNICO
Q
u
a
d
r
o
1
4
5
-
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
T
c
n
i
c
a
s
C
a
b
o
M
o
n
o
p
o
l
a
r
L
X
H
I
V
/
L
X
H
I
O
V
/
X
H
I
V
/
X
H
I
O
V
T
e
n
s
o
-
8
7
/
1
5
0
k
V
D
e
s
c
r
i
o
:
1
-
A
l
m
a
r
g
i
d
a
e
m
a
l
u
m
n
i
o
o
u
c
o
b
r
e
2
-
B
a
n
h
a
s
e
m
i
c
o
n
d
u
t
o
r
a
i
n
t
e
r
i
o
r
3
-
I
s
o
l
a
o
e
m
P
E
X
4
-
C
a
m
a
d
a
s
e
m
i
c
o
n
d
u
t
o
r
a
e
x
t
e
r
i
o
r
5
-
c
r
a
n
m
e
t
l
i
c
o
e
m
c
o
b
r
e
(
f
i
t
a
o
u
f
i
o
s
e
f
i
t
a
)
6
-
B
a
n
h
a
e
x
t
e
r
i
o
r
e
m
P
V
C
(
p
o
d
e
r
s
e
r
e
m
P
E
,
s
o
b
e
n
c
o
m
e
n
d
a
)
.
1
2
3
4
5
6
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
D
i
m
e
n
s
i
o
n
a
i
s
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
E
l
c
t
r
i
c
a
s
D
i
m
e
t
r
o
R
e
s
i
s
t
n
c
i
a
S
e
c
o
E
s
p
e
s
s
u
r
a
s
o
b
r
e
E
s
p
e
s
s
u
r
a
D
i
m
e
t
r
o
P
e
s
o
e
l
c
t
r
i
c
a
D
C
a
R
e
s
i
s
t
n
c
i
a
e
l
c
t
r
i
c
a
C
a
p
a
c
i
d
a
d
e
I
n
d
u
t
n
c
i
a
R
e
a
t
n
c
i
a
I
m
p
e
d
n
c
i
a
N
o
m
i
n
a
l
I
s
o
l
a
o
I
s
o
l
a
o
B
a
n
h
a
e
x
t
e
r
i
o
r
A
p
r
o
x
i
m
a
d
o
2
0
C
(
O
/
K
m
)
A
C
a
9
0
C
C
L
X
L
Z
9
0
C
(
m
m
)
(
m
m
)
(
m
m
)
(
m
m
)
(
m
m
)
(
k
g
/
k
m
)
(
O
/
K
m
)
(
F
/
k
m
)
(
m
H
/
k
m
)
(
O
/
k
m
)
(
O
/
k
m
)
A
l
C
u
A
l
C
u
A
l
C
u
A
l
C
u
2
4
0
6
0
.
5
3
.
2
7
1
.
5
4
5
1
0
6
0
0
0
0
.
1
2
5
0
.
0
7
5
0
.
1
6
0
0
.
0
9
6
0
.
1
3
0
.
4
5
8
0
.
1
4
4
0
.
2
2
0
.
1
7
3
0
0
6
2
.
8
3
.
2
7
4
.
0
4
8
9
0
6
7
3
0
0
.
1
0
0
0
.
0
6
0
0
.
1
2
8
0
.
0
7
7
0
.
1
4
0
.
4
4
1
0
.
1
3
9
0
.
1
9
0
.
1
6
4
0
0
6
5
.
5
3
.
3
7
6
.
5
5
3
5
0
7
7
1
0
0
.
0
7
8
0
.
0
4
7
0
.
1
0
0
0
.
0
6
0
0
.
1
5
0
.
4
2
5
0
.
1
3
3
0
.
1
7
0
.
1
5
5
0
0
2
0
.
0
6
8
.
5
3
.
4
8
0
.
0
5
9
1
0
9
0
0
0
0
.
0
6
1
0
.
0
3
7
0
.
0
7
8
0
.
0
4
7
0
.
1
6
0
.
4
0
9
0
.
1
2
8
0
.
1
5
0
.
1
4
6
3
0
7
2
.
5
3
.
5
8
4
.
0
6
6
3
0
1
0
5
7
0
0
.
0
4
7
0
.
0
2
8
0
.
0
6
0
0
.
0
3
6
0
.
1
7
0
.
3
9
1
0
.
1
2
3
0
.
1
4
0
.
1
3
8
0
0
7
6
.
7
3
.
7
8
8
.
5
7
5
7
0
1
2
5
2
0
0
.
0
3
7
0
.
0
2
2
0
.
0
4
7
0
.
0
2
8
0
.
1
9
0
.
3
7
6
0
.
1
1
8
0
.
1
3
0
.
1
2
1
0
0
0
8
0
.
8
3
.
8
9
3
.
0
8
4
9
0
1
4
6
8
0
0
.
0
2
9
0
.
0
1
8
0
.
0
3
7
0
.
0
2
2
0
.
2
0
0
.
3
6
3
0
.
1
1
4
0
.
1
2
0
.
1
2
N
o
t
a
:
O
s
v
a
l
o
r
e
s
d
a
t
a
b
e
l
a
s
o
f
o
r
n
e
c
i
d
o
s
a
t
t
u
l
o
i
n
d
i
c
a
t
i
v
o
,
c
o
n
s
i
d
e
r
a
n
d
o
u
m
a
i
n
s
t
a
l
a
o
e
m
t
r
e
v
o
j
u
n
t
i
v
o
.
5.5.3.1 - Cabos Isolados de 60kV
As caractersticas dos cabos de Alta Tenso so definidas de forma a garantir
o cumprimento dos ensaios prescritos na normalizao europeia de referncia,
a CEI 60840 e o HD 632 S1.
As empresas distribuidoras de energia definem as caractersticas dos produtos
que incorporam as suas redes, sintetizando-as em especificaes prprias,
definindo:
- As caractersticas e composio dos cabos
- As seces normalizadas adoptadas
- As condies de instalao
- Os ensaios a que devem ser submetidos em fbrica
- Os ensaios a realizar aps instalao
A ttulo de exemplo, indicamos as caractersticas tipo dos cabos isolados de
60kV que a SOLIDAL produz designados por LXHIOLE:
Composio dos cabos LXHIOLE
As caractersticas de algumas das seces normalizadas so indicadas nos
quadros 147 a 149.
ANP 665 (Sistema de designao de cabos elctricos isolados - ver ponto 1.6
da pg. 58) de Julho de 2006 define que a aplicao do smbolo '(cbe) a
seguir designao do cabo, identifica cabos com condutor e blindagem
estanque, ou seja, que possuem bloqueio propagao longitudinal da gua
no condutor e blindagem.
CARACTERSTICAS TCNICAS DOS CONDUTORES DE ENERGIA E CABOS ELCTRICOS
323
GUIA TCNICO
Condutor de alumnio multifilar compactado, possuindo blo-
queio propagao longitudinal da gua
Camada semicondutora sobre o condutor
Isolao em polietileno reticulado
Camada semicondutora sobre o condutor
Blindagem em fios de cobre, possuindo bloqueio propagao
longitudinal da gua
Bainha exterior em polietileno de mdia densidade (ST7), com
bloqueio transversal penetrao de gua por aplicao de
uma fita de alumnio em co-polimero com a bainha exterior
Figura 73 - Cabo Isolado de Alta Tenso
Tipo de instalao Cabos enterrados directamente no solo
Prolundidade de instalao 1.3 m (ao centro do trevo juntivo)
Resistividade termica do solo 1.2 C x m / W
Temperatura maxima do solo a prolundidade de
instalao
20C
Arranjo de cada circuito na vala 3 cabos em trevo juntivo
Distncia entre centros de circuitos (no caso de dois
circuitos trilasicos em operao simultnea)
40 cm - seces de 185 e 400m2
50 cm - seco de 630 mm2
70 cm - seco de 1000 mm2
Modo de ligao das blindagens Ligao a terra em ambas as extremidades da
linha
Sem proximidade com outros cabos e sem travessias Alastamento a outros circuitos superior a
1.5m
Regime de carga
Temperatura de servio no condutor 90C
Tipo de instalao Cabos protegidos da exposio solar directa
lixados directamente a uma parede
Temperatura ambiente maxima (ao nivel do mar) 30C
Modo de ligao das blindagens Ligao a terra em ambas as extremidades da
linha
Regime de carga 24 h 100/
Temperatura de servio no condutor 90C
CAPTULO V
324
GUIA TCNICO
Podem ser utilizadas vrias seces de blindagem adequadas correntes de
defeito prevista na instalao. Por exemplo, so definidas as seces de
blindagem de 60mm2 e 135mm2, para as seguintes correntes de defeito
monofsico:
60mm2, para corrente de curto-circuito de 11 kA/0,6s.
135mm2, para a corrente de curto-circuito de 25 kA/0,6s.
5.5.3.1.1 ~ Condies de instalao
Dada a variedade de combinaes possveis, a ttulo indicativo, apresentamos
no quadro 147 as intensidades nas seguintes condies de instalao:
Cabos directamente enterrados
5.5.3.1.2 ~ Capacidade de transporte
A intensidade mxima em regime permanente condicionada por todos os
parmetros da instalao, pelo que qualquer alterao s condies de insta-
lao indicadas dever ser cuidadosamente analisada para verificar o seu
efeito na capacidade de transporte dos cabos.
Os valores indicados no quadro 147 baseiam-se nas condies de instalao
definidas em 5.5.3.1.1.
Cabos ao ar livre
CARACTERSTICAS TCNICAS DOS CONDUTORES DE ENERGIA E CABOS ELCTRICOS
325
GUIA TCNICO
Cabo
Cabos directamente enterrados Cabos ao ar livre
1 circuito
2 circuitos em
operao
simultnea
1 circuito
2 circuitos em
operao
Simultnea
LXHlOLL (cbe) 1x185/60 36/60kV 335 285 428
LXHlOLL (cbe) 1x400/60 36/60kV 494 417 661
LXHlOLL (cbe) 1x630/60 36/60kV 636 541 878
LXHlOLL (cbe) 1x1000/60 36/60kV 789 685 1115
LXHlOLL (cbe) 1x185/135 36/60kV 331 281 427
481 404 652
609 516 852
742 642 1059
LXHlOLL (cbe) 1x400/135 36/60kV
LXHlOLL (cbe) 1x630/135 36/60kV
LXHlOLL (cbe) 1x1000/135 36/60kV
As intensidades no quadro 147 so indicadas apenas para o caso da ligao
das blindagens terra nos dois extremos da linha ('Both Ends).
Dependendo dos cabos e das exigncias da instalao podero ser utilizados
casos especiais de ligao de blindagens: permutao de blindagens ('Cross-
Bonding) e ligao terra num dos extremos da linha ('Single Point).
Quadro 147 ~ Capacidade de transporte em regime permanente
a) Para utilizao de dois circuitos em operao simultnea a capacidade de transporte ao ar livre no
reduzida desde que:
- O volume de ar e a ventilao natural sejam suficientes para dissipar as per-
das trmicas;
- O espaamento entre ternos de cabos seja superior a 4 x d (sendo do
dimetro exterior do cabo);
- O espaamento entre cabos seja superior a 2 x d (sendo d o dimetro exte-
rior do cabo) ou ternos de cabos;
No mbito do fornecimento de cabos de Alta Tenso a SOLIDAL est
disponvel para:
- Efectuar o apoio na execuo do projecto
- Fornecer os materiais necessrios execuo da obra (cabos, acessrios, .)
- Garantir a execuo dos acessrios
- Realizar a superviso do desenrolamento
- Realizar os ensaios finais
CAPTULO V
326
GUIA TCNICO
S
e
c
o
R
e
s
i
s
t
n
c
i
a
R
e
s
i
s
t
n
c
i
a
C
a
p
a
c
i
d
a
d
e
R
e
a
c
t
n
c
i
a
m
p
e
d
n
c
i
a
n
t
e
n
s
i
d
a
d
e
d
e
c
.
c
.
n
t
e
n
s
i
d
a
d
e
d
e
c
.
c
.
n
o
m
i
n
a
l
m
x
i
m
a
d
o
c
o
n
d
u
t
o
r
m
x
i
m
a
d
a
b
l
i
n
d
a
g
e
m
i
n
d
u
t
i
v
a
a
9
0
C
m
x
i
m
a
n
o
m
x
i
m
a
n
a
c
o
n
d
u
t
o
r
/
b
l
i
n
d
a
g
e
m
2
0
C
/
9
0
C
a
5
0
H
z
2
0
C
c
.
c
.
(
t
r
e
v
o
j
u
n
t
i
v
o
)
c
o
n
d
u
t
o
r
b
l
i
n
d
a
g
e
m
(
m
m
2
)
/
K
m
/
K
m
F
/
K
m
/
K
m
/
K
m
k
A
/
1
s
1
,
0
s
/
0
,
6
s
k
A
1
8
5
/
6
0
0
,
1
6
4
/
0
,
2
1
0
8
0
,
1
6
0
,
1
3
0
,
2
5
1
7
,
4
4
0
0
/
6
0
0
,
0
7
7
8
/
0
,
1
0
1
0
0
,
2
0
0
,
1
2
0
,
1
6
3
7
,
6
6
3
0
/
6
0
0
,
0
4
6
9
/
0
,
0
6
2
5
0
,
2
3
0
,
1
1
0
,
1
3
5
9
,
2
1
0
0
0
/
6
0
0
,
0
2
9
1
/
0
,
0
4
1
3
0
,
2
8
0
,
1
0
0
,
1
1
9
4
,
0
1
8
5
/
1
3
5
0
,
1
6
4
/
0
,
2
1
0
8
0
,
1
6
0
,
1
4
0
,
2
5
1
7
,
4
4
0
0
/
1
3
5
0
,
0
7
7
8
/
0
,
1
0
1
0
0
,
2
0
0
,
1
2
0
,
1
6
3
7
,
6
6
3
0
/
1
3
5
0
,
0
4
6
9
/
0
,
0
6
2
5
0
,
2
3
0
,
1
1
0
,
1
3
5
9
,
2
1
0
0
0
/
1
3
5
0
,
0
2
9
1
/
0
,
0
4
1
3
0
,
2
8
0
,
1
0
0
,
1
1
9
4
,
0
0
,
1
4
8
,
6
/
1
1
,
2
1
9
,
4
/
2
5
,
1
0
,
3
3
S
e
c
o
S
e
c
o
E
s
p
e
s
s
u
r
a
D
i
m
e
t
r
o
D
i
m
e
t
r
o
P
e
s
o
E
s
f
o
r
o
d
e
t
r
a
c
o
R
a
i
o
d
e
c
u
r
v
a
t
u
r
a
n
o
m
i
n
a
l
n
o
m
i
n
a
l
n
o
m
i
n
a
l
s
o
b
r
e
e
x
t
e
r
i
o
r
A
p
r
o
x
i
m
a
d
o
m
x
i
m
o
m
i
n
i
m
o
d
u
r
a
n
t
e
c
o
n
d
u
t
o
r
b
l
i
n
d
a
g
e
m
i
s
o
l
a
o
i
s
o
l
a
o
n
o
c
o
n
d
u
t
o
r
o
d
e
s
e
n
r
o
l
a
m
e
n
t
o
(
m
m
)
(
m
m
)
(
m
m
)
(
m
m
)
(
m
m
)
(
K
g
/
K
m
)
d
a
N
1
8
5
4
4
,
9
6
0
3
1
8
0
1
1
1
0
1
5
0
0
4
0
0
5
2
,
1
6
7
4
1
4
0
2
4
0
0
1
6
8
0
6
3
0
5
9
,
1
7
4
5
1
8
0
3
7
8
0
1
8
5
0
1
0
0
0
6
7
,
8
8
2
6
7
0
0
6
0
0
0
2
0
5
0
1
8
5
4
4
,
9
6
2
3
9
2
0
1
1
1
0
1
5
5
0
4
0
0
5
2
,
1
7
0
4
8
8
0
2
4
0
0
1
7
5
0
6
3
0
5
9
,
1
7
7
5
9
2
0
3
7
8
0
1
9
3
0
1
0
0
0
6
7
,
8
8
5
7
4
4
0
6
0
0
0
2
1
3
0
6
0
1
3
1
3
5
1
3
Q
u
a
d
r
o
1
4
8
~
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
i
s
Q
u
a
d
r
o
1
4
9
~
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
e
l
c
t
r
i
c
a
s
VI
C
aptulo
Cabos de Comunicaes
CABOS DE COMUNICAO
329
GUIA TCNICO
6.1 - Cabos de Comunicaes Metlicos
6.1.1 - Definio de Alguns Parmetros de Transmisso
1 - Desequilbrio de Resistncia
O desequilbrio de resistncia entre condutores de um par definido por:
[ ( Rmax - Rmin ) / ( Rmax + Rmin ) ] x 100
onde:
- Rmax a resistncia em ohms, do condutor com maior valor de resistncia;
- Rmin a resistncia em ohms, do condutor com menor valor de resistncia.
2 - Desequilbrio de Capacidade Terra de um Par
O desequilbrio de capacidade terra de um par definido por:
C
1
- C
2
onde:
C
1
a capacidade entre o condutor a e o condutor b com o condutor b
ligado a todos os outros condutores ao cran e terra;
C
2
a capacidade entre o condutor b e o condutor a com o condutor a
ligado aos outros condutores ao cran e terra.
3 - Desequilbrio de Capacidade ao cran de um Par
O desequilbrio de capacidade ao cran de um par definido por:
C
1s
- C
2s
onde:
C
1s
a capacidade entre o condutor a e o cran. Os restantes condutores po-
dem ficar desligados ou ligados ao centro do transformador balanceado;
C
2s
a capacidade entre o condutor b e o cran. Os restantes condutores po-
dem ficar desligados ou ligados ao centro do transformador balanceado.
4 - Capacidade Mtua de um Par
A capacidade mtua de um par definida por:
onde:
C
1
a capacidade entre o condutor a e o condutor b ligado a todos os
outros condutores ao cran e terra;
C
1
+ C
2
2
~
C
3
4
CAPTULO VI
330
GUIA TCNICO
C
2
a capacidade entre o condutor b e o condutor a com o condutor a ligado
a todos os outros condutores ao cran e terra;
C
3
a capacidade entre os dois condutores do par ligados entre si e todos
os outros condutores ligados ao cran e terra.
5 - Velocidade de Propagao
A velocidade de propagao definida como a velocidade qual o sinal se
propaga no cabo sendo expressa em Km / s. A velocidade de propagao
deriva da medio do coeficiente de velocidade e do conhecimento da velo-
cidade de propagao no espao livre. Esta ltima assume-se como tendo o
valor de 299788 Km / s. O coeficiente de velocidade definido como a relao
entre a velocidade de propagao no cabo e a velocidade de propagao no
espao livre.
6 - Constante de Atenuao
A constante de atenuao para 100 metros de comprimento de cabo onde a
impedncia do cabo est adaptada impedncia do equipamento de medida
define-se por:
( 100 / L ) .10 log
10
( P
1
/ P
2
)
onde:
P
1
a potncia de entrada onde a impedncia de carga a impedncia da
fonte;
P
2
a potncia de sada onde a impedncia de carga a impedncia da
amostra submetida a ensaio;
L comprimento da amostra em metros.
7 - Desequilbrio de Atenuao
O desequilbrio de atenuao definido como o logaritmo da razo entre
a tenso longitudinal e a transversal induzida num par. expresso em dB.
O desequilbrio de atenuao pode ser determinado por:
20 log
10
( 1 / T )
onde o desequilbrio de transmisso T, obtido de acordo com o apndice A6
da CEI publicao 96-1. O desequilbrio de atenuao terra, a
u
, exprime a
margem de imunidade s interferncias de uma instalao em relao
aos campos electromagnticos. Quanto maior for o valor de a
u
maior ser a
imunidade s interferncias.
CABOS DE COMUNICAO
331
GUIA TCNICO
8 - Atenuao Paradiafnica(NEXT)
A atenuao paradiafnica ( NEXT ) definida por:
10 log
10
( P
1N
/ P
2N
) em dB
onde:
P
1N
a potncia de entrada do par perturbador;
P
2N
a potncia de sada do par perturbado medida no mesmo extremo.
9 - Atenuao Telediafnica ( FEXT )
A atenuao telediafnica entrada / sada ( IO FEXT ) definida por:
10 log
10
( P
1N
/ P
2F
) em dB
A atenuao telediafnica a nvel igual ( EL FEXT ) definida por:
10 log
10
( P
1F
/ P
2F
)
onde:
P
1N
a potncia de entrada do par perturbador;
P
1F
a potncia de sada do par perturbador no outro extremo;
P
2F
a potncia de sada do par perturbado no outro extremo;
O valor EL FEXT difere do IO FEXT no valor da atenuao do par perturbador.
10 - Impedncia Caracterstica
A uma determinada frequncia a impedncia caracterstica, Zc, definida
como a impedncia de entrada de uma linha homognea de comprimento
infinito. Zc o valor assimptotico da mdia para a qual a impedncia carac-
terstica tende nas altas frequncias.
11 - Impedncia de Transferncia Superficial
A impedncia de transferncia superficial, Zt, de um cran de um cabo electri-
camente curto e longitudinalmente uniforme definida como sendo o quociente
entre a tenso longitudinal induzida no circuito secundrio (circuito interior) e a
corrente que flui no circuito primrio (circuito exterior).
12 - Atraso de Propagao de Grupo
O atraso de propagao de grupo obtido a partir da determinao da veloci-
dade de propagao, Vf do seguinte modo:
Atraso de propagao de grupo = 10
6
/ Vf em s / Km
13 - Balun
Um Balun um transformador de adaptao de impedncia entre um circuito
simtrico e um assimtrico (Balanced to Unbalanced).
CAPTULO VI
332
GUIA TCNICO
6.1.2 - Mtodos de Medida dos Parmetros de Transmisso
1- Geral
Salvo nos casos expressamente citados todos os ensaios so executados de
acordo com o HD 608.
2- Cabos sem Blindagem
Os parmetros capacidade mtua e atenuao por vezes apresentam valores
at 10 % superiores quando medidos na embalagem. Esta diferena devida
ao aperto e densidade da embalagem e tambm a efeitos interespiras.
Em caso de dvidas as medidas de capacidade mtua, impedncia caracterstica,
atenuao e paradiafonia devero ser executadas em amostras de cabo retirados
da embalagem. As amostras podem ser colocadas segundo uma das seguintes
configuraes:
I. Amostra colocada longitudinalmente sobre uma superfcie no metlica a
pelo menos 25mm de qualquer superfcie metlica;
II. Amostra suportada no ar com pelo menos 25mm de separao entre espiras;
III. Amostra enrolada em espiras nicas e abertas numa bobina metlica
com as espiras afastadas pelo menos 25mm.
3 - Resistncia dos Condutores
O mtodo para medir a resistncia dos condutores bem como a correco de
comprimento e temperatura o da CEI 189 5.1.
4 - Desequilbrio de Resistncia
O mtodo para medida do desequilbrio de resistncia o indicado na
CEI 708-1 emenda 2 clusula 24.
5- Rigidez Dielctrica
O mtodo para medida da rigidez dielctrica o indicado na CEI 189-1
clusula 5.2 para condutor / condutor e condutor / cran.
6- Resistncia de Isolamento
O mtodo para medida da resistncia de isolamento entre condutor / condutor
e condutor / cran o indicado na CEI 189-1 clusula 5.3. A tenso de
ensaio 500 V.
CABOS DE COMUNICAO
333
GUIA TCNICO
7 - Desequilbrio de Capacidade
O mtodo de medida do desequilbrio de capacidade o indicado na CEI 189-
1 clusula 5.5. Os condutores no em ensaio sero ligados entre si e ao
cran se existir. Caso o cabo tenha um comprimento diferente de 500m o
valor medido do desequilbrio par / par dever ser corrigido para 500m
pela frmula:
1
2
L / 500 + L / 500 ( )
1/2
[ |
e para o desequilbrio par / terra pela frmula:
L / 500
8- Velocidade de Propagao de Grupo
A velocidade de propagao de grupo deve ser determinada a uma dada fre-
quncia conforme se indicar na especificao particular. Quando no se indique
a frequncia dever usar-se a frequncia qual a impedncia caracterstica
for medida. Amedida efectuada pela determinao do intervalo de frequncia,
Af para o qual a fase do sinal de sada perfaz uma rotao de 2H radianos em
comparao com o sinal de entrada. Para tal pode-se usar quer a tcnica de
transmisso quer a de reflexo. A velocidade de propagao pode ser expressa:
- Para medidas de transmisso: - Vf = L. Af
- Para medidas de reflexo: - Vf = 2 L Af
onde:
- L o comprimento do cabo em ensaio em metros;
- Af o intervalo de frequncia em kHz;
- Vf a velocidade de propagao de grupo em Km / s.
Para se obter Af com preciso suficiente a diferena de frequncia Af` poder
ser medida com n rotaes de 2H radianos, assim;
Af = Af` / n
onde n s 10
Na tcnica de transmisso necessrio seleccionar os baluns para adaptar os
equipamentos de medida impedncia nominal do cabo frequncia de teste.
CAPTULO VI
334
GUIA TCNICO
9 - Atenuao
Aatenuao determinada frequncia ou intervalo de frequncia indicada na
especificao particular. A tcnica usada deve permitir uma preciso melhor
que 5%. A medida deve ser efectuada sobre condies balanceadas. No caso
de equipamento de medida ser usado em condies no balanceadas devero
ser usados baluns. Os baluns devem ser seleccionados para adoptar a impedn-
cia do equipamento impedncia nominal do cabo a medir. aconselhvel
compensar a desaptao residual dos baluns atravs da calibrao deste ligan-
do 1m de cabo entre si. As medidas sero efectuadas temperatura ambiente e
sero corrigidas para 20
o
C para frequncias acima de 1Mhz do seguinte modo:
o
20
= o
T
/ ( 1 + 0.002 ( T - 20))
onde:
- o
T
a atenuao medida em dB;
- T a temperatura ambiente;
- o
20
a atenuao corrigida para 20C.
Os valores medidos so corrigidos para o comprimento de referncia de
100m ou outro conforme indicado em especificao de referncia seguindo
uma correco linear.
Nota: A correco acima indicada s vlida para dielctricos com baixo
coeficiente de temperatura.
10- Desequilbrio de Atenuao
O desequilbrio de atenuao pode ser determinado por:
20 log
10
( 1 / T )
onde o desequilbrio de transmisso, T obtido de acordo com o apndice
A6 da CEI 96-1. O desequilbrio de atenuao terra, a
u
determinado de
acordo com a recomendao K10 do CCITT obtido pela equao:
a
u
= 20 log
10
[ EL1 / VT2 ]
11- Paradiafonia
A atenuao paradiafnica medida usando um gerador sintetizado e um
medidor de nvel selectivo frequncia ou intervalos de frequncia indicados
na especificao particular. As medidas devem ser efectuadas em condies
balanceadas usando se necessrio baluns para ligao ao equipamento de me-
dida. Os baluns devem ser seleccionados para adaptao impedncia nominal
do cabo frequncia especificada. recomendvel que os baluns sejam blin-
dados com fitas de cobre ou tubos. Os crans dos pares ou o do cabo devem ser
ligados aos dos baluns e por sua vez ligados terra no lado do medidor. Ambos
os pares em ensaio devem ser terminados nas suas impedncias caractersti-
cas nominais podendo os restantes pares ficar no terminados. Devem ser
CABOS DE COMUNICAO
335
GUIA TCNICO
tomadas precaues para minimizar os acoplamentos no extremo do cabo.
Quando a bainha do cabo retirada os pares devem manter o seu cableamen-
to original e devem ser bem afastados.
As medidas devem ser efectuadas num comprimento entre 100m e 500m e
os valores medidos corrigidos de acordo com a seguinte equao:
Nx = N
0
~ 10log
10
1~ e
4olx
( )
/ 1~ e
4olo
( )
[ |
onde:
- Nx a paradiafonia em dB / 500m;
- N
0
a paradiafonia em dB / comprimento do cabo;
- o a atenuao em Neper / comprimento de cabo;
- l
0
comprimento do cabo em metros;
- l
x
o comprimento de referncia de 500m.
Para comprimentos superiores a 500m no necessrio efectuar qualquer
correco.
12- Telediafonia
A atenuao telediafnica dever ser efectuada tendo em considerao os re-
quisitos j indicados no anterior para a medida da paradiafonia. Os valores
medidos do IO FEXT e EL FEXT devem ser corrigidos para o comprimento
de referncia de 500 metros, da seguinte forma:
IO FEXT = IO FEXT0 + 10log
10
[ l
0
/ 500 + o ( 1 - l
0
/ 500 ) ]
EL FEXT = EL FEXT0 + 10log
10
[ l
0
/ 500 ]
onde:
- FEXT0 o valor de telediafonia medido em dB;
- l
0
o comprimento do cabo em ensaio;
- o a atenuao em dB / Km;
- FEXT a telediafonia em dB corrigida para 500 metros.
13 - Impedncia Caracterstica
A impedncia caracterstica pode ser medida por vrios mtodos tais como:
network analyser, voltimetro vectorial ou ponte de impedncias. Qualquer
que seja o mtodo escolhido este dever ter uma preciso melhor que 2%.
As medidas devem ser efectuadas em condies balanceadas ligando o
extremo do par em ensaio ao equipamento atravs de um balun se necessrio.
CAPTULO VI
336
GUIA TCNICO
Os pares no em ensaios devem ser ligados terra no lado do medidor.
A impedncia caracterstica a mdia geomtrica das impedncias de entrada
e obtida da seguinte forma:
Zc = Z(fechado). Z(aberto) [ |
1/ 2
= ( R+ jcL) / (G+ jcC
[ |
1/ 2
em que:
- Z ( fechado ) = R + jcL
- Z ( aberto ) = ( G + jcC )
-1
podendo obter-se a constante de propagao, atravs da seguinte equao:
= ( R+ jcL)(G+ jcC
[ |
1/ 2
A parte imaginria da constante de propagao () a constante de fase ()
em radianos por unidade de comprimento. Num comprimento de onda a fase
varia 2H radianos ou seja,
=
2
em que o comprimento de onda.
A componente real da constante de propagao ( ) a atenuao ( o ) que
pode ser expressa na seguinte forma:
o = 8. 686
R
2Z
0
+
GZ
0
2
[
\
|
|
)
j
j
em dB por unidade de comprimento.
6.1.3 - Desequilbrios e Diafonia
Os desequilbrios que iremos apresentar so genricamente os de impedncia.
Revelam-se de extrema importncia para a qualidade de transmisso
quer analgica quer digital. O acoplamento de impedncia entre pares est
directamente relacionado com os desequilbrios. Na prtica, os desequil-
brios com maior relevncia para o acoplamento diafnico so os de capacidade:
K
1
Desequilbrio de capacidade par - par
E Desequilbrio de capacidade par - terra
K
9-12
Desequilbrio de capacidade quadra - quadra
Outros existem que j tiveram importncia no passado quando se usavam os
circuitos fantasmas. Por exemplo K
2,
representava o desequilibro real 1- fantasma
e K
3
o real 2 - fantasma. Actualmente os equipamentos de medida de cabos de
comunicaes e dados tm multiplexers capazes de fazer as ligaes necessrias
para medir os seguintes desequilbrios de capacidade de forma automtica :
K
1,
K
2,
K
3
,K
4
,K
5
,K
6
,K
7
,K
8
,K
9
,K
10
,K
11
,K
12
,E
1
,E
2
,E
3
e de resistncia:
A R
1
, A R
2
e A R
3
CABOS DE COMUNICAO
337
GUIA TCNICO
1 - Desequilbrios de Capacidade
No caso de cabos em pares so medidos K
1
e E . K
1
medido por afectar o
nvel da diafonia e E por indicar a qualidade do recozimento do condutor de
cobre e da regularidade da espessura e constante dielctrica do isolamento.
A especificao de construo de cabos da Portugal Telecom ET - 2.029 no
obriga medida do desequilbrio terra. K
1
medido por afectar directa-
mente o nvel de diafonia enquanto que E se mede por necessidade da fbri-
ca avaliar o estiramento de algum condutor e a regularidade da espessura e
constante dielctrica do isolamento. O desequilbrio de capacidade par-par,
tambm chamado real - real est representado pela figura 74,
Figura 74 - Desequilbrio de capacidade par - par K
1
e define-se pela equao:
K
1
= C
AC
+ C
BD
- C
BC
- C
AD
em que os condutores A,B formam o par 1 e os condutores C,D o par 2.
O desequilbrio de capacidade terra E est representado pela figura 75,
Figura 75 - Desequilbrio de capacidade terra
e define-se pela equao:
E = C
A0
- C
B0
ou seja, pela diferena entre as capacidades do condutor Ae do condutor B terra.
CAPTULO VI
338
GUIA TCNICO
As causas dos desequilbrios pode ser somente uma ou a combinao entre
as seguintes variveis do processo:
- Diferenas de espessura de isolamento;
- Recozimento dos condutores deficiente;
- Passos da pareagem demasiado prximos;
- Pareagem mpar, ou seja, um condutor torcido sobre o outro;
- Passos de cableagem demasiado longos;
- Fitas de cintagem de constante dielctrica elevada.
Consideremos dois circuitos, um perturbador e outro perturbado, galvnica-
mente isolados, como representado na figura 76a.
Figura 76 - Diafonia causada por desequilbrio de capacidade par - par
Para as frequncias audio podemos considerar a equivalncia entre os circui-
tos representados nas figuras 76a e 76b. Em qualquer dos esquemas foi
desprezado o efeito de acoplamento da condutncia transversal, uma vez
que o seu valor desprezvel perante as capacidades parciais x
1
,x
2
,x
3
e x
4
.
O esquema da figura 76b representa uma Ponte de Wheastone para medida
das capacidades parciais.
A funo de transferncia entre os dois circuitos V
2
/ V
1
vem:
V
2
V
1
=
jc x
1
x
3
~ x
2
x
4
( )
jc x
1
+ x
2
( )
x
3
+ x
4
( )
+
2
Z
2
x
1
+ x
2
+ x
4 ( ) x
3
+
Conclumos que a ausncia de tenso no par perturbado, V
2
= 0 d-se quando:
x
1
x
3
- x
2
x
4
= 0
A esta condio chama-se ausncia de diafonia que implica uma atenuao
transversal infinita, difcil de obter na prtica.
CABOS DE COMUNICAO
339
GUIA TCNICO
2 - Diafonia entre pares Simtricos
Neste ponto iremos debruar-nos sobre as diafonias entre pares simtricos de
extrema importncia para o utilizador final, o assinante. O termo diafonia
significa alterao de fonia. Todos ns conhecemos o fenmeno quando fala-
mos ao telefone com algum, e em simultneo, aparece outra conversa tele-
fnica mais ou menos audvel . A situao limite de diafonia d-se quando
dois telefones esto ligados em simultneo mesma linha ou quando existe
curto-circuito entre fios de pares diferentes.
As diafonias so dos fenmenos mais interessantes e complexos da trans-
misso por cabo. Tm causas intrnsecas ao prprio cabo, como por exemplo
desequilbrios de capacidade e causas extrnsecas entre as quais podemos
referir perturbaes devido proximidade de cabos de energia, linhas areas,
rudo harmnico, etc.
Define-se diafonia como sendo a interferncia provocada por um circuito
telefnico sobre um outro circuito telefnico. Usando terminologia mais
tcnica, a diafonia a atenuao transversal entre dois circuitos telefnicos
simtricos, ou no, a uma determinada frequncia. O termo anglo-saxnico
para este fenmeno Crosstalk que traduzido letra, significa conversa-
o cruzada, no diferindo muito da realidade.
Em cabos PCM, a transmisso binria a 2400 Kbit/s, embora a anlise
da qualidade seja frequentemente feita com recurso a medidores da taxa
de erros. Essa taxa aumenta com o aumento da diafonia. Numricamente a
diafonia o valor absoluto da atenuao transversal que sempre um valor
negativo. Quando dizemos que a diafonia elevada queremos dizer que o
seu valor absoluto baixo.
3 - O Quadripolo diafnico
A diafonia frequncia audio pode ser representada por um modelo
formado por dois quadripolos, um perturbador e um perturbado, figura 77
Figura 77 - Quadripolo diafnico frequncia audio
CAPTULO VI
340
GUIA TCNICO
O par 1 o par perturbador enquanto que o par 2 o perturbado. A energia
flui do par 1 para o par 2 devido ao desequilbrio de capacidades e indutn-
cia mtua. A tenso V
1
causa a circulao de uma corrente i
1
no par pertur-
bador. Se os pares 1 e 2 tiverem um desequilbrio de capacidades no nulo
ento haver uma corrente i
c
a circular por ambas as extremidades do par 2.
A corrente i
1
no par 1 induz uma corrente i
m
no par 2 devido indutncia
Lm. As correntes i
c
e i
m
adicionam-se junto extremidade do gerador e
subtraem-se na extremidade afastada. Por anlise do circuito chegaramos s
seguintes concluses:
extremidade prxima
Vn
V
1
=
jcK
1
Zc
+
jcLm
2Zc
extremidade afastada
Vf
V
0
=
jcK
1
Zc
8
+
jcLm
2Zc
[
\
|
)
j
extremidade prxima dB= 20log
10
Vn
V
1
[
\
|
|
)
j
j
extremidade afastada dB =20log
10
Vf
V
0
[
\
|
|
)
j
j
Entre pares no adjacentes o acoplamento capacitivo nulo devido ao efeito
de cran provocado pelos pares intermdios. Tomando ento K
1
= 0 e substi-
tuindo nas equaes 1 e 2 obtemos:
Ad =10 log
V
1
I
1
V
2
I
2
= 20log
Z
2
Z
1
*
I
1
I
2
|
|
|
|
|
|
|
|
=Ad = 20 log
Z
2
Z
1
*
V
1
V
2
|
|
|
|
|
|
|
|
Convertendo para dB temos:
Vf
Vo
=
Vn
V
1
=
jcLm
2Zc
o que mostra a dependncia da diafonia em relao ao acoplamento indutivo
que, embora de menor peso em baixa frequncia, pode tornar-se importante a
frequncias superiores frequncia de audio. As equaes 3 e 4 representam
a atenuao transversal ou diafonia em cada extremo dos dois pares. A diafo-
nia mede-se com um gerador sintetizado ligado ao par perturbador e um
medidor de nvel ligado a uma extremidade do par perturbado conforme se
indica na figura 78.
Como tanto o gerador como o medidor tm escalas logartmicas e estando os
circuitos adaptados bem como os instrumentos possvel medir directamente
a atenuao em dB. Aindicao dada pelo medidor nessa situao a atenuao
telediafnica A
d
representada tambm por:
8
(1)
(2)
(3)
(4)
CABOS DE COMUNICAO
341
GUIA TCNICO
Figura 78 - O quadripolo para medida da Telediafonia
4 - Os Vrios Tipos de Diafonias
Podem ser definidos vrios tipos de diafonias num cabo telefnico consoan-
te o critrio de anlise nomeadamente NEXT, FEXT, ONEXT, INEXT,
OFEXT, IFEXT. Estas designaes so as iniciais de:
NEXT - Near - end crosstalk
FEXT - Far - end crosstalk
ONEXT - Outer near - end crosstalk
INEXT - Inner near - end crosstalk
OFEXT - Outer far - end crosstalk
IFEXT - Inner far - end crosstalk
IO FEXT - Input / output far end crosstalk
EL FEXT - Equal level far end crosstalk
O NEXT habitualmente traduzido por paradiafonia e o FEXT por telediafonia.
6.1.4 - Equilibragem
Equilibrar um cabo compensar os seus desequilbrios por outros, mas
de sinal oposto. Essa compensao pode ser feita com recurso a elementos
internos ao cabo ou elementos externos, nomeadamente condensadores.
Existem assim dois grandes mtodos de equilibragem:
Mtodo dos cruzamentos;
Mtodo dos condensadores.
O mtodo dos cruzamentos o mais utilizado, por no necessitar da introdu-
o de elementos externos ao cabo, podendo ser usado durante o processo
de fabrico, antes da aplicao da bainha final. Com a evoluo para os cabos
CAPTULO VI
342
GUIA TCNICO
de fibra ptica, cabos isolados a FMSK com enchimento a geleia e isolados a
PE sem enchimento, o recurso s tcnicas de equilibragem tornou-se pouco
frequente mesmo nas aplicaes para PCM. Por essa razo, torna-se extre-
mamente importante produzir fio isolado a FMSK ou PE com uma disperso
de dimetros, espessuras, centragem e alongamento rotura muito baixa,
assegurando em boa parte a produo de cabos sem necessidade de serem
posteriormente equilibrados mas no totalmente. Pares adjacentes com o
mesmo passo de cableagem tm desequilbrios muito elevados.
O mtodo dos cruzamentos baseia-se na troca entre: fios de um par, pares de
uma quadra ou outras combinaes dentro da quadra, por forma a obter uma
reduo de alguns desequilbrios de capacidade. claro que essas trocas so
feitas com critrios pr-definidos para cada quadra e so esses critrios que
iremos demonstrar. Consideremos a figura 79,
Figura 79 - Cruzamento entre fios de um par
Os vrios desequilbrios so definidos pelas seguintes equaes a partir da
figura 6. a )
real 1 - real 2: K
1
= X
1
+ X
3
- X
2
- X
4
real 1 - fantasma: K
2
= X
1
+ X
4
- X
2
- X
3
+
real 2 - fantasma: K
3
= X
1
+ X
2
- X
3
- X
4
+ (5)
real 1 - terra: E
1
= a - b
real 2 - terra: E
2
= c - d
fantasma - terra: E
3
= a + b - c - d
E
1
2
E
2
2
CABOS DE COMUNICAO
343
GUIA TCNICO
Ao trocarmos o fio a pelo fio b como se indica na figura 6.b ) verificamos que as
capacidades parciais X
1
e X
4
foram substitudas pelas X
2
e X
3
e vice - versa.
Como resultado os desequilbrios K
1
,K
2
, e E
1
sero simtricos aos seus valo-
res antes dos cruzamentos, enquanto que os restantes desequilbrios se man-
tm inalterados. O cruzamento entre pares da mesma quadra (ver figura 80)
no altera os desequilbrios real - real que so K
1
,K
9,
K
10
,K
11
e K
12
mas muda
o sinal ao desequilbrio fantasma - terra E3 e troca os valores entre os dese-
quilbrios real 1 - fantasma e real 2 - fantasma K
2
e K
3.
Figura 80 - Cruzamento de pares
As capacidades parciais X
4
, a e b so substitudas pelas capacidades parciais X
2,
c e d e vice - versa. Substituindo esses valores nas equaes 5, obtm-se as
alteraes atrs referidas. Generalizando para combinaes de cruzamentos
entre fios de cada par e entre pares de cada quadra num grupo de duas quadras a
equilibrar em uma junta obtm-se, o quadro representado na figura 81.
CAPTULO VI
344
GUIA TCNICO
Figura 81 - Tabela de cruzamentos para equilibragem
Este quadro mostra, de uma forma sucinta, a tcnica de equilibragem por
cruzamentos que consiste, pois, em escolher a ligao adequada por forma a
minimizar por soma algbrica os desequilbrios resultantes da ligao entre
duas quadras. possvel, com o auxlio de um PC, calcular a equilibragem
de uma junta, fazendo o varrimento para cada combinao e para cada
quadra do grupo de equilibragem. Podem assim ser usados vrios algoritmos
para clculo do mesmo grupo de equilibragem e assim optarmos pelas
combinaes que se julgue mais adequadas ao tipo de transmisso.
CABOS DE COMUNICAO
345
GUIA TCNICO
6.1.5 - Velocidade de Propagao em Cabos de Comunicaes
Quadro 150 - Valores medidos para Velocidade de Propagao em Cabos de Comunicaes
Equao para clculo:
up =
300
rrr
m / s
[ |
em que:
rr = Constante dielctrica relativa mdia do isolante entre condutores.
r = Permitividade magntica do isolante entre condutores.
CAPTULO VI
346
GUIA TCNICO
6.1.6 - Cabos de Telecomunicaes com Condutores Metlicos
T a b c d e f g h i j l
Campo - 1 Campo - 2
T - Cabo de telecomunicaes com condutores metlicos
Campo 1 - Caracteriza o tipo construtivo do cabo
Campo 2 - Caracteriza a constituio do cabo
Quadro 151 - Tipo construtivo do cabo (Descrio do campo 1)
CABOS DE COMUNICAO
347
GUIA TCNICO
6.1.7 - Rede Telefnica Local
Distncias Mximas Admissveis
Todas as ligaes devero respeitar as seguintes condies:
Resistncia de lacete mxima - 1400 O
Atenuao de linha mxima - 10.50 dB
Quadro 152 - Constituio do cabo (Descrio do campo 2)
Tipos de Elementos
As indicaes referentes aos tipos de elementos so colocadas entre parnte-
sis a seguir aos dados correspondentes aos elementos a que respeitam.
Indicaes referentes a elementos de tipos diferentes so separadas pelo sinal +.
A ordenao das indicaes relativas aos diferentes tipos de elementos deve
ser feita do modo seguinte:
1 - Elementos para alta frequncia
2 - Elementos blindados
3 - Elementos para baixa frequncia
4 - Elementos para ensaios
Exemplo: TE1HE 7x4x1,27 (AF)+22x4x0,9+2x1x0,9 (E)
Cabo constitudo por 7 quadras para alta frequncia com condutores de cobre
macio de 1,27 mm de dimetro isolados a polietileno, com 22 quadras para
baixa frequncia com condutores de 0,9 mm de dimetro isolados a polietile-
no, com 2 condutores para ensaio, de 0,9 mm de dimetro e bainha de polie-
tileno.
CAPTULO VI
348
GUIA TCNICO
Aatenuao e a resistncia de lacete podero ser calculadas com as seguintes
frmulas:
Atenuao =
Resistncia de lacete =
em que:
n - nmero de troos com calibres distintos;
oi - atenuao por km para o calibre a que se refere;
ri - resistncia por km para o calibre a que se refere;
di - distncia respectiva para o troo.
Para os cabos actualmente usados no mercado Portugus deve-se usar os
valores indicados na tabela abaixo.
oidi
i =1
n
_
ridi
i =1
n
_
Dimetro do Condutor (mm) o (dB/Km) r (O/Km)
0.4 1.98 280
0.5 1.40 180
0.6 1.18 126
0.9 0,71 56
A ttulo de exemplo podemos referir que um cabo dos tipos TE1HE,
TE1HES ou TE1HEAV com condutores de 0,4 mm de dimetro poder ser
usado numa distncia mxima de 5 km uma vez que cumpre as condies
acima referidas.
6.1.8 - Cabos Telefnicos da Rede Local
Figura 82 - Cabos tipo TE1HE
1 - Condutor cobre macio
2 - Isolamento de polietileno
3 - Fita de identificao
4 - Cinta
5 - Fio de rasgar
6 - Fita de blindagem de alumnio/polietileno
7 - Bainha de polietileno
Utilizao:
Instalaes telefnicas exteriores de acordo com os requisitos base da espe-
cificao da Portugal Telecom ET-2.029 Cabos Isolados e Revestidos a
Polietileno. Utiliza-se em redes telefnicas para ligaes locais tais como
ligaes entre o assinante e a central. Aplica-se ainda em ligaes de auto-
mao e instrumentao nas verses de baixo nmero de pares.
Quadro 153 - Valores de Atenuao
CABOS DE COMUNICAO
349
GUIA TCNICO
Caractersticas Elctricas:
Resistncia dos Condutores Mxima, a 20C: 0.4-150 O / km
0.5-95.9 O / km
0.6-66.6 O / km
0.9-29 O / km
Desequilbrio de Resistncia Mximo: 2% (0.9) e 2.5% (0.4; 0.5 e 0.6)
Rigidez Dielctrica Mnima Fio / Fio 1 minuto: 1.5 kV dc.
Rigidez Dielctrica Mnima Fio / cran 1 minuto: 3 kV dc.
Resistncia de Isolamento Mnima cran de Cada Fio: 10000 MO . km.
Capacidade Mtua Mdia Mxima: 55 nF / km.
Capacidade Mtua Individual Mxima: 64 nF / km.
Desequilbrios de Capacidade Par / Par ( acoplamento ) Mximo: 400 pF / km
para 0.4; 0.5 e 0.6. e 270 pF / km para 0.9.
Desequilbrios de Capacidade Par / Terra Mxima: 3000 pF / km.
Rigidez Dielctrica da Bainha Mnima: 12 kV dc.
Impedncia Caracterstica: 100 20O 800 kHz.
Impedncia Caracterstica a 800 Hz aproximadamente: 0.4 - 900 O
0.5 - 720 O
0.6 - 600 O
0.9 - 400 O
Quadro 154 - Caractersticas Dimensionais
CAPTULO VI
350
GUIA TCNICO
Figura 83 - Cabos tipo TE1HEAE
1 - Condutor cobre macio
2 - Isolamento de polietileno
3 - Fita de identificao
4 - Cinta
5 - Fio de rasgar
6 - Fita de blindagem de alumnio/polietileno
7 - Banha de polietileno
8 - Armadura em fitas de ao
9 - Bainha de PE
Utilizao:
Instalaes telefnicas exteriores de acordo com os requisitos base da espe-
cificao da Portugal Telecom ET-2.029 Cabos Isolados e Revestidos a
Polietileno. Utiliza-se em redes telefnicas para ligaes locais tais como
ligaes entre o assinante e a central. Aplica-se ainda em ligaes de auto-
mao e instrumentao nas verses de baixo nmero de pares. Por ser arma-
do pode-se instalar directamente no solo.
Caractersticas Elctricas:
Resistncia dos Condutores Mxima, a 20
o
C: 0.4-150 / 0.5-95.9 / 0.6-66 /
0.9-29 O/km
Desequilbrio de Resistncia Mximo: 2% (0.9) e 2.5% (0.4; 0.5 e 0.6)
Rigidez Dielctrica Mnima Fio / Fio 1 minuto: 1.5 kV dc.
Rigidez Dielctrica Mnima Fio / cran 1 minuto: 3 kV dc.
Resistncia de Isolamento Mnima cran de Cada Fio: 10000 MO . km.
Capacidade Mtua Mdia Mxima: 55 nF / km.
Capacidade Mtua Individual Mxima: 64 nF / km.
Desequilbrios de Capacidade Par / Par ( acoplamento ) Mximo: 400 pF / km p/
0.4; 0.5 e 0.6. e 270 pF / km p/ 0.9.
Desequilbrios de Capacidade Par / Terra Mximo: 3000 pF / km.
Rigidez Dielctrica da Bainha Mnima: 12 kV dc.
Impedncia Caracterstica: 100 20O 800 kHz.
Impedncia Caracterstica a 800 Hz aproximadamente: 0.4 - 900 O/ 0.5 - 720 O /
0.6 - 600 O / 0.9 - 400 O
Atenuao a 800 Hz max: 0.4 - 1.98 / 0.5 - 1.40 / 0.6 - 1.18 / 0.9 - 0.71 dB/km
CABOS DE COMUNICAO
351
GUIA TCNICO
Quadro 155 - Caractersticas Dimensionais
Figura 84 - Cabos tipo TE1HES
1 - Condutor cobre macio
2 - Isolamento de polietileno
3 - Fita de identificao
4 - Cinta
5 - Fio de rasgar
6 - Cabo tensor
7 - Fita de blindagem de alumnio/polietileno
8 - Banha de polietileno
Utilizao:
Instalaes telefnicas exteriores areas de acordo com os requisitos base da
especificao da Portugal Telecom ET-2.029 Cabos Isolados e Revestidos a
Polietileno. Utiliza-se em redes telefnicas areas autosuportadas para ligaes
locais tais como ligaes entre o assinante e a central.
Caractersticas Elctricas:
Resistncia dos Condutores Mxima, a 20
o
C: 0.4-150; 0.5-95.9; 0.6-66.6;
0.9-29 O / km
Desequilbrio de Resistncia Mximo: 2% (0.9) e 2.5% (0.4; 0.5 e 0.6)
CAPTULO VI
352
GUIA TCNICO
Rigidez Dielctrica Mnima Fio / Fio 1 minuto: 1.5 kV dc.
Rigidez Dielctrica Mnima Fio / cran 1 minuto: 3 kV dc.
Resistncia de Isolamento Mnima cran de Cada Fio: 10000 MO / km.
Capacidade Mtua Mdia Mxima: 55 nF / km.
Capacidade Mtua Individual Mxima: 64 nF / km.
Desequilbrios de Capacidade Par / Par ( acoplamento ) Mximo: 400 pF / km
para 0.4; 0.5 e 0.6. e 270 pF / km para 0.9.
Desequilbrios de Capacidade Par / Terra Mximo: 3000 pF / km.
Rigidez Dielctrica da Bainha Mnima: 12 kV dc.
Impedncia Caracterstica: 100 20O 800 kHz.
Impedncia Caracterstica a 800 Hz aproximadamente: 0.4 - 900 O
0.5 - 720 O
0.6 - 600 O
0.9 - 400 O
Quadro 156 - Caractersticas Dimensionais
CABOS DE COMUNICAO
353
GUIA TCNICO
Figura 85 - Cabos tipo T1EG1HE
1 - Condutor cobre macio
2 - Isolamento de polietileno
3 - Fita de identificao
4 - Enchimento a geleia
5 - Fio de rasgar
6 - Cinta
7 - Fita de blindagem de alumnio/polietileno
8 - Bainha de polietileno
Utilizao:
Instalaes telefnicas subterrneas com estanquecidade longitudinal de
acordo com os requisitos base da especificao da Portugal Telecom ET-
2.029 Cabos Isolados e Revestidos a Polietileno. Utiliza-se em redes tele-
fnicas para ligaes locais tais como ligaes entre o assinante e a central.
Caractersticas Elctricas:
Resistncia dos Condutores Mxima, a 20
o
C: 0.4-150; 0.5-95.9; 0.6-66.6;
0.9-29 O/ km
Desequilbrio de Resistncia Mximo:2% (0.9) e 2.5% (0.4; 0.5 e 0.6)
Rigidez Dielctrica Mnima Fio / Fio 1 minuto: 0.5 kV dc.
Rigidez Dielctrica Mnima Fio / cran 1 minuto: 1.5 kV dc.
Resistncia de Isolamento Mnima cran de Cada Fio: 5000 MO . km.
Capacidade Mtua Mdia Mxima: 55 nF / km.
Capacidade Mtua Individual Mxima: 64 nF / km.
Desequilbrios de Capacidade Par / Par ( acoplamento ) Mximo: 400 pF / km
para 0.4; 0.5 e 0.6. e 270 pF / km para 0.9.
Desequilbrios de Capacidade Par / Terra Mximo: 3000 pF / km.
Rigidez Dielctrica da Bainha Mnima: 12 kV dc.
Impedncia Caracterstica: 100 20O 800 kHz.
Impedncia Caracterstica a 800 Hz aproximadamente: 0.4 - 900 O
0.5 - 720 O
0.6 - 600 O
0.9 - 400 O
Atenuao, dB/km a 800 Hz max: 0.4 - 1.98
0.5 - 1.80
0.6 - 1.18
0.9 - 0.71
CAPTULO VI
354
GUIA TCNICO
Quadro 157 - Caractersticas Dimensionais
6.1.9 - Cabos Telefnicos de Assinante
Figura 86 - Cabos tipo TVHV
1 - Condutor cobre macio
2 - Isolamento de PVC
3 - Fita de identificao
4 - Cintagem em polister
5 - Fio de continudade
6 - Fio de rasgar
7 - Fita de blindagem de alumnio
/polietileno
8 - Bainha de PVC
Utilizao:
Instalaes do RITA.
Caractersticas Elctricas:
Resistncia Mxima do Condutor em c.c., a 20C: 96 O / km ( 0.5mm ).
36.8 O / km ( 0.8mm ).
Resistncia Mnima de Isolamento a 20C: 500 M O . km
Rigidez Dielctrica Fio/Fio e Fio/cran: 1.5 kV dc.
Capacidade Mtua Mxima a 800 Hz: 120 nF / km (> 6 pares).
132 nF / km (s 6 pares).
Desequilbrios Capacitivos Mximos (entre pares): 400 pF por 500 metros.
CABOS DE COMUNICAO
355
GUIA TCNICO
Quadro 158 - Caractersticas Dimensionais
Figura 87 - Cabos tipo TVD
1 - Cobre macio
2 - Isolamento de PVC
Utilizao:
Ligaes de assinante segundo o RITA.
Condutores:
Cobre macio de 0.6mm de dimetro. Existem duas verses, nomeadamente:
1x2x0.6 - 2 condutores em paralelo;
1x3x0.6 - 3 condutores em paralelo.
Isolamento:
PVC do tipo TI 51 da HD 624.1 com a cor Creme.
Dimenses:
As dimenses esto indicadas nas tabelas I e II.
CAPTULO VI
356
GUIA TCNICO
Tabela I
Tabela II
Caractersticas Fsicas e Elctricas:
Fora de ruptura do isolamento: 12.2 N / mm2
Retraco do isolamento a quente: s 4%
Fora de ruptura do condutor: 5 Kg
Alongamento ruptura dos condutores: 20%
Peso:
TVD 1x2x0.6 22 kg / km.
TVD 1x3x0.6 33 kg / km.
Figura 88 - Cabos tipo TKVD
1 - Cobre duro
2 - Isolamento de PVC
Utilizao:
Ligaes telefnicas exteriores.
Condutores:
Dois condutores de cobre duro com 0.8mm de dimetro.
CABOS DE COMUNICAO
357
GUIA TCNICO
Isolamento:
PVC do tipo TI 51 da HD 624.1 com a cor Preta.
Dimenses:
As dimenses esto indicadas na Tabela III.
Tabela III
Caractersticas Elctricas:
Fora de ruptura do isolamento: 12.2 N / mm2
Alongamento ruptura do isolamento: 150%
Retraco do isolamento a quente: s 4%
Fora de ruptura do condutor: 20 kgf
Alongamento ruptura do condutores: aprox. 1.5%
Peso:
O peso do TKVD 1x2x0.8 27 kg / km.
Figura 89 - Cabos tipo TEDS
1 - Cabo Tensor em ao galvanizado
2 - Condutor cobre macio
3 - Isolamento em polietileno
Utilizao:
Ligaes telefnicas areas entre o assinante e a rede local de cabos. Elevada
resistncia traco, adequado para uso em locais ventosos ou para grandes
distncias entre postes.
Condutores:
Cobre macio de dimetro de 0.8 mm.
CAPTULO VI
358
GUIA TCNICO
Isolamento:
Polietileno Preto.
Cabo Tensor:
O cabo tensor colocado entre os dois condutores de cobre e revestido em
conjunto com estes, em polietileno. constitudo por 7 fios de ao galvaniza-
do de 0.6mm.
Dimenses:
Caractersticas Fsicas e Elctricas:
Alongamento ruptura dos condutores: 15%
Alongamento ruptura do isolamento: 300%
Aderncia do tensor ao isolamento: 180N
Fora de ruptura do cabo tensor : 1950N
Dimetro do condutor: 0.8mm 1.5%
Resistncia de isolamento a 500 Vdc, a 20
o
C: 5000 MO . km
Capacidade mtua tpica: 42 nF / km
Resistncia dos condutores dc, a 20
o
C: s 35 O / km
Peso:
O peso TEDS 1x2x0.8 42 kg / km.
Tabela IV
CABOS DE COMUNICAO
359
GUIA TCNICO
TE1SE 2x2x0,5
Cabo de cobre auto-suportado, de configurao circular, com dois pares de
calibre 0,5 mm e qualidade de transmisso equiparada a categoria 3, para
utilizao na rede telefnica de acesso de distribuio. De acordo com a sim-
bologia em vigor, o cabo genericamente designado por TE1SE 2x2x0,5.
O dimetro nominal dos condutores de cobre de 0,50 mm, com uma tole-
rncia de 1,5%.
O isolamento de cada fio condutor deve de polietileno slido de mdia den-
sidade (de 0,925 g/cm
3
a 0,940 g/cm
3
).
A cor do isolamento de cada fio de cobre serve para a identificao dos con-
dutores que constituem o cabo, respeitando o seguinte cdigo de cores: Par
1 - (a) Branco (b) Azul; Par 2 - (a) Amarelo (b) Preto.
Os elementos de reforo em Kevlar conferem ao cabo a resistncia mecnica
aos esforos de traco em utilizao.
A bainha do cabo de polietileno de mdia densidade, adequado para resistir
aos agentes atmosfricos e em particular s radiaes UV.
O material da bainha de cor preta com 2% a 3% de teor de negro de
carbono uniformemente distribudo. A espessura mnima da bainha deve ser
de 0,5 mm.
Sob a bainha exterior est incorporado por aplicao longitudinal um fio de
rasgar, em material no-metlico e no-higroscpio, com uma carga de rotu-
ra mnima de 80 N, que permite a fcil remoo da bainha sem danificar os
pares nem os tensores.
O dimetro exterior mximo do cabo de 5,5 mm.
Caractersticas elctricas de BF.
- Resistncia elctrica do fio condutor (a 20C) s 95 /km.
- Desequilbrio de resistncia entre condutores do mesmo par s 2,0%.
- Resistncia de Isolamento (a 20C) ? 10 000 M.km.
- Capacidade Mtua (a 1 kHz) < 55 nF/km
- Desequilbrio capacitivo par-par (a 1 kHz) < 300 pF/km.
- Desequilbrio capacitivo par-terra (a 1 kHz) < 1000 pF/km.
CAPTULO VI
360
GUIA TCNICO
Caractersticas de Transmisso:
Quadro 159 - Caractersticas de Transmisso
Normas:
- Atenuao (perdas de insero): EN 50289-1-8
- Impedncia caracterstica e perdas de retorno: EN 50289-1-11
- Paradiafonia (NEXT) e Telediafonia (FEXT): EN 50289-1-10
- Condutores de cobre IEC 60028
- Ensaios de baixa frequncia IEC 60189
O cabo TE1SE 1x2x0,8 utiliza-se em maiores distncias entre o assinante e a
central. Este cabo, como a designao indica, s difere no numero de pares e
no calibre.
CABOS DE COMUNICAO
361
GUIA TCNICO
6.1.10 - Cabo para Redes Informticas
Figura 90 - UTP 4PR24AWG - Cat. 5 - 100 O
1 - Condutor cobre macio
2 - Isolamento em Pe
3 - Cintagem em poliester
4 - Fio de rasgar
5 - Bainha de PVC
Utilizao:
Aplica-se em cablagens estruturadas para instalao horizontal e suporta os
requisitos das seguintes normas de meios de comunicao:
IEEE 802.3, 10 Base T;
IEEE 802.5;
ISDN, FDDI, ATM, CDDI;
Fast Ethernet;
Cablagem classe D da ISO/IEC 11801, EIA/TIA568ATSB 36, EN 50173.
Construo:
Dimetro dos condutores: 24AWG (0.51mm)
Isolamento: PE ( HD 624.3 e HD 624.5 )
Nmero de pares: Em geral 4. Outras composies a pedido
Norma: EN 50167 (no blindado) para cablagem horizontal
Cableagem:
Em pares simtricos torcidos entre si, e por sua vez em forma de quadra-estrela.
Cdigo de Cores:
De acordo com EN 50167 / IEC 189.
Par 1 - Branco / Azul
Par 2 - Branco / Laranja
Par 3 - Branco / Verde
Par 4 - Branco / Castanho
Cintagem:
Se aplicada ser em fita polister ou polipropileno.
CAPTULO VI
362
GUIA TCNICO
Blindagem:
No aplicvel.
Bainha Exterior:
A bainha exterior em PVC tipo TM51 como definido no HD 624.2. em
cor cinzenta clara conforme o RAL 7001.
Fio de Rasgamento:
Sob a bainha exterior existe um fio de rasgar com fora de rotura mnima de
160 N.
Fora de Traccionamento:
A fora de traccionamento do cabo dever ser inferior a 80 N.
Caractersticas de Transmisso:
Parmetros Primrios
Resistncia de lacete dc, 20
o
C: s 191 O / km a 20
o
C
Desequilbrio de resistncia: s 2%
Capacidade mtua 1 Khz tpico: 51 nF / km
Resistncia de isolamento: 10000 MO . km
Parmetros Secundrios
Impedncia caracterstica a f 1 MHz: 100 15 O
Velocidade de propagao tpico: 195 m / s NVP 65%
Quadro 160 - Paradiafonia (NEXT) e Atenuao (ATT)
CABOS DE COMUNICAO
363
GUIA TCNICO
Quadro 161 - Acoplamento Capacitivo
Temperatura de Operao:
-30 a + 70C.
Rigidez Dielctrica:
Fio / fio 1500 V dc, 1 minuto.
Impedncia de Transferncia:
No aplicvel.
Especificao de Construo:
EN 50167
EIA / TIA 568A TSB 36
ISO / IEC 11801
EN 50173
Dimetro Exterior:
5.5mm.
Peso:
30 kg / km.
Figura 91 - FTP 4PR24AWG - Cat. 5 - 100 O
1 - Condutor cobre macio
2 - Isolamento de PE
3 - Cintagem em poliester
4 - Fio de continuidade
5 - Fio de rasgar
6 - Fita de blindagem de alumnio/poliester
7 - Bainha de PVC
Utilizao:
Aplica-se em cablagens estruturadas blindadas para instalao horizontal e
suporta os requisitos das seguintes normas de meios de comunicao:
- Fast Ethernet
- IEEE 802.3, 10 Bse T
- IEEE 802.5
- ISDN, FDDI, ATM, CDDI
- Cablagem Classe D ISO/IEC 11801; EIA/TIA 568A TSB 36; EN 501173
CAPTULO VI
364
GUIA TCNICO
Devido blindagem de baixa impedncia de transferncia, este cabo tem
excelentes caractersticas de imunidade ao rudo em ambientes industriais.
Construo:
Dimetro dos condutores: 24AWG (0,51 mm)
Isolamento: PE (HD 624.3 e HD 624.5)
Nmero de pares: Em geral 4
Cableagem:
4 pares simtricos torcidos entre si.
Cdigo de Cores:
- Par 1 Branco/Azul
- Par 2 Branco/Laranja
- Par 3 Branco/Verde
- Par 4 Branco/Castanho
Cintagem:
Fita poliester ou polipropileno.
Blindagem:
Fita de alumnio revestida com polmero. Fio de cobre estanhado 0,5 mm
aplicado sob a fita alumnio directamente em contacto com esta.
Bainha Exterior:
A bainha exterior em PVC em cor cinzenta claro conforme o RAL 7001.
Fio de Rasgamento:
Sob a bainha exterior existe um fio de rasgar com fora de rotura mnima de
160 N.
Fora de Traccionamento:
A fora de traccionamento do cabo dever ser inferior a 80 N.
Caractersticas de Transmisso:
Parmetros Primrios
Resistncia de lacete dc, a 20
o
C: s 191O/km
Desequilbrio de resistncia: s 2%
Capacidade mtua 1 kHz tpico: 52 nF/km
Resistncia de isolamento: 10000 M O . km
CABOS DE COMUNICAO
365
GUIA TCNICO
Parmetros Secundrios
Impedncia caracterstica a f 1 MHz: 100 15 O
Velocidade de propagao tpico: 186 m/ s NVP 62%
Quadro 162 - Paradiafonia (NEXT) e Atenuao (ATT)
Quadro 163 - Acoplamento Capacitivo
Temperatura de Operao:
- 30 a + 70
o
C.
Rigidez Dielctrica:
Fio / fio 1500 V dc, 1 minuto.
Fio / blindagem 3000 V dc, 1 minuto.
Impedncia de Transferncia:
Zt (a 10 MHz) s 10 mO / m (EN 50167, 50168, 50169).
Especificao de Construo:
EN 50167.
EIA / TIA 568 TSB 36.
ISO / IEC 11801.
EN 50173
As caractersticas de transmisso e elctricas so medidas de acordo com
HD 608 e IEC 189.
Peso:
O peso aproximado 46 kg/km.
CAPTULO VI
366
GUIA TCNICO
6.2 - Cabos de Fibra ptica
6.2.1 - Sistema de Designao de Cabos de Telecomunicaes em
Fibra ptica
Adesignao Nacional para os cabos de Fibra ptica, baseia-se em dois campos,
que a seguir se descrevem:
TO a b c d e f g h ijlm n o p
Campo 1 Campo 2
TO - Cabo de telecomunicaes em fibra ptica
Campo 1 - Caracteriza o tipo construtivo do cabo
Campo 2 - Caracteriza a constituio do cabo
Quadro 164 - Tipo construtivo do cabo (Descrio do campo 1)
CABOS DE COMUNICAO
367
GUIA TCNICO
Quadro 165 - Constituio do cabo (Descrio do campo 2)
CAPTULO VI
368
GUIA TCNICO
Quadro 166 - Caractersticas das Fibras pticas
CABOS DE COMUNICAO
369
GUIA TCNICO
6.2.2 - Construo de Cabos de Fibra ptica
1 - Cores para Identificao de Fibras
As fibras so identificveis pela colorao do seu revestimento primrio,
cujo cdigo de cores se encontra no Quadro 167, devendo as cores indicadas
corresponder s cores padro definidas na norma ICE 304.
Quadro 167 - Identificao das Fibras
2 - Cores para Identificao de Tubos
A colorao dos tubos, dos condutores de cobre e dos elementos cegos,
correspondem ao seguinte esquema:
Tubos - Piloto Vermelho
- Intermdio Natural
- Referncia Verde
Condutores de Cobre Branco
Laranja
Elementos cegos Amarelo
A referncia a fibras individuais efectuada na seguinte forma:
N/XX
N - N de Referncias do tubo.
XX - Abreviatura da colorao de acordo com a NP (pr) 3397.
CAPTULO VI
370
GUIA TCNICO
3 - Configurao dos Cabos de Fibra ptica
A constituio do cabo relativamente a nmero de tubos, elementos cegos e
distribuio das fibras est indicada no Quadro 168.
Quadro 168 - Configurao dos Cabos de Fibra ptica
Nos Cabos at 32 fibras, caso seja requerido, podem ser inseridos 2 (dois)
condutores de cobre que ocupam o lugar de elementos cegos.
4 - Caractersticas Dimensionais e Ponderais dos Cabos de Fibra ptica
Cabo para Conduta
Quadro 169 - Pesos e Dimenses dos Cabos para Conduta
CABOS DE COMUNICAO
371
GUIA TCNICO
Cabo Auto-Suportado
Quadro 170 - Pesos e Dimenses dos Cabos Auto-Suportados
Quadro 171 - Exemplo de Construo de Cabo ptico de 4 Fibras Subterrneo Armado
CAPTULO VI
372
GUIA TCNICO
6.3 - Mtodo de Ponte de alta impedncia a 4 fios.
Por este mtodo poder localizarem-se curto-circuitos em condutores de
cabos de energia ou telefnicos.
Equipamento necessrio:
Ponte digital de medida de resistncia hmica a 4 fios ou qualquer Multmetro
que permita medies de resistncia a 4 fios.
Consideraes:
Os condutores ou fios em curto-circuito devem apresentar impedncia de
defeito to baixa quanto possvel podendo no entanto chegar a algumas cen-
tenas de K.Ohm sem provocarem um erro de medida significativo. Podem ser
localizados condutores em curto-circuito e partidos simultaneamente embora
apenas seja possvel determinar a distncia ao curto-circuito.
A seguir apresenta-se o esquema de princpio para este tipo de defeito.
PE - Ponta exterior do cabo.
PI - Ponta interior do cabo.
RPE - Resistncia do condutor defeituoso entre a PE e o ponto de defeito.
RPI - Resistncia do condutor defeituoso entre a PI e o ponto de defeito.
RD - Resistncia de contacto do defeito a tenso reduzida ( < 50 mv ).
RC - Resistncia total do condutor defeituoso.
Como o microohmimetro de alta impedancia de entrada, permite-nos uti-
lizar a resistncia de contacto RD para ligao ao condutor defeituoso no
ponto de c/c, uma vez que a queda de tenso em RD muito menor que a
queda de tenso quer em RPE quer em RPI. Ou seja:
As leituras a efectuar so as seguintes:
1 - Leitura RPE.
2 - Leitura RPI.
3 - Leitura RC.
CABOS DE COMUNICAO
373
GUIA TCNICO
Procedimento geral:
As ligaes que permitem as leituras 1, 2 e 3 sero feitas como se indica a seguir:
1 - Ligar as garras de corrente s extremidades do condutor defeituoso.
2 - Ligar as garras de tenso na ponta exterior do condutor auxiliar e no con-
dutor defeituoso.
3 - Fazer a medida da resistncia, estas ligaes permitem a leitura de RPE.
4 - Manter as ligaes das garras de corrente. Passar a garra de tenso do con-
dutor em c/c da PE para PI.
5 - Fazer a medida da resistncia.
Estas ligaes permitem a leitura de RPI.
6 - Ler a resistncia ohmica do condutor em c/c pelo mtodo dos 4 fios.
Para tal ligar duas garras, uma de tenso e outra de corrente, em ambas as
extremidades do condutor em c/c.
Clculos:
Com base nos valores de RPE, RPI e RC podemos calcular a distancia do
ponto de defeito Lx da seguinte forma;
Lx L
RPE
RC
=
RC RPE RPI = +
( RPE RPI - 1 ) v 100
RC
sendo L em ( m ), RPE e RC em ( ohm ).
A localizao dever ser testada pela seguinte relao:
O erro do mtodo, excluindo o erro inerente ao comprimento L :
importante ter em conta que a blindagem ou fitas de ao no devem ser
usadas como condutor principal por apresentarem por vezes resistncias no
uniformemente distribudas.
Localizao de curto-circuito com condutor partido
Ligaes:
Para o caso de um condutor em c/c e partido o esquema de princpio para lig-
aes o seguinte:
CAPTULO VI
374
GUIA TCNICO
Procedimento operativo.
Usar o procedimento anterior mas trocando o condutor defeituoso pelo auxiliar.
Desta forma o condutor defeituoso funciona como divisor resistivo sendo o
transdutor de comprimento o condutor designado como auxiliar.
Os clculos para obteno do valor de Lx e do erro so os mesmos.
Medio da resistncia de contacto.
Para medir directamente a resistncia de contacto por exemplo de c/c entre
dois condutores, ligar a ponte conforme se indica no esquema seguinte:
Em que RD :
RD = Resistncia de defeito ou contacto entre dois elementos condutores.
Esquema de ligaes para medir RPI.
Esquema de ligaes para medir RPE.
CABOS DE COMUNICAO
375
GUIA TCNICO
Esquema de ligaes para medir RPE + RPI.
Nota: As duas garras de tenso ( V ) ficam ligadas sempre por entre as garras
de corrente ( I ), em qualquer medio de RPE, RPI e RPE + RPI.
Esquema de ligaes para medir resistncia de defeito RD.
Nota: As duas garras de tenso ( V ) ficam ligadas sempre por entre as garras
de corrente ( I ), excepto na medio de RD (Resistncia de defeito).
VII
C
aptulo
Acessrios Elctricos
ACESSRIOS ELCTRICOS
379
GUIA TCNICO
7.1 - Acessorios para Cabos com Fibra Optica
(OPGW)
CAPTULO VII
380
GUIA TCNICO
ACESSRIOS ELCTRICOS
381
GUIA TCNICO
CAPTULO VII
382
GUIA TCNICO
ACESSRIOS ELCTRICOS
383
GUIA TCNICO
7.2 - Acessrios para cabos secos de alta tenso
A gnese dos acessrios aplicados em cabos de alta tenso consiste em asse-
gurar a transmisso de corrente elctrica sem prejuzo do desempenho,
fiabilidade e segurana da ligao.
Actuando em zonas de ruptura da simetria do campo elctrico, a sua concep-
o e execuo dever garantir a reconstituio desta mesma simetria.
AFigura 92 descreve a ruptura da simetria do campo elctrico numa extenso
de cabo desprovida de semicondutor exterior.
Figura 92
Linhas do campo elctrico numa zona desprovida de
semicondutor exterior.
CAPTULO VII
384
GUIA TCNICO
O controle das linhas de campo elctrico estabelecido por via de dispositi-
vos que permitem suavizar a concentrao das mesmas nas zonas onde se
regista a ruptura da sua simetria. Para a terminao de cabos de alta tenso
o controle das linhas de campo elctrico frequentemente realizado por
dispositivos baseados num princpio geomtrico. Um apndice em material
semicondutor permite prolongar e alargar o semicondutor interior na zona
de cabo desprovida deste elemento. Este apndice em forma de cone inseri-
do num bloco de material isolante e elstico, e a este conjunto designamos
bloco deflector de campo. A Figura 93 representa um corte longitudinal
deste tipo de dispositivos.
Figura 93 - Bloco deflector de campo.
A tecnologia de blocos deflectores pr-fabricados hoje uma soluo muito
comum em extremidades de cabos secos de alta tenso.
7.2.1 - Extremidades
O conjunto dos vrios tipos de extremidades disponveis no mercado vasto,
e como tal iremo-nos concentrar apenas em alguns exemplos.
ACESSRIOS ELCTRICOS
385
GUIA TCNICO
7.2.1.1 - Extremidades cermicas
Um bloco deflector introduzido sobre a interface entre o semicondutor exte-
rior e a extenso de cabo desprovida deste elemento. De forma a evitar
descargas elctricas na sua superfcie, o bloco envolvido com isolador
exterior em cermica cheio com leo ou silicone lquida. A Figura 94 mostra
um desenho genrico deste tipo de extremidades
Figura 94 - Extremidade exterior cermica
CAPTULO VII
386
GUIA TCNICO
7.2.1.2 - Extremidades compsitas
O conceito deste tipo de extremidades assenta no mesmo princpio das
cermicas, mas o isolador exterior agora de material sinttico. Esta opo
permite obter extremidades significativamente mais leves do que as suas
homologas cermicas (uma reduo de cerca de 1/3 no peso). Esta caracters-
tica torna a sua aplicao mais simples e segura, j que o material compsito
no quebra em resultado de impactos fortuitos. A Figura 95 mostra um dese-
nho tipo deste tipo de extremidades.
Figura 95 - Extremidade exterior compsita.
ACESSRIOS ELCTRICOS
387
GUIA TCNICO
7.2.1.3 - Extremidades pr-fabricadas
Todos os componentes so pr-fabricados e integrados a frio na execuo
da extremidade. O conceito simples permitindo uma execuo rpida e uma
instalao em qualquer posio (ngulo). O elemento de controle de campo
fabricado em material isolante sinttico no qual inserido um cone deflec-
tor em material semicondutor. A Figura 96 apresenta um exemplo
genrico de uma destas extremidades.
Figura 96 - Extremidade exterior pr-fabricada
CAPTULO VII
388
GUIA TCNICO
7.2.2 - Junes
Tal como para as extremidades, a oferta de solues tcnicas para a juno de
cabos elctricos secos de alta tenso vasta. Neste captulo iremos abordar
algumas destas solues.
O objectivo das junes consiste em estabelecer a continuidade elctrica ao
nvel do condutor entre dois troos de cabo. No que diz respeito blindagem,
a juno pode garantir a continuidade elctrica da mesma ou a sua interrup-
o - para esquemas de ligao terra em 'cross-bonding, ou 'single-point.
Em todo o caso a juno dever garantir o desempenho e fiabilidade da
ligao.
7.2.2.1 - Junes enfitadas
Areconstituio do isolamento e dos mecanismos de controle do campo elc-
trico, assegurada pela aplicao de fitas elsticas. Para alm das necessrias
caractersticas elctricas, estas fitas devero possuir suficiente elasticidade de
forma a acompanhar a deformao do cabo resultante do seu regime de carga.
Como exemplo, apresentamos na Figura 97 uma juno enfitada com conti-
nuidade da blindagem.
Figura 97 - Juno enfitada sem ligao terra
7.2.2.2 - Junes pr-fabricadas
Ao contrrio das enfitadas, as junes pr-fabricadas exigem componentes
especficos em funo das dimenses e caractersticas dos cabos elctricos.
Todos os elementos de reconstituio do isolamento e de controle de campo
so pr-fabricados de acordo com as caractersticas do cabo. Os materiais
utilizados nestes componentes devero possuir as desejadas caractersticas
elctricas e um comportamento elstico que garanta a sua absoluta aderncia
ao cabo apesar das flutuaes trmicas impostas pelo regime de carga.
ACESSRIOS ELCTRICOS
389
GUIA TCNICO
O esquema da Figura 98 demonstra o conceito da execuo de junes
pr-fabricadas.
Figura 98 - Execuo de uma juno pr-fabricada sem ligao terra
CAPTULO VII
390
GUIA TCNICO
7.2.2.3 - Junes termo-retrcteis
Areconstituio do isolamento e dos elementos de controle de campo elctrico
efectuada com mangas termo-retrcteis. A aplicao de calor reduz o dime-
tro das mangas para um valor especfico, garantindo uma perfeita adeso e uni-
formidade dos elementos em questo.
Figura 99 - Juno termo-retrctil sem ligao terra
As caractersticas elsticas destes elementos permitem acompanhar as deforma-
es resultantes dos ciclos trmicos associados ao regime de carga da ligao.
VIII
C
aptulo
Regras de Uso
REGRAS DE USO
393
GUIA TCNICO
8 - Prembulo
Estas Regras de Uso salientam algumas recomendaes para o armazenam
ento, transporte e instalao dos cabos ns e dos cabos isolados a dielctrico
slido extrudido de mdia e alta tenso, tendo em vista optimizar o seu uso
nas diferentes fases, evitando que lhes sejam provocados danos que possam
por em causa o seu normal funcionamento.
Outras recomendaes, normalmente associadas a exigncias de segurana,
nomeadamente o Regulamento de Segurana de Linhas Elctricas de Alta
Tenso, de instalao, caractersticas do projecto (acessrios, postes, etc.) e
equipamentos de montagem no so consideradas nestas Regras de Uso.
8.1 - Recomendaes Relativas Embalagem, Identificao,
Manuseamento, Armazenagem e Transporte dos Cabos
8.1.1 - Embalagem
Os cabos so fornecidos embalados em bobinas de madeira ou de ferro,
slidas, com caractersticas de boa construo e em bom estado de conserva-
o, permitindo resistirem s operaes normais de armazenagem, carga,
manuseamento, transporte, descarga e utilizao.
As bobinas, quando contendo cabo, levam uma proteco exterior feita, no
caso dos cabos de alumnio-ao, por meio de ripas de madeira pregadas
na periferia das suas abas, ou de esteiras de madeira prensada, caso dos cabos
isolados. Consegue-se assim reforar a embalagem e proteger o produto nela
contido.
No fornecimento de cabos isolados as respectivas extremidades so protegi-
das com resina ou capacetes termo retrcteis adequados, que sero mantidos
at montagem.
Estas proteces devem permanecer em todas as fases, at montagem dos
respectivos acessrios.
8.1.2 - Identificao e rastreabilidade
Todas as bobinas, em qualquer fase, devem permanecer com as suas etiquetas
e chapas de caractersticas de origem, permitindo conhecer, em qualquer
instante, as referncias da bobina e do cabo nela contido. Estas consideraes
aplicam-se tambm s bobinas parcialmente cheias, isto , s quais lhes foram
retirados troos de cabo. Nesta situao, aconselha-se manter um controlo
das quantidades de cabo j utilizado.
CAPTULO VIII
394
GUIA TCNICO
Durante a instalao dos cabos deve ser realizado o registo da matrcula
das bobinas com referncia ao local e linha (traado, fase, postes, etc.) onde
os cabos so instalados. Estes elementos associados aos documentos de
aprovisionamento (Ordem de Compra. Guia de Remessa, Factura, etc.)
permitem um rastreio eficaz do cabo no caso da existncia de eventuais
situaes anmalas.
8.1.3 - Manuseamento
A bobina deve ser manobrada sempre com o seu eixo na posio horizontal.
No manipular ou armazenar a bobina na posio de deitada.
A elevao e a movimentao das bobinas deve fazer-se com cuidado,
utilizando equipamentos especficos, tais como empilhador, guincho mecni-
co ou ponte rolante, qualquer deles com a capacidade suficiente e os acess-
rios adequados funo.
Quando so utilizados guinchos ou pontes rolantes h a necessidade de
colocar no orifcio central da bobina um varo ou tubo redondo resistente
e um travesso superior, ambos com comprimentos adequados, ligeiramente
superiores largura da bobina. Os cabos de amarrao, de capacidade adequa-
da, devem ser montados de modo a no provocarem esforos sobre as abas.
incorrecta e inaceitvel a queda brusca de bobinas no solo.
Quando esto em causa pequenas distncias, possvel rolar manualmente
a bobina no cho se este for suficientemente liso e slido. Esta aco deve ser
desenvolvida no sentido das setas pintadas nas abas, a que corresponde o
sentido de enrolamento do cabo na bobina.
Na eventualidade de no se utilizar a totalidade do comprimento do cabo
existente na bobina proceder do seguinte modo:
No caso dos cabos de alumnio-ao, amarrar a ponta final do cabo
com braadeiras metlicas, antes do corte. As braadeiras devem ser
colocadas sobre fita, de preferncia autocolante rigidamente aplicada
sobre o cabo; aps o corte, fixar a mesma ponta final, firmemente,
face interior da aba da bobina, de modo a evitar a existncia de espiras
soltas ou frouxas;
Para os cabos isolados, aplicar imediatamente aps o corte, um
'capacete termo retrctil para proteco da ponta final do cabo; fixar
esta extremidade, firmemente, face interior da aba da bobina;
Referenciar, na face exterior da aba da bobina, o comprimento
remanescente, por exemplo em etiqueta durvel;
Aplicar novamente a proteco exterior da bobina.
REGRAS DE USO
395
GUIA TCNICO
8.1.4 - Armazenagem
Durante o armazenamento as bobinas devem repousar em terreno plano, no
inclinado e estvel, convenientemente caladas com cunhas de madeira.
So admitidas pequenas inclinaes, havendo nestes casos necessidade de
adequar o tipo e nmero de calos a aplicar. Evitar calar as bobinas com
pedras, j que estas podem, com o tempo, partir-se e danificar o cabo.
O empilhamento de bobinas, sempre que necessrio, possvel desde que
a armazenagem se faa em terreno sem inclinao, sejam bobinas da mesma
dimenso, tenham aplicadas as ripas de madeira e se coloquem as abas sobre-
postas umas sobre as outras. No aconselhvel mais do que um nvel de
sobreposio, acima das bobinas de base.
ajustado armazenar os produtos em locais isentos de fumos, matrias corro-
sivas, poeiras agressivas, nomeadamente de cimento, de carvo ou de outros
elementos que provoquem eventuais danos aos cabos.
Deve evitar-se a armazenagem das bobinas, por longos perodos de tempo,
em contacto directo com o solo. Se assim acontecer, convm interpor-se
elementos de separao e proteco apropriados, tais como pranchas de
madeira, placas de ferro ou beto.
Tanto quanto possvel aconselhvel no manter por muito tempo as bobinas
no exterior, ao sol, chuva, ou a outras condies ambientais adversas.
8.1.5 - Transporte
O transporte das bobinas deve ser feito com o cuidado devido, evitando-se
qualquer movimento brusco, pelo que deve ter-se em conta as seguintes
condies principais:
A base de apoio deve ser slida, plana e resistente;
Devem ser aplicados amarras entre as bobinas e destas base de apoio;
Todas as bobinas devem ser caladas firmemente;
O eixo das bobinas deve estar na horizontal;
As abas das bobinas devem ser encostadas entre si, topo a topo.
8.2 - Cabos ns para linhas areas
8.2.1 - Recomendaes relativas a este tipo de cabo
Estes cabos devem ser usados em ambiente exterior para instalaes fixas,
apoiadas em postes, atravs de acessrios adequados. So utilizados nas
linhas elctricas areas de mdia, alta e muito alta tenso.
CAPTULO VIII
396
GUIA TCNICO
Em qualquer fase da sua instalao, os cabos devem apresentar-se isentos
de quaisquer sujidades, partculas e elementos estranhos que possam colocar
em risco a sua adequada utilizao.
Em regime permanente, recomenda-se que a gama de temperaturas a que o
cabo deve estar sujeito, quer na componente ambiental, quer na de servio, se
situe entre -40C e + 100C.
8.2.2 - Condies de instalao e de utilizao dos cabos
8.2.2.1 - Operaes de desenrolamento
Os cabos devem ser instalados de forma a que os mesmos no rocem directa-
mente no solo ou sobre obstculos agressivos, evitando assim que sejam
alteradas as suas caractersticas, provoquem danos ou esmagamento dos
cabos ou dos fios de alumnio. Do mesmo modo deve evitar-se tambm que
os cabos sofram danos por frico ou atrito, nos equipamentos utilizados.
Dever-se-o utilizar os mtodos e os equipamentos mais recomendados pela
prtica, de modo a no expor o cabo ao perigo de eventuais e irreparveis
danos.
As operaes necessrias instalao das linhas, nomeadamente as de desen-
rolamento e esticamento dos cabos devem ser realizadas de modo a evitar
a existncia de situaes anmalas, tais como tores, ns, encaracolamentos
e abertura ou rotura dos fios de alumnio. Nestas operaes sero utilizados
dispositivos anti-giratrios, em bom estado de conservao, que evitem
e compensem os esforos de toro, surgidos com frequncia nos cabos,
durante aquelas operaes.
O desenrolamento efectuado pelo lado superior da bobina atravs de um
sistema eficaz de travagem de modo a controlar a operao e evitar a forma-
o de espiras folgadas.
a) O uso de roldanas
As roldanas utilizadas na instalao, normalmente construdas em alumnio
ou de liga de alumnio, devero ser largamente dimensionadas para evitar
o esmagamento do cabo. Recomenda-se um dimetro mnimo, no fundo da
gola, igual a 25 vezes o dimetro do cabo e uma profundidade nunca inferior
a 1, 2 vezes o dimetro do cabo.
aconselhado que as golas das roldanas sejam forradas no seu interior com
material adequado. Devero apresentar as zonas de contacto com o cabo
perfeitamente lisas, provocando um efeito de atrito, em relao ao cabo,
muito reduzido.
REGRAS DE USO
397
GUIA TCNICO
Em termos mecnicos, as roldanas devero ter uma inrcia mnima que lhe
permita girar sob um pequeno esforo tangencial, no se permitindo assim a
introduo de perturbaes no seu rolamento ou erros na regulao dos cabos.
Devero dispor de rolamentos de esferas, frequentemente lubrificados
e vistoriados.
Em termos de fixao aos apoios, as roldanas devem poder oscilar livremen-
te nas duas direces (perpendicular e paralela linha), de modo a que o cabo
fique alinhado na gola, evitando assim esforos de flexo e toro.
Para evitar fenmenos de corroso galvnica no cabo, por eventual contami-
nao, no permitida a utilizao de roldanas utilizadas na instalao de
cabos de cobre.
b) A utilizao de mquinas de puxo
No caso de serem utilizadas mquinas tensoras, recomenda-se que os respec-
tivos tambores tenham golas mltiplas com dimetros, no fundo da gola,
nunca interiores a 25 vezes o dimetro do cabo.
O traccionamento do cabo durante a instalao deve ser tal que permita a
realizao das operaes respectivas sem lhe provocar danos.
Recomenda-se a aplicao da seguinte fora de traco (N), sada do
tambor da mquina tensora, ou se este no existir, sada da bobina:
F = T x S
Em que
T = 110 N/mm
2
- Tenso mxima do alumnio, na sua caracterstica elstica (N)
S - Seco do alumnio correspondente ltima camada do cabo (mm
2
).
Recomenda-se que entre os equipamentos de desenrolamento em tenso
(mquinas tensoras e de puxo) e o apoio mais prximo, seja mantida uma
distncia mnima de 4 vezes a altura desse apoio. Tomar em linha de conta as
diferenas de cota entre os pontos de fixao das mquinas e de implantao
dos postes.
O ngulo de enrolamento do cabo no dever exceder 30.
A distncia mnima entre a mquina tensora (freio) e o dispositivo onde a
bobina montada para desenrolamento do cabo de 5 metros.
recomendvel que a velocidade mxima de desenrolamento se situe em
1 m/s.
CAPTULO VIII
398
GUIA TCNICO
O desenrolamento deve processar-se de uma forma regular, sem impulsos ou
travagens violentas.
Sempre que haja necessidade de cortar o cabo e antes de realizar esta opera-
o, deve proceder-se aplicao de braadeiras metlicas (3 a 5) de ambos
os lados da zona de corte. Esta aplicao faz-se sobre fita, de preferncia
autocolante, rigidamente enrolada sobre o cabo. A distncia entre braadeiras
deve ser de aproximadamente de um passo de cableamento dos fios da
camada exterior do cabo.
8.3 - Cabos isolados de media e alta tenso - linhas subterrneas
8.3.1 - Temperaturas de funcionamento
Os materiais utilizados, as condies de instalao e de utilizao bem como
os respectivos acessrios (junes, extremidades, etc.) devem permitir o
funcionamento dos cabos nas seguintes condies e temperaturas mximas
da alma condutora:
a) - Sobrecarga de curta durao (24 horas por ano em fraces mximas
de 3 horas)
b) - Durao mxima de curto-circuito trifsico - 5 segundos
8.3.2 - Consideraes gerais sobre o desenrolamento
Os cabos devem ser instalados de maneira a que no sofram alteraes das
suas caractersticas, danos ou esmagamentos. Dever-se-o utilizar os mtodos
e os equipamentos mais recomendados pela prtica, de modo a no expor o
cabo ao perigo de eventuais e irreparveis danos.
O desenrolamento deve ser efectuado pelo lado superior da bobina, atravs de
um sistema eficaz de travagem de modo a controlar a operao e evitar a
formao de espiras folgadas e afrouxamentos na rotao do cabo.
A bobina dever estar livre para rodar em torno de um eixo introduzido no
orifcio central e montado sobre macacos. Durante a operao o cabo no
dever ser desenrolado com um raio de curvatura inferior a 25 vezes o seu
dimetro.
Quadro 172 - Temperaturas de funcionamento
REGRAS DE USO
399
GUIA TCNICO
Convm prever nas junes e nas extremidades comprimentos suficientes,
dependendo do tipo de cabo, para a montagem dos acessrios. Alm disso,
a fim de permitir uma eventual modificao posterior da disposio das
extremidades, aconselhvel prever um comprimento superior e enrol-lo
prximo da ponta.
Durante o desenrolamento do cabo so requeridas certas precaues, depen-
dendo do trajecto do cabo e do equipamento utilizado. No entanto, devero ser
tidas em conta no desenrolamento do cabo as seguintes regras:
Os cabos no devero ser desenrolados com temperaturas ambientes inferio-
res a 5C. Se a temperatura estiver compreendida entre -5C e +5C, os cabos
podero ser desenrolados desde que previamente seja efectuado um aqueci-
mento das bobinas que contm os cabos, durante pelo menos 24 horas, num
local mantido a temperaturas vizinhas de 20 C.
Providenciar a instalao de um sistema de comunicao ao longo do trajecto
do cabo, nomeadamente entre a bobina, a ponta do cabo e a mquina de puxo.
Nesta operao as extremidades dos cabos devem ser protegidas contra a
penetrao de humidade.
8.3.3 - Raios de curvatura admissveis
Indicam-se a seguir os raios de curvatura mnimos que podero ser aplicados:
-Durante a instalao 25 d
-Aps instalao 20 d
(d - dimetro exterior do cabo)
Se a instalao do cabo decorrer num ambiente de baixas temperaturas (infe-
rior a + 5 C), o raio de curvatura mnimo dever ser incrementado em pelo
menos 25%.
8.3.4 - Mtodos de desenrolamento
O mtodo utilizado depende do traado do terreno, do cabo e do pessoal dis-
ponvel. Normalmente o desenrolamento pode ser efectuado de trs maneiras:
a) A partir de uma plataforma mvel (camio ou vago)
Este mtodo s possvel nos casos em que o traado acompanha a via de
comunicao e no h obstculos entre eles. Os pontos particulares a ter em
ateno so a fixao dos suportes da bobina na plataforma, o controlo e a tra-
vagem da rotao da bobina e a colocao do cabo.
CAPTULO VIII
400
GUIA TCNICO
b) Manualmente
Sero necessrios meios humanos para controlar as passagens difceis (tubos,
esquinas, obstculos..,), em nmero suficiente, repartidos pelas dificuldades
do percurso e pela posio dos roletes. Convm cuidar, particularmente, pela
manuteno de uma cadncia regular e uniforme e evitar o roar ou o choque
do cabo com solo ou outros obstculos.
c) Utilizando um guincho
A fora de traco aplicada no cabo deve ser monitorizada constantemente
usando um dinammetro. conveniente que o cabo seja rebocado pela alma
condutora, por intermdio de uma pina de traco apropriada, tendo acopu-
lado ao mesmo pelo menos um destorcedor que inviabilize o risco de toro
exagerada do condutor. No aconselhvel a utilizao de uma auto manga
de aperto, colocada sobre a bainha exterior do cabo.
A fora de traco deve ser aplicada uniformemente, evitando-se assim
estices no cabo.
O esforo de traco no dever exceder os seguintes limites:
8.3.5 - O uso de roletes
Durante o desenrolamento utilizar para o efeito roletes, que devero ser
posicionados com firmeza nos locais por onde o cabo vai passar. Com o uso
desta ferramenta o esfora de traco ser menor e a bainha ficar mais
protegida do atrito contra os objectivos pontiagudos que possa encontra pelo
caminho.
Para evitar que o cabo toque o solo, logo sada da bobina, recomendvel
a utilizao de um rolete de maior largura (cerca de 1 metro, ou mais) de
maneira a permitir que o cabo se possa movimentar livremente, medida que
se vai processando o seu desenrolado, de uma aba outra da bobina.
Os roletes devero ter uma superfcie macia e rodar livremente nos seus eixos.
O nmero de roletes a utilizar depende do comprimento do cabo. A distncia
entre roletes deve ter em conta o peso do cabo e a sua rigidez mecnica,
Quadro 173 - Esforo de traco admissvel por mm
2
do metal condutor (daN)
REGRAS DE USO
401
GUIA TCNICO
de modo a evitar-se a existncia de vos acentuados do condutor entre roletes
contguos. Aconselha-se um posicionamento com 2 m a 5 m de intervalo, para
percursos em linha recta.
Nestas situaes, os locais em causa devem ser bem estudados. Um nmero
adequado de roletes de ngulo dever ser posicionados em cada curva ou
mudana de direco que o cabo executar. Este tipo de ferramenta, devido
sua concepo, com roletes posicionados na horizontal e na vertical, impede
que o cabo saia do seu trajecto normal para ir roar nas superfcies laterais.
Nestes pontos, convenientes ter-se em conta que a disposio dos roletes no
deve permitir que o cabo faa um raio de curvatura inferior a 25 vezes o seu
dimetro.
8.3.6 - Proteco dos cabos depois do desenrolamento
Sempre que possvel dever ser realizada uma verificao para assegurar que
a bainha exterior e os capacetes aplicados na extremidade do cabo no foram
danificados, imediatamente aps a concluso do desenrolamento.
8.3.7 - Colocao dos cabos em tubos
8.3.7.1 - Generalidades
Este mtodo de instalao proporciona um maior nvel de proteco mecni-
ca para os cabos.
O dimetro interior dos tubos deve ser, no mnimo, 1,5 vezes o dimetro exte-
rior do cabo.
Aconselha-se colocar um cabo por tubo, j que a frico mtua durante o
desenrolamento poder causar danos irremediveis nas bainhas. No caso dos
cabos tranados, uma vez que no existe a risco frico entre eles poder-se-
utilizar apenas um tubo.
8.3.7.2 - Estrutura e construo
Os tubos plsticos, cobertos por cimento, so dispostos numa configurao
triangular ou em esteira, sendo aplicados, em termos ideais, com uma distn-
cia mnima de 5 cm entre o ponto mais perto dos dois tubos adjacentes.
Se os tubos se situarem a profundidade da superfcie no conveniente que a
camada de cimento fique ao nvel do pavimento. Para evitar a transmisso de
vibraes instalao, aconselha-se meter de permeio uma camada de terra
que sirva de almofada amortizadora.
CAPTULO VIII
402
GUIA TCNICO
As unies entre dois tubos devem ser realizadas com todo o cuidado, de modo
a que no fiquem rebarbas ou rugosidades susceptveis de danificar o cabo
durante o enfiamento. Se os tubos forem encaixados uns nos outros, o senti-
do de enfiamento do cabo dever coincidir com o dos encaixes.
8.3.7.3 - Controlo do estado do interior das tubagens
Na montagem dos tubos convm deixar no seu interior um cabo guia (uma
corda, por exemplo), que permita uma posterior utilizao, como reboque.
Antes da colocao dos cabos deve-se fazer passar pelo tubo um mandril
(calibre) com um dimetro igual a 90% do dimetro interior do tubo. Tal
operao permitir certificar a no existncia de redues exageradas no
dimetro dos tubos.
Aconselha-se, como boa prtica, acompanhar a manobra atrs referida com a
passagem de uma esponja de dimetro ligeiramente superior ao do tubo.
uma forma prtica de varrer o interior do tubo, ao arrastar para o exterior
qualquer objecto estranho (pedra, pedao de cimento, ou areia) que possa
l existir.
8.3.7.4 - A colocao do cabo
Para evitar a frico do cabo no bordo da abertura do tubo ajustado colocar
entrada um conjunto de roletes cnicos.
Como forma de reduzir o atrito do cabo, no interior da tubagem, convenien-
tes aplicar sobre a bainha um produto lubrificante neutro, que poder ser
sabo lquido, ou massa apropriada para o efeito.
8.3.8 - Colocao dos cabos em caleiras
8.3.8.1 - Construo das caleiras
Os canais devem ser construdos de acordo com as seguintes especificaes:
-As dimenses interiores devem permitir um espao livre de pelo
menos 7 cm entre o cabo e a fase interior das coberturas.
-A largura deve ser adequada de modo a permitir um espao livre de pelo
menos 1 cm entre os cabos.
-Asuperfcie interior dever ser perfeitamente lisa, no comportando nenhu-
ma aspereza.
-Os elementos constituintes das caleiras devem ter encaixes suficientes
para evitar o risco de desalinhamento.
REGRAS DE USO
403
GUIA TCNICO
8.3.8.2 - Instalao das caleiras
O fundo da caleira geralmente enterrado a uma profundidade de l m.
Prevendo-se movimento de terras, os referidos elementos devem ser coloca-
dos num tapete de beto de modo que fiquem solidrios uns com os outros.
8.3.8.3 - Cobertura e colocao das caleiras
A caleira fechada com lajes de beto armado apropriadas e beto armado.
Um dispositivo avisador, utilizando uma grelha plstica ou fita, colocado
horizontalmente 20 cm acima das lajes de beto armado. A vala cheia com
areia. Deve ter-se cuidado para evitar esmagamento quando se utiliza equipa-
mentos de compactagem.
8.3.8.4 - Pontos especiais no trajecto do cabo
a) Curvas
O fundo da vala deve estar preparado com uma fundao de cimento, sendo
iguais ao fundo das seces das caleiras. Depois da colocao dos cabos, ser
construdo um muro de cada lado da canalizao.
Aestrutura deve ser perfeitamente lisa. Esta estrutura depois cheia com areia
de qualidade e coberta com lajes de beto armado apropriadas.
Este tipo de construo prefervel ao uso de caleiras curvas, pois no existe
qualquer risco de danificar os cabos nas extremidades.
b) Travessias de estrada
O cabo colocado em tubos plsticos cobertos com beto, com um cabo por
tubo.
Os tubos devem encontrar-se distanciados para evitar a criao de pontos
quentes no cabo.
Ainterligao da travessia caleira feita por alvenaria, construdas segundo
as especificaes descritas acima, para as curvas do cabo.
c) Junes
A juno dos cabos instalada em valas de beto preenchidas com areia e
cobertas com lajes de beto armado apropriadas.
CAPTULO VIII
404
GUIA TCNICO
8.3.9 - Colocao dos cabos directamente no solo
8.3.9.1 - Construo da vala
A fim de ser eliminada toda a rudeza do terreno susceptvel de deteriorar a
bainha exterior dos cabos, o fundo da vala dever ser preparado conve-
nientemente. Os cabos devem ser protegidos da queda de pedras ou materiais
susceptveis de deteriorar a bainha exterior do cabo com um escoramento
apropriado. Os cabos so colocados entre duas camadas de areia fina e de
boa qualidade.
Estas camadas de areia devem ser de pelo menos 15 cm de espessura cada.
Aps o desenrolamento cobrir os cabos com uma camada de areia fina, de
pelo menos 10 cm.
Um dispositivo avisador, utilizando uma grelha plstica ou fita, colocado
horizontalmente 20 cm acima dos cabos.
A proteco mecnica pode ser realizada, colocando lajes de beto armado
apropriadas no cimo da ltima camada de areia. As lajes de beto armado
podem ser unidas com cimento.
8.3.9.2 - Pontos especiais no trajecto do cabo
a) Curvas
No estabelecimento destes pontos, devem ter-se em conta os valores dos raios
de curvatura indicados anteriormente.
b) Travessias de estradas
Os cabos devem ser colocados em tubos plsticos e cobertos com cimento,
com um cabo por tubo (ver instalao em tubos para mais detalhes sobre este
tipo de instalao).
Os tubos individuais devem ser espaados para evitar a criao de pontos
quentes no cabo.
Quadro 174 - Profundidade mnima de colocao no solo
REGRAS DE USO
405
GUIA TCNICO
c) Junes
A juno dos cabos instalada em valas cobertas com areia e cobertas com
lajes de beto armado apropriadas.
8.3.10 - Instalao dos cabos ao ar livre
Nas galerias e tneis visitveis, os cabos devero ser apoiados em prateleiras,
em caminhos de cabos ou ento suspensos por acessrios especficos.
Os caminhos de cabo so, normalmente, construdos em cimento ou metal.
Neste ltimo caso, so de preferncia perfurados, a fim de permitirem uma
melhor circulao do ar volta dos cabos. aconselhvel, no caso de canali-
zaes que veiculem uma grande potncia e que sejam realizadas com cabos
unipolares, colocar estes de uma forma ondulada. Os cabos podem, assim,
efectuar movimentos de dilatao e de contraco sucessivos sem correr
o risco de se encontrarem sob tenso mecnica.
Outro mtodo recomendado o da suspenso, tendo em considerao
a expanso do cabo ou esforo de retraco, de acordo com os ciclos de
cargas ou curto-circuito. Adoptando sempre a configurao triangular estes
sistemas podem ser articulados com a mudana de direces para assegurar
o ngulo de viragem o mais largo possvel.
O intervalo entre 2 sistemas de suspenso depende do peso do cabo e trajec-
to. Geralmente a distncia de aproximadamente 2 metros adoptada para
instalaes dos cabos de alta tenso. Os cabos so segurados entre cada siste-
ma de suspenso numa configurao triangular atravs de uma ou mais
abraadeiras.
Em certos pontos do trajecto do cabo (mudana do ngulo de declive ou direc-
o) os cabos podem ser fixados atravs de ganchos, segurando o cabo firme-
mente sem distoro.
CAPTULO VIII
406
GUIA TCNICO
8.4 - Gesto Ambiental ~ Para uma prtica de OBRALIMPA.
Os colaboradores directamente envolvidos nos trabalhos em obra devem ser
sensibilizados para a separao dos resduos nesses locais e para o correcto
encaminhamento dos mesmos. Alm do aspecto legal, que obriga as empre-
sas a darem tratamento adequado aos resduos gerados, um cuidado que
devemos ter para com a sociedade e o meio-ambiente.
Ao destinarem os materiais e as ferramentas para as obras tenham em
ateno a necessidade de disponibilizarem embalagens para os resduos
que resultarem das actividades que vo levar a cabo. Elas devem ser
resistentes e ter capacidade de conteno adequada. ajustado o uso de
sacas plsticas.
medida que o trabalho vai provocando a formao de resduos,
providenciem de imediato a sua segregao no local. Sempre que
possvel, utilizem embalagens de cores diferentes para assim melhor
poderem identificar o tipo de resduo segregado.
A separao correcta dos diferentes tipos de resduos das obras pode
permitir a sua valorizao, atravs da reutilizao ou reciclagem, com
a consequente reduo dos custos da resultante.
Prevenindo derrames no solo em obra, as embalagens contendo
leos ou outros lquidos perigosos devem ser colocadas em bacias de
reteno.
Armazenem os materiais de limpeza (panos, papis, ou cartes) conta-
minados com leo ou outros produtos perigosos, em recipiente prprio.
No os misturem com o lixo normal!
Se necessitarem de lavar ferramentas ou recipientes contendo resduos
de produtos qumicos, no o faam em linha de gua. Armazenem
a gua de lavagem contaminada em recipiente apropriado, para poste-
rior tratamento. No esqueam de lhe colocar uma etiqueta, referindo
o seu contedo.
Todos devemos estar preparados para acudir a pequenas emergncias
ambientais. No trabalho dirio pode acontecer haver incidentes,
nomeadamente derrames de produtos qumicos no cho, que convm
ter em conta para evitar a contaminao do solo, das guas e at de
outros produtos.
Edio:
SOLIDAL - Condutores Elctricos, S.A.
QUINTAS & QUINTAS - Condutores Elctricos, S.A.
10 Edio revista e actualizada
Execuo Grfica:
NORPRINT
Maio 2007
Dep. Legal 233441/05
Probida a reproduo total ou parcial sem autorizao das empresas.
Tiragem: 2000 ex.
- NOTAS -
- NOTAS -
Você também pode gostar
- Marketing 5.0Documento9 páginasMarketing 5.0SaraAinda não há avaliações
- Guia Cobit2019 ItsmnapraticaDocumento88 páginasGuia Cobit2019 ItsmnapraticaSaulo Martins0% (1)
- Armazenamento de energia: Abordagens sistemáticas referentes aos sistemas elétricos de potênciaNo EverandArmazenamento de energia: Abordagens sistemáticas referentes aos sistemas elétricos de potênciaAinda não há avaliações
- Guia Média Tensão - Dimensionamento de Cabos.v1Documento100 páginasGuia Média Tensão - Dimensionamento de Cabos.v1nelsoncanteriAinda não há avaliações
- Apostila Redes de Distribuicao Aerea PDFDocumento123 páginasApostila Redes de Distribuicao Aerea PDFRamon SilvérioAinda não há avaliações
- Inovações em Tecnologia Educacional - CURSODocumento56 páginasInovações em Tecnologia Educacional - CURSOEloi MenezesAinda não há avaliações
- 07 - Dimensionamento de Isoladores Sob Condições de PoluiçãoDocumento115 páginas07 - Dimensionamento de Isoladores Sob Condições de PoluiçãoAlan ZanzeriAinda não há avaliações
- Caderno de Especificaçoes Vedacit LeituraDocumento60 páginasCaderno de Especificaçoes Vedacit LeituraAline OliveiraAinda não há avaliações
- Instalações Elétricas de Baixa TensãoDocumento128 páginasInstalações Elétricas de Baixa Tensãolandomagalhaes100% (1)
- Introducao A Energia Mini-HidricaDocumento38 páginasIntroducao A Energia Mini-HidricaMarconi Frinhani100% (1)
- TCC Utilizando o Tecat PlusDocumento149 páginasTCC Utilizando o Tecat Plusadelmo souzaAinda não há avaliações
- Apontamentos para Projecto de Instalações EléctricasDocumento66 páginasApontamentos para Projecto de Instalações EléctricasJosé Garcia100% (4)
- Apostila Workshop Analise Corporal 1Documento31 páginasApostila Workshop Analise Corporal 1Ana Paula Silva Leite100% (1)
- Regimento Interno SEBRAEDocumento30 páginasRegimento Interno SEBRAEEnrique FerreiraAinda não há avaliações
- 4 - Regulamento de Segurança de Redes de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa TensãoDocumento50 páginas4 - Regulamento de Segurança de Redes de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa TensãoAlberto CletoAinda não há avaliações
- Linhas de Potência Natural Elevada em 500 KV - CepelDocumento8 páginasLinhas de Potência Natural Elevada em 500 KV - CepelJoao SilvaAinda não há avaliações
- Estudo de Barramentos Rígidos em Subestações PDFDocumento40 páginasEstudo de Barramentos Rígidos em Subestações PDFplinokioAinda não há avaliações
- Resumo Introducao Ao Projeto de Sistemas Fotovoltaicos John BalfourDocumento2 páginasResumo Introducao Ao Projeto de Sistemas Fotovoltaicos John BalfourLumière EngenhariaAinda não há avaliações
- Jornadas CERTIEL 2012Documento28 páginasJornadas CERTIEL 2012José LopesAinda não há avaliações
- Tracção Eléctrica BolotinhaDocumento21 páginasTracção Eléctrica BolotinhaJoao Carlos CumbaneAinda não há avaliações
- CERTIEL GuiapraticoDocumento21 páginasCERTIEL GuiapraticoCandido RodriguesAinda não há avaliações
- Capitulo 5 Rede de Distribuição 12 ClasseDocumento49 páginasCapitulo 5 Rede de Distribuição 12 Classealbertoteca100% (4)
- Resistência de TerraDocumento22 páginasResistência de TerraAlbinoVieiraAinda não há avaliações
- Aula 3 Configurações de Barra PDFDocumento51 páginasAula 3 Configurações de Barra PDFEderson ZanchetAinda não há avaliações
- Memorial - Projeto SubestaçãoDocumento5 páginasMemorial - Projeto SubestaçãoAndrei LealAinda não há avaliações
- Regulamento de Linhas at - MTDocumento32 páginasRegulamento de Linhas at - MTccristo50% (2)
- Diagramas Unifilares de Uma SubestaçãoDocumento15 páginasDiagramas Unifilares de Uma SubestaçãoVitor Rocha100% (2)
- R.D. Fuchs - Transmissão de Energia Eletrica - Vol 1Documento153 páginasR.D. Fuchs - Transmissão de Energia Eletrica - Vol 1lucas_rlima100% (1)
- Atividade 3 - Isoladores PDFDocumento4 páginasAtividade 3 - Isoladores PDFlucas piton100% (1)
- Calculo de Malha de AterramentoDocumento96 páginasCalculo de Malha de AterramentoRaphael PortoAinda não há avaliações
- NBR 8449 - Dimensionamento de Cabos Para-Raios para Linhas Aereas de Transmissao de Energia EletricaDocumento46 páginasNBR 8449 - Dimensionamento de Cabos Para-Raios para Linhas Aereas de Transmissao de Energia Eletricaaoc_speedAinda não há avaliações
- Prova de SubestaçãoDocumento6 páginasProva de SubestaçãoMiréli Binder VendruscoloAinda não há avaliações
- 2017 - Linhas de Transmissão de Energia Eléctrica - 5. Construção de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica.Documento25 páginas2017 - Linhas de Transmissão de Energia Eléctrica - 5. Construção de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica.AbreuLilianoAinda não há avaliações
- Dimensionamento de BarramentoDocumento91 páginasDimensionamento de Barramentoandreluizpsilveira77100% (1)
- Linhas de Transmissão em Corrente Contínua e Linha de EletrodoDocumento300 páginasLinhas de Transmissão em Corrente Contínua e Linha de EletrodoKhaio Henrique100% (1)
- Norma Iec-61850Documento8 páginasNorma Iec-61850Marcio Silva100% (1)
- WEG Transformadores A Oleo Instalacao e Manutencao 751 Manual Portugues BRDocumento28 páginasWEG Transformadores A Oleo Instalacao e Manutencao 751 Manual Portugues BRGilson Guimaraes de PaulaAinda não há avaliações
- Projeto de Linhas Aéreas de Transmissão de EnergiaDocumento17 páginasProjeto de Linhas Aéreas de Transmissão de EnergiaRafael Aranha100% (3)
- Catalogo Cabos Elétricos FicapDocumento36 páginasCatalogo Cabos Elétricos FicapRodrigo Jacy Monteiro Martins67% (3)
- Treinamento - PvCHECKsDocumento49 páginasTreinamento - PvCHECKsDiego AndradeAinda não há avaliações
- Linhas de DistribuiçãoDocumento49 páginasLinhas de DistribuiçãoHenrique NapoliãoAinda não há avaliações
- NBR IEC Painel de Baixa TensãoDocumento66 páginasNBR IEC Painel de Baixa TensãoOsvaldo CruzAinda não há avaliações
- Livro Edificios Solares FotovoltaicosDocumento118 páginasLivro Edificios Solares Fotovoltaicosswytz100% (1)
- Tabela AWG X MM EquivalenciaDocumento1 páginaTabela AWG X MM EquivalenciabrunonelAinda não há avaliações
- Documentos Normativos EDP DistribuioDocumento65 páginasDocumentos Normativos EDP DistribuioTrincas PadeiroAinda não há avaliações
- 1689601306302ebook 3 - Baur Do Brasil 2Documento12 páginas1689601306302ebook 3 - Baur Do Brasil 2Israel RibeiroAinda não há avaliações
- Dimensionamento de Un Sistema FotovoltaicoDocumento104 páginasDimensionamento de Un Sistema FotovoltaicoBeatriz ReyesAinda não há avaliações
- Caracteristas Normas Tecnicas DIT-C14-100 PDFDocumento30 páginasCaracteristas Normas Tecnicas DIT-C14-100 PDFAndré PinheiroAinda não há avaliações
- Estimação de indicadores de qualidade da energia elétricaNo EverandEstimação de indicadores de qualidade da energia elétricaAinda não há avaliações
- Sistema Hidrotérmico Brasileiro: Uma Solução MatemáticaNo EverandSistema Hidrotérmico Brasileiro: Uma Solução MatemáticaAinda não há avaliações
- Implementando Um Conversor Monofásico->trifásico No Stm32f103c8 Programado No ArduinoNo EverandImplementando Um Conversor Monofásico->trifásico No Stm32f103c8 Programado No ArduinoAinda não há avaliações
- Fluxo de potência: Teoria e implementação de códigos computacionaisNo EverandFluxo de potência: Teoria e implementação de códigos computacionaisAinda não há avaliações
- Impacto das Perdas Comerciais sobre o Mercado de EnergiaNo EverandImpacto das Perdas Comerciais sobre o Mercado de EnergiaAinda não há avaliações
- Projetos Em Clp Ladder Baseado No Twidosuite Parte ViNo EverandProjetos Em Clp Ladder Baseado No Twidosuite Parte ViAinda não há avaliações
- Projetos Em Clp Ladder Baseado Na Placa Arduino Uno Parte INo EverandProjetos Em Clp Ladder Baseado Na Placa Arduino Uno Parte IAinda não há avaliações
- Cabos Quintas & QuintasDocumento24 páginasCabos Quintas & QuintasPaiva PortugalAinda não há avaliações
- Miguelez Cabos 09 PDFDocumento128 páginasMiguelez Cabos 09 PDFPaulo SilvaAinda não há avaliações
- Apresentacao Institucional JEA 10.01.19Documento15 páginasApresentacao Institucional JEA 10.01.19FABIANOAinda não há avaliações
- Catalogosystemair2010 11Documento215 páginasCatalogosystemair2010 11Silva João0% (1)
- Apresentação InduscabosDocumento17 páginasApresentação InduscabosLuisClaudioMeiraGomesAinda não há avaliações
- Catalogo-Maxtil Completo PDFDocumento196 páginasCatalogo-Maxtil Completo PDFJorge Junior AraujoAinda não há avaliações
- Catalogo Maxtil CompletoDocumento182 páginasCatalogo Maxtil CompletoMichell Vasconcelos SiqueiraAinda não há avaliações
- Metalquip Catálogo Completo PDFDocumento148 páginasMetalquip Catálogo Completo PDFAdeylson Luiz100% (2)
- Relatorio Final Estágio 2022Documento17 páginasRelatorio Final Estágio 2022Felippe VieiraAinda não há avaliações
- ApresentandoDocumento24 páginasApresentandoCristiano TaddeiAinda não há avaliações
- Lessa W D 2013 Projeto de Design Consciencia Do MetodoDocumento38 páginasLessa W D 2013 Projeto de Design Consciencia Do MetodowjdrsAinda não há avaliações
- Suanno TransdicipiplinaridadeDocumento9 páginasSuanno TransdicipiplinaridadeAmanda RodovalhoAinda não há avaliações
- Recurso HEDocumento24 páginasRecurso HEJoana FilipaAinda não há avaliações
- Inovção e CriatividadeDocumento15 páginasInovção e CriatividadeIsabella MartuscelliAinda não há avaliações
- Produtos Servicos Marcas Embalagens 1 PDFDocumento24 páginasProdutos Servicos Marcas Embalagens 1 PDFnazanoAinda não há avaliações
- Modelo Conteúdo Bruto - EmpatiaDocumento9 páginasModelo Conteúdo Bruto - EmpatiaMaurício OsórioAinda não há avaliações
- ATPS - Sistemas de Informações GerenciaisDocumento15 páginasATPS - Sistemas de Informações GerenciaisMônica BarrosAinda não há avaliações
- O Fluxo Do Processo de ProduçãoDocumento6 páginasO Fluxo Do Processo de ProduçãoHeloisa HelbelAinda não há avaliações
- TRABALHO DE DEPARTAMENTALIZAÇÃO Com BordaDocumento11 páginasTRABALHO DE DEPARTAMENTALIZAÇÃO Com BordaCleia84Ainda não há avaliações
- Inovacao A Arte de Steve Jobs TivhDocumento14 páginasInovacao A Arte de Steve Jobs TivhIsaqueAinda não há avaliações
- P.P.P. Bac. Cien. Comp. IfmaDocumento51 páginasP.P.P. Bac. Cien. Comp. IfmaNumb Ex-TremeAinda não há avaliações
- Resumo Livro Qualidade Gestão e Métodos - ToledoDocumento18 páginasResumo Livro Qualidade Gestão e Métodos - ToledoGuilherme TieppoAinda não há avaliações
- Ebook Descola IdeacaoDocumento40 páginasEbook Descola IdeacaoLalinha da PuppyAinda não há avaliações
- A Teoria de Desenvolvimento Endógeno Como Forma de Organização Industrial PDFDocumento8 páginasA Teoria de Desenvolvimento Endógeno Como Forma de Organização Industrial PDFJosé Maria Kama-sayAinda não há avaliações
- Simoes, M. Da Graca M. Tese Doutoramento 2010Documento600 páginasSimoes, M. Da Graca M. Tese Doutoramento 2010Gabriela Beatriz dos SantosAinda não há avaliações
- Gestão Do Conhecimento 2016Documento231 páginasGestão Do Conhecimento 2016Herlon100% (6)
- Ebook Collab GovernoDocumento66 páginasEbook Collab GovernophessilvaAinda não há avaliações
- CRUZ, A., CARDOSO, A. Las Lecciones de Mondragón.Documento19 páginasCRUZ, A., CARDOSO, A. Las Lecciones de Mondragón.Glauco da Rocha WinkelAinda não há avaliações
- Mapa Estrategico Cni 2023 InternetDocumento230 páginasMapa Estrategico Cni 2023 Internetrosiel sousaAinda não há avaliações
- Cofran Catalogo LanternasDocumento24 páginasCofran Catalogo LanternasFERNANDO ANDRIOTTI VICENTINAinda não há avaliações
- Modelo de Checklist para ESGDocumento20 páginasModelo de Checklist para ESGPatrícia NegrãoAinda não há avaliações
- Bacharelado em Tecnologia Da InformaoDocumento112 páginasBacharelado em Tecnologia Da InformaoTatoSoaresAinda não há avaliações
- PI INPA ResolucaoDocumento6 páginasPI INPA ResolucaoAlmir SilvaAinda não há avaliações
- Laboratório de Inovação No Setor Público PDFDocumento6 páginasLaboratório de Inovação No Setor Público PDFAlberto BrandãoAinda não há avaliações