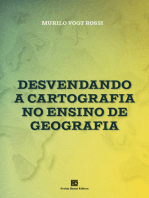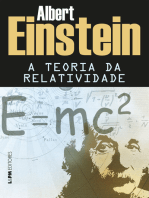Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
253 1185 1 PB
253 1185 1 PB
Enviado por
Will AltierisTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
253 1185 1 PB
253 1185 1 PB
Enviado por
Will AltierisDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Espao e Cartografia: Teoria do Espao e avaliaes da Cartografia e das Paisagens Pictricas
Space and Cartography: Theoryof Space andevaluationsof CartographyandPictorialLandscape
Fernanda Padovesi Fonseca Universidade de So Paulo Departamento de Geografia FFLCH ferpado@gmail.com.br
Jaime Tadeu Oliva Professor e pesquisador do Instituto de Estudos Brasileiros - IEB Universidade de So Paulo jtoliva@email.com
RESUMO Tornar explcitas as relaes entre teoria do espao e as representaes cartogrficas e pictricas na rea da geografia o objetivo central desse artigo. Para explorar essas relaes, antes de tudo, se faz um esforo para a desconstruo da naturalizao do uso da geometria e do espao euclidiano como bvia expresso da verdade geogrfica. O artigo procura destacar as relaes entre as formas de medir e a concepo e conscientizao do espao, assim como procura esboar caminhos metodolgicos para a anlise de mapas e materiais pictricos com base nos princpios crticos propostos. Palavras-Chave: Representaes Cartogrficas; Representaes Pictricas; Espao Euclidiano. ABSTRACT To make explicit the relationship between spaces theory and the cartographic and pictorial representations in the field of geography is the main objective of this article. To explore these relationships, first of all, it makes an effort to deconstruct the naturalization on the use of geometry and the euclidean space as obvious expression of a geographic fact. The article seeks to highlight the relationships between the ways to measure and the conception and awareness of space, as well as seeking to outline methodological approaches for the analysis of maps and pictorial materials based on the critical principles proposed. Keywords: Cartographic Representations; Pictorial Representations; Euclidean Space. RESUMEN Hacer explcitas las relaciones entre la teora del espacio y las representaciones cartogrficas y geografa pictrica de la zona es el objetivo central de este artculo. Para explorar estas relaciones, en primer lugar, hacer un esfuerzo para desconstruir la naturalizacin del uso de la geometra y el espacio euclidiano como expresin evidente de la verdad geogrfica. El artculo pretende dar a conocer la relacin entre las formas de medicin y el diseo y la conciencia del espacio, as como buscar enfoques metodolgicos boceto para el anlisis de los mapas y los materiales pictricos sobre la base de los principios propuestos crtico. Palabras Clave: Representaciones Cartogrficas, Pictricas, El Espacio Euclidiano.
www.ufsj.edu.br/cogeo/revista_territorium_terram.php
Fernanda Padovesi Fonseca - Jaime Tadeu Oliva
Introduo Quanto novos investimentos tericos no campo da cincia geogrfica podem acrescentar como articulao produtiva entre os conceitos de espao e de urbano e o universo das imagens em geral e, da cartografia em particular? o que se pretende tratar nesse artigo. Para abrir a discusso, apresentamos algumas vises e teorias do espao e suas relaes com a cartografia. Eis algumas percepes iniciais: A. A resistncia dos produtores da cartografia geogrfica em flexibilizar suas representaes e fugir da plataforma exclusiva do espao euclidiano resulta, antes de tudo, de uma naturalizao do espao na cultura em geral, e na geografia em especial, como uma realidade externa e pr-existente s coisas. a viso kantiana, por sua vez herdada de Newton, que povoa as mentes: um espao absoluto, natural e portador de predicados universais, cujas manifestaes pertenceriam a um pacote de caractersticas universais. Quer dizer: tanto faz se o espao o da fsica1, da arquitetura e urbanismo, da geografia ou outro qualquer. Esse espao de predicados universais encontra no euclidianismo a sua traduo ideal. Ele supe a continuidade (no contm lacunas) e a contiguidade (no contm rupturas), e tambm, e quem sabe, principalmente, a uniformidade (mtrica constante em todos os pontos), algo que a cartografia convencional aceita como axioma. O que importa assinalar que na cartografia dentro da geografia (e na geografia de um modo geral), o entendimento esse, logo a cartografia apenas corrobora e refora essa postura. Praticamente, toda a tcnica cartogrfica foi legitimada junto aos produtores e usurios nesses termos. E tambm foi assim institucionalizada. Uma rea como a engenharia cartogrfica tm nesse entendimento suas fundaes. E sabe-se, no caso, a influncia que esse ramo da engenharia exerce sobre a cartografia praticada na geografia; B. Conceber o espao noutros termos chocar-se com um universo mental generalizado e de tal modo naturalizado, que a ousadia sofrer a pecha de exotismo anticientfico. Por exemplo: h uma recusa em se admitir como mapa as representaes do espao que no obedeam aos cnones desse universo mental. Ou ento, em admitir-se que preciso haver mudana de foco na medida das distncias quando a realidade assim exigir (introduzindo medidas de tempo, de custo etc.). Isso se agrava no interior de uma disciplina cujo costume do debate cientfico foi pouco cultivado. Fosse o contrrio j estaria assimilado na cultura geogrfica que nem o euclidianismo (nem o kantismo e nem o espao newtoniano) se sustenta bem, diante da teoria da relatividade, na fsica. Afinal, novas concepes foram elaboradas no interior da fsica, sem
V.01, N 01, p. 24-45 | Out/Mar - 2012/2013
25
Fernanda Padovesi Fonseca - Jaime Tadeu Oliva
que ningum considere, que estamos diante de algo esdrxulo. No entanto, no campo da geografia (e da Cartografia Geogrfica) a discusso terica sobre a questo espacial permanece estagnada. Propor uma Cartografia que represente o espao sem recorrer ao euclidianismo expor-se rejeio de gegrafos e cartgrafos, que embora tenham cada vez mais suas prticas separadas, mantm-se parceiros nesse aspecto fundamental. Esse cenrio poderia desanimar, mas as novas realidades espaciais foram de tal modo um desenrijecimento das prticas cristalizadas, que podemos afirmar que vivemos um momento especial de abertura s novas discusses. Mas, para tal, ser preciso uma teoria do espao para a geografia que: 1) Sustente teoricamente novas representaes cartogrficas; 2) E, tambm, a leitura crtica do acervo cartogrfico existente. Nesse artigo, faremos uma breve discusso sobre o primeiro item, e dedicaremos ao item 2 uma explanao um pouco mais ampla. Espao: conceito a ser construdo Discusses tericas sobre o espao em geografia podem aparentar esgotamento. Afinal, desde a chamada crise da geografia (meados dos anos 1970) que, em tese, isso discutido. Todavia, no h como no se colocar de acordo com Jacques Lvy e Michel Lussault quando eles afirmam que as discusses focaram principalmente a crtica das concepes de espao (ou ausncia delas) da geografia clssica, mas que, no entanto, elas foram frgeis diante do objetivo de construir uma nova teoria do espao para a geografia contempornea e para as cincias sociais em geral2. E nesse caso, tambm, a discusso estagnou-se. O espao para a geografia um conceito a ser construdo e no uma adaptao de um presumido espao universal, da chamada categoria espao. Alis, no existe um espao universal e o espao da geografia uma construo histrica integral, inclusive os seus atributos geomtricos, logo no h universais nessa questo, como diz Jacques Lvy. Essa posio se choca com a geografia clssica (portadora de uma viso de espao absoluto) e com algumas correntes da renovao como a anlise espacial que identificam universais no espao, tais como as leis, independente das sociedades histricas que constroem e vivenciam o espao. Ainda, segundo Lvy, ao falarmos de espao (e de tempo tambm) no estamos diante de operadores gerais distintos de outros aspectos da realidade. Esses operadores tambm so construes (LVY, 1999, p. 143).
26
Nas palavras de Lvy:
V.01, N 01, p. 24-45 | Out/Mar - 2012/2013
Fernanda Padovesi Fonseca - Jaime Tadeu Oliva Criando equivalentes gerais, decretando que as coisas no esto mais com o tempo ou o espao (os trs termos: coisas, espao e tempo sendo indissociveis), mas no interior do tempo ou do espao (tempo e espao sendo receptculos, vazios ou plenos de coisas), as sociedades humanas construram um monstro intelectual, um fardo epistemolgico que pesa parcialmente ainda sobre nossos ombros. (LVY, 1999, p. 143, traduo dos autores)
Contrariamente hiptese cartesiana de uma geometria geral de todos os espaos, no podem existir leis do espao que no sejam leis para o mundo social. O tempo e o espao com base nas ideias de espao e tempo relativo de Leibniz, e que se associam diretamente matria dos objetos em relao, que parecem ser ideias produtivas nesse caso. Ainda conforme Lvy(1999, p.150), diremos somente, com Norbert Elias e alguns outros, que nem o tempo, nem o espao, tal como os apreendemos na vida social, por mais trivial e elementar que seja, no so quadros prvios. Eles so construes sociais, mas realizadas de maneiras diferentes. Esse princpio torna coerente a ideia de produo do espao. Por sua vez, o universo mental anterior naturalizou e substancializou o espao (e o tempo tambm) como entidades em si, assim como, universalizou uma geometria, e tambm acoplou a essa geometria um dado sistema mtrico, alis, o sistema mtrico propriamente dito. Espao e tempo passaram a ter uma substncia prpria, quando se pode ver que a substncia de todo o espao sempre uma substncia no espacial. Essa abordagem considera que no se pode definir espao, sem que ele seja espao de alguma coisa (LVY, 2003, p. 881). Como o entendimento anterior naturalizado permanece impregnado vale um esforo terico para desconstru-lo. Pode-se comear com a seguinte afirmao: a era do tempo e do espao formais nem sempre existiu. Houve aqui uma inveno, uma criao. E essa construo indissocivel do desenvolvimento dos instrumentos e dos mtodos de medida (LVY, 1999, p. 143). E o mais essencial para se entender como se d a naturalizao notar que sem medidas, as experincias que ns chamamos hoje de espaciais ou temporais no estariam organizadas em categorias comuns (LVY, 1999, p. 143). H evidentemente espao e tempo no paleoltico, e por outro lado, no mundo orgnico em torno dos homens, mesmo sem a geometria euclidiana e o sistema mtrico. Eles eram percebidos e construdos a partir de outras medidas. Mas, esses so espaos outros, distintos dos nossos. Os espaos paleolticos no se distinguem desse momento da histria. Eles no existem mais. Espaos ps-paleolticos, espaos neolticos so outros, so os da sedentarizao, e
V.01, N 01, p. 24-45 | Out/Mar - 2012/2013
27
Fernanda Padovesi Fonseca - Jaime Tadeu Oliva
sero marcantes. Essa por sua vez, tambm conduzir o grupo a incorporar novos espaos e a construir espacialidades como parte constitutiva de suas sociedades. Essas novas realidades espaciais so inseparveis das formas de medir, informais3, e formalizadas, posteriormente. As referncias mais poderosas que se constroem como formalizao, ao longo da histria e junto maioria das sociedades, so a geometria euclidiana e o sistema mtrico. To impregnadas que se confundem com o objeto: como virtudes e caractersticas universais da categoria espao, quando o so na verdade parte de uma percepo (uma construo) histrica e limitada de um espao no generalizvel. O espao e suas mtricas Num livro fundamental para nossa argumentao, Ken Alder4 relata a aventura de criao e aplicao do sistema mtrico. Antes, toma o cuidado de revelar o seu objeto, que est invisvel: medir um dos atos mais corriqueiros e universalizados junto s sociedades humanas, mas essa ubiquidade torna invisvel a medio. Para serem eficazes, as medidas precisam operar como um conjunto de suposies compartilhadas, precisam se padronizar. Este o ponto indiscutvel de onde se parte para elaborar acordos e fazer distines. muito conhecida a distino feita pelo grande matemtico Henri Poincar que em Matemtica h uma grande diferena entre aprender (e produzir) a lgebra e aprender (e produzir) a geometria. A lgebra sustenta-se na lgica, na reflexo, na abstrao de conceitos formais (nela olha-se para dentro), j na geometria a construo do conhecimento se d pela observao do meioambiente, pela ao de humanizao da natureza e no desenvolvimento da vida social (na geometria olha-se para fora). E geometria quer dizer exatamente a medida da Terra. Assim, qualquer sistema mtrico se associa geometria nessa ao de construo de conhecimentos diretamente relacionados vida material. Por isso, pode-se afirmar que o desenvolvimento das geometrias assim como do sistema mtrico decimal est intimamente relacionado intensificao das trocas e do comrcio. Ou mais genericamente multiplicao dos contatos e das relaes humanas criando para tal uma nova espacialidade (uma nova trama espacial). Na Idade Mdia, as trocas se restringiam mais dentro de limites no muito estendidos. Medidas diferentes eram utilizadas para delimitar terras, e esse fato dificultava as relaes de troca. Em 1795, na Frana, surgiu uma lei que estabelecia o metro como unidade padro de comprimento, definido como a dcima milionsima parte do quadrante de um meridiano terrestre
28
(quadrante: 4 parte da circunferncia 90). Astrnomos franceses mediram o
V.01, N 01, p. 24-45 | Out/Mar - 2012/2013
Fernanda Padovesi Fonseca - Jaime Tadeu Oliva
arco de meridiano entre as cidades de Dunquerque, na Frana, e Barcelona, na Espanha, passando por Paris, sendo ento construdo um metro de platina para ser utilizado como padro. 5 A misso responsvel por medir o arco do meridiano6, na verdade, tanto quanto medir o meridiano visava estabelecer uma nova medida o metro. Tal como Alder relata sobre Condorcet: O metro seria eterno porque fora tirado da prpria terra, ela prpria eterna [...] Sua esperana era a de que os povos do mundo doravante passassem a usar o globo como padro comum de medida (ALDER, 2003, p. 13). Essa pretenso que argumentava com a fora da terra, do globo, pretendia-se universalizante, embora fosse a marcadamente histrico, condio essa que estende prpria concepo de meridiano. Condorcet, fundador da cincia social matemtica e um revolucionrio otimista, o que quase um pleonasmo, dizia que o sistema mtrico era para ser para todos os povos, para sempre (ALDER, 2003, P. 13). Grande intuio, visto que a naturalizao desse sistema juntamente com a geometria euclidiana, deu realidade ao seu desejo. No entanto, os processos reais, criadores de complexidade, revelaram e forjaram novas realidades espaciais que exigem outras mtricas e geometrias para serem apreendidas. Na verdade, a geometria euclidiana e o sistema mtrico vo ficar relegados condio de serem teis em certos casos, mas no universalmente. Entretanto, euclidianismo e o sistema mtrico que serviram a um contexto histrico, ultrapassaram-no e terminaram atendendo muito mais do que as necessidades da poca. Por isso, o espao visto a partir de universais (equivalentes gerais), ainda dominante nas elaboraes da geografia e na Cartografia. A fora da naturalizao no de se desprezar, e sobrevive a despeito de tudo o que se desenvolveu de contrrio nas cincias. Um produto evidente e poderoso dessa sobrevivncia, e que um fardo para qualquer renovao da Cartografia a carta topogrfica:
Essas inovaes (o sistema mtrico que impregna nossos espritos e que surgiu num contexto) nos parecem to decisivas que fcil compreender porque elas esto to fortemente instaladas em nossos espritos. A carta topogrfica, ao mesmo tempo, suficientemente vazia de aes humanas para nos fazer pensar que ela representa um espao em si, prvio a tudo, e suficientemente pleno de montanhas, de florestas e de vias para merecer o ttulo de mapa geral mostra bem, como uma opo bem especfica, respondendo a demandas precisas, pode se impor e permanecer por longo tempo inerradicvel. (LVY, 1999, p. 145, traduo nossa).
Algo bem mais concreto sobre as consequncias dessa sobrevivncia universalizante do euclidianismo e do sistema mtrico est documentado num
V.01, N 01, p. 24-45 | Out/Mar - 2012/2013
29
Fernanda Padovesi Fonseca - Jaime Tadeu Oliva
precioso exemplo tirado de um trabalho do historiador Benedict Anderson7. Anderson no captulo 9 (Censo, mapa, museu) se refere ao trabalho do historiador tailands Thongchai Winichakul, que ele reputa brilhante.8 Winichakul rastreou os processos complexos de surgimento de um Sio com fronteiras prprias entre 1850 e 1910 e concluiu que o mapeamento feito na poca, que tinha bases euclidianas e utilizava o sistema mtrico, teve um papel construtivo nesse territrio. No s contribuiu na sua formao, mas tambm ajudou conceber essa modalidade espacial (o territrio contguo):
Em termos de inmeras teorias da comunicao e do senso comum, um mapa uma abstrao cientfica da realidade. Um mapa apenas representa algo que j existe objetivamente ali. Na histria que eu apresentei, essa relao est invertida. Um mapa antecipava a realidade espacial, e no vice-versa. Em outros termos, um mapa era um modelo para o que (e no um modelo do que) se pretendia representar. [...] Ele havia se tornado um instrumento real para concretizar projees sobre a superfcie terrestre. Agora era necessrio um mapa que respaldasse as reivindicaes das tropas e os novos mecanismos administrativos [...] O discurso do mapeamento era um paradigma dentro do qual funcionavam e serviam as operaes tanto administrativas quanto militares. (WINICHAKUL apud ANDERSON, 2008, p. 239-240)
Esse mapa tailands cria um espao contnuo e abstrato os vazios passam a ter sentido como territrio, o topolgico, antes predominante, visto que o Sio era um conjunto de pontos numa extenso (cidades, monumentos, certos marcos simblicos, fonte de recursos) articulados, cede lugar a contiguidade e a continuidade, logo ao euclidianismo. As mtricas topogrficas representadas pelo sistema mtrico e pelo espao euclidiano se ajustaram aos territrios humanos contguos, em termos histricos, mas no se ajustam s espacialidades produzidas nos espaos contemporneos como aquelas organizadas em redes geogrficas. Essas so topolgicas e, no faz sentido medir suas distncias em metros. Afinal um ponto de uma rede pode estar muito distante de outro que prximo em termos euclidianos e em metros, por ausncia de conexo direta. Novas espacialidades das corporaes transnacionais, ou das redes fechadas de condomnios fechados e de shoppings centers nas grandes cidades brasileiras, no so muito bem representadas em mapas euclidianos. Novas espacialidades precisam ser
30
apreendidas a partir de outras mtricas.
V.01, N 01, p. 24-45 | Out/Mar - 2012/2013
Fernanda Padovesi Fonseca - Jaime Tadeu Oliva
Esboo de uma metodologia para anlise de mapas Uma teoria do espao, o que implica pensar em suas mtricas e geometrias de apreenso, alm de sustentar novas Cartografias deve orientar metodologias de avaliao do acervo histrico de representaes. A espacialidade que impregnava os mapas um elemento contextual fundamental em sua anlise. Elemento este nem sempre considerado nos estudos dos mapas como documentos. Dois autores anglo-saxes (Brian Harley e Denis Cosgrove) e o francs Christian Jacob so referncias importantes na desconstruo dos mapas antigos e das representaes imagticas (paisagens), pois eles no desconsideram as concepes espaciais explcitas (ou implcitas) nas representaes do espao (mapas e paisagens). Harley9, por exemplo, se queixa que os historiadores tendem a relegar os mapas, junto com os quadros (imagens pictricas), as fotografias, e outras fontes no verbais a evidncias de menor importncia que a palavra escrita. O mesmo no se daria com os gegrafos. Porm, esses subaproveitam o mapa (e as imagens em geral), pois respeitam demais seus princpios topogrficos e figurativos que esto naturalizados, logo no fazem a leitura deste como construo social, no o desconstroem. Como j dissemos, na viso congelada de geografia o papel do mapa representar uma manifestao concreta de uma realidade geogrfica dentro dos limites das tcnicas da topografia, da habilidade do cartgrafo e do cdigo de signos convencionais, o que para Harley, um reducionismo de suas possibilidades analticas.10 Referindo-se aos historiadores, Harley mostrava perplexidade sobre a prtica dominante desses pesquisadores ao usar o mapa como documento: esses, como os gegrafos, quase s fazem perguntas sobre a localizao, sobre as condies topogrficas (e tambm os contornos, as extenses, as medidas) e raramente o usam para esclarecer a histria cultural ou os valores sociais de algum perodo ou lugar especial. Alm do que, no questionam sobre a historicidade das medidas utilizadas e nem concebem as espacialidades do passado a partir delas. Harley se pergunta: por que esse desprezo pelos mapas? Ou melhor: por que essa subutilizao? Diante disso ele acha que antes de se usar mapas como documento histrico preciso perguntar-se: o que um mapa? E aqui veremos a manifestao das pretensas universalidades que foram naturalizadas e que foram tratadas anteriormente: a resposta comum a essa pergunta que o mapa uma janela transparente do mundo. E que um bom mapa deve ser preciso (preciso aqui aplicao do sistema mtrico sobre a geometria euclidiana como se essa ideia de preciso no fosse tambm
V.01, N 01, p. 24-45 | Out/Mar - 2012/2013
31
Fernanda Padovesi Fonseca - Jaime Tadeu Oliva
uma construo histrica). Ainda a resposta convencional: quando um mapa no representa a realidade de uma maneira adequada sobre uma escala concreta, qualificado negativamente. Assim, os mapas se qualificam segundo maior ou menor proximidade com uma verdade topogrfica. Subverter isso um delito cartogrfico (HARLEY, 2005, p. 60). Ler todos os mapas em busca de uma verdade topogrfica, e os antigos tambm, uma forma de anacronismo, como se sempre o sistema mtrico dominante existisse e fizesse sentido como se fosse a-histrico e natural. E tambm uma forma de espacialismo congelado, pois se quer ver sempre o mesmo espao universal por meio de caractersticas tidas como partes de sua substncia. Os pesquisadores fazem uma interpretao problemtica dos mapas antigos ao destacar de modo literal fatos representados. Promovem um tipo de interpretao literal sobre o que os mapas representam de uma realidade emprica. Por exemplo: se um mapa descreve a rota costeira caribenha do sculo XIX e ele apresenta os vestgios de uma cidade fantasma aps a explorao de uma mina no sculo XIX, ele julgado em termos de localizao de suas coordenadas, da forma de suas linhas ou a confiabilidade das irregularidades do terreno (HARLEY, 2005, P. 62). Quer dizer: aplica-se o sistema mtrico contemporneo para determinar que o mapa antigo era impreciso. Desconsiderase que a linguagem matemtica dos mapas uma das formas de apreenso do mundo, e no a nica. Mal se percebe, segundo Harley, que localizar aes humanas no espao segue sendo a maior fonte de engano intelectual dos mapas como forma de conhecimento. Tendo em vista, que a regra bsica para se interpretar qualquer documento histrico a considerao de seu contexto, Harley defende que para analisar um mapa antigo necessrio levar em considerao trs aspectos do contexto que influenciam a leitura dos mapas como textos: 1. O contexto do cartgrafo: aqui se pode fazer uma analogia com os artistas pintores: uma pintura era sempre uma relao social. Por um lado, estava o pintor que pintava o quadro ou ao menos o supervisionava. De outro, estava algum que encomendava, que proporcionava os fundos necessrios e uma vez terminado decidia usar de uma maneira ou de outra, o que implicava na criao de novas relaes no universo da recepo. Ambas as partes trabalhavam dentro de instituies e convenes (comerciais, religiosas, etc.) diferentes das nossas contemporneas, e influam sobre as formas do que tinham feito juntos. O cartgrafo, do mesmo modo, no pode ser avaliado em si: ao longo da histria o cartgrafo foi um ttere vestido com uma linguagem tcnica, cujos fios eram manejados por outras pessoas (HARLEY, 2005, p. 63-67). Nesse caso, Harley
32
est sugerindo que o historiador faa o seu trabalho, como ele o faz diante de
V.01, N 01, p. 24-45 | Out/Mar - 2012/2013
Fernanda Padovesi Fonseca - Jaime Tadeu Oliva
qualquer outro documento histrico. E por que por vezes no o faz? Porque o anacronismo aqui quase automtico: talvez, por causa da certeza com relao geometria euclidiana e ao sistema mtrico que induzem uma interpretao do mapa como deformao, como documento enganoso de uma poca. 2. O contexto dos outros mapas: citando diretamente Harley, Uma pergunta interpretativa fundamental acerca de qualquer mapa se refere sua relao com outros mapas. Este questionamento deve ser enfocado de diversas maneiras. Como exemplo, poderamos perguntar: 1) qual a relao do contedo de um mapa em particular (ou de algumas de suas caractersticas) com outros mapas contemporneos da mesma zona? 2) qual a relao desse mapa com outros do mesmo cartgrafo, ou da mesma companhia de produtores? 3) qual a relao com outros mapas do mesmo gnero (de uma viso area, por exemplo, com outras vises areas da Amrica do Norte)? Qual a relao de um mapa com a produo cartogrfica geral do perodo? As perguntas variam, porm a importncia delas universal. Nenhum mapa est hermeticamente encerrado em si mesmo, nem pode responder a todas as perguntas que desperta. Cedo ou tarde a interpretao dos mapas anteriores se converte em um exerccio de Cartografia comparativa (2005, p. 68-69, traduo nossa). Alis, esse gnero de reconstruo de contexto pode indicar a precocidade inovadora de certos mapas, assim como nos dar uma viso mais completa da espacialidade reinante, visto que provvel encontrar-se pontos de coerncia entre os mapas, que podem, inclusive, pertencer a famlias mais amplas. Um exemplo notvel, na histria da Cartografia, refere-se produo de mapas, aps o sculo XIV na Europa, com a redescoberta de Ptolomeu. Suas tcnicas se transformam em paradigma (o elemento essencial do contexto dos outros mapas) para a reproduo e atualizao de mapas-mndi11 ou ento, referncias chaves para os processos de renovao, como o mapa de Mercator.12 3. O contexto da sociedade: aqui as consideraes contextuais so aquelas que fazem uso da sociologia, afinal o indivduo cartgrafo, ou a empresa, ou ainda aquele que encomenda os mapas pertencem a um conjunto social mais amplo. E nenhum desses atores sociais tem seu papel compreendido como ente isolado. A anlise do contexto social implica em tentar perceber qual a relao de poder instaurada no mapa? Qual a viso da sociedade representada no mapa? Qual foi a funo social cumprida pelo mapa? O marco das circunstncias e das condies histricas definidas, produz um mapa que , indiscutivelmente, um documento social e cultural. Todos os mapas esto relacionados com a ordem social de um perodo e de um lugar especfico (HARLEY, 2005, p. 72). Entre alguns exemplos de J. Brian Harley sobre a aplicao dessa
V.01, N 01, p. 24-45 | Out/Mar - 2012/2013
33
Fernanda Padovesi Fonseca - Jaime Tadeu Oliva
preocupao contextual, um particularmente merece um destaque, porque nesse caso h uma convergncia com o entendimento estabelecido anteriormente sobre a carta topogrfica. No adequado, como comum at os dias de hoje, pensar que a finalidade de um levantamento topogrfico (carta topogrfica) seja neutra e cientfica: um mapa que mostra aspectos detalhados das paisagens, que mostra um espao prvio sobre o qual se dar a ocupao humana, ou um documento do qual se extrair um mapa temtico. Para comear a preciso das cartas topogrficas antiga duvidosa: os mapas so facilmente corruptveis no processo de cpia. Tambm podem ter surgido tcnicas de levantamento ou de navegao que podem ter sido afetadas no processo de compilao. Por exemplo: antes do sculo XIX, em geral, os mapas se alinhavam segundo o norte magntico e no havia o norte real. A declinao magntica variava localmente, logo havia uma desordem. Por outro lado as sries de mapas topogrficos, com frequncia, tinham uma origem militar e destacavam as caractersticas de importncia estratgica. Nesse sentido no eram exaustivos e nem neutros. Construam uma concepo de espao e eram, na verdade, mapas temticos. Isso amplamente demonstrado e demonstrvel. Mas, afinal o que um mapa? Haveria uma resposta alternativa pergunta sobre o que um mapa em relao viso convencional, sustentada topograficamente na geometria euclidiana e no sistema mtrico? Talvez a melhor resposta seja afirmar que o mapa uma construo social do mundo expressa por meio da Cartografia. Longe de servir como uma simples imagem da natureza que pode ser verdadeira e falsa, os mapas descrevem o mundo, do mesmo modo que qualquer outro documento, em termos de relaes e prticas do poder, preferncias e prioridades culturais. O que vemos num mapa est to relacionado com um mundo social invisvel e com a ideologia como qualquer dos fenmenos vistos e medidos no espao. Os mapas sempre mostram mais que uma suma inalterada de tcnicas. A aparente multiplicidade de significados de um mapa, sua qualidade de ser escorregadio no um desvio, no um problema de um mapa ilusrio. Na verdade, o corao virtuoso das representaes cartogrficas. No existe uma seta causal clara que vai da sociedade ao mapa, seno setas causais que viajam nas duas direes. Os mapas no so a sociedade exterior, so partes dela, so elementos constitutivos dentro do mundo em geral. O historiador pretende ler toda essa rede de interrelaes que vai at dentro e fora do documento mapa (HARLEY, 2005). Alm da considerao dos elementos do contexto e da fuga da armadilha produzida pela busca da verdade cartogrfica (no ter medo de cometer delitos cartogrficos) outros recursos podem ser empregados na anlise e interpretao
34
dos mapas. Harley (2005, p. 75), prope, por exemplo, a ampliao da busca dos
V.01, N 01, p. 24-45 | Out/Mar - 2012/2013
Fernanda Padovesi Fonseca - Jaime Tadeu Oliva
significados dos mapas empregando um paralelismo entre objetos iconogrficos diversos e os mapas. Paralelismos iconogrficos entre a arte e a Cartografia Arte (com os termos de Panofsky) 1. Tema primrio ou natural: motivos artsticos Cartografia (Paralelismo sugerido) 1. Signos convencionais individuais
2. Identidade topogrfica nos mapas: o lugar especfico. [Sugesto de 2. Tema secundrio ou convencional acrscimo: elementos do fundo do mapa escala, projeo e mtrica](*) 3. Significado ou contedo intrnseco 3. Significado simblico nos mapas: ideologias do espao
Fonte: Harley, 2005, p. 75, traduo nossa.
(*) Acrscimo feito por ns, comentado abaixo.
A pergunta sobre o que significava o mapa para a sociedade que o fez e o usou pela primeira vez de uma importncia crucial. Os mapas so uma fonte para revelar as caractersticas filosficas, polticas e religiosas de um perodo, o que se denomina esprito de uma poca. Os estudos iconogrficos auxiliam na composio desse quadro. A iconografia um ramo da histria da arte que se interessa pelo significado das obras de arte visuais. O exame do contexto revela as tendncias dos conhecimentos nos mapas, suas hierarquias, incluses e excluses (os mapas mostram sutis juzos de valor), o estudo iconogrfico examina de que forma se traduziram as regras sociais ao idioma cartogrfico em termos de signos, estilos e vocabulrios expressivos da Cartografia. De nossa parte, o paralelismo proposto por Harley entre o mtodo iconolgico de Erwin Panofsky e as anlises cartogrficas pode receber um acrscimo quando o paralelismo traado entre o tema secundrio ou convencional na pintura e a identidade topogrfica nos mapas: o lugar especfico. No caso dessa identidade topogrfica, vale pensar como ela foi obtida, com qual base geomtrica e sistema mtrico. Esse um elemento comunicante, frequentemente dissimulado (ou melhor, naturalizado) no fundo do mapa. Alis, a identidade topogrfica tributria tambm do fundo do mapa adotado. Esboo de uma metodologia de anlise das paisagens pictricas Denis Cosgrove tem estudos importantes sobre material iconogrfico chave, que so as imagens pictricas (retratos) das paisagens. Evidentemente,
V.01, N 01, p. 24-45 | Out/Mar - 2012/2013
35
Fernanda Padovesi Fonseca - Jaime Tadeu Oliva
a paisagem guarda uma relao bem direta com os mapas. Paisagem um termo polissmico no interior da geografia, mas sempre presente no horizonte dos gegrafos. Ao justificar os estudos das imagens de paisagem como material chave para a geografia, mais especificamente para a geografia cultural, escola da qual ele um dos principais prceres, Denis Cosgrove tambm reage contra o olhar enrijecido da Cartografia. Diz ele:
Durante muito tempo os espaos geogrficos permaneceram enquadrados e definidos pelas coordenadas da geometria euclidiana. Porm, o estudo geogrfico hoje em dia abarca variadas expresses de espao relativo definidas por coordenadas da experincia e inteno humanas culturalmente diversas. (COSGROVE, 2002, p. 65, traduo nossa).
Vale acrescentar que no apenas experincias culturalmente diversas exigem novas abordagens geogrficas e outras representaes, pois mesmo no interior da cultura dominante que gerou uma Cartografia de espao inflexvel (euclidiano vinculado ao sistema mtrico), a histria produziu relaes sociais, cuja espacialidade no apreensvel com a representao cartogrfica enrijecida. A questo no somente cultural. Dando continuidade exposio do que Cosgrove13considera importante na relao geografia e imagem, uma primeira constatao: aprendemos a ver graas mediao comunicativa de palavras e imagens, e estas formas de ver se convertem em naturais para ns. E qual a importncia do ver, nas formas de apreendermos a geografia (as espacialidades) do mundo? importante relembrar o quanto a imagem tem fora de verdade, algo que Cosgrove ressalta14. Ele argumenta que: o racionalismo ocidental tende equiparar viso ao conhecimento e a razo. E isso foi destacado como um elemento central da modernidade. Aqui no se separa mente e corpo, logo a viso um meio de alimentar a razo intelectual: o olho uma janela at a alma racional. De certo modo, isso revaloriza a viso e como consequncia, exige uma reelaborao das relaes entre paisagem, geografia e a viso (do ato de ver). fora da imagem como caminho para a verdade soma-se a sua importncia na formao da identidade de uma comunidade, at mesmo de uma comunidade nacional. Nesse caso, a referncia imagtica principal a paisagem. As imagens de paisagem constroem ao mesmo tempo em que refletem a expresso geogrfica de identidades sociais e individuais. A importncia do ver exige um tratamento mais amplo e, ao mesmo tempo, mais profundo. preciso investir no detalhamento do ato de ver, desde a
36
dimenso orgnica do ato15 at a dimenso social e cultural desse olhar. Afinal,
V.01, N 01, p. 24-45 | Out/Mar - 2012/2013
Fernanda Padovesi Fonseca - Jaime Tadeu Oliva
da condio humana a capacidade para ver alm do visvel fsico e captar o significado invisvel.16 Nosso olhar muito mais que um reflexo de nossos sentidos, pois como diz Cosgrove, a vista humana no passiva: individualmente deliberada e culturalmente condicionada. O termo formas de ver criado pelo crtico de arte John Berger em 1969, reproduz a ideia corrente entre os historiadores da arte de que a ao de ver uma habilidade aprendida. Por exemplo, a metodologia de Brian Harley sobre a anlise de mapas antigos uma forma de ver, que est longe de ser generalizada como o prprio Harley constata e lamenta. Como demonstrao inicial do condicionamento do olhar vale assinalar alguns elementos que conformam o olhar: 1. A experincia individual: o sentido do olhar est conformado por imagens que compem nossas experincias individuais: o que se encontra em nossa memria (imagens do passado), como recordaes, intenes e desejos, assim como, formas fsicas que nos foram marcantes e espaos materiais que esto impressos em nosso ser. Segundo Cosgrove grande parte da viso aprendida uma incorporao pessoal, prpria, de uma exposio ao social, que por sua vez, orientado por convenes sobre, o que se deve ver, quem deve ver o que, quando se pode ver certas coisas; pelas associaes e significados atribudos a uma cena dada e sobre suas propriedades formais e compositivas. O peso desse social deve ser sempre aferido, mas o sujeito, o espectador nunca submetido integralmente ao contexto, o que sucede uma relao complexa nesse campo onde o sujeito age e aprende num dado contexto:
A viso, a percepo visual, uma atividade complexa, que no possvel, a bem dizer, separar das grandes funes psquicas, a inteleco, a cognio, a memria, o desejo. Tambm a pesquisa, comeada do exterior, que segue a luz ao penetrar no olho, leva logicamente a que consideremos o sujeito que olha a imagem, aquele para quem ela feita, e a que chamaremos o seu espectador. (AUMONT, 2005, p. 8)
2. O olhar condicionado culturalmente pelas tcnicas/tecnologias: qualquer paisagem pictrica demonstra as relaes entre o olhar e as tcnicas presentes num dado contexto social. Para ver um quadro, se aceitam como naturais convenes tcnicas da representao do mundo exterior sobre uma tela plana. Por exemplo, aquelas que representam a profundidade tridimensional do espao e que compem os procedimentos da perspectiva. Nesta tcnica admite-se que os elementos menores esto mais longe e isso d o efeito de profundidade; entre as convenes de perspectiva area admite-se que os
V.01, N 01, p. 24-45 | Out/Mar - 2012/2013
37
Fernanda Padovesi Fonseca - Jaime Tadeu Oliva
elementos mais indefinidos e em tons azuis so os que esto mais longe. Na verdade, so normas tcnicas que impregnam as imagens de paisagens, assim como existem outras que orientam (e que se naturalizaram) a confeco de mapas. E aqui uma concluso de Cosgrove muito interessante e de peso para a geografia: as geografias do que se pode ver esto sempre mais reguladas por normas tcnicas que as do que se pode escutar, sentir, cheirar ou saborear. Essa uma constatao muito importante e digna de reflexo comparativa, afinal o olhar, nesse sentido est bem mais controlado social e cientificamente. E para reforar essa constatao mais um argumento calcado nas transformaes empricas do olhar. O olhar no mundo moderno cada vez mais amparado por prteses, est cada vez mais dirigido e se experimenta atravs de uma ampla srie de ajudas mecnicas viso que aumentam a capacidade do olho por si s: lentes, cmeras, projetores de luz, retculas e telescpios, microscpios etc. Tudo isso podendo estar estrategicamente instalado em veculos diferentes, como um satlite que tem ngulos de visada sobre a Terra que oferecem perspectivas inditas17. Sem dvida, a tecnologia aumentou a importncia da viso como meio principal de explorao do espao geogrfico. Logo, uma imagem que chega ao espectador no uma simples resposta dos sentidos18. Isso sem se considerar a experincia individual e as complexas inflexes culturais. Com a histria das mudanas das tecnologias de percepo da paisagem, h transformao do olhar, assim como, dos modos de representao. preciso essa considerao para no cair na tentao de euforia tecnolgica, sem um tratamento do olhar que entenda que muito de sua moldagem est sendo arquitetada (consciente ou no) no interior das prteses e de seus programas.19 3. O olhar condicionado culturalmente pelo contexto: as imagens ativam convenes culturais, revelam pressupostos sociais (ideolgicos, por exemplo), logo a relao espectador imagens no pode, obviamente, abstrair essa dimenso fortemente impregnada. Na geografia, a denominada geografia cultural tem se dedicado muito a essa questo. Como se mencionou, as experincias individuais que contam na formao do espectador, no se separam do contexto social (embora, no sejam cpias), assim como, as tcnicas e tecnologias que se acoplam e ampliam (tambm modificam) os olhares sejam filhas do contexto social, de seu patamar cientfico e de suas valoraes culturais. Jacques Aumont, em obra terica sobre a questo da imagem, denomina o contexto (fatores situacionais) como o dispositivo:
Sempre seguindo o mesmo fio imaginrio, claro que, mesmo esse espectador nunca tem, com as imagens que contempla uma relao abstrata, pura, afastada de qualquer realidade
V.01, N 01, p. 24-45 | Out/Mar - 2012/2013
38
Fernanda Padovesi Fonseca - Jaime Tadeu Oliva concreta. Pelo contrrio, a viso efetiva das imagens tem lugar num contexto, determinado multiplamente: contexto social, institucional, tcnico, ideolgico. o conjunto desses fatores situacionais, se assim podemos dizer, desses fatores que regulam a relao do espectador com a imagem, que chamaremos dispositivo. (AUMONT, 2005, p. 8)
E qual a aplicao dessas reflexes na anlise das imagens representadas pelos retratos das paisagens? A paisagem um conceito que em geografia passa pela construo do olhar, da a importncia da discusso de Cosgrove e, tambm, da produtividade de seu aproveitamento na questo da Cartografia. Na definio de Cosgrove a paisagem a expresso mais significativa da inteno histrica de reunir imagem visual e mundo material. Porm, desde sua apario em lngua inglesa, este uso subordinou-se sempre a ideia de paisagem como uma rea de terra visvel para o olho humano desde uma posio estratgica. A localizao serve para separar o espectador do espao geogrfico contemplado. Posio estratgica significa uma relao de domnio e subordinao entre o espectador e o objeto de viso. A posio estratgica privilegia o espectador da paisagem no momento de selecionar, compor e estabelecer marcos do que se v, quer dizer, o espectador exerce um poder imaginativo (ao p da letra) ao converter o espao material em paisagem. E nesse poder imaginativo operam todos os elementos citados. As experincias individuais, as prteses do olhar, o dispositivo em geral, como diz Jacques Aumont. De certo modo, essas constataes podem ser atribudas com nfase Cartografia. Com nfase porque grande parte da Cartografia, em especial a contempornea, possui o status de cientfica, e sabemos o quanto a cincia aumenta (e garante, no sentido de trazer, para alguns, conforto) pretenso do verdadeiro. Os suportes convencionais da Cartografia, alis, vo dissimular o aspecto criativo (e imaginativo) da ao do cartgrafo, como se ele fosse tomado, e veculo da verdade. Esse o caminho da naturalizao na Cartografia. O poder imaginativo, o potencial de criao que na sua produo uma das foras da paisagem pictrica. Por isso, plausvel como faz Cosgrove, refletir sobre uma relao entre a paisagem, o territrio e a identidade social (nacional, comunitria, territorial, cultural). Dominar as paisagens de uma posio estratgica, assim como mapear, elemento criador de territrios e de identidades, e no apenas reflexos destes20. Um exemplo trazido por Cosgrove: desde 1500 em centros urbanos como Nurembergue, Veneza e Florena comerciantes, eruditos e arteses criavam instrumentos, mapas e quadros para celebrar e, o mais importante: regular o poder e a beleza de suas cidades e regies. As imagens pictricas das cidades ofereciam oportunidades para investir e exibir
V.01, N 01, p. 24-45 | Out/Mar - 2012/2013
39
Fernanda Padovesi Fonseca - Jaime Tadeu Oliva
riqueza. A popularidade dessas cenas urbanas (da natureza tambm), a que seu deu o nome de paisagens, estendeu-se Holanda, Inglaterra e Lombardia nos sculos XVI e XVII. Na paisagem, as tcnicas do topgrafo, do cartgrafo e do planificador e do artista se sobrepem, sendo em geral os mesmo indivduos que as realizaram. Isso mostra a considerao necessria da Cartografia no mundo das imagens, afinal suas tcnicas convencionais e naturalizadas tambm esto implicadas (e vice-versa) na construo das paisagens. Das cidades para territrios mais amplos (territrios esses que formaram os estados modernos) v-se operando tambm nessa escala a paisagem pictrica como fora constituidora de identidade social. As figuras icnicas da natureza e da paisagem nacional desempenharam um papel muito importante na conformao territorial dos estadosnaona modernidade, j que so expresses visveis de uma relao natural entre o povo e a nao, assim como, os mapas tambm desempenharam. Mesmo porque, no haver condio de cada cidado se relacionar pessoalmente com esses espaos. H vasta iconografia cumprindo esse papel na unificao alem e na italiana. As imagens pictricas serviram como veculos de expresso de orgulho e identidade nacional, com paisagens de ponto de vista geogrfico. At na ex-Unio Sovitica, pintores, cineastas, poetas e romancistas celebraram as caractersticas geogrficas exclusivas da paisagem russa como elementos que expressam a identidade e coletivismo russo. (COSGROVE, 2000) Um caso exemplar do papel operante das paisagens pictricas na formao das identidades encontra-se em territrios colonizados. E destaque para o papel das paisagens pictricas no processo de dominao. claro que havia uma paisagem pr-colonial, cuja visualizao nunca foi valorizada, muito ao contrrio. A expresso visual da ao do colonizador foi intensa. Essa ao, como todos sabem, se caracterizou por imposio de sedentarizao das populaes nativas, pelo estabelecimento de outras formas de acesso a terra (propriedade, circunscrio de limites etc.). Aes como estas facilitavam o controle dos nativos e a explorao econmica intensiva. Aqui, a ideia de ideologia ainda cai bem, pois a essas aes atribui-se o status de misso civilizadora que apoiava evoluo cultural dos nativos. As paisagens pictricas desse mundo colonizado registraram ou anteciparam essas conquistas civilizatrias e logo se transformaram em similares da paisagem tpica europeia. E essa ordem evidenciada na paisagem se converteu aos olhos dos europeus numa justificao de sua misso civilizadora (COSGROVE, 2002). E mais que isso: mesmo os pintores nativos passam a incorporar tcnicas e elementos das paisagens e smbolos europeus em sua produo. Um exemplo significativo
40
dessa ocorrncia est bem retratado em trabalho de Serge Gruzinski sobre a
V.01, N 01, p. 24-45 | Out/Mar - 2012/2013
Fernanda Padovesi Fonseca - Jaime Tadeu Oliva
colonizao do Mxico. Trata-se, para ele, mais que a colonizao do territrio uma colonizao do imaginrio.21 Outro aspecto a se notar sobre o papel operante das paisagens pictricas vai alm de seu peso na formao de identidades territoriais (inclusive instrumentalizadas para a dominao colonial). As paisagens operam tambm nos processos sociais mais elementares. A cena visvel da paisagem faz algo mais que refletir a imposio do colonizador, por exemplo. Serve para regular e por ordem nas relaes sociais (COSGROVE, 2002). Assim, possvel verse, alis, no se ver, nas paisagens a dramtica desigualdade social. H na paisagem pictrica, de forma contumaz uma ocultao, que termina tendo uma funo. Cosgrove d um exemplo: na Inglaterra do sculo XVIII pode-se constatar uma coincidncia entre a eliminao dos direitos comunais sobre a terra e seus recursos naturais das comunidades e a criao de agradveis vistas das paisagens rurais e parques naturais. Essa mesma coincidncia pode ser notada na disposio formal da casa grande e nas senzalas dos escravos no sul dos EUA, emoldurados em paisagens buclicas cujo efeito era a amenizao visual da escravido. Tambm, a marca das classes sociais notria nas paisagens que moldaram o desenho dos parques e jardins urbanos e municipais do sculo XIX, como por exemplo, o Central Park. Ali se pretendia um congraamento multiclassista. A resposta das classes mdias foi mudar-se para os subrbios das cidades e a rodear suas chcaras individuais de paisagens em miniatura baseadas nos desenhos dos mostrurios e utilizando plantas trazidas de todos os confins do planeta colonizado. Estes desenhos seriam os progenitores do jardim ou do ptio suburbano moderno, que proliferou como um dos smbolos mximo da estrutura espacial estadunidense. Por fim, similarmente ocultao das desigualdades sociais, as identidades tnicas diferenciadas aparecem nas paisagens pictricas sob formas etnocntricas e ideolgicas. A raa um modo de diferenciao social baseado nas diferenas visveis entre os corpos humanos, e isso somado a outros aspectos culturais e visualizveis, como a arquitetura, se presta a expresses diversas nas paisagens pictricas. Mostrar o no pertencimento, o isolamento do forasteiro, ou ento, o contrrio, ocultar o pertencimento de indesejveis algo notvel em muitas paisagens pictricas. Uma combinao de revelao e ocultao das identidades tnicas pode ser percebida, por exemplo, nas paisagens urbanas. Enquanto, incorporou-se com facilidade a expresso paisagstica dos bairros chineses nas metrpoles norte-americanas22, a resistncia para revelar a presena de negros e latinos nas fotos de multides nos espaos pblicos dessas mesmas cidades foi grande. Nas palavras de Marshall Berman:
V.01, N 01, p. 24-45 | Out/Mar - 2012/2013
41
Fernanda Padovesi Fonseca - Jaime Tadeu Oliva Eu disse espaos para todos, mas em tudo que li e em todas as fotos que vi, na realidade de Times Square antes da Segunda Guerra Mundial, todos significava mais exatamente todos os brancos. A guerra mudou as coisas. Mesmo quando os Estados Unidos abriam as asas de seu poder imperial sobre todo o mundo, uma poro cada vez maior desse mundo abria caminho no Square. Essa dialtica dramatizada em nossa terceira cena primordial, numa maravilhosa fotografia da Square tirada por Willian Klein no Ano-Novo de 1954-4. Ali esto algumas das faces na multido, e ali est a Square evoluindo para adot-la. (2009, p. 30)
No era apenas a realidade que estava mudando, mas a possibilidade de represent-la e irradi-la na cultura. Afinal nessa foto citada apareciam pessoas negras. No se faziam fotos assim antes, e o fotgrafo que registra isso, precisou de uma boa dose de ousadia e coragem.23 Na mesma linha de raciocnio, a paisagem pictrica opera tambm nas relaes de gnero nas cenas urbanas e rurais, retratando as mulheres nos ambientes (paisagens) domsticos e homens nos espaos pblicos, por exemplo. Enfim, de grande importncia perceber a capacidade que tem a paisagem para ocultar e suavizar visualmente as realidades de explorao e para naturalizar aquilo que constitui uma ordem espacial socialmente elaborada. Isso permanece, e grande parte desse raciocnio pode ser estendido Cartografia, com suas expresses que ocultam e distorcem as realidades em representaes rgidas e prisioneiras de convenes distantes das realidades geogrficas. Concluso O artigo procurou ser objetivo na demonstrao da importncia de discutir a Cartografia a ser produzida, assim como a Cartografia histrica, e tambm as paisagens pictricas tendo em vista uma teoria do espao. Uma teoria que visa desnaturalizar representaes que esto mais ou menos congeladas no interior da cultura geogrfica, no s da disciplina em si, como das reas que so influenciadas por esse conhecimento. Mas, essa desnaturalizao no vinga com a manuteno da identificao entre espao geogrfico e o espao euclidiano, assim como o sistema mtrico. Afinal, espao uma construo histrica que varia segundo contextos, assim como suas representaes desde as cientficas (Cartografia) at as artsticas (paisagens pictricas). Notas
42
1 S mesmo no senso comum, pois na fsica a relatividade imps novos entendimentos para o espao e o tempo, quer dizer, na prpria fsica o espao no era uma universalidade consensual. 2 In: JacquesLvy; Michel Lussault. Espace, 2003. p. 325-333.
V.01, N 01, p. 24-45 | Out/Mar - 2012/2013
Fernanda Padovesi Fonseca - Jaime Tadeu Oliva
3 Culturais, idiossincrticas, resultantes de isolamentos, mas, sob forte presso de padronizao, na medida em que as trocas entre os grupos se intensificam. 4 A medida de todas as coisas: a odisseia de sete anos e o erro encoberto que transformaram o mundo. 5 No sistema mtrico, alm do metro como unidade principal de comprimento, h o metro quadrado como unidade principal para medir superfcies e o metro cbico como unidade de volume. 6 Jean-Baptiste-Joseph Delambre e Pierre-Franois-Andr Mchain eram os dois astrnomos principais. 7 Comunidades imaginadas. 8 Siam Mapped: A History of the Geo-Body of Siam. 9 Textos y contextos en la interpretacin de los primeros mapas. In: La Nueva Naturaleza de los Mapas. 10 Se a Cartografia definida como uma cincia concreta, a questo da localizao absoluta dos fenmenos tem um peso muito grande. Assim, se classificaria um bom mapa, segundo sua correspondncia com a verdade topogrfica. E um mapa muito mais que isso, e as vezes no nada disso. 11 nesse contexto que se d a revoluo ptolomaica, um marco fundador da Cartografia moderna, e se retoma o entendimento da esfericidade da Terra. No final do sculo XV e incio do XVI muitos cartgrafos empreenderam a tarefa de corrigir (acertar medidas, acrescentar partes) o mapa de Ptolomeu (GRATALOUP, p., 2009, traduo nossa). 12 A redescoberta de Ptolomeu no sculo XV certamente um dos eventos fundadores da Cartografia moderna. Parecia, entretanto, que esse retorno [a uma obra do sculo II] [...] constitua uma regresso em relao Cartografia nutica [portulanos], [...] que implicava uma representao to fiel e atual quanto possvel das costas do mar Mediterrneo como das encostas atlnticas. Retornar a Ptolomeu, era momentaneamente negligenciar as exploraes mais recentes em proveito de uma representao do mundo ultrapassada [...] O retorno, entretanto, no foi em vo. Independentemente de sua exatido e de sua atualidade, a geografia de Ptolomeu traz um novo modelo de Cartografia, novos instrumentos tcnicos e conceituais [...] constitui um dos resultados da cincia grega e dos diferentes sistemas de projeo e de suas geometrias respectivas, e d instrues precisas para traar as quadrculas que recobrem o desenho cartogrfico. Os mapas regionais, so traadas sobre uma grade ortogonal, que permite localizar os lugares segundo suas coordenadas de longitude e de latitude. A redescoberta da cincia grega [foi] etapa decisiva para redefinir os mtodos da Cartografia moderna: ausncia de projeo e de quadriculagem dos mapas nuticos [portulanos], invadidos pelas linhas de rumo, cuja retilinearidade s poderia definir as rotas martimas, as primeiras edies impressas de Ptolomeu oferecem a soluo de uma geometria que evita alterar as formas do mapa-mndi quando se aproxima dos polos, de uma Cartografia localizando os lugares segundo posies mensurveis [...] A geografia de Ptolomeu desempenha na Cartografia do Renascimento o papel que desempenhar o Almagesto do mesmo autor para a Astronomia e a cosmologia modernas: nem Mercator nem Coprnico no teriam sido possveis sem esse ponto de partida. (Christian JACOB. Lempire des Cartes, p. 92, traduo nossa) 13 In: Boletn de la A.G.E. N. 34 - 2002, pgs. 63-89. 14 Ver tambm Michel Lussault, 2003, p. 485-489. 15 Como o faz Jacques Aumont no livro A imagem, quando estuda o desempenho do olho e do sistema visual, discutindo as transformaes ticas, qumicas e nervosas, assim como os elementos fsicos que envolvem o olhar: a intensidade de luz, o comprimento da onda de luz, a distribuio espacial da luz, o contraste etc. (2005, p. 11-23). 16 Alis, essa capacidade imaginativa, que est na base do poder afetivo que as imagens exercem sobre os seres humanos, sempre despertou temor e ansiedade, muitas vezes dando lugar ao controle social de sua produo e efeitos. Vamos encontrar exemplos, desde a censura de Plato das imagens pintadas at a iconoclastia religiosa, ou as preocupaes seculares sobre a pornografia e a violncia nos filmes do cinema e da televiso (COSGROVE, 2002). 17 A fotografia um dos avanos mais significativos do sculo XIX e o vo a motor entre os do sculo XX. O desenvolvimento da fotografia est intimamente unido a elaborao de panoramas. As convenes pictricas da pintura paisagstica se aplicaram rapidamente fotografia e mais tarde ao cinema. O voo a motor afastou mais ainda o espectador da superfcie da terra ao mesmo tempo em que oferecia ao espectador contemplar a paisagem na escala e desde o ngulo com os quais se associavam os mapas (COSGROVE, 2002). 18 As imagens no representam simplesmente o registro de uma realidade anterior, elas so agentes de peso na hora de configurar essa realidade. Em consequncia, a mecanizao da viso ajudou aos indivduos a dirigir as cenas reais com olhos treinados pelas imagens pelas imagens pictricas, de modo que os modelos e as formas do mundo exterior se alteraram para corresponder s convenes da paisagem pictrica (COSGROVE, 2002). 19 Ver FONSECA, 1995. Nessa pesquisa h uma discusso sobre a submisso do olhar geogrfico aos procedimentos metodolgicos e tcnicos do processamento digital de imagens de satlite. Esses procedimentos podem ser muitas vezes limitantes e inadequados, se sua aplicao for automtica, observao das lgicas geogrficas, em especial, se elas forem apreendidas conforme alguns pressupostos da renovao da geografia.
43
V.01, N 01, p. 24-45 | Out/Mar - 2012/2013
Fernanda Padovesi Fonseca - Jaime Tadeu Oliva
20 Ver Thongchai Winichakul (apud Benedict ANDERSON, 2008), citado anteriormente, a propsito da constituio do territrio do Sio, atual Tailndia. 21 Ver Serge Gruzinski. A colonizao do imaginrio, 2003. 22 Indicado por um repertrio padro de smbolos arquitetnicos e grficos que regularmente substituem antigas formas espaciais de excluso e de demarcao espacial bem menos inocentes. (COSGROVE, 2002) 23 O clebre Benny Goodman Trio (1935-1954) evitava, num certo perodo, apresentaes pblicas para ocultar seu grande pianista negro, Teddy Wilson.
REFERNCIA ANDERSON, Benedict. Comunidades Imaginadas: reflexes sobre a origem e a difuso do nacionalismo. So Paulo: Companhia das Letras, 2008. 330 p. AUMONT, Jacques. A Imagem. Lisboa: Edies Textos & Grafia. 2005. 247 p. BERMAN, Marshall. Um sculo em Nova York: espetculos em Times Square. So Paulo: Companhia das Letras, 2009. 373 p. BESSE, Jean-Marc. Ver a Terra: seis ensaios sobre a paisagem e a geografia. So Paulo: Perspectiva, 2006. 108 p. COSGROVE, Denis. Carto-city. In: ABRAMS, Janet; HALL, Peter (orgs) Else/ where: mapping new cartographies of networks and territories. Minneapolis: University of Minnesota Design Institute, 2006.p. 148-157. COSGROVE, Denis. Observando la Naturaleza: el Paisaje y el Sentido Europeo de Vista. Boletn de la A.G.E. N. 34: 63-89, 2002. FONSECA, Fernanda Padovesi. Avaliao do uso de processamento digital de imagens de satlite em geografia, a partir de um teste no Ncleo Picinguaba (Parque Estadual da Serra do Mar), Ubatuba, S.P. So Paulo, Dissertao (Mestrado em geografia), FFLCH/USP, 1995. 99p. GRATALOUP, Christian. LInvention des continents: Comment lEurope a dcoup de Monde. Paris: Larousse, 2009. 224 p. GRUZINSKI, Serge. A colonizao do Imaginrio: sociedades indgenas e ocidentalizao no Mxico espanhol sculos XVI-XVIII. So Paulo: Companhia das Letras, 2003. 463 p. HARLEY, J. Brian. Textos y contextos em la interpretacin de los primeros mapas. In: HARLEY, J. Brian. La Nueva Naturaleza de los Mapas: ensayos sobre la historia de la Cartografia. Mxico: FCE, 2005. p. 59-78.
44
JACOB, Christian. LEmpire des Cartes. Approche thorique de la cartographie travers lhistoire. Paris: Albin Michel, 1992. 537 p.
V.01, N 01, p. 24-45 | Out/Mar - 2012/2013
Fernanda Padovesi Fonseca - Jaime Tadeu Oliva
LVY, Jacques; Michel Lussault. Espace. In: LVY, Jacques; LUSSAULT, Michel (Org.). Dictionnaire de la Gographie et de lespace des socites. Paris: Belin, 2003. p. 325-333. LVY, Jacques. Substance. In: LVY, Jacques; LUSSAULT, Michel (Org.). Dictionnaire de la Gographie et de lespace des socites. Paris: Belin, 2003. p. 880-881. LUSSAULT, Michel. Image. In: LVY, Jacques; LUSSAULT, Michel (Org.). Dictionnaire de la Gographie et de lespace des socites. Paris: Belin, 2003. p. 485-489. MONMONIER, Mark. Rhumb Lines and Map Wars: a social history of the Mercator projection. Chicago: The University of Chicago Press, 2004. 242 p. Trabalho Enviado em Maio de 2012 Trabalho Aceito em Junho de 2012
45
V.01, N 01, p. 24-45 | Out/Mar - 2012/2013
Você também pode gostar
- Viver no limite: Território e multi/transterritorialidade em tempos de in-segurança e contençãoNo EverandViver no limite: Território e multi/transterritorialidade em tempos de in-segurança e contençãoAinda não há avaliações
- MORAES, A. C. R. - Geografia Pequena Historia CríticaDocumento48 páginasMORAES, A. C. R. - Geografia Pequena Historia CríticaJúlio Araújo Alves50% (2)
- Antropologia Do Espaço: Habitar, Fundar, Distribuir, TransformarDocumento61 páginasAntropologia Do Espaço: Habitar, Fundar, Distribuir, TransformarMonique Candeia75% (4)
- Portfolio 1 EpistemologiaDocumento4 páginasPortfolio 1 EpistemologiaJaqueline RochaAinda não há avaliações
- Antônio Carlos Robert de Moraes - Fichamento Da Obra Geografia - Pequena História CríticaDocumento27 páginasAntônio Carlos Robert de Moraes - Fichamento Da Obra Geografia - Pequena História Críticaffneryn100% (2)
- A Literatura e Os Gêneros ConfessionaisDocumento15 páginasA Literatura e Os Gêneros ConfessionaisTiago A. Nunes100% (1)
- Fractais em Geografia - Conceito e PerspectivaDocumento20 páginasFractais em Geografia - Conceito e PerspectivaAna Gabi MartinsAinda não há avaliações
- Jarem, 03Documento9 páginasJarem, 03Joao Paulo Araujo FerreiraAinda não há avaliações
- Antonio Carlos Roberto Moraes - Pequena História CríticaDocumento786 páginasAntonio Carlos Roberto Moraes - Pequena História CríticaVictor Duba0% (2)
- Parra - Saiz - Didatica Da Matematica - Cap8Documento23 páginasParra - Saiz - Didatica Da Matematica - Cap8Miguel GamerAinda não há avaliações
- SUERTEGARAY - Espaço Geográfico Uno e MúltiploDocumento10 páginasSUERTEGARAY - Espaço Geográfico Uno e MúltiplogarbagehtAinda não há avaliações
- SERPA, Angelo. Trabalho de CampoDocumento18 páginasSERPA, Angelo. Trabalho de CampoGuilherme SalviniAinda não há avaliações
- Espaço, Corpo e Movimento, Notas Sobre A Pesquisa Da Espacialidade Na Arquitetura - Douglas Aguiar (2009)Documento24 páginasEspaço, Corpo e Movimento, Notas Sobre A Pesquisa Da Espacialidade Na Arquitetura - Douglas Aguiar (2009)ClaudiaLumaAinda não há avaliações
- Da Espacidade Ao ... (1) de Ruy MoreiraDocumento17 páginasDa Espacidade Ao ... (1) de Ruy MoreiraLayeChrisAinda não há avaliações
- Intercomunicação Entre Matemática-Ciência-Arte: Um Estudo Sobre As Implicações Das Geometrias Na Produção Artística Desde O Gótico Até O SurrealismoDocumento165 páginasIntercomunicação Entre Matemática-Ciência-Arte: Um Estudo Sobre As Implicações Das Geometrias Na Produção Artística Desde O Gótico Até O SurrealismoViolet ZoeAinda não há avaliações
- O Problema Da Escala - GeoDocumento5 páginasO Problema Da Escala - GeoGustavo Benedito Medeiros AlvesAinda não há avaliações
- Considerações Sobre o Debate Tempo e EspaçoDocumento10 páginasConsiderações Sobre o Debate Tempo e EspaçoRafael AndradeAinda não há avaliações
- HARVEY - Space As A Key Woord in Spaces of Global Capitalism - TraduzidoDocumento15 páginasHARVEY - Space As A Key Woord in Spaces of Global Capitalism - TraduzidoernestofluAinda não há avaliações
- Artigo EnanpegeDocumento12 páginasArtigo EnanpegeVictor LealAinda não há avaliações
- Ritmo Climatico e Extracao Do Sal em Cabo FrioDocumento176 páginasRitmo Climatico e Extracao Do Sal em Cabo FriojuliaAinda não há avaliações
- O Espaço Como Palavra-ChaveDocumento32 páginasO Espaço Como Palavra-ChaveCarlosFrankiwAinda não há avaliações
- Geografia Pequena História Crítica - Antonio C R MoraisDocumento73 páginasGeografia Pequena História Crítica - Antonio C R Moraispolianavp0Ainda não há avaliações
- Benno Werlen - Regionalismo e Sociedade PolíticaDocumento19 páginasBenno Werlen - Regionalismo e Sociedade PolíticaCésar AndrésAinda não há avaliações
- Historia Do Pensamento GeograficoDocumento9 páginasHistoria Do Pensamento GeograficoznerodlAinda não há avaliações
- A Origem Da GeometriaDocumento4 páginasA Origem Da GeometriaAline Limana0% (1)
- Discucao de Conceitos Chaves de GeografiaDocumento14 páginasDiscucao de Conceitos Chaves de GeografiaCelio Do Rosario MarianoAinda não há avaliações
- Resenha Historia Do Pensamento GeográficoDocumento19 páginasResenha Historia Do Pensamento GeográficoAlexandre ValverdeAinda não há avaliações
- Texto 2 - Organização Científica Da GeografiaDocumento12 páginasTexto 2 - Organização Científica Da GeografiaJoão Vitor 2Ainda não há avaliações
- A Geometria Projetiva e A Expressão Gráfica Nas AulasDocumento11 páginasA Geometria Projetiva e A Expressão Gráfica Nas AulasGeslane FigueiredoAinda não há avaliações
- SANTOS, Milton - A Natureza Do Espaço PDFDocumento8 páginasSANTOS, Milton - A Natureza Do Espaço PDFTaís D'AngelisAinda não há avaliações
- As Caractersticas Da Nova Geografia PDFDocumento14 páginasAs Caractersticas Da Nova Geografia PDFJúlio Araújo AlvesAinda não há avaliações
- 837-Texto Do Artigo-2088-2348-10-20111118Documento11 páginas837-Texto Do Artigo-2088-2348-10-20111118Yby Derivados da TerraAinda não há avaliações
- Tempo e A Produção Do Espaço Diálogos Com Milton Santos e Henri Lefebvre Sob o Horizonte Do Rural Na Região de ErechimDocumento25 páginasTempo e A Produção Do Espaço Diálogos Com Milton Santos e Henri Lefebvre Sob o Horizonte Do Rural Na Região de ErechimEduardo NardezAinda não há avaliações
- Panorama Histórico GeometriaDocumento16 páginasPanorama Histórico GeometriaFranco ZéAinda não há avaliações
- Semana 2 - CASSAB - Geografia Escolar e Acadêmica - Texto PrincipalDocumento15 páginasSemana 2 - CASSAB - Geografia Escolar e Acadêmica - Texto PrincipalKaique GustavoAinda não há avaliações
- Espaço Geográfico Uno e MúltiploDocumento10 páginasEspaço Geográfico Uno e MúltiploAnonymous 5LZY5yAinda não há avaliações
- Fabiana-Machado-Leal - Geografia - Ciência Corográfica e Ciência CorológicaDocumento18 páginasFabiana-Machado-Leal - Geografia - Ciência Corográfica e Ciência CorológicaGeraldo Barbosa NetoAinda não há avaliações
- Fundamento Da Geografia FisicaDocumento20 páginasFundamento Da Geografia Fisicajmoura_ftc9955Ainda não há avaliações
- A Percepção Da Paisagem Como Saber Geográfico - Uma Contribuição Na Formação Do Pensamento CríticoDocumento9 páginasA Percepção Da Paisagem Como Saber Geográfico - Uma Contribuição Na Formação Do Pensamento Críticolaurasol dourado100% (1)
- lucianecarneiro,+Gerente+da+revista,+Anais2013 SICT-Sul 541Documento7 páginaslucianecarneiro,+Gerente+da+revista,+Anais2013 SICT-Sul 541Geslane FigueiredoAinda não há avaliações
- Trabalho LuisDocumento10 páginasTrabalho LuisKeivan MatolaAinda não há avaliações
- Resenha 1 IedaDocumento4 páginasResenha 1 IedaIeda OliveiraAinda não há avaliações
- Os Novos Mundos Da GeografiaDocumento10 páginasOs Novos Mundos Da GeografiaOziel de Medeiros PontesAinda não há avaliações
- Fractais em Geografia: Conceitos E Perspectivas: January 2007Documento21 páginasFractais em Geografia: Conceitos E Perspectivas: January 2007Raul CostaAinda não há avaliações
- Geometria: Investigação e Domínio Das Relações de Projeto: Cínthya Maria Isquierdo Kátia Azevedo TeixeiraDocumento7 páginasGeometria: Investigação e Domínio Das Relações de Projeto: Cínthya Maria Isquierdo Kátia Azevedo TeixeiraIsabel FernandesAinda não há avaliações
- Estudo Dirigido I - Epit de GeografiaDocumento5 páginasEstudo Dirigido I - Epit de GeografiaMonique LacerdaAinda não há avaliações
- Técnicas e Metodologia em Geografia FísicaDocumento4 páginasTécnicas e Metodologia em Geografia FísicaDeográcio Possiano Talegal0% (1)
- Artigo - Geografia TeoréticaDocumento19 páginasArtigo - Geografia TeoréticaVitor Vieira VasconcelosAinda não há avaliações
- História, Região & GlobalizaçãoNo EverandHistória, Região & GlobalizaçãoNota: 4 de 5 estrelas4/5 (2)
- A sociedade do conhecimento e suas tecnologias: estudos em Ciências Exatas e Engenharias: Volume 10No EverandA sociedade do conhecimento e suas tecnologias: estudos em Ciências Exatas e Engenharias: Volume 10Ainda não há avaliações
- Formas de Escrever Região e Paisagem em Geografia: contribuições teóricas e práticasNo EverandFormas de Escrever Região e Paisagem em Geografia: contribuições teóricas e práticasAinda não há avaliações
- A teoria da relatividade: Sobre a teoria da relatividade especial e geralNo EverandA teoria da relatividade: Sobre a teoria da relatividade especial e geralAinda não há avaliações
- Quatro Modelos de Aconselhamento em Ministério Pastoral - Tradução Patricia CroitorDocumento16 páginasQuatro Modelos de Aconselhamento em Ministério Pastoral - Tradução Patricia CroitorPatricia Croitor EvangelistaAinda não há avaliações
- Popper e A Filosofia Da CienciaDocumento8 páginasPopper e A Filosofia Da CienciaRodrigo OliveiraAinda não há avaliações
- Analise Do Pequeno HansDocumento12 páginasAnalise Do Pequeno HansDani OliveiraAinda não há avaliações
- Artigo Tabela Periódica PDFDocumento15 páginasArtigo Tabela Periódica PDFHenrique WelzelAinda não há avaliações
- Trauma Emocional e Desenvolvimento Psicopatológico - Franco de MasiDocumento16 páginasTrauma Emocional e Desenvolvimento Psicopatológico - Franco de Masiheldercha100% (1)
- Jogo João BatistaDocumento16 páginasJogo João Batistapaivargo0% (1)
- Dr. Raul Leguizamón - A Teoria Da Evolução Contra A Ciência e A Fé (O Conto Do Macaco)Documento19 páginasDr. Raul Leguizamón - A Teoria Da Evolução Contra A Ciência e A Fé (O Conto Do Macaco)Tradição Católica no Brasil100% (1)
- Adam Philips Fala Sobre WinnicottDocumento11 páginasAdam Philips Fala Sobre WinnicottNeivaMatosAinda não há avaliações
- AF CRP Caderno Hospitalar PDF PDFDocumento76 páginasAF CRP Caderno Hospitalar PDF PDFMilenaBrasilAinda não há avaliações
- A Miséria Do InstrumentalismoDocumento61 páginasA Miséria Do InstrumentalismoRaphael OliveiraAinda não há avaliações
- Recém-Nascido Sob FototerapiaDocumento8 páginasRecém-Nascido Sob Fototerapiaalmeida_2003Ainda não há avaliações
- A Memória Militar - A Volta Aos QuartéisDocumento319 páginasA Memória Militar - A Volta Aos QuartéisAdriano CodatoAinda não há avaliações
- Psicolinguística - Elena GodoyDocumento120 páginasPsicolinguística - Elena GodoyAugustoCésar100% (1)
- Monografia - O Afásico Na Clínica de LinguagemDocumento277 páginasMonografia - O Afásico Na Clínica de LinguagemCassiano AntunesAinda não há avaliações
- Discurso em BenvenisteDocumento114 páginasDiscurso em BenvenisteSilvana SilvaAinda não há avaliações
- Teoria Do QuaternoDocumento3 páginasTeoria Do QuaternoKarla MendesAinda não há avaliações
- A Escola Positiva No Brasil A Influencia Da Obra o Homem DelinquenteDocumento83 páginasA Escola Positiva No Brasil A Influencia Da Obra o Homem DelinquenteDébora KarolineAinda não há avaliações
- A Inteligência Naturalista e A Educação em Espaços Não Formais: Um Novo Caminho para Uma Educação CientíficaDocumento12 páginasA Inteligência Naturalista e A Educação em Espaços Não Formais: Um Novo Caminho para Uma Educação CientíficaHebert Balieiro100% (1)
- DOWNS, Anthony. Uma Teoria Econômica Da DemocraciaDocumento164 páginasDOWNS, Anthony. Uma Teoria Econômica Da DemocraciaJanaina Rodrigues100% (1)
- Teoria Da SemiculturaDocumento12 páginasTeoria Da SemiculturavfpuzoneAinda não há avaliações
- Artigo Científico - A Pesquisa Como Meio Emancipatório No Processo de Expansão Do Conhecimento Na UniversidadeDocumento9 páginasArtigo Científico - A Pesquisa Como Meio Emancipatório No Processo de Expansão Do Conhecimento Na UniversidadeLarissa AndradeAinda não há avaliações
- Psicologia Social - Carla Pousada PDFDocumento32 páginasPsicologia Social - Carla Pousada PDFHugo RodriguesAinda não há avaliações
- Processos EstocásticosDocumento13 páginasProcessos EstocásticosEdmilson_Q_FilhoAinda não há avaliações
- Artigo - Epistemologia Geografia e AtualidadeDocumento21 páginasArtigo - Epistemologia Geografia e AtualidadeVitor Vieira Vasconcelos100% (1)
- Livreto 9788522111961Documento28 páginasLivreto 9788522111961Carina Pinto33% (3)
- Marcel Granet CivilizaCAo Chinesa IIDocumento196 páginasMarcel Granet CivilizaCAo Chinesa IIafgmauricioAinda não há avaliações
- Monografia - Robson MoriDocumento86 páginasMonografia - Robson MorirobsonmoriAinda não há avaliações
- Paper Leitura de ImagemDocumento10 páginasPaper Leitura de ImagemanafehelbergAinda não há avaliações
- Resenha Sobre Capitalismo Socialismo e Democracia de SchumpeterDocumento11 páginasResenha Sobre Capitalismo Socialismo e Democracia de SchumpeterAmandaArealAinda não há avaliações