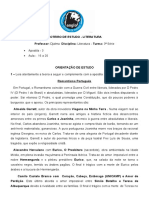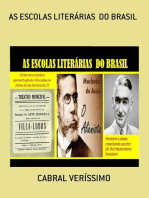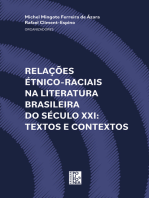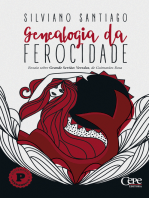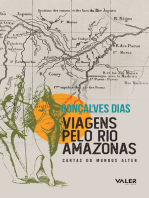Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Resumão de Literatura Brasileira
Resumão de Literatura Brasileira
Enviado por
Maria Inês Sabino GuimarãesDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Resumão de Literatura Brasileira
Resumão de Literatura Brasileira
Enviado por
Maria Inês Sabino GuimarãesDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Resumo de Li teratura Brasi leira
I - LI TERATURA I NFORMATI VA
O que ?
um tipo de literatura composta por documentos a respeito das condies gerais da terra conquistada, as
provveis riquezas, a paisagem fsica e humana, etc. .
Em princpio, a viso europia idlica: a Amrica surge como o paraso perdido e os nativos so
apresentados sob tintas favorveis. Porm, na segunda metade do sculo XVI, medida em que os ndios
iniciam a guerra contra os invasores, a viso rsea transforma-se e os habitantes da terra so pintados como
seres brbaros e primitivos.
Principais manifestaes:
A Carta de Pero Vaz de Cami nha:
Descrio minuciosa da nova realidade; -- A simplicidade no narrar os acontecimentos;
A disposio humanista de tentar entender os nativos; -- O ideal salvacionista.
Duas viagens ao Brasil, de Hans Staden - Viagem terra do Brasil, de J ean de Lry:
Relato de viajantes que viveram entre os ndios vrios meses.
Registro da antropofagia e descrio dos costumes indgenas
I I - LI TERATURA J ESU TI CA
J os de Anchi eta
Obras refinadas: poemas e monlogos em latim que parecem destinados a satisfazer suas necessidades
espirituais mais profundas.
Obras di dti cas: hinos, canes e especialmente autos, que visavam infundir o pensamento cristo nos ndios.
Os autos: Obras teatrais onde o autor tenta conciliar os valores catlicos com os mitos indgenas.
H um confronto entre o bem e o mal. O bem defendido por santos e anjos, os quais expressam o
cristianismo e subjugam o mal, constitudo por deuses e pajs dos nativos, misturados com os demnios da
tradio catlica.
I I I - BARROCO
Surgi mento: Europa, meados do sculo XVI - Brasil, incio do sculo XVII. (Lembrar que, no Brasil, a literatura
barroca acaba no sculo XVII, junto com o declnio da sociedade aucareira baiana. Contudo, na arquitetura e
nas artes plsticas, o estilo barroco atingir o seu apogeu apenas nos sculos XVIII e incio do XIX, em Minas
Gerais.)
Variaes barrocas: cultismo (exagero e rebuscamento formal) e conceptismo (exagero no plano das idias)
so manifestaes de excesso da literatura barroca.
Caractersti cas:
1) Arte da Contra-Reforma, expressando a crise do Renascimento, com a destruio da harmonia social
aristocrtica-burguesa atravs das guerras religiosas. Os jesutas que surgem, neste perodo, combatem os
protestantes e espalham pelo mundo catlico a sua implacvel ideologia teocntrica.
2) Conflito entre corpo e alma. Dividido entre os prazeres renascentistas e o fervor religioso, o homem barroco
oscila entre:
a celebrao do corpo, da vida terrena, do gozo mundano e do pecado;
os cuidados com a alma visando graa divina e salvao para a vida eterna.
3) Temtica do desengano (o desconcerto do mundo): a vida breve, a vida sonho, viver ir morrendo aos
poucos. Aguda conscincia da efemeridade da existncia e da passagem do tempo.
4) Linguagem ornamental, complexa, entendida como jogo verbal, cheia de antteses, inverses, metforas,
alegorias, paradoxos, ausncia de clareza. um estilo complicado que traduz os conflitos interiores do homem
barroco.
Autores barrocos:
1) Gregrio de Matos (Boca do I nferno)
Poesi a religiosa - Apresenta uma imagem quase que exclusiva: o homem ajoelhado diante de Deus,
implorando perdo para os pecados cometidos.
Poesi a amorosa - Tem uma dimenso elevada ("d"), muitas vezes associada noo de brevidade da
existncia, e uma dimenso obscena, onde a exploso dos sentidos (em versos crus e repletos de palavres)
representa um protesto contra os valores morais da poca.
Poesi a satri ca - Ironia corrosiva e caricatural contra todos os setores da vida colonial baiana: senhores de
engenho, clero, juzes, advogados, militares, fidalgos, escravos, pobres livres, ndios, mulatos, mamelucos, etc.
Com seu olhar ressentido de senhor decadente, Gregrio de Matos v na realidade apenas corrupo,
negociata, oportunismo, mentira, desonra, imoralidade, completa inverso de valores. A poesia satrica,
portanto, para ele vingana contra o mundo.
2) Padre Antnio Vieira
Os Sermes
Utilizao contnuas de passagens da Bblia e de todos os recursos da oratria jesutica para convencer os fiis
de sua mensagem, mesmo quando trata de temas cotidianos.
Ataca os vcios (corrupo, violncia, arrogncia, etc.) e defende as virtudes crists (religiosidade, caridade,
modstia, etc.)
Combate os hereges, os indiferentes religio e os catlicos desleixados em relao Igreja.
Defende abertamente os ndios. Mantm-se ambguo frente aos escravos negros: ora tenta justificar a
escravido, ora condena veementemente seus malefcios ticos e sociais.
Exalta os valores que nortearam a construo do grande imprio portugus. E julga (de forma messinica)
que este imprio deveria ser reconstrudo no Brasil.
Prope o retorno dos cristos novos (judeus) a territrios lusos como forma de Portugal escapar da
decadncia onde naufragara desde meados do sculo XVI.
Apresenta uma linguagem de tendncia conceptista, de notvel elaborao, grande riqueza de idias e
imagens espetaculares. Fernando Pessoa o chamaria de "Imperador da Lngua Portuguesa".
I V - ARCADI SMO ( ou NEOCLASSI CI SMO)
Caractersti cas
1. Arte ligada ao Iluminismo. Oposio ao absolutismo desptico e ao poder (barroco) da Igreja.
2. Afirmao orgulhosa da racionalidade. Razo = Verdade = Simplicidade e clareza.
3. Culto da simplicidade. Como se atinge a mesma? Atravs da imitao (no no sentido de cpia, mas no de
seguir modelos j estabelecidos).
4. Imitao dos clssicos. Em especial, Virglio e Tecrito, clssicos pastoris.
5. Imitao da natureza campestre, isto , da ordem e do equilbrio que essa natureza apresenta, o que d a
mesma um carter de paraso perdido. Dois elementos decorrem da aproximao do rcade da natureza
campestre:
a) Bucolismo: adequao do homem harmonia e serenidade da
natureza.
b) Pastoralismo: celebrao da vida pastoril, vista como um eterno
idlio entre pastores e pastoras.
6. Ausncia de subjetividade. O autor no expressa o seu prprio eu, adotando uma forma pastoril (Cl udi o
Manuel da Costa Glauceste Satrnio, Toms Antnio Gonzaga Dirceu, Basli o da Gama Termindo
Siplio, etc.)
7. Amor galante. O amor entendido como um conjunto de frmulas convencionais.
Arcadismo no Brasil
Decorrncia da atividade mineradora e da urbanizao que dela resultou.
Criao de Academias e Arcdias onde os letrados procuravam fugir da indiferena do meio.
Instituio em carter regular de um sistema literrio: autores - obras escritas dentro de uma tendncia
comum - pblico leitor permanente.
Relao com a Inconfidncia Mineira. Toms Antnio Gonzaga foi degredado e Cl udi o Manuel da Costa
se suicidou na priso.
Poesi a lrica:
1. Cl udio Manuel da Costa
Obras poti cas
Poesia de transio entre o Barroco e o Arcadismo.
Do Barroco, o autor tem as noes de brevidade dos sentimentos e da vida, o tema recorrente do sofrimento
humano e o gosto pela anttese e pelo soneto camoniano. Do Arcadismo, CMC apresenta o pastoralismo e a
renncia viso religiosa de mundo.
Em suas Obras, contudo, a paisagem no campestre. Quebrando as convenes do perodo, ele apresenta
cenrios dominados por pedras, rochas, grutas e penhascos, indicando as suas razes mineiras.
Alm das Obras poticas, escreveu uma fracassado poemeto pico (Vila Rica).
2. Toms Antnio Gonzaga
Marlia de Dirceu (liras)
Poesia tipicamente rcade, presa aos esquemas buclicos e pastoris.
A obra foi escrita em trs partes que correspondem a momentos histricos diferentes na vida do poeta. A I
parte em liberdade. A II na priso. E a III provavelmente logo aps o degredo para a frica.
A expresso sentimental da obra d-se, na maior parte das liras, de acordo com as frmulas convencionais da
galanteria. No entanto, em alguns momentos das partes II e III, o autor escapa dos padres rcades e
desabafa a sua dor, o sentimento de medo do futuro e da morte e, sobretudo, a saudade de Marli a. Nestes
momentos, as liras adquirem um carter pr-romntico.
Em seu todo, Marlia um canto das virtudes ilustradas ("urea mediocritas", racionalidade, decoro e
simplicidade).
Sob pseudnimo de Critilo, escreveu as clebres Cartas Chilenas onde satiriza os desmandos do governador
de Minas Gerais, apelidado no texto de Fanfarro Minsio.
3. Si l va Al varenga
Glaura
Celebrao da pastora Glaura, ora num tom galante, ora melanclico.
Poesi a pi ca:
1. Baslio da Gama
O Uraguai
Tema: A conquista militar das Misses jesuticas no RS por tropas luso-espanholas, em 1756, a mando do
Marqus de Pombal .
Outros aspectos:
Celebrao pica dos conquistadores brancos, representados pelo general Gomes Frei re de Andrade.
Tambm os ndios (Sep e Cacambo) so apresentados na condio de heris. uma espcie de glorificao
do homem natural (como se os ndios fossem pastores rcades) que enfrenta os representantes da civilizao
europia.
Os viles da histria so os jesutas, duramente criticados, sobremodo o padre Bal da.
A cena mais famosa do poema lrica e no pica. Trata-se da morte de Lindi a, que, aps ter seu marido,
Cacambo, envenenado por ordens do padre Bal da e na iminncia de casar-se com o ndio Bal deta, filho
natural do padre corrupto, Lindia prefere morrer, deixando-se picar por uma serpente venenosa.
No esquea: O Uraguai um poema em cinco cantos e em versos brancos (sem rima).
2. Santa Rita Duro
Caramuru
Tema: A glorificao do colonizador branco e agente da catequese catlica, Diogo l vares Corri a, que
maravilhou os ndios com um tiro de arcabuz na Bahia do sculo XVI, casando-se com a filha do cacique,
Paraguu, e passando a viver entre eles. Outros aspectos:
Louvao do ndio que se converte religio do dominador luso e o auxilia na conquista da terra.
A cena mais famosa da epopia a morte da ndia Moema, aps a partida para a Frana de Diogo l vares e
sua noiva, Paraguau. Moema vai nadando atrs do navio at ser tragada pelas ondas.
No esquea: H nesta epopia uma forte influncia de Os Lusadas, de Cames.
V - ROMANTI SMO
Contexto histrico:
Ascenso da burguesia > Implantao definitiva do capitalismo > Liberalismo econmico, jurdico, filosfico
Surgimento de um novo pblico leitor > A arte passa a valer como mercadoria
Surgi mento: Fins do sculo XVIII. J o apogeu romntico ocorre na I metade do sculo XIX.
Caractersti cas:
1) Individualismo e subjetivismo: a dupla face do EU romntico. A do EU arrogante, napolenico, audacioso.
E a do EU que se fecha sobre si mesmo, que escava a sua prpria interioridade.
2) Sentimentalismo: Celebrao do "grande amor", da paixo desmedida, mas tambm da tristeza, da
angstia, do "mal do sculo" (o tdio).
3) Culto natureza: Raro o poema romntico que no exalte ou, pelo menos, faa referncia ao mundo
natural. Tambm as metforas preferidas ligam-se sempre a fenmenos da natureza.
4) Sonho, fantasia, tendncia idealizao.
5) Escapismo: tendncias suicidas, culto da morte, criao de mundos imaginrios, entrega ao lcool e
orgias.
6) Liberdade artstica: fim do mecenatismo, ao vender sua obra no mercado o artista se libera das exigncias
de seu protetor. Desobedincia s regras clssicas. Surge o drama teatral e o romance se impe como o gnero
dos novos tempos.
Romantismo brasil ei ro
Arte identificada com a Independncia poltica
Nacionalismo ufanista:
- Indianismo - Regionalismo - Culto natureza brasileira
- Tentativa de criao de uma lngua nacional.
Vigncia:
Incio: 1836 - Suspiros poticos e saudades, de Gonalves de Magal hes
Fim: Dcada de 1870, com a morte dos ltimos romnticos importantes: Castro Al ves e J os de Al encar
A poesi a romnti ca
I Gerao ( Nacionalista)
1) Gonal ves de Magalhes
Suspiros poticos e saudades > Obra (medocre) que introduz o esprito romntico no pas
Confederao dos tamoios > Fracassada experincia indianista
2) Gonal ves Dias
Primeiros cantos - Segundos cantos - ltimos cantos - Os timbiras (epopia indianista inacabada) - Sextilhas de
Frei Anto (poemas escritos em portugus quinhentista, arcaico)
Temas bsicos:
Valorizao do ndio: heri idealizado que simboliza o passado herico da nao: I-Juca Pirama.
Saudades da ptria: Cano do exlio (O paraso est "l" e no "c", a ptria reside na natureza)
Canto da natureza: a beleza do trpico e o encontro de Deus nos fenmenos naturais (pantesmo)
Amor impossvel e sofrido: Principais poemas: Ainda uma vez - adeus!; Se se morre de amor.
No esquea: G. Dias o poeta romntico mais equilibrado e o que tem o melhor sentido de ritmo e
musicalidade do verso.
A poesi a romnti ca
I I Gerao ( I ndi vidualista, ultra- romnti ca, byroniana ou do " mal do scul o")
1) lvares de Azevedo
Lira dos vinte anos (poemas); O conde Lopo (poema);
Macrio (drama com traos cmicos onde um jovem viaja a So Paulo guiado por Sat);
Noite na taverna (contos byronianos, gticos, sombrios e devassos nos quais sete rapazes expem histrias
terrveis de suas vidas)
Temas bsicos:
Pressgio da morte: Se eu morresse amanh.
"Mal do sculo": tdio, dvida, angstia sobre o sentido da vida, confronto entre o sonho e a realidade. Idias
ntimas.
Humor prosaico: percepo irnica do cotidiano
Amor orgaco (dimenso da fantasia) e medo do amor (dimenso real traduzida pela imagem recorrente da
mulher adormecida).
No esquea: Em sua obra, como disse um crtico, as mulheres so "deusas" ou prostitutas, isto ,
inatingveis ou desprezveis.
2) Casimi ro de Abreu
Primaveras
Temas bsicos:
Emoes singelas da adolescncia (inquietudes amorosas) em linguagem totalmente simples.
Saudosismo:
a) da infncia: Meus oito anos
b) da ptria: Canes do exlio
3) Fagundes Varela
Anchietaou o Evangelho nas selvas
Temas bsicos:
Todos os da poesia romntica: o ndio, o canto da ptria, a natureza, o tdio, o abolicionismo, etc.
A morte do filho: Cntico do calvrio
No esquea: Apesar de ser um poeta pouco original, F. V. alcana um bom nvel na sua poesia
rural/sertaneja.
I I I Gerao ( Li beral, soci al ou condoreira)
1) Castro Al ves
Espumas flutuantes - Os escravos - Cachoeira de Paulo Afonso
Temas bsicos:
Poesi a soci al: o abolicionismo, a defesa de causas liberais como a educao, o canto do futuro e do progresso.
Poesi a lrica: a natureza e o amor, este como expresso dos desejos sexuais.
No esquea: A poesi a condoreira apresenta uma linguagem forte, retrica, discursiva, com imagens
extradas dos mais aspectos mais grandiosos da natureza. J a poesia l rica encontra sua expresso numa
linguagem simples, quase coloquial e de forte plasticidade (qualidade visual).
2) Sousndrade - Um caso parte
Obras poti cas
O Guesa errante
Desprezado em sua poca, J oaquim de Sousa Andrade, ou Sousndrade, acabou reabilitado pelos
concretistas como um caso de "antecipao genial" da livre expresso modernista.
Poeta experimental cria uma linguagem cheia de elipses e fuses vocabulares, fugindo das banalidades
sentimentais dos romnticos.
Obra princi pal : Guesa errante, longo poema narrativo em treze cantos. Est baseado em uma lenda indgena
colombiana: Guesa uma criana roubada dos pais pelo deus do Sol. Educado por este deus at os 10 anos,
acaba sendo sacrificado aos 15, aps longa peregrinao pela "estrada do Suna", que na verdade o mundo.
No esquea: a parte mais interessante do Guesa errante a em que ele v a consolidao do capitalismo
como uma doena viciosa (O inferno de Wall Street).
I I - O romance romntico
1. J oaquim Manuel de Macedo O moo louro - A moreninha (relato sentimental da ligao entre dois jovens,
Augusto e Carolina, presos a uma promessa amorosa infantil e que na adolescncia se apaixonam, um pelo
outro, sem saber que so eles prprios os noivos prometidos)
Caractersti cas da obra:
Adaptao do folhetim romntico europeu:
a) a cenrios brasileiros
b) aos valores morais e afetivos da famlia patriarcal brasileira
Possibilita aos leitores brasileiros uma identificao com a realidade local
No esquea: A importncia de Macedo que ele desperta no pblico o gosto pelo romance ambientado no
Brasil
2. J OS DE ALENCAR
Romances urbanos:
Senhora - romance sobre o casamento por interesse. Aurlia abandonada pelo noivo, Fernando Sei xas,
que a troca pelo dote de 30 contos de Adelai de Amaral . Contudo, Aurl ia recebe vultuosa herana e compra
o antigo noivo por 100 contos, casando-se com ele. Aurlia vinga-se ento de Fernando Seixas, tratando-o
como um ser desprezvel, mas o rapaz especula na bola e ganha o dinheiro para se resgatar. O desfecho
absolutamente convencional: os dois se perdoam e so felizes para sempre.
Lucola - romance sobre a paixo de um jovem bacharel, Paulo, por uma cortes (prostituta), Lcia. As
dificuldades deste tipo de relacionamento, a presso social e as angstias naturais do amante constituem a
base da narrativa. No final, os dois se retiram do centro do Rio de Janeiro em busca de um cenrio favorvel
para o triunfo do amor, porm, providencialmente, Lcia morre.
Romances regionalistas ( ou sertani stas) :
O gacho - O sertanej o - Til - O tronco do ip (relatos cujo objetivo exaltar a unidade nacional na diversidade
regional).
Romances hi stri cos:
As minas de prata - A guerra dos mascates (romances de muita ao e pouca historicidade objetiva)
Romances indi anistas:
O guarani (que Alencar considerava um relato histrico) - Ubirajara - I racema ("Lenda do Cear", espcie de
poema em prosa, narra a paixo proibida - mas que acaba se realizando - entre I racema, espcie de
sacerdotisa da tribo tabajara e o portugus Marti m Soares, aliado dos pitiguaras. I racema, a guardadora do
segredo de J urema e que deveria permanecer virgem, entrega-se a Marti m e desta relao nasce Moacir, "o
filho do sofrimento". Antes do nascimento da criana, Marti m Soares parte. Ao regressar, encontra a ndia s
portas da morte. Mesmo assim, I racema ainda lhe entrega a criana e s depois morre. Martim leva ento
consigo o filho Moacir, designado pelo escritor como o "primeiro cearense".
Caractersti cas gerais da obra:
Projeto nacionalista: revelar o Brasil em seu espao fsico-geogrfico (romances urbanos e regionalistas), em
seu passado histrico (romances histricos) e em sua dimenso lendria/mtica (romances indianistas).
Estrutura narrativa romntica, com forte influncia de Walter Scott e Fenimore Cooper.
Idealizao permanente da realidade nacional, valorizao da natureza e estilo metafrico, tendente ao
potico.
Tentativa de criar uma lngua brasileira (Iracema)
Aspectos pr-realistas nos romances Lucola e Senhora (anlise psicolgica mais complexa, anlise do peso da
sociedade sobre a vida individual e temas relativamente proibidos: o casamento por interesse e as
complicaes resultantes do amor entre dois grupos sociais distintos).
Em Senhora e Lucola: vitria final da tica moral conservadora, traduzindo os valores patriarcais do autor.
No esquea: Com J os de Al encar e seu projeto esttico-ideolgico (a defesa de temas nacionais e a luta
por uma linguagem brasileira), a nossa literatura comea o seu processo de emancipao definitiva da
literatura portuguesa.
3. Visconde de Taunay
I nocncia - (romance sertanista -regionalista- sobre uma paixo proibida entre a jovem sertaneja, I nocncia,
e um falso mdico vindo da cidade, Cirino. O pai da moa, entretanto, a prometera a um tipo rstico chamado
Maneco. Este, ao descobrir a paixo de I nocnci a, assassina Cirino. Porm, a jovem deixa-se morrer de
tristeza, encerrando tragicamente a histria.)
No esquea: O romance de Taunay j foi designado como uma espcie de Romeu e J ulieta caboclo, alm de
apresentar uma viso crtica do patriarcalismo brasileiro.
4. Um caso parte: Manuel Antni o de Al mei da
Memrias de um sargento de milcias
Narrativa de costumes: Os hbitos das classes populares no "tempo do rei" (1808-1821)
Destruio do Romantismo: Ironia aos cacoetes romnticos - personagens semimarginais (Leonardo "filho
de uma pisadela e de um belisco") - ausncia de idealizao
Um romance precursor do realismo: Objetividade na viso sobre o mundo social.
Predomnio do humor: Personagens caricaturizados - acontecimentos que desmentem a hipocrisia dos
indivduos - profuso de situaes cmicas.
Personagens principais: Leonardo - suas duas paixes, Luisinha (a ideal) e Vidi nha (a sensual)
Leonardo Pataca (o pai do anti-heri) - Maj or Vidigal (o representante da ordem e o perseguidor de
Leonardo) - Compadre (o protetor de Leonardo), etc.
No esquea: Por seu teor cmico, pela ausncia de idealizao social e pelas caractersticas do anti-heri,
Leonardo (irresponsabilidade, sensualidade, gosto pela vagabundagem e estratgias espertas de
sobrevivncia), o romance tem sido classificado como a primeira narrativa da malandragem em nossa
literatura.
VI - REAL- NATURALI SMO
Surgi mento: II metade do sculo XIX
Caractersti cas do realismo:
1) Objetivismo e impessoalidade
2) Busca da verossimilhana: as obras devem dar a impresso de verdade total, isto , de que constituem um
reflexo perfeito da realidade
3) Busca da perfeio formal
4) Pessimismo: os valores burgueses e as crenas religiosas e ideolgicas sofrem um processo de completo
descrdito
5) Racionalismo - cuja traduo tanto a anlise psicolgica como a anlise social
Caractersti cas do naturalismo
1) Arte vinculada s novas teorias cientficas e ideolgicas europias (Evolucionismo, Positivismo,
Determinismo, Socialismo, Medicina Experimental). Da o outro nome do movimento, criado por Zol a: romance
experimental.
2) Todas as caractersticas do Realismo - menos a anlise psicolgica. Esta substituda por variaes
deterministas que transformam os personagens em fantoches de destinos pr-estabelecidos. Segundo Taine, o
homem produto do meio, da raa e do momento histrico em que vive. Pode-se dizer assim que o
Naturalismo o Realismo mais o cientificismo da II metade do sculo XIX.
3) Cientificismo sociolgico e biolgico. O sociolgico dado pelo determinismo do meio e do momento. O
biolgico pelo determinismo de raa e dos temperamentos e caracteres herdados.
4) Personagens patolgicos. Para provar suas teses, os escritores naturalistas so obrigados muitas vezes a
apresentar protagonistas doentios, criminosos, bbados, histricos, manacos.
O real - naturalismo no Brasil
As primeiras idias renovadoras surgem na dcada de 1870, no Recife, atravs da ao de Tobias Barreto e
S l vio Romero.
Em 1881 aparecem O mulato, de Alu si o Azevedo e Memrias pstumas de Brs Cubas, de Machado de
Assis. Ainda que no sigam de todo os modelos europeus, as obras so respectivamente consideradas as
inauguratrias da esttica naturalista e realista no pas.
O romance real ista
1) Machado de Assi s
I fase: (Tendncias indefinidas, com maior acento romntico)
Ressurreio - A mo e a luva - Helena - I ai Garcia
Tentativa de contrastar caracteres, conforme declarao do autor no prefcio de Ressurreio.
Certos temas recorrentes na II fase, como a ambio e o egosmo, j se insinuam nestes romances
Linguagem carregada de lugares-comuns.
I I fase: (Realista, mas de um realismo absolutamente singular, fora dos padres europeus)
Memrias pstumas de Brs Cubas
Um defunto autor, sem as iluses e as fraudes interiores dos vivos, narra do tmulo a sua vida pregressa. Num
tom irnico, ele vai descobrindo a ausncia de grandeza em si e em todas as pessoas. A conscincia de que as
aes humanas so desencadeadas apenas pelo interesse, pela possibilidade de lucro, pelo egosmo e pelo
instinto sexual, justifica o fim do romance, em que Brs Cubas mede sua vida e conclui que ganhara: "No
tive filhos, no transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa misria".
Curioso o personagem Quincas Borba, amigo do personagem-narrador, filsofo de duvidosa sanidade
mental, criador da teoria do Humanitas que, sendo uma stira contra todas as filosofias, tambm a traduo
da corrosiva viso de mundo do prprio Machado de Assis.
Quincas Borba
O modesto professor Rubi o recebe em Barbacena grande herana do falecido filsofo Quincas Borba, com
a condio de cuidar do seu cachorro, tambm chamado Quincas Borba.
Rubio abandona a provncia, mudando-se para o Rio de Janeiro, onde enganado e explorado por um bando
de parasitas, especificamente por um ambicioso casal: Sofia e Palha. Sofi a percebe a paixo do professor por
ela e se diverte com sua ingenuidade. Palha monta um negcio de exportao com o professor, o qual entra
com todos os recursos financeiros para o empreendimento.
Rubio, conscincia estreita em demasia para a complexidade psicolgica e social, nada entende. E acaba
enlouquecendo. Dissipa, ento, a sua fortuna inteiramente. Palha desmancha a sociedade, ficando com o
negcio e Rubi o despachado de volta para Barbacena, em companhia do cachorro Qui ncas Borba. L
morre na maior misria.
Dom Casmurro
Bento Santiago tenta recompor o passado atravs da memria, e recorda o amor adolescente por Capitu (a
de "olhos oblquos e dissimulados", "olhos de cigana", "olhos de ressaca"). Boa parte da memria de Bentinho
concentra-se na adolescncia dos personagens, na poesia da primeira paixo, no compromisso de casamento e
em seu ingresso forado no seminrio, promessa carola de sua me. Depois, as aes ocorrem velozes: a
amizade com Escobar, o abandono do seminrio, o to desejado casamento com Capi tu, o enlace de Escobar
com Sancha, a amizade dos casais, o nascimento de Ezequiel, filho do personagem-narrador, a felicidade.
Escobar morre no mar e Capitu sofre tanto que Bentinho desconfia. Uma desconfiana que aumentar dia
aps dia, uma dialtica de suspeitas e cimes: Bento v no filho, Ezequiel os traos fisionmicos de Escobar.
O casamento se corri pela traio (concreta?, real?) de Capitu, que parte para a Europa com o filho, impelida
pelo marido que j no os aceita. Anos depois, Capitu morre, Ezequiel retorna para o Brasil (segundo o
narrador, cada vez mais parecido com Escobar), vai para a frica e l tambm morre. O processo de
desagregao de Bentinho estava concludo, restando-lhe enfrentar a solido definitiva.
Esa e J ac
Quando o Conselheiro Ai res morre, encontra-se em seus papis a narrativa em questo. a histria de dois
gmeos, Pedro e Paulo, que j brigavam no ventre da me e que seguem adversrios na infncia e na vida
adulta e na maturidade. Um se forma mdico, outro advogado, um ingressa no partido conservador, outro no
partido liberal. Um monarquista, outro vira republicano. Ambos, no entanto, se apaixonam pela mesma moa,
Flora. Esta oscila entre os gmeos e termina morrendo sem optar por nenhum. Pedro e Paul o reconciliam-se
e prometem amizade fraternal para o resto da vida, mas em seguidas rompem outra vez e seguem se odiando
mutuamente.
O romance muito lembrado por ser o nico, na obra machadiana, em que fatos histricos (a Abolio e a
Repblica) tm importncia no entrecho. Nos vestibulares aparece com freqncia o irnico episdio do cap.
XLIX - Tabuleta velha - em que um dono de confeitaria, Custdio, em meio confuso histrica (fim do
Imprio, incio da Repblica) no sabe como designar a sua casa de negcios.
Memorial de Aires
O mesmo Conselheiro Ai res, diplomata aposentado, escreve o seu dirio cheio de finas observaes sobre a
vida, num tom discreto e levemente nostlgico, abrandando aquele pessimismo dos relatos anteriores de
Machado de Assis. (No mundo ficcional, as memrias do conselheiro so anteriores ao romance Esa e J ac,
do qual ele tambm o narrador).
O conselheiro acompanha com interesse humano (talvez amoroso) a jovem viva Fidlia, praticamente
adotada por um casal de velhos sem filhos, Dona Carmo e Aguiar. Estes tinham experimentando uma grande
decepo quando um rapaz a quem se afeioaram, como se fosse seu filho verdadeiro, Tri sto, mudara-se
para Lisboa com o fim de freqentar a escola de medicina. Tristo retorna e acaba se casando com Fidli a.
Em seguida, para tristeza dos velhos, o jovem casal viaja para Europa. O romance termina com o Conselhei ro
Aires acompanhando com discreta piedade a solido do casal Agui ar e Carmo, no qual muito crticos viram as
figuras de Machado e de sua esposa, Carolina.
Os temas principai s:
1 - O adultrio: Motivo central de Dom Casmurro e de uma srie de contos, alm de ser motivo importante de
Memrias pstumas de Brs Cubas e Quincas Borba.
2 - O parasitismo social: Reflexo de uma sociedade erigida sobre o trabalho do escravo. Parasitas so quase
todos os personagens de Machado, principalmente em Quincas Borba.
3 - A confuso entre a razo e a loucura: As fronteiras estabelecidas entre a razo e a insanidade so vagas e
incertas. No conto O alienista desenvolve-se uma ironia feroz contra as certezas cientificistas do sculo XIX.
4 - O egosmo, a vaidade, o interesse: Sem estes elementos nada ocorreria nos romances e contos de
Machado de Assis. Os personagens movem-se por orgulho ou cobia, e os que vivem por motivos mais
nobres, em geral, so os enganados, os vencidos.
5 - A impossibilidade de ao com grandeza: Se acompanharmos Brs Cubas, Bentinho e o mesmo Rubi o,
veremos apenas o inventrio de mesquinharias e atitudes hipcritas que satisfazem a moral das aparncias.
6 - A hipocrisia: Relaciona-se com aspecto do duplo comportamento humano. Intimamente, os seres possuem
determinadas facetas, idias, sentimentos, mas, para satisfazer as exigncias sociais, dissimulam, falsificam a
sua identidade. Trata-se de um universo de vus e mscaras. H uma alma interior e uma alma exterior: este
o tema do conto O espelho. s vezes, a aparncia e a verdade se confundem tanto que os indivduos tomam
uma pela outra: Capi tu aparenta trair, Bentinho a julga traidora.
7 - A ambigidade feminina: As mulheres no regime patriarcalista, inferiorizadas socialmente, so impelidas a
aprender regras de dissimulao e de seduo, e se servem delas como armas. Muitas vezes, so elas que
conduzem os homens desencadeando crises e problemas. Sofi a, Capi tu, Virgli a e dona Concei o - esta
ltima do conto Missa do galo - exemplificam este tipo de mulher.
8- O instinto e o subconsciente como mveis dos atos humanos.
Processos li ngsti cos e narrati vos
1 - Quebra da estrutura linear: Os romances so fragmentados por uma multiplicidade de episdios e
principalmente pelas contnuas digresses do narrador, que se faz presente em todos os textos, opinando,
julgando, relativizando tudo.
2 - A volubilidade do narrador: O narrador afirma uma idia e, em seguida, a destri. Assim ele faz com todos
os sistemas e filosofias, anulando a todos. Nenhuma verdade absoluta. Tudo depende dos interesses de cada
indivduo. Nada eterno ou definitivo.
3 - Perfeio formal: Os textos machadianos revelam no apenas um refinamento lingstico, mas tambm
uma forma trabalhada, limpa, perfeita.
Caractersti cas das obras
1 - Anlise psicolgica: O romance de enredo linear substitudo pelo romance de digresses e situaes
psicolgicas. Os acontecimentos exteriores, a natureza, o cenrio, so descritos apenas quando provocam
reaes subjetivas nos personagens.
2 - Anlise dos valores sociais: A crtica ao contexto social um dos pilares das narrativas de Machado de
Assis. Tem plena conscincia da brutalidade do patriarcalismo brasileiro, do horror escravismo e da pequenez
de nossa classe dominante. No entanto, no um escritor de protesto. Sua anlise social no aparece na
superfcie, est implcita no comportamento dos personagens.
3 - Pessimismo: Decorrncia da constatao da falncia e da degradao dos valores que regem a vida
humana. O escritor assume uma posio de descrena absoluta em relao sadas religiosas, filosficas e
ideolgicas.
O final de Brs Cubas bastante conhecido:
Este ltimo captulo todo de negativas. No alcancei a celebridade do emplastro, no fui ministro, no fui
califa, no conheci o casamento. Verdade que, ao lado dessas faltas, coube- me a boa fortuna de no comprar
o po com o suor do meu rosto.(...) Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginar que no houve
mngua nem sobra, e conseguintemente sa quite com a vida. E imaginar mal; porque, ao chegar a este outro
lado do mistrio, achei-me com um pequeno saldo, que a derradeira negativa deste captulo de negativas: -
No tive filhos, no transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa misria.
4 - Ironia: A amargura e o desespero so to fortes em Machado que se convertem em humor. Um humor sutil,
de entrelinhas, requintado e discreto, de tal forma que os contemporneos do escritor nunca chegaram a
perceb-lo. A ironia do escritor no atinge apenas os personagens, mas os leitores e o prprio formular da
narrativa.
Outras ati vidades:
Alm de romancista e contista, Machado de Assi s deixou poemas, peas de teatro, crnicas e crtica
literria.
No esquea: Com Machado de Assi s, a literatura brasileira deixou de ser apenas uma manifestao de "cor
local", paisagem e exterioridade, tornando-se uma literatura capaz de expressar de forma brasileira as
contradies do homem universal.
2. Raul Pompi a
O Ateneu
Presena de um narrador em primeira pessoa (Srgi o)
Fortes traos autobiogrficos no romance
Crtica ao internato e sociedade que ela expressa
Registro da destruio psicolgica e moral do menino Srgio no internato
Corrupo do ambiente (todos os personagens se degradam)
Mundo dominado pelo sexo, dinheiro e nsia de poder
Teor caricatural (sobretudo na figura de Aristarco, o diretor do colgio)
As impresses do passado so revividas pelo narrador
Incluso do romance no Realismo (por alguns crticos)
Incluso do romance na esttica impressionista (por outros crticos)
Linguagem trabalhada ("prosa artstica")
3. Al usio Azevedo
O mulato: (romance cuja ao transcorre em So Lus do Maranho, envolvendo denncias contra o
preconceito de cor, a mediocridade da vida provinciAna e a hipocrisia do clero. Jovem mulato de origem
misteriosa, Rai mundo, volta a So Lus, aps formar-se em Portugal, buscando os seus antepassados e uma
fortuna que lhe teria sido subtrada. Termina apaixonando-se pela prima, branca e rica, Ana, e descobrindo o
prprio passado. Sob a inspirao de um padre corrupto, o cnego Diogo (que estava sendo desmascarado
pelo mulato), um ex-namorado de Ana assassina Raimundo. O romance acaba com a indiferena de So Lus
em relao ao assassinato e o casamento de Ana com o criminoso.)
O cortio
A concepo biolgica da existncia - que chega ao extremo de considerar o prprio cortio um organismo
vivo, sujeito s leis evolutivas;
A predominncia do coletivo sobre o particular;
O registro da acumulao primtiva de capital (J oo Romo);
O fatalismo que condena os indivduos a se tornarem o reflexo do cenrio onde vivem: o determinismo do
meio do qual J ernimo o maior exemplo;
O determinismo dos instintos, traduzido especialmente por Pombinha;
A identificao da indolncia, da baguna e da sensualidade como uma forma tropical-brasileira de ser. Um
smbolo disso a mulata Rita Baiana;
A tica nauseada do narrador, que transforma todas as criaturas humanas em animais;
Algumas tiradas racistas, de acordo com os princpios "cientificistas" da poca;
A celebrao de uma extraordinria fora vital, de uma selvagem vibrao dos instintos e de uma fervilhante
alegria de existir e de sobreviver em condies to adversas.
VI I - PARNASI ANI SMO
Surgi mento: Frana, dcada de 1860 - Brasil, dcada de 1880
Caractersti cas: <P>1 - Reao poesia romntica (tentativa de poesia realista)
2 - Objetividade e impassibilidade do poeta
3 - Culto forma, entendida como mtrica, rima e versificao
4 - Utilizao de frmulas poticas fixas como o soneto
5 - Arte pela arte: a arte s tem compromisso com sua beleza
6 - Temas principais: Antigidade greco-romana; discusso sobre a prpria poesia; descrio de cenas da
natureza e de objetos.
Parnasi anismo no Brasil
Literatura descompromissada das elites
Ampla dominao cultural paransiana (1882-1922) que desencadeia, por oposio, a Semana de Arte
Moderna.
A trade parnasiana
1) Olavo Bil ac (Tarde, Poesias, Via-lctea, Saras de fogo)
Temas principais: Natureza - Ptria - Antigidade greco-romana - Amor sensual e amor platnico -
Questionamento da prpria poesia.
Caractersti cas bsi cas: Rigidez mtrica e luta pela perfeio formal - Desvios na objetividade parnasiana,
resultantes de uma pretensa "herana romntica" que se traduz em temas subjetivos como o amor (seja o
ertico, seja o platnico) e o nacionalismo.
Poemas mais conhecidos: Profisso de f - I n extremis - O caador de esmeraldas
2) Rai mundo Correi a (Meridionais)
Temas principais: Natureza - Melancolia da existncia.
Caractersti cas bsi cas: Recursos visuais (plsticos) e sonoros na confeco dos versos - Tentativa de um
sentido filosofante na poesia em geral.
Poemas mais conhecidos: As pombas - Mal secreto
3) Alberto de Olivei ra
Temas principais: Natureza - Descritivismo de objetos
Caractersti ca bsi ca: Adeso completa e rgida a todos os princpios do movimento
VI I I - SI MBOLI SMO
Surgi mento: Frana, 1880, com Verlai ne, Mallarm e Rimbaud
Caractersti cas:
1) Reao subjetivista ao descritivismo parnasiano
2) Abandono das frmulas poticas rgidas
3) A poesia deve ser um processo de sugestes (sugerir = no dizer, no nomear)
4) Sugesto atravs de smbolos, de metforas originais, de uma linguagem cifrada
5) Sugesto atravs da musicalidade da linguagem (uso de aliteraes)
6) Culto do mistrio, do espiritualismo e do misticismo
7) Descoberta das camadas profundas da vida psquica
8) Domnio do vago, do obscuro, do nebuloso, do inefvel
SI MBOLI SMO NO BRASI L
- Movimento surgido em provncias intelectualmente sem importncia, na poca: Santa Catarina, Rio Grande do
Sul, Paran, Minas Gerais
- Pequena ressonncia na poca e forte influncia (dos simbolistas europeus) nos anos de 1910, 20 e 30 sobre
as obras de Manuel Bandeira, Ceclia Meireles, Mrio Quintana e Vincius de Moraes
1) CRUZ E SOUSA
Missal - Broquis - Faris - Evocaes - ltimos sonetos
Temas bsicos:
- A obsesso pela cor branca
- O erotismo sublimado
- O sofrimento da condio negra
- O sofrimento da condio humana
- Espiritualizao e religiosidade
- Linguagem metafrica e musical
2) ALPHONSUS DE GUI MARAENS
Cmera ardente - Dona Mstica Septenrio das dores de Nossa Senhora
Temas bsicos:
- A morte da noiva
- A sublimao da perda da noiva atravs do misticismo religioso
- A paisagem fantasmagrica das cidades mineiras
- Linguagem de rica musicalidade e, por vezes, litrgica.
3) PEDRO KI LKERRY
- Poesia fragmentria, difcil.
- inovaes de linguagem
I X - PR- MODERNI SMO
Perodo de abrangncia: 1902 a 1922
Perodo ecl ti co* :
grupo passadista (parnasianos e simbolistas retardatrios)
grupo renovador (sob variadas linguagens, com predomnio da prosa neo-realista, um conjunto de escritores
sem um projeto comum tenta olhar para o pas de uma forma mais ou menos crtica.
* ecltico - mistura de vrias tendncias.
1. Euclides da Cunha
Os sertes
Relato sobre a guerra de Canudos travada entre sertanejos fanticos e soldados do exrcito;
A base fatual do relato so as reportagens que E.C. enviou para o jornal durante o confronto.
A obra se divide de acordo com as teses deterministas que a delimitam (Tai ne: meio, raa e momento) em
A terra O homem A luta.
As teses cientificistas de E. C. esto mais presentes nas duas primeiras partes da obra.
Em O homem, o sertanejo apresentado, simultaneamente, como uma "sub-raa", "raa degenerescida" e
como um "forte", um "tit de cobre".
A luta parte mais importante uma mescla de texto cientfico, resgate histrico, reportagem jornalstica,
narrativa romanesca, anlise da guerra, denncia da chacina dos sertanejos e uma profunda interpretao do
Brasil.
A percepo da guerra como traduo da existncia de dois Brasis um civilizado e moderno e outro arcaico e
primitivo dois Brasis sem unidade, sem um ncleo comum, constitui a grande colaborao de E. C. para a
conscincia dos brasileiros da poca a respeito do seu prprio pas.
No esquea: A linguagem extraordinariamente elaborada, ornamental, difcil, potica, barroca em suas
antteses, em suas metforas e em seus paradoxos o que confere carter literrio ao texto.
2. Lima Barreto
Relatos neo-realistas, de estilo simples, mais ou menos desleixados na linguagem.
Valorizao da vida suburbana e das camadas pobres do Rio de Janeiro
Caricatura dirigida aos poderosos da poca (polticos e letrados, em especial)
Ironia corrosiva ao nacionalismo ufanista
Denncia dos preconceitos sociais e de cor (o autor era mulato)
Triste fim de Policarpo Quaresma (Relato centrado em um burocrata visionrio, dominado por formulaes de
nacionalismo ufanista e que, por isso, cr piamente na grandezas convencionais da nao. A narrativa a da
perda progressiva de seus ideais, perseguidos e destroados pela realidade, como, por exemplo, a sua
fracassada experincia agrcola e a sua conscincia da brutalidade das elites, aps o episdio da Revolta da
Armada (1893). Por protestar contra a violncia do prprio governo que ajudara a defender, Poli carpo
Quaresma ser preso e fuzilado.)
Recordaes do escrivo I saas Caminha (O jovem mulato I sa as Caminha sai do interior em busca de uma
chance no Rio de Janeiro, mas o preconceito de cor impedem-no de alar-se, restando-lhe apenas um trabalho
subalterno num dirio da antiga capital federal. No final do romance, furando uma greve dos companheiros,
I saas Caminha acaba virando editor do jornal e depois, pelos bons servios prestados ao patro, recebe um
cartrio de presente e torna-se escrivo ou tabelio, como diramos hoje.)
3. Augusto dos Anj os
Eu
Poesia com traos parnasianos, simbolistas e pr-modernistas.
Os aspectos pr-modernistas esto presentes em alguns versos de extremo coloquialismo e na incorporao
da temtica da "sujeira da vida" e do grotesco, muito comuns na poesia moderna.
Utilizao freqente de termos cientficos da medicina e da biologia, de acordo com as tendncias
naturalistas/evolucionistas vindas do sculo XIX.
Apresenta umaa obsesso pela morte, nas formas mais degradadas que ela pode apresentar: podrido da
carne, cadveres ftidos, corpos decompostos, vermes famintos e fedor de cemitrios.
Dominada pelo niilismo, a poesia de Augusto dos Anjos questiona a falta de sentido da existncia e verte um
nojo amargo e desesperado pelo fim inglrio a que a natureza nos condena.
A angstia diante da morte transforma-se numa espcie de metafsica do horror: o homem no passa de
matria que acaba, que entra em putrefao e que depois desaparece.
4. Montei ro Lobato
Literatura geral ( adulta) : Urups, Cidades mortas, Negrinha.
contos com nfase em solues patticas, macabras ou anedticas
estrutura do conto e de linguagem presa ao modelo realista tradicional
registro da zona cafeicultura decadente do interior paulista (Cidades mortas)
criao da figura do caboclo brasileiro (o caipira) J eca Tatu
Literatura i nfanto- j uvenil: O stio do pica-pau amarelo
mescla de fantasia, realidade e informao
presena de um cenrio tpico do interior brasileiro (o stio)
5. Si mes Lopes Neto
Lendas do Sul Casos do Romualdo Contos gauchescos
Forte presena da cultura regional sul-rio-grandense
Utilizao de lendas como a do Negrinho do pastoreio e da Salamanca do J arau (Lendas do Sul)
Na obra-prima (Contos gauchescos) h uma mescla de:
a) costumes da campanha rio-grandense
b) registro da vida cotidiana
c) fixao da linguagem especfica da regio (com grande nmero
de espanholismos e alguns neologismos)
O narrador de Contos gauchescos uma vaqueano de quase 90 anos (Blau Nunes) que evoca histrias que
viveu, presenciou ou escutou.
O fato do narrador ser oriundo das camadas populares ocasiona uma intensa oralidade em sua forma de
narrar as histrias.
No conjunto, os Contos gauchescos apresentam simultaneamente uma louvao do gacho (coragem,
audcia, honestidade e cavalheirismo) e uma crtica implacvel violncia que campeia no pampa.
No esquea: Apesar do tom regionalista dos relatos de Simes Lopes, as paixes humanas que animam os
mesmos ultrapassam a condio localista e se situam numa dimenso universal. Assim o drama especfico do
pampa rio-grandense adquire interesse para leitores de todos os quadrantes.
6. GRAA ARANHA
Cana: Romance de tese (ou de idias ou ainda romance-ensaio), centrado no debate ideolgico entre dois
imigrantes alemes, Milkau e Lentz, recm chegados ao Esprito Santo. H uma discusso sobre o futuro da
sociedade brasileira, discusso esta centrada nas idias de clima e de raa. A linguagem da obra tem certos
acentos impressionistas.
X - MODERNI SMO
A SEMANA DE ARTE MODERNA
Antecedentes europeus: as vanguardas
Futurismo, Cubismo, Dadasmo (o Surrealismo no influenciou diretamente a Semana, mas apenas o
movimento da Antropofagia, de Oswald de Andrade.)
Futurismo: Fundado pelo italiano Marinetti, foi o movimento de vanguarda que mais influenciou os nossos
modernistas. Propunha uma ruptura total com o passado. Ao mesmo tempo, exaltava o "esplendor geomtrico
e mecnico do mundo moderno". Isso significava cantar a mquina, o aeroplano, o asfalto, o cinematgrafo. No
plano formal, os futuristas suprimiram o eu potico, a pontuao, os adjetivos e usavam apenas o verbo no
infinitivo, etc.
Antecedentes brasileiros:
A publicao, em 1917, de diversos livros de poemas em que jovens autores buscavam uma nova linguagem,
ainda no bem realizada. (Ns, de Guilherme de Almeida; J uca Mulato, de Menotti del Picchia; Cinza das horas,
de Manuel Bandeira; e H uma gota de sangue em cada poema, de Mrio de Andrade).
A clebre exposio de Anita Malfatti, em 1917, e que foi duramente criticada por Monteiro Lobato em seu
clebre artigo Parania ou mistificao. Jovens artistas paulistanos saram, ento, em defesa da pintora,
criando uma polmica que os ajudou a formar um grupo desejoso de mudar a arte e a cultura brasileira.
A semana de Arte Moderna
Realizada em fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de So Paulo, a Semana representou a ruptura barulhenta
com os princpios estticos do passado.
A proposio de uma "semana" (na verdade, foram s trs noites) implicava uma amostragem geral da prtica
modernista. Programaram-se conferncias, recitais, exposies, leituras, etc. O momento mais sensacional
deu-se na segunda noite, quando Ronald de Carvalho leu um poema de Manuel Bandeira: Os sapos, uma ironia
corrosiva aos parnasianos que ainda dominavam o gosto do pblico.
Enfunando os papos,
Saem da penumbra,
Aos pulos, os sapos.
A luz os deslumbra.
Em ronco que aterra,
Berra o sapo-boi:
- Meu pai foi guerra
- No foi! - Foi! - No foi!
O sapo- tanoeiro
Parnasiano aguado
Diz: - Meu cancioneiro
bem martelado.
Principais parti cipantes da Semana
Literatura:
Mrio de Andrade - Oswald de Andrade - Graa Aranha - Ronald de Carvalho - Menotti del Picchia - Guilherme
de Almeida
Msica e Artes Plsti cas:
Anita Malfatti - Di Cavalcanti Santa Rosa - Villa-Lobos - Guiomar Novaes
A i mportnci a estti ca da Semana
A Semana significou tambm o atestado de bito da arte dominante. O academicismo plstico, o romantismo
musical e o parnasianismo literrio esboroaram-se por inteiro. Os autores modernistas colocaram a renovao
esttica acima de outras preocupaes. O principal inimigo eram as formas artsticas do passado.
Caberia a Mrio de Andrade - verdadeiro lder e principal terico do movimento - sintetizar a herana de 1922:
A estabilizao de uma conscincia criadora nacional, preocupada em expressar a realidade brasileira.
A atualizao intelectual com as vanguardas europias.
O direito permanente de pesquisa e criao esttica.
A Semana e a realidade brasilei ra
A Semana de Arte Moderna insere-se num quadro mais amplo da realidade brasileira. Vrios historiadores j a
relacionaram com a revolta tenentista e com a criao do Partido Comunista, ambas de 1922. Embora as
aproximaes no sejam imediatas, flagrante o desejo de mudanas que varria o pas, fosse no campo
artstico, fosse no campo poltico.
O Moderni smo de 22 a 30
( Fase de destruio e experimentao
O projeto dos modernistas pode ser dividido em trs linhas bsicas que se conjugam:
A) Desintegrao da linguagem tradicional
Questiona-se a arte acadmica e suas frmulas envelhecidas. O estilo parnasiano e o bacharelismo so os alvos
prediletos dos ataques modernizadores. Para efetivar tal destruio, usa-se a pardia, o poema-piada, o
sarcasmo.
B) Adoo das conquistas das vanguardas
A liberdade de expresso, a viso do cotidiano, a linguagem coloquial e outras inovaes desenvolvidas pelas
vanguardas europias so assimiladas, ainda que desordenadamente, pela gerao de 22. A revista Klaxon, de
1922, e os primeiros textos publicados no ano da Semana mostram essa preocupao com a
contemporaneidade. No tem fundamento, portanto, a afirmativa de que os modernistas seriam antieuropeus.
A identificao com as velhas matrizes culturais ainda evidente.
C) Busca da expresso nacional
Em 1924, em Paris, Oswald de Andrade assiste a uma exposio de mscaras africanas. Elas parecem
expressar a identidade dos povos negros da frica. Nesse momento, o escritor se interroga: "E ns, os
brasileiros, quem somos?
Atrs dessa pergunta, comea a se delinear a luta por um abrasileiramento temtico. Antes, as questes
fundamentais eram estticas. A partir de agora passam a ser tambm ideolgicas: sonha-se com a delimitao
de uma cultura brasileira, de uma alma verde-amarela.
A sada primiti vista
O novo nacionalismo ir assumir uma perspectiva crtica, um tom anrquico e desabusado. Celebra-se o
primitivismo, isto , as nossas origens indgenas e extra-europias. as civilizaes aborgenes e tambm no
folclore, nos aspectos mticos e lendrios da cultura popular, quer se descobrir a essncia do Brasil. Esta
pesquisa de uma subjacente alma nacional s poderia ser realizada, no entanto, com o instrumental artstico da
modernidade. Assim, o Brasil seria uma sntese entre o primitivo e o inovador.
Os movi mentos primiti vi stas
Pau- Brasil
Lanado em maro de 1924, o Manifesto da Poesia Pau-Brasil trazia como idias-chave:
A juno do moderno e do arcaico brasileiros: "A poesia existe nos fatos. Os casebres de aafro e de ocre
nos verdes da Favela, sob o azul cabralino, so fatos astticos (...) A reza. O Carnaval. A energia ntima. O
sabi. A hospitalidade um pouco sensual, amorosa. A saudade dos paj s e os campos de avaliao militar. Pau-
Brasil."
A ironia contra o bacharelismo: "O lado doutor, o lado citaes, o lado autores conhecidos. Comovente. (...) A
riqueza dos bailes e das frases feitas.(...) Falar difcil."
A luta por uma nova linguagem: "A lngua sem arcasmo, sem erudio. Natural e neolgica. A contribuio
milionria de todos os erros. Como falamos. Como somos. (...) Contra a cpia, pela inveno e pela surpresa."
A descoberta do popular: O Pau-Brasil descortina para os modernistas o universo mtico e ingnuo das
camadas populares: "O Carnaval o acontecimento religioso da raa. Pau-Brasil. Wagner submerge ante os
cordes de Botafogo. A formao tnica rica. Riqueza vegetal."
Antropofagi a:
O manifesto antropofgi co, lanado em 1928, amplia as idias do Pau- Brasil, atravs dos seguintes
elementos:
A insistncia radical no carter indgena de nossas razes: "Tupy or not tupy that is the question".
O humor como forma crtica e trao distintivo do carter brasileiro: "A alegria a prova dos nove".
A criao de uma utopia brasileira, centrada numa sociedade matriarcal, anrquica e sem represses: "Contra
a realidade social, vestida e opressora, cadastrada por Freud - a realidade sem complexos, sem loucura, sem
prostituies e sem penitencirias do matriarcado de Pindorama."
A postura antropofgica como alternativa entre o nacionalismo conservador, anti-europeu e a pura cpia dos
valores ocidentais: "Nunca fomos catequizados.(...) Fizemos Cristo nascer na Bahia. Ou em Belm do Par."
Caberia a Mrio de Andrade, com o romance Macunama, e a Raul Bopp, com o poema Cobra Norato, a
tentativa de levar para a criao literria as idias do Manifesto.
No esquea: Nos anos de 1967, Caetano Veloso e outros compositores populares atravs do Tropicalismo
voltam a acenar com os princpios antropofgicos para combater a estreiteza da chamada M.P.B., que rejeitava
a incorporao de elementos da msica pop internacional msica brasileira.
Verde- Amarel o ( 1924) e Anta ( 1928) :
Com a participao de Cassiano Ricardo, Menotti del Picchia e Plnio Salgado, estas tendncias opem-se ao
primitivismo destruidor e debochado dos "antropfagos" atravs do reforo do "sentido de brasilidade" e de
uma tendncia conservadora e direitista no plano social.
Caractersti cas da literatura modernista
A) Liberdade de expresso
A importncia maior das vanguardas residiu no triunfo de uma concepo inteiramente libertria da criao
artstica. Potica, de Manuel Bandei ra, um manifesto dessa nova postura, com seu clebre verso final:
No quero mais saber de lirismo que no libertao.
B) I ncorporaa do coti di ano
O prosaico, o dirio, o grosseiro, o vulgar, o resduo e o lixo tornam-se os motivos centrais da nova esttica.
grandiosidade da paisagem, Manuel Bandei ra sobrepe a humildade do beco:
Que importa a paisagem, a Glria, a baa, a linha do horizonte?
- O que eu vejo o beco.
C) Linguagem coloquial
A linguagem torna-se coloquial, espontnea, mesclando expresses da lngua culta com termos populares, o
estilo elevado com o estilo vulgar. O artista volta-se para uma forma prosaica de dizer, feita de palavras
simples e que, inclusive, admite erros gramaticais, conforme se v neste poema de Oswald de Andrade:
Para dizerem milho dizem mio
Para melhor dizem mi
Para pior pi
Para telha dizem teia
Para telhado dizem teiado
E vo fazendo telhados.
D) I novaes tcnicas
Verso livre
Destruio dos nexos
Paronomsia (juno de palavras de sonoridade muito parecida, mas de significado diferente).
Enumerao catica
Colagem e montagem cinematogrfica
Liberdade no uso dos sinais de pontuao
Os autores de 1922
1. Oswal d de Andrade ( 1890- 1954)
Obras principais:
Poesia: Poesia do pau-brasil (192 );
Teatro: O rei da vela(1937)
Romances: Memrias sentimentais de J oo Miramar (1924); Serafim Ponte Grande (1937)
Os romances da destrui o
Os dois romances acima (ou anti-romances) desobedecem aos padres tradicionais da narrativa, diluindo a
separao entre prosa e poesia.
Apresentam metforas ousadas, neologismos e so totalmente fragmentrios. H uma grande quantidade de
"captulos-relmpagos".
No conjunto, os romances de Oswald de Andrade so descontnuos e antidiscursivos, predominando neles a
idia de montagem cinematogrfica, isto , da tcnica do corte e da colagem dos mltiplos fragmentos.
Como registrou uma estudiosa, eles "apresentam vrias modalidades de linguagem: a cotidiana, a caipira, a
bacharelesca, a de composies infantis, a dos dirios ntimos. I nclui ainda os clichs, as frases feitas, piadas,
neologismos, palavres, etc..."
2 - Mri o de Andrade ( 1893- 1945)
Obras principais:
Poesi a: Paulicia desvairada (1922); Cl do jabuti (1927); Lira paulistana (1946)
A obra mais importante Paulicia desvairada at por causa de seu prefcio, denominado pelo autor Prefcio
interessantssimo. Nele, Mrio teorizara sobre sua prpria poesia e sobre as tendncias modernistas do novo
lirismo:
"No sou futurista (de Marinetti). Disse e repito-o. Tenho pontos de contacto com o futurismo. Oswald de
Andrade chamando-me de futurista errou.(...). Escrever arte moderna no significa jamais para mim
representar a vida atual no que tem de exterior: automveis, cinema, asfalto. 'Si' estas palavras freqentam-
me o livro no porque pense com elas escrever moderno, mas porque sendo meu livro moderno, elas tm
nele sua razo de ser."
Fico: Amar, verbo intransitivo (1927); Macunama (1928); Contos novos (1946).
Macunama: o heri sem nenhum carter
Macunama representa a adeso de Mrio ao nacionalismo primitivista. Desde o incio, o romance (ou a
rapsdia, como queria o autor) apela para o suporte mitolgico: a lenda indgena de Macunama a base do
texto. H tambm no texto lendas sertanejas e caboclas, misturadas com os aspectos mgicos da cultura afro-
brasileira, etc.
O esforo de sntese percorre toda a rapsdia: sntese cultural, lingstica, geogrfica, psicolgica.
As andanas de Macunama da selva cidade, em busca da pedra mgica (o muiraquit), roubada pelo gigante
Wenceslau, seus amores e aventuras servem para levantar os traos definidores daquilo que seria o carter do
homem brasileiro
O "heri de nossa gente" tem como caractersticas a preguia, a irreverncia, o deboche e uma sensualidade
intensa. Em resumo, estamos frente malandragem. Mas, de certa forma, uma malandragem derrotada, pois
Macunama retorna selva, s lhe restando um destino mtico: subir aos cus e virar constelao.
No esquea: Em sua linguagem to mltipla, o relato satiriza os padres da escrita acadmica. A carta que
Macunama envia s icamiabas (ndias amazonas), por exemplo, uma pardia da retrica bacharelesca que
sempre caracterizou os letrados brasileiros.
Outros autores de 1922
Raul Bopp - Cobra Norato (poesia)
Vinculao antropofagia
Poema baseado numa lenda amaznica
Antnio de Al cntara Machado - Brs, Bexiga e Barra Funda (contos)
Realismo irnico e sentimental
Valorizao do imigrante italiano
Estilo coloquial
XI - A POESI A MODERNA
1. Manuel Bandeira ( 1886- 1968)
Obras principais: Cinza das horas (1917); Carnaval (1919); Ritmo dissoluto (1924); Libertinagem (1930);
Estrela da manh (1936); Lira dos cinquent'anos (1948); Estrela da tarde (1963)
Caractersti cas gerais da poesia:
Fuso entre a confisso pessoal e a vida cotidiana.
Um clima de desejo insatisfeito e amargurado percorre a sua obra. A tuberculose impediu-o de viver
profundamente. Desta forma, a poesia representou para ele "toda a vida que podia ter sido e que no foi."
Os poemas Vou-me embora pra Pasrgada ("Vou- me embora pra Pasrgada / L sou amigo do rei / L tenho
a mulher que eu quero / Na cama que escolherei"), Balada das trs mulheres do sabonete Arax e Estrela da
manh se inserem nesta linha do desejo insatisfeito.
Outro tema dominante em sua poesia o da morte.
Bandeira tambm um grande poeta do cotidiano: descobre o lirismo perdido nos becos, nos arrabaldes, em
pobres quartos de hotel e em tudo que irrisrio e banal.
Sua expresso potica de absoluta simplicidade. Uma simplicidade que o levou a desconsiderar
(equivocadamente) a importncia de sua prpria poesia:
Criou-me, desde eu menino
Para arquiteto meu pai
Foi-se-me um dia a sade...
Fiz-me arquiteto? No pude!
Sou poeta menor, perdoai!
No esquea: Manuel Bandeira o poeta que melhor realiza a sntese entre a grande tradio da lrica
ocidental e a radicalidade da poesia moderna. Da tradio, herda os temas universais (morte, infncia, desejo
amoroso, questionamento da vida). Do modernismo, o coloquial, o cotidiano e o verso livre.
2. Ceclia Mei reles ( 1901- 1964)
Obras principais: Viagem (1939); Vaga msica (1942); Mar absoluto (1945); O romanceiro da I nconfidncia
(1953)
Caractersti cas gerais:
Uma poesia presa tradio lrica do passado.
H nela forte herana simbolista: a maioria das obras expressa estados de nimo, vagos e quase incorpreos.
Alm disso, certas imagens naturais como o mar, a areia, a espuma, a lua, o vento etc., por sua repetio
obsessiva, acabam tambm ganhando uma dimenso simblica.
Predominam os sentimentos de perda amorosa e solido. A atmosfera de dor existencial ampliada pela
insistncia no tema da passagem do tempo.
Sua linguagem elevada, sublime, com pouca presena do coloquial.
O romanceiro da I nconfidnci a:
a sua experincia potica mais significativa. Para escrev-lo, pesquisou todos os elementos histricos que
compuseram o evento. Ao mesmo tempo, encontrou uma forma potica especfica do passado ibrico: o
romanceiro. Trata-se de um conjunto de poemas narrativos, unidos por um tema central. Cada poema um
romance.
Composto por oitenta e cinco romances, O romanceiro da I nconfidncia oferece uma viso dramtica e lrica da
sociedade mineira do sculo XVIII, de suas principais figuras humanas e do levante republicano abortado pela
denncia de J oaquim Sil vrio:
Melhor negcio que J udas
fazes tu, J oaquim Silvrio:
que ele traiu J esus Cristo
tu trais um simples Alferes...
No esquea: O romanceiro da I nconfidncia um texto que parte de uma reflexo sobre a histria concreta
do levante mineiro e alcana uma dimenso lrica superior, tornando-se uma interrogao sobre o sentido das
aes humanas.
3. Mri o Quintana ( 1906- 199)
Obras principais: Rua dos cataventos (1940); Sapato florido (1948); Espelho mgico (1951); O aprendiz de
feiticeiro (1950); Do caderno H (1973); Apontamentos de histria sobrenatural (1976); Velrio sem defunto
(1990)
Caractersti cas princi pais:
Herana simbolista
Temtica da morte e da tristeza das coisas.
Linguagem de absoluta simplicidade.
A melancolia dos versos est determinada por um clima de derrocada pessoal. O indivduo percebe o fim de
tudo e sente-se perdido numa realidade imprecisa, cheia de noites silenciosas e de cenas surreais, indicando a
herana simbolista. A idia da morte perpassa todo o discurso potico:
Da vez primeira em que me assassinaram
Perdi um jeito de sorrir que eu tinha...
Depois, de cada vez que me mataram,
Foram levando qualquer coisa minha...
Os poemas em prosa Aparecem em Sapato florido e em Do caderno H.
So poemas curtos em prosa. Lembram epigramas, pois so curtos e geralmente irnicos. Uma ironia
estabelecida sobre o cotidiano. O poeta mergulha na vida prosaica, surpreendendo-lhe os aspectos risveis,
inslitos ou at mesmo trgicos.
Manuel Bandeira denominou "quintanares" a esses poemas curtos.
Cartaz para uma Feira do Livro
Os verdadeiros analfabetos so os que aprenderam a ler e no lem.
I ndecncia
Na verdade, a coisa mais pornogrfica a palavra 'pornografia'.
4. J orge Lima ( 1893- 1953)
Obras principais:A tnica inconstil (1938); Poemas negros (1947); I nvenso de Orfeu (1952)
Sua carreira potica iniciou-se sob o signo parnasiano.
Apresenta uma fase nordestina caracterizada pela registro potico da realidade existencial, cultural e histrica
da regio. O popular aparece identificado com o mundo dos engenhos decadentes.
Captao (com uma linguagem cheia de expresses populares) do saber, das crenas e dos aspectos
pitorescos desse universo rural nordestino.
Valorizao da religiosidade de substrato catlico.
Teve ainda uma fase de celebrao da cultura negra, seus ritmos e costumes. Usou um linguajar afro-
brasileiro para conferir maior verdade antropolgica e lingstica aos textos. Essa negra Ful louva o
sensualismo das escravas e virou pea antolgica:
Ora, se deu que chegou
(isso j faz muito tempo)
no bang dum meu av
uma negra bonitinha
chamada Ful (...)
Sinh foi ver a negra
levar couro do feitor
A negra tirou a roupa.
O Sinh disse: Ful!
(A vista se escureceu
que nem a negra Ful.)
5. Muri lo Mendes ( 1901- 1976)
Obras principais: Tempo e eternidade (com Jorge de Lima, 1935); As Metamorfoses (1944); Contemplao de
Ouro Preto (1954)
Comea com uma poesia de inspirao modernista, em que predominava o humor.
Depois, sua poesia assume uma dimenso religiosa, requintada e quase hermtica.
Apresenta uma linguagem prxima do surrealismo, definida por alucinaes, uso de smbolos e alegorias e
acentuada abstrao da vida cotidiana
6. Vincius de Moraes ( 1913- 1980)
Obras principais: Novos poemas (1938); Cinco elegias (1943); Poemas, sonetos e baladas (1946)
A obra de Vincius de Moraes divide-se em duas fases:
I - A primeira fase insere-se na linha de um neo-simbolismo, de conotaes msticas, em que h um debate
entre as solicitaes da alma e as do corpo.
II - A segunda fase, iniciada com Cinco elegias, assinala a exploso de uma poesia mais viril. "Nela - segundo
o prprio Vincius - esto nitidamente marcados os movimentos de aproximao do mundo material, com a
difcil mas consciente repulsa ao idealismo dos primeiros anos."
Caractersti cas princi pais:
Sua tendncia ao verbalismo contida pelo uso freqente do soneto.
Seu grande tema o amor. O amor em suas mltiplas manifestaes: saudade, carncia, desejo, paixo,
espanto. Registra uma nova concepo sentimental, mais concreta, mais livre de preconceitos, mais atenta s
mulheres. Em seus poemas, destri noes como a da eternidade do amor - dogma do Brasil patriarcal em
versos clebres como aquele "que sej a eterno enquanto dure", extrado do Soneto da fidelidade.
A partir dos anos de 1940 e 1950, o poeta se inclina por uma lrica comprometida com o cotidiano, buscando
inclusive os grandes dramas sociais do nosso tempo. (O operrio em construo e Rosa de Hiroshima, cujos
versos iniciais transcrevemos, so os exemplos mais conhecidos):
Pensem nas crianas
Mudas telepticas
Pensem nas meninas
Cegas inexatas
Pensem nas mulheres
Rotas alteradas
Pensem nas feridas
Como rosas clidas
No esquea: Alm de poeta, Vincius de Moraes trilhou com xito a carreira de compositor de msica popular,
tonrando-se o grande letrista da Bossa Nova, com clssicos como Garota de I panema e Chega de saudade. A
exemplo do soneto, a cano obrigou-o a restringir seus excessos verbais.
7. Carlos Drummond de Andrade ( 1902- 1989)
Obras principais: Alguma poesia (1930); Brejo das almas (1934); Sentimento do mundo (1940); A rosa do
povo (1945); Claro enigma (1951); Fazendeiro do ar (1954); Lio de coisas (1962); Boitempo (1968); As
impurezas do branco (1974); O corpo (1984); Amar se aprende amando (1985)
Obras em prosa: Fala, amendoeira e Cadeira de balano (crnicas); Contos de aprendiz
Caractersti cas princi pais:
A multiplicidade quase infinita de assuntos. A rigor, podemos dizer que a sua obra estrutura-se sobre sete
temas bsicos: a poesia social; a de reflexo existencial (o eu e o mundo); a poesia sobre a prpria poesia; a
do passado; a do amor; a do cotidiano; a da celebrao dos amigos.
A linguagem de impressionante inveno e capacidade sugestiva, herdeira tanto da tradio lrica ocidental (o
tom sublime e elevado) quanto das experincias radicais dos vanguardistas do sculo XX (a dico coloquial e
prosaica). Uma linguagem capaz de explorar as infinitas faces das palavras, gerando uma expresso de notvel
riqueza polissmica e, portanto, de no menos notvel possibilidade interpretativa.
A presena do gauche, visvel no Poema de sete faces, que abre o primeiro livro, Alguma poesia, e que
prosseguiria como um dos elementos mais inusitados da personalidade potica do escritor: "Quando nasci, um
anj o torto / desses que vivem na sombra / disse: Vai, Carlos! ser gauche na vida." O gauche (esquerdo, em
francs) o anti-heri, o torto, o desajeitado, o errado, o sujeito em desacerto com o mundo, para quem as
coisas no do certas.
Um intenso "humour" um dos elementos-chave para a compreenso de sua obra que o humor sutil,
quase sempre corrosivo, uma espcie de olhar enviesado sobre a realidade e que esconde, sob o seu manto,
uma complexa reflexo a respeito do sentido das coisas, conforme podemos observar em poemas clebres
como Quadrilha e No meio do caminho.
O aspecto nuclear da obra de Drummond o da reflexo existencial. Sua poesia exprime, como nenhuma
outra no pas, a angstia da alma humana frente s correntezas convulsas do destino. A solido, a
incomunicabilidade, a lgica misteriosa da existncia, o fluir do tempo, a relao de perdas e ganhos na
trajetria do homem, a luta do ser contra a morte e a procura uma sada redentora para o indivduo constituem
os principais motivos desta lrica filosfica. Um dos exemplos mais conhecidos J os:
E agora, J os?
A festa acabou
a luz apagou
o povo sumiu
a noite esfriou
e agora J os?
e agora, voc?
voc que sem nome
que zomba dos outros,
voc que faz versos
que ama, protesta?
e agora, J os?
XI - O ROMANCE DE 1930
( A vitria do neo- realismo)
(Conjunto de narrativas, escritas entre os anos de 1930 e 1960, por um mesma gerao, oriunda de famlias
oligrquicas decadentes, com uma viso de mundo crtica, um sentido missionrio da literatura e padres
cartsticos bastante prximos do realismo do sculo XIX).
Caractersti cas
nfase nas questes ideolgicas e sociais. E no mais no projeto esttico da gerao de 1922
Rejeio ao experimentalismo tcnico e ao gosto pela pardia, substitudos por um realismo mais ou menos
trivial: retrato direto da realidade, busca da verossimilhana, linearidade narrativa, etc.
Tipificao social explcita (indivduos que representam as vrias classes sociais)
Construo de um mundo ficcional que deve dar a idia de abrangncia e totalidade.
Tomada de conscincia do subdesenvolvimento (atraso e misria do pas)
Denncia contnua da situao opressiva vivida por camponeses e operrios
Tentativa de comunicao com as massas atravs de uma linguagem coloquial
Valorizao da realidade rural que levou os crticos a designarem o perodo como regionalista
Os mundos narrados
1) Romances de temti ca agrria
A) A ascenso e queda dos coronis: Bang e Fogo morto, de J os Lins do Rego; Terras do sem fim e So
J orge dos I lhus, de J orge Amado; e O tempo e o vento, de Erico Verissi mo. Estes relatos oscilam entre a
saga (exaltao com traos picos) e a crtica mais contundente, seja a ideolgica (J orge Amado), seja a tica
(Eri co Verissimo). No caso especfico de J os Lins do Rego, predomina um tom nostlgico e melanclico
diante das runas dos engenhos.
B) Os dramas dos trabalhadores rurais: Seara vermelha, de J orge Amado; e Vidas secas, de Graciliano
Ramos. Ambos correspondem a uma impugnao da realidade latifundiria nordestina.
C) O confronto entre o Brasil rural e o Brasil urbano, visvel no choque entre Paulo Honrio e Madalena em So
Bernardo, de Gracili ano Ramos. A obra sintetiza o descompasso entre a mentalidade patriarcal-latifundiria e
a urbana modernizada. Tambm de Graciliano Ramos, Angstia revela a solido e a destruio de Lus da
Si l va,descendente da oligarquia, na teia complexa das relaes citadinas.
Por outro lado, tanto em A bagaceira, de J os Amrico de Almei da, romance inaugural do ciclo de 1930,
quanto em O quinze, de Rachel de Quei roz, os personagens principais, Lcio e Conceio embora filhos das
velhas elites agrrias foram modernizados pela escolarizao na cidade. Por isso, acabam questionando o
horror da seca, da misria e o atraso do latifndio.
2) Romances de temti ca urbana
A urbanizao ininterrupta do pas levou os narradores a olhar para a nova realidade que se constitua, fosse
sob o prisma da denncia (Jorge Amado, Amando Fontes), da adeso crtica (Erico Verissimo) ou de uma
tristeza impotente (Cyro dos Anjos). Os ncleos temticos abordados foram:
A) As camadas populares, trabalhadores e marginais: J ubiab, Capites de Areia e Mar morto, de Jorge Amado;
Os Corumbas e Rua do Siriri, de Amando Fontes.
B) Os setores mdios (pequena burguesia): A tragdia burguesa, de Otvio de Faria, Os ratos, de Dyonlio
Machado e toda a primeira fase de Erico Verissimo, o chamado ciclo de Clarissa.
Cronologi a dos primei ros romances de 30
1928 - A bagaceira, de Jos Amrico de Almeida
1930 - O quinze, de Rachel de Queiroz; O pas do carnaval, de Jorge Amado
1932 - Menino de engenho, de Jos Lins do Rego; Cacau, de Jorge Amado; J oo Miguel, de Rachel de Queiroz.
1933 Doidinho, de Jos Lins do Rego; Caets, de Graciliano Ramos; Clarissa, de Erico Verissimo; Os
Corumbas, de Amando Fontes
1934 - Bang, de Jos Lins do Rego; So Bernardo, de Graciliano Ramos; Suor, de Jorge Amado
1935 - J ubiab, de Jorge Amado; Msica ao longe, de Erico Verissimo; Os ratos, de Dyonlio Machado.
XI I I - A Gerao de 1945
Fortemente marcada pelo fim da Segunda Guerra, pela derrubada da ditadura de Getlio Vargas e pelo clima de
euforia da decorrentes no pas, a gerao de 45 colocou em segundo plano as preocupaes polticas,
ideolgicas e culturais dos artistas da dcada de 30 e privilegiou a questo esttica. Assim, a aventura da
linguagem, a preocupao com a forma e com o rigor do texto tornam-se o objetivo bsico desta gerao, que
teve grandes expoentes tanto na poesia, quanto na prosa de fico.
A) POESI A
1. J OO CABRAL DE MELO NETO ( 1920 - 1998)
Obras principais:
Pedra do sono (1942); O engenheiro (1945); Psicologia da composio (1947); O co sem plumas (1950);
Morte e vida severina (1956); A educao pela pedra (1966); Museu de tudo (1975).
- Sua obra se articula como uma profunda reflexo sobre o fazer potico. A poesia entendida como esforo
em busca da sntese, do despojamento total. Poesia lenta e sofrida pesquisa de expresso: "No a forma
encontrada / como uma concha perdida (...) / mas a forma atingida / como a ponta do novelo / que a ateno,
lenta, / desenrola (...)
- Os primeiros textos de Joo Cabral (Pedra do sono, O engenheiro, Psicologia da composio) iniciam a
aventura da expresso mnima e contida.
- Em O co sem pluma a perfeio de sua linguagem encontra uma temtica: o rio Capibaribe, com sua sujeira,
seus detritos e com a populao miservel que lhe habita as margens, trgico espelho do subdesenvolvimento:
"Na paisagem do rio / difcil saber / onde comea o rio; / onde a lama / comea no rio / onde a terra comea
da lama; / onde o homem, / onde a pele / comea da lama; / onde comea o homem / naquele homem."
MORTE E VI DA SEVERI NA
A sua obra mais conhecida (por causa da montagem teatral) traz como subttulo: Auto de Natal pernambucano.
Aqui a tcnica despojada do autor reala ainda o aspecto dramtico do assunto: a trajetria de um sertanejo
que abandona o agreste, rumo ao litoral, encontrando nesta migrao apenas a morte. Severino continua seu
roteiro at chegar ao Recife. L percebe que a misria continua e resolve se matar. Contudo, lhe chega a
notcia do nascimento de um menino, filho de Jos, mestre carpina. Severino vai visit-lo e descobre que
aquela vida, mesmo franzina, a prova da resistncia de todos os "severinos" do Nordeste.
E no h melhor resposta
que o espetculo da vida:
v-la desfiar seu fio,
que tambm se chama vida (...)
v-la brotar como h pouco
em nova vida explodida;
mesmo quando assim pequena
a exploso, como a ocorrida;
mesmo quando uma exploso
como a de h pouco, franzina;
mesmo quando a exploso
de uma vida severina.
2. A POESI A CONCRETA
- A partir de 1952, Dcio Pi gnatari, Augusto de Campos e Harol do de Campos iniciaram a articulao da
chamada poesia concreta, em So Paulo, numa revista chamada Noigandres.
- Reao contra a lrica discursiva e freqentemente retrica da gerao de 45, a poesia concreta procura se
filiar s experincias mais ousadas das vanguardas dos sculo XX. Ela poderia ser sintetizada assim:
a) linguagem sinttica, homloga ao dinamismo da sociedade industrial;
b) valorizao da palavra solta (som, forma visual, carga semntica) que se fragmenta e recompes na pgina;
c) o poema ganha o espao grfico como agente estrutural, em funo de que dever ser lido/visto:
d) utilizao de recursos tipogrficos, visuais, plsticos, etc.
ovo
novelo
novo no velho
o filho em folhos
na jaula dos joelhos
infante em fonte
feto feito
dentro do
centro
3. FERREI RA GULLAR
Obras principais: A luta corporal (1954); Dentro da noite veloz (1975); Poema suj o (1976)
- Iniciou sua obra sob os princpios da poesia concreta.
-Aps romper com os concretistas, aproximou-se da realidade popular e do pensamento progressista da poca,
todo ele ligado ao populismo. Sua poesia torna-se social e, s vezes, excessivamente politizada e prosaica.
- A publicao de Poema suj o, em 1976, representou a superao de seus impasses temticos e formais.
Poema suj o uma espcie de sntese de Ferreira Gullar. Nele se encontram expressas todas as suas
experincias vitais em So Lus, sua aprendizagem da vida, sua viso de mundo, suas angstias e esperanas,
numa poesia ao mesmo tempo instintiva e reflexiva. Uma poesia que incorpora as "impurezas" do mundo, ou
seja, uma poesia "suja" com os resduos da realidade.
- Em Poema sujo, as idias, as sensaes as lembranas e a coragem do escritor tipificam-se. tornam-se a
imagem do intelectual brasileiro que encontra a sua identidade, em meio s primeiras crises da ditadura militar.
B) PROSA DE FI CO
A FI CO DE TEMTI CA RURAL
1) J OO GUI MARES ROSA
Obras principais:
Sagarana (contos, 1946); Corpo de baile (Manuelzo e Miguilim; No Urubuquaqu, do Pinhm; Noites do
serto; novelas, 1956); Grande serto: veredas (romance, 1956); Primeiras estrias (contos, 1962); Tutamia
(contos, 1967); Estas estrias (contos, 1969).
Caratersti cas bsi cas:
- A primeira grande inovao do autor da linguagem, cheia de arcasmos, neologismos, onomatopias,
inverses, novas construes sintticas, etc., e que poderia ser resumida assim:
Linguaj ar sertanej o + Recriao estil sti ca = Linguagem revoluci onria
Observe o incio de Grande serto: veredas:
Nonada. Tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem, no, Deus, esteja. Alvejei mira em rvore, no
quintal, no baixo do crrego. Por meu acerto. Todo dia isso fao; gosto, desde mal em minha mocidade. Da,
vieram me chamar. Causa dum bezerro: um bezerro branco, erroso, os olhos de nem ser-se viu e com mscara
de cachorro.
- O mundo retratado em suas fices o do serto mineiro, um mundo imobilizado no tempo, sem vnculos
com o litoral modernizado do pas e cuja principal trao a conscincia mtica dos protagonistas. Esta
conscincia mgica explica o mundo pelo sagrado e pelo fantstico. Assim, os fenmenos naturais indicam
sinais de potncias misteriosas e inexplicveis. medida que a modernidade urbana /capitalista avana, o
mtico tende a ser dissolvido.
- A presena do demnio em Grande serto: veredas faz com que a narrativa se insira na categoria do
realismo mgi co.
- Alguns contos de Guimares Rosa so clebres. Entre eles, figuram: A hora e a vez de Augusto Matraga e O
burrinho pedrs, de Sagarana; e A terceira margem do rio, de Primeiras estrias.
Grande serto veredas
- A temtica da "jagunagem" e a prosa inovadora atingiriam o seu apogeu neste romanace, que se estrutura
no jogo dialtico do presente e do passado. Assim:
Plano presente:
O ex-jaguno e, hoje fazendeiro, Riobaldo narra a histria de sua vida para um "doutor" da cidade. O "doutor"
nada declara durante o discurso de Riobaldo, que assim se converte em monlogo. Ao lado das reminiscncias,
Riobaldo formula uma srie de interrogaes sobre o sentido da existncia, a luta do Bem x Mal, a presena
real ou fictcia do demnio, etc.
Plano passado:
Focaliza as experincias de Riobaldo como jaguno, quando realiza sua longa travessia pelo serto mineiro.
Uma travessia exterior por um serto objetivo, geogrfica e historicamente falando. Numa espcie de
"banalidade do mal", os bandos armados se exterminam a servio dos grandes latifundirios. Mas como o
"serto est em toda a parte, o serto est dentro da gente", essa travessia torna-se interior, levando Riobaldo
ao autoconhecimento. A percepo de si mesmo surge do contato com outros homens, em especial da dupla
polarizada Diadorim-Hermgenes. O primeiro, mulher camuflada de homem, deflagrar no narrador o processo
amoroso. O segundo fora demonaca - representar o dio, o sangue e a perfdia.
No esquea: A obra de Joo Guimares Rosa embora centrada no mundo sertanejo mineiro ultrapassa
pela linguagem revolucionria e pela indagao a respeito da questes fundamentais do homem (amor, sentido
da vida e da morte, mito e razo, etc.) os parmetros do regionalismo, permanecendo como uma obra de valor
universal.
2. J OO UBALDO RI BEI RO ( 1941)
Obras principais: Sargento Getlio (1971); Viva o povo brasileiro
Sargento Getlio
Considerado sua obra-prima, narra a histria de Getlio, um sargento da Polcia Militar de um destacamento
sediado em Aracaju, Sergipe. De famlia pobre, Getlio trabalha como feirante e engraxate para sobreviver,
tornando-se depois soldado. Tendo assassinado a mulher, que o trara com outro, busca a proteo de um
chefe poltico de Aracaju, ao qual passa a servir como "cabo eleitoral". A mando dele executa "vinte trabalhos"
(mortes). Mesmo pretendendo aposentar-se, aceita nova misso, a de prender, no interior, um adversrio
poltico do chefe. Cumprida a tarefa, Getl io comea a viagem de retorno a Aracaju, momento em que se inicia
a narrao em primeira pessoa, que termina com a morte do protagonista.
A FI CO URBANA
1. CLARI CE LI SPECTOR ( 1926- 1977)
Obras principais:
Perto do corao selvagem (1943); O lustre (1946); Laos de famlia (contos, 1960); A legio estrangeira
(contos, 1964); A paixo segundo G. H. (romance, 1964); A hora da estrela (romance, 1977).
Caractersti cas bsi cas:
- a intrprete mais sofisticada da chamada fico introspectiva.
- Essa literatura intimista coloca, tanto de maneira metafrica quanto realista, as ondulaes psicolgicas e
estados interiores das personagens.
- No plano da estrutura narrativa, Clarice vale-se do fluxo de conscincia e do monlogo interior.
- Sua linguagem excepcionalmente densa e inovadora.
A hora da estrel a
Relativa exceo a esta prosa introspectiva a novela A hora da estrela, onde um narrador (Rodrigo)
acompanha a medocre vida de uma jovem nordestina (Macabia) que vegeta em So Paulo. Feia, ignorante,
humilhada pelas colegas, pelo namorado, pela existncia, ela ter o seu momento glorioso, a sua "hora de
estrela", conforme lhe profetiza uma cartomante, quando no fim do relato atropelada e morta por um
automvel.
2. LYGI A FAGUNDES TELLES ( 1923)
Obras principais: PCiranda de pedra (1955); Vero no aqurio (1963); Antes do baile verde (contos,1970);
As meninas (romance,1973); Seminrio dos ratos (1977); As horas nuas (1989).
- Descendente da linha aberta por Clarice Lispector, mantm o interesse pelo movimento psicolgico das
personagens. Contudo, em sua obra o mundo exterior configura-se com maior objetividade.
- Alm disso, suas narrativas publicadas a partir da dcada de 1970, tm apresentado uma saudvel abertura
para uma temtica social e poltica, conforme podemos observar especialmente em As meninas.
3. ANTONI O CALLADO ( 1917- 199)
Obras principais: Quarup (1967), Reflexos do Baile (1975)
Quarup
- Atravs da trajetria de um padre, Nando, que perde a vocao religiosa, adquirindo em troca uma profunda
conscincia do atraso nacional, o autor nos mostra os fundamentos da sociedade brasileira dos anos de 1950 e
1960.
- Ainda que a sada ideolgica de Nando pela luta guerrilheira seja equivocada, o romance apresenta captulos
extraordinrios, destacando-se a expedio que vai ao Xingu, demarcar o ponto central do pas. O contato com
os ndios e as conseqentes doenas que esses contraem so inesquecveis e por si s legitimariam Quarup.
4. DALTON TREVI SAN ( 1925)
Obras principais: Novelas nada exemplares (1965); A guerra conjugal (1969); Cemitrio de elefantes (1970);
Os desastres do amor (1968); O vampiro de Curitiba (1970); Faca no corao (1972); A polaquinha (novela,
1992).
- Sua obra basicamente composta por contos.
- Coloca Curitiba como o cenrio simultaneamente mgico e vulgar de seus relatos.
- Seus personagens vivem em torno dos desastres do amor. Uma sucesso de desejos alucinados, taras,
compulses, traies cruis, crimes do corao, paixes proibidas e infelizes compem o seu mundo ficcional.
- Um personagem smbolo desse mundo de paixes terrveis e solido no menos assustadora Nelsinho, rapaz
que vaga pela cidade em busca de sexo e afeto. Ele o clebre vampiro de Curitiba:
Ai, me d vontade at de morrer. Vej a s a boquinha dela como est pedindo beijo beijo de virgem mordida
de taturana. Voc grita vinte e quatro horas e desmaia feliz. das que molham os lbios com a ponta da lngua
para ficar mais excitante (...). Se eu fosse me chegando perto, como quem no quer nada ah, querida
apenas uma folha seca ao vento e me encostasse bem devagar na safadinha...
5. RUBEM FONSECA ( 1925)
Obras principais: Os prisioneiros (contos - 1963); A coleira do co (contos - 1965); Lcia McCartney (contos -
1970); Feliz ano novo (contos -1975); O cobrador (contos -1980); A grande arte (romance - 1983); Buffo e
Spalanzanni (romace -1985); Vastas emoes e pensamentos imperfeitos (romance -1988); Agosto (romance-
1990), Buraco na parede (contos 1993), Do meio do mundo prostituto, s amores guardei ao meu charuto
(novela - 1997)
- Sua carreira iniciou-se pelo conto, gnero onde atinge o seu apogeu.
- Normalmente, suas histrias (em especial, os romances) so apresentadas sob a estrutura da narrativa
policial. H um crime ou um mistrio a ser desvendado e vrios dos personagenm principais ou so da polcia
ou detetives particulares ou advogados criminalistas.
- Um dos temas dominantes de seus contos e romances a violncia que percorre as ruas brasileiras, numa
espcie de guerra civil no declarada.
- O outro alvo de sua literatura a solido dos indivduos nas grandes metrpoles. Quase todos os
protagonistas so opressos pela sensao de isolamento. O contato amoroso com outros seres parece dar-se
apenas no campo sexual.
- O que confere maior verossimilhana ainda a seus relatos so a tcnica e a linguagem. O escritor sente-se
vontade nos textos em primeira pessoa, o narrador sendo ao mesmo tempo o protagonista. Mas para cada tipo
social existe uma linguagem distinta. O assaltante tem seu cdigo, o seu estilo, e assim o industrial, numa
multiplicidade lingstica verdadeiramente assombrosa
A CRNI CA
- Gnero literrio marcado por certa efemeridade, na medida em que registra a vida diria, os acontecimentos
que so marcantes no dia-a-dia.
- Fernando Sabino definiu-a como a "busca do pitoresco ou do irrisrio no cotidiano de cada um".
- Apresenta um carter jornalstico, desenvolvendo-se j no sculo XIX, com Jos de Alencar e Machado de
Assis, sob o nome de folhetim (o mesmo do romance romntico em captulos).
- Nas dcadas de 1950 e 1960, a crnica atingiu sua culminncia. Estes pequenos comentrios a respeito das
coisas banais ora assumem uma tendncia mais terna e lrica, aproximando-se da poesia; ora centralizam-se
na crtica humorstica dos acontecimentos e dos costumes.
A) Crnica l ri ca
1) RUBEM BRAGA ( 1913- 1990)
Obras principais: O conde e o passarinho(1936); Um p de milho (1948); O homem rouco (1949); A
borboleta amarela (1956); A cidade e a roa(1957); Ai de ti, Copacabana(1960).
- Registro da poesia oculta nos momentos mais triviais da vida diria
- Evocao de amores perdidos e do tempo que flui
- Celebrao da beleza geogrfica, humana e artstica do Rio de Janeiro, ainda que com certa dimenso
melanclica.
B) Crnica de Humor
Tradicional dentro do jornalismo brasileiro, a crnica de humor sempre teve larga aceitao. Poderia ser
dividida (um pouco arbitrariamente) em crnica de humor leve - visando sobremodo o riso - e a crnica
satrica, na qual o deboche atinge instituies ou figuras pblicas. No primeiro grupo poderamos destacar o
nome de Fernando Sabino. No segundo, Lima Barreto foi um precursor genial e sarcstico, fulminando as
elites intelectuais e burocrticas do Rio, na Repblica Velha, atravs dos ferinos comentrios de Bruzundangas
(o Brasil).
1. Fernando Sabino ( 1923)
Obras principais: O homem nu (1960); A mulher do vizinho (1975).
- O humor jovial e divertido a marca do cronista. Muitas de suas crnicas so pequenas histrias de final
surpreendente, os que as aproxima do conto.
No esquea: Fernando Sabino tornou-se o romancista de toda uma gerao ao escrever O encontro marcado
(1956). Acompanhando a crise existencial, sexual e ideolgica de trs jovens em Belo Horizonte do ps-guerra,
construiu um quadro simultaneamente inocente e dramtico das esperanas, frustraes e vida cotidiana dos
jovens de classe mdia.
2. Lus Fernando Verissimo ( 1936)
Obras principais: O popular; Ed Mort; O analista de Bag; O gigol das palavras (1986); Comdias da vida
privada; Comdias para se ler na escola (2001)
- Criador de tipos risveis que entram no anedotrio brasileiro: o analista de Bag, o fracassado detetive Ed
Mort e a Velhinha de Taubat.
- A consolidao do sucesso de pblico veio com a publicao das Comdias da vida privada. So crnicas de
humor retratando as contradies amorosas, sexuais, espirituais, geracionais e econmicas das classes mdias
urbanas, com seus pequenos dramas existenciais que se prestam mais ao humor do que tragdia humana.
XV O Teatro Contemporneo
1) Nel son Rodrigues ( 1912- 1981)
Principais peas:
O crtico Sbato Magaldi estabeleceu uma diviso temtica das peas:
Peas psi colgi cas (Vestido de noiva - Viva, porm honesta, etc.)
Peas mti cas (lbum de famlia - Senhora dos afogados)
Tragdias cariocas (A falecida - Beijo no asfalto - Os sete gatinhos - Boca de ouro - Toda a nudez ser
castigada, etc.)
- Segundo Magaldi: "As peas psicolgicas abordam elementos mticos e da tragdia carioca. As peas mticas
no esquecem o psicolgico e nelas aflora a tragdia carioca. J a tragdia carioca assimilou o mundo
psicolgico e mtico da obra rodrigueana."
Vestido de noiva
- Em 1943, a encenao de Vestido de noiva renovou por completo as bases formais e ideolgicas do teatro
brasileiro.
- Nesta obra, a linguagem de Nelson Rodrigues revelava uma dimenso coloquial sem precedentes. - O aspecto
renovador reside conjuntamente no fato do autor tornar-se o cronista dos traumas morais e sexuais da famlia
tradicional. Seus personagens mantm uma conduta de aparente normalidade, mas, nos desvos da sociedade,
cometem uma srie de crimes, quase todos vinculados ao comportamento sexual.
A histria se passa em trs nveis:
a) (reali dade) Atropelada, uma jovem senhora, Alade, operada num hospital.
b) (al ucinao) A moribunda divaga, encontrando, em seu delrio, Madame Clessi, famosa prostituta do incio
do sculo, assassinada pelo amante adolescente, e de quem Alade, no plano real, tinha um dirio de
confidncias. Nesta atrao, condensam-se todos os desejos reprimidos de Alade, entediada de seu marido,
Pedro.
c) (memria) Revela-se, pouco a pouco, que Alade roubara Pedro de sua prpria irm, Lcia. A conscincia
culpada leva-a imaginar cenas de traio entre Pedro e Lcia. No final, Alade morre e Lcia, aps perodo de
hesitao, resolve casar-se com Pedro.
Você também pode gostar
- Apostila de Literatura para o ENEMDocumento11 páginasApostila de Literatura para o ENEMVanderlan VeríssimoAinda não há avaliações
- Literatura Brasileira - QUADRO CRONOLÓGICODocumento5 páginasLiteratura Brasileira - QUADRO CRONOLÓGICOJussara Lisboa0% (1)
- Resumão Escolas LiteráriasDocumento37 páginasResumão Escolas LiteráriasPaulo GalvaoAinda não há avaliações
- ResumãoDocumento10 páginasResumãomariana paulaAinda não há avaliações
- Pré-Modernismo (Resumo)Documento3 páginasPré-Modernismo (Resumo)contato.marcelo13716100% (8)
- Literatura Aula 01 Apostila QuinhentismoDocumento6 páginasLiteratura Aula 01 Apostila QuinhentismolugaciapitangaAinda não há avaliações
- Resumo Literário (1500-2000)Documento10 páginasResumo Literário (1500-2000)Bruno VargasAinda não há avaliações
- Exercícios de Literatura ColonialDocumento15 páginasExercícios de Literatura ColonialsavioosirisAinda não há avaliações
- Linguagens 1Documento8 páginasLinguagens 1gerson gabriel100% (1)
- Aulas de Literatura PDFDocumento58 páginasAulas de Literatura PDFSabrina VIAinda não há avaliações
- Literatura - Aula 08 - Arcadismo No BrasilDocumento8 páginasLiteratura - Aula 08 - Arcadismo No BrasilLiterature Literatura96% (23)
- Apostila QuinhentismoDocumento6 páginasApostila QuinhentismovinvipsAinda não há avaliações
- AULA 8 - Arcadismo No Brasil PDFDocumento5 páginasAULA 8 - Arcadismo No Brasil PDFCharlles RouçasAinda não há avaliações
- Poesia Satírica PDFDocumento8 páginasPoesia Satírica PDFEnigma66 NadaquehacerAinda não há avaliações
- Teste ArcadismoDocumento3 páginasTeste ArcadismoAlessandra ArguejosAinda não há avaliações
- Literatura - Documentos GoogleDocumento7 páginasLiteratura - Documentos Googlemusic tronicAinda não há avaliações
- Alcmeno Bastos - Estilos de ÉpocaDocumento21 páginasAlcmeno Bastos - Estilos de ÉpocaFrancisco Souza Nunes Filho100% (1)
- Gregorio de Matos e Guerra - O Rabelais Dos TrópicosDocumento22 páginasGregorio de Matos e Guerra - O Rabelais Dos TrópicosLuciano Soares100% (1)
- Autores Do QuinhentismoDocumento7 páginasAutores Do QuinhentismodanieleosantosAinda não há avaliações
- ArcadismoDocumento11 páginasArcadismoRobson David De Neres100% (2)
- Ana Villar Exercícios para ProvaDocumento10 páginasAna Villar Exercícios para ProvaLaís MorellatoAinda não há avaliações
- Apostila QuinhentismoDocumento6 páginasApostila QuinhentismoRobson Felipe JuniorAinda não há avaliações
- LITERATURA - Escolas LiteráriasDocumento4 páginasLITERATURA - Escolas LiteráriasLUIZ ALBERTO MILITAO DA SILVAAinda não há avaliações
- Modular Escolas Literarias AcafeDocumento4 páginasModular Escolas Literarias AcafeEdir AlonsoAinda não há avaliações
- Literatura Brasileira No Século XXDocumento22 páginasLiteratura Brasileira No Século XXersopiAinda não há avaliações
- Apostila o Literatura Conteudo 2 AnoDocumento17 páginasApostila o Literatura Conteudo 2 AnoAdeilsonAinda não há avaliações
- Arcadismo - Lista de AtividadeDocumento6 páginasArcadismo - Lista de AtividadeAnny Chaan :3Ainda não há avaliações
- Escolas Literárias BrasileirasDocumento43 páginasEscolas Literárias BrasileirasSamuel FilhoAinda não há avaliações
- ArcadismoDocumento29 páginasArcadismoLuffy Do WWEAinda não há avaliações
- Literatura Brasileira e PortuguesaDocumento24 páginasLiteratura Brasileira e PortuguesaleandrolabisAinda não há avaliações
- Quinhentismo Barroco e ArcadismoDocumento16 páginasQuinhentismo Barroco e ArcadismoCarolina Mesquita - amor ao saber100% (1)
- Arcadismo 30 Ago A 03 SetDocumento37 páginasArcadismo 30 Ago A 03 SetPedro GomesAinda não há avaliações
- Pré-ModernismoDocumento5 páginasPré-ModernismoAna Claudia Dias PachecoAinda não há avaliações
- Resumo Escolas LiteráriasDocumento7 páginasResumo Escolas LiteráriasJudithLimaAinda não há avaliações
- Arcadismo Estudo DirigidoDocumento8 páginasArcadismo Estudo DirigidoKarina Bonisoni100% (1)
- Pré-Modernismo - SlidesDocumento32 páginasPré-Modernismo - SlidesDavi RibeiroAinda não há avaliações
- A Literatura Colonial No Enem - Prof. Jorge AlessandroDocumento8 páginasA Literatura Colonial No Enem - Prof. Jorge AlessandroJorge AlessandroAinda não há avaliações
- Arcadismo No BrasilDocumento4 páginasArcadismo No BrasilDrenaxelAinda não há avaliações
- Resumão Enem LiteraturaDocumento6 páginasResumão Enem LiteraturaLarissaAinda não há avaliações
- Cláudio Manuel Da Costa - ARCADISMODocumento7 páginasCláudio Manuel Da Costa - ARCADISMOSonyellen FerreiraAinda não há avaliações
- RomantismoDocumento34 páginasRomantismojuliaAinda não há avaliações
- Resumo Do Trovadorismo, Humanismo, Renascimento, Quinhentismo e BarrocoDocumento9 páginasResumo Do Trovadorismo, Humanismo, Renascimento, Quinhentismo e BarrocoCelina PanazzoloAinda não há avaliações
- Arcadismo - Vestibular CidadãoDocumento4 páginasArcadismo - Vestibular CidadãoMichelle MacielAinda não há avaliações
- Humanismo - ResumoDocumento76 páginasHumanismo - ResumofernandaAinda não há avaliações
- Arcadismo 2010Documento11 páginasArcadismo 2010zaldsonAinda não há avaliações
- RomantismoDocumento7 páginasRomantismoGabriel Ramalho de MelloAinda não há avaliações
- Pré-Modernismo (1902 - 1922)Documento21 páginasPré-Modernismo (1902 - 1922)biancasamy495Ainda não há avaliações
- Arcadismo - NeoclassicismoDocumento19 páginasArcadismo - Neoclassicismojúlia andradeAinda não há avaliações
- 10-Arcadismo pdf20190128173523Documento41 páginas10-Arcadismo pdf20190128173523Cirilo Getulio Ribeiro da SilvaAinda não há avaliações
- Pré-Modernismo - Prosa e PoesiaDocumento16 páginasPré-Modernismo - Prosa e Poesiajose.domingos.sousaAinda não há avaliações
- Os Lusíadas (Anotado): Edição Especial de 450 Anos de PublicaçãoNo EverandOs Lusíadas (Anotado): Edição Especial de 450 Anos de PublicaçãoAinda não há avaliações
- Relações étnico-raciais na literatura brasileira do século XXI: textos e contextosNo EverandRelações étnico-raciais na literatura brasileira do século XXI: textos e contextosMichel Mingote Ferreira de ÁzaraAinda não há avaliações
- Machado de Assis, o cronista das classes ociosas: Jornalismo, artes, trabalho e escravidãoNo EverandMachado de Assis, o cronista das classes ociosas: Jornalismo, artes, trabalho e escravidãoAinda não há avaliações
- Genealogia da Ferocidade: Ensaio sobre Grande Sertão: Veredas, de Guimarães RosaNo EverandGenealogia da Ferocidade: Ensaio sobre Grande Sertão: Veredas, de Guimarães RosaAinda não há avaliações
- O homem e a montanha - Introdução ao estudo das influências da situação geográfica para a formação do espírito mineiroNo EverandO homem e a montanha - Introdução ao estudo das influências da situação geográfica para a formação do espírito mineiroAinda não há avaliações
- A literatura no Brasil - Era Barroca e Era Neoclássica: Volume IINo EverandA literatura no Brasil - Era Barroca e Era Neoclássica: Volume IIAinda não há avaliações
- O cego e o trapezista: Ensaios de literatura brasileiraNo EverandO cego e o trapezista: Ensaios de literatura brasileiraAinda não há avaliações