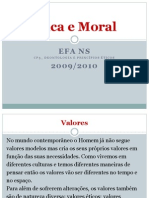Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Filosofia em Pronto
Filosofia em Pronto
Enviado por
Vasconcelos JúniorTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Filosofia em Pronto
Filosofia em Pronto
Enviado por
Vasconcelos JúniorDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Vestibulares PRISE ENEM - Concursos
A educao desenha o futuro Ensino Mdio tica: filosofia moral Prof. Ulisses Vasconcelos
Cid. Nova I, WE 9A, n121, Coqueiro.
Fone: (091) 3235-1844
*
A
T
E
N
O
:
C
o
p
i
a
r
C
R
I
M
E
.
A
r
t
.
1
8
4
d
o
c
d
i
g
o
P
e
n
a
l
e
L
e
i
n
5
9
9
8
/
7
3
CAPTULO 1
A DIFERENA ENTRE MORAL E TICA
Os conceitos de Moral e tica, embora
sejam diferentes, so com freqncia usados
como sinnimos. Moral vem do latim mos ou
moris, que significa maneira de se comportar
regulada pelo uso; da relacionarmos o termo
moral com costume, e de moralis, morale,
adjetivo referente ao que relativo aos
costumes. tica vem do grego ethos, que tem o
mesmo significado de carter, costume. O
sentido que os antigos gregos atribuam ao
homem de bons costumes era o mesmo do homem
de boa ndole, de bom carter. Por isso, os termos
Moral e tica se confundem, mas guardam entre
si certas diferenas.
Os costumes, porque so anteriores ao
nosso nascimento e formam o tecido da sociedade
em que vivemos, so considerados
inquestionveis e quase sagrados (as religies
tendem a mostr-los como tendo sido ordenados
pelos deuses, na origem dos tempos). Ora, a
palavra costume se diz, em grego, ethos donde,
tica e, em latim, moris donde, moral. Em
outras palavras, tica e moral referem-se ao
conjunto de costumes tradicionais de uma 30
sociedade e que, como tais, so considerados
valores e obrigaes para a conduta de seus
membros.
A lngua grega possui uma outra palavra
que precisa ser escrita em portugus com as
mesmas letras que a palavra que significa
costume: ethos. Em grego, existem duas vogais
para pronunciar e grafar nossa vogal e: uma vogal
breve, chamada epsilon, e uma vogal longa,
chamada eta. Ethos, escrita com a vogal longa,
significa costume; porm, escrita com a vogal
breve, significa carter, ndole natural,
temperamento, conjunto das disposies fsicas e
psquicas de uma pessoa. Nesse segundo sentido,
ethos se refere s caractersticas pessoais de cada
um que determina quais virtudes e quais vcios
cada um capaz de praticar. Referem-se,
portanto, ao senso moral e conscincia tica
individuais.
Moral o conjunto das regras ou normas
de conduta admitidas por uma sociedade ou por
um grupo de homens em determinada poca.
Assim, o homem moral aquele que age bem ou
mal na medida em que acata ou transgride as
regras do grupo.
A Moral, ao mesmo tempo que o 60
conjunto de regras que determina como deve ser o
comportamento dos indivduos do grupo,
tambm a livre e consciente aceitao das normas.
Isso significa que o ato s propriamente moral
se passar pelo crivo da aceitao pessoal da
norma. A exterioridade da moral contrape-se
necessidade da interioridade, da adeso mais
ntima.
Portanto, o homem, ao mesmo tempo que
herdeiro, criador de cultura, e s ter vida
autenticamente moral se, diante da moral
constituda, for capaz de propor a moral
constituinte; aquela que feita dolorosamente por
meio das experincias vividas. Mesmo quando
queremos manter as antigas normas, h situaes
crticas enfrentadas devido especificidade de
cada acontecimento. Por isso a ciso tambm
pode ocorrer a partir do enredo de cada drama
pessoal: a singularidade do ato moral nos coloca
em situaes originais em que s o indivduo livre
e responsvel capaz de decidir.
tica ou filosofia moral, a disciplina
filosfica que se ocupa com a reflexo a respeito
das noes e princpios que fundamentam a vida
moral. Essa reflexo pode seguir as mais diversas
direes, dependendo da concepo de homem
que se toma como ponto de partida.
Assim, pergunta o que o bem e o
mal, respondemos diferentemente, caso o
fundamento da moral esteja na ordem csmica, na 90
vontade de Deus ou em nenhuma ordem exterior
prpria conscincia humana. Podemos perguntar
ainda: H uma hierarquia de valores ? Se houver,
o bem supremo a felicidade? o prazer ? a
atividade ? o dever ?
Por outro lado, possvel questionar: Os
valores so essncias ? Tm contedo
determinado, universal, vlido em todos os
Vestibulares PRISE ENEM - Concursos
A educao desenha o futuro Ensino Mdio tica: filosofia moral Prof. Ulisses Vasconcelos
Cid. Nova I, WE 9A, n121, Coqueiro.
Fone: (091) 3235-1844
*
A
T
E
N
O
:
C
o
p
i
a
r
C
R
I
M
E
.
A
r
t
.
1
8
4
d
o
c
d
i
g
o
P
e
n
a
l
e
L
e
i
n
5
9
9
8
/
7
3
tempos e lugares ? Ou, ao contrrio, so relativos?
Ou, ainda, haveria possibilidade de superao das
duas posies contraditrias do universalismo e
do relativismo ? As respostas a essas e outras
questes nos daro as diversas concepes de vida
moral elaboradas pelos filsofos atravs dos
tempos.
PARA FIXAR
MORAL: conjunto dos costumes e juzos
morais de um indivduo ou de uma sociedade que
possui carter normativo (regras do
comportamento das pessoas no grupo). Conjunto
de regras que visa orientar a ao humana,
submetendo-a ao dever, tendo em vista o bem e o
mal. Conjunto de normas livre e conscientemente
aceitas que visam organizar as relaes dos
indivduos na sociedade.
TICA: parte da filosofia que se ocupa com a
reflexo a respeito das noes e dos princpios
que fundamentam a vida moral. A tica uma
disciplina terica sobre a prtica humana, que o
costume ou o comportamento humano. No
entanto, as reflexes ticas no se restringem
apenas busca de conhecimento terico sobre
valores humanos, cuja origem e desenvolvimento
levantam questes de carter sociolgico,
antropolgico, biolgico, religioso etc. A tica
uma filosofia prtica, ou seja, uma reflexo sobre
a prxis (ao prtica) em todos os setores da vida
humana. 30
VALOR: algo possui valor quando no permite
que permaneamos indiferentes (a no-indiferena
a essncia do valor). Frequentemente emitimos
juzos de valor quando os fatos (juzos de fatos
a existncia efetiva que dizem como so as
coisas, como so e por que so) nos provoca um
sentimento de atrao ou de repulsa (juzos de
valor avaliaes sobre coisas, pessoas, situaes
que so proferidos na moral, nas artes, na poltica,
na religio etc.). J uzos de valor avaliam coisas,
pessoas, aes, experincias, acontecimentos,
sentimentos, estados de esprito, intenes e
decises como bons ou maus, desejveis ou
indesejveis. Os juzos ticos de valor so
normativos, isto , enunciam normas que
determinam o dever ser de nossos sentimentos,
nossos atos, nossos comportamentos. So juzos
que enunciam obrigaes, dever, e avaliam
intenes e aes segundo o critrio do correto e
do incorreto. Os juzos ticos de valor nos dizem
o que so o bem, o mal, a felicidade. Os juzos
ticos normativos nos dizem que sentimentos,
intenes, atos e comportamentos devemos ter ou
fazer para alcanarmos o bem e a felicidade.
Enunciam tambm que atos, sentimentos,
intenes e comportamentos so condenveis ou
incorretos do ponto de vista moral.
SENSO OU CONSCINCIA MORAL:
referem-se a valores ticos (justia, honradez,
esprito de sacrifcio, integridade, generosidade) e 60
as decises que conduzem a aes com
conseqncias para ns e para os outros. Os
sentimentos e as aes, nascidos de uma opo
entre o bem e o mal se referem a algo mais
profundo e subentendido: nosso desejo de afastar
a dor e o sofrimento e de alcanar a felicidade,
seja por ficarmos contentes conosco mesmo, seja
para recebermos a aprovao dos outros.
ATO MORAL E ATO IMORAL: o ato moral
constitudo de dois aspectos: o normativo e o
fatual. O normativo so as normas ou regras de
ao e os imperativos que enunciam o dever ser.
O fatual so os atos humanos enquanto se
realizam efetivamente. Pertencem ao mbito do
normativo regras como: Cumpra a sua obrigao
de estudar; No minta; No roube; No
mate. O campo do fatual a efetivao ou no da
norma na experincia vivida. Os dois plos so
distintos, mas inseparveis. A norma s tem
sentido se orientada para a prtica, e o fatual s
adquire contorno moral quando se refere norma.
O ato efetivo ser moral ou imoral, conforme
esteja de acordo ou no com a norma
estabelecida. Por exemplo, diante da norma No
minta, o ato de mentir ser considerado imoral.
O ato s pode ser moral ou imoral se o indivduo
introjetou a norma e a tornou sua, livre e
conscientemente.
ATO AMORAL: considera-se amoral o ato
realizado margem de qualquer considerao a 90
respeito das normas. Trata-se da reduo ao
fatual, negando o normativo. O homem sem
princpios quer pautar sua conduta a partir de
situaes do presente e ao sabor das decises
momentneas, sem nenhuma referncia a valores.
a negao da moral.
Vestibulares PRISE ENEM - Concursos
A educao desenha o futuro Ensino Mdio tica: filosofia moral Prof. Ulisses Vasconcelos
Cid. Nova I, WE 9A, n121, Coqueiro.
Fone: (091) 3235-1844
*
A
T
E
N
O
:
C
o
p
i
a
r
C
R
I
M
E
.
A
r
t
.
1
8
4
d
o
c
d
i
g
o
P
e
n
a
l
e
L
e
i
n
5
9
9
8
/
7
3
PARA REFLETIR ou FILOSOFAR
SENSO MORAL E CONSCINCIA MORAL
Por Marilena Chaui *
Muitas vezes, tomamos conhecimento de movimentos
nacionais e internacionais de luta contra a fome. Ficamos sabendo
que, em outros pases e no nosso, milhares de pessoas, sobretudo
crianas e velhos, morrem de penria e inanio. Sentimos
piedade. Sentimos indignao diante de tamanha injustia
(especialmente quando vemos o desperdcio dos que no tm fome
e vivemna abundncia). Sentimos responsabilidade. Movidos pela
solidariedade, participamos de campanhas contra a fome. Nossos
sentimentos e nossas aes exprimemnosso senso moral.
Quantas vezes, levados por algumimpulso incontrolvel
ou por alguma emoo forte (medo, orgulho, ambio, vaidade,
covardia), fazemos alguma coisa de que, depois, sentimos
vergonha, remorso, culpa. Gostaramos de voltar atrs no tempo e
agir de modo diferente. Esses sentimentos tambm exprimem
nosso senso moral.
Emmuitas ocasies, ficamos contente e emocionados
diante de uma pessoa cujas palavras e aes manifestam
honestidade, honradez, esprito de justia, altrusmo, mesmo
quando tudo isso lhe custa sacrifcio. Sentimos que h grandeza e
dignidade nessa pessoa. Temos admirao por ela e desejamos
imit-la. Tais sentimentos e admirao tambmexprimemnosso
senso moral.
No raras vezes somos tomados pelo horror diante da
violncia: chacina de seres humanos e animais, linchamentos, 30
assassinatos brutais, estupros, genocdio, torturas e suplcios. Com
freqncia, ficamos indignados ao saber que um inocente foi
injustamente acusado e condenado, enquanto o verdadeiro culpado
permanece impune. Sentimos clera diante do cinismo dos
mentirosos, dos que usam outras pessoas como instrumento para
seus interesses e para conseguir vantagens s custas da boa-f de
outros. Todos esses sentimentos tambmmanifestam nossos senso
moral.
Vivemos certas situaes, ou sabemos que foramvividas
por outros, como situaes de extrema aflio e angstia. Assim,
por exemplo, uma pessoa querida, comuma doena terminal, est
viva apenas porque seu corpo est ligado a mquinas que a
conservam. Suas dores so intolerveis. Inconsciente, geme no
sofrimento. No seria melhor que descansasse empaz ? No seria
prefervel deix-la morrer ? Podemos desligar os aparelhos ? Ou
no temos o direito de faz-lo ? Que fazer ? Qual a ao correta ?
Uma jovemdescobre que est grvida. Sente que seu
corpo e seu esprito ainda no esto preparados para a gravidez.
Sabe que seu parceiro, mesmo que deseje apoi-la, e to joveme
despreparado quanto ela e que ambos no tero como
responsabilizar-se plenamente pela gestao, pelo parto e pela
criao de um filho. Ambos so desorientados. No sabem se
podero contar como o auxlio de suas famlias (se as tiverem).
Se ela for apenas estudante, ter que deixar a escola para
trabalhar, a fimde pagar o parto e arcar com as despesas da
criana. Sua vida e seu futuro mudaro para sempre. Se trabalha,
sabe que perder o emprego, porque vive numa sociedade onde os
padres discriminamas mulheres grvidas, sobretudo as solteiras.
Receia no contar com os amigos. Ao mesmo tempo, porm,
deseja a criana, sonha comela, mas teme dar-lhe uma vida de 60
misria e ser injusta comquemno pediu para nascer. Pode fazer
umaborto ? Deve faz-lo ?
Um pai de famlia desempregado, com vrios filhos
pequenos e a esposa doente, recebe uma oferta de emprego, mas
que exige que seja desonesto e cometa irregularidades que
beneficiem seu patro. Sabe que o trabalho lhe permitir sustentar
os filhos e pagar o tratamento da esposa. Pode aceitar o emprego,
mesmo sabendo o que ser exigido dele ? Ou deve recus-lo e ver
os filhos comfome e a mulher morrendo ?
Umrapaz namora, h tempos, uma moa de quemgosta
muito e por ela correspondido. Conhece uma outra. Apaixona-se
perdidamente e tambmcorrespondido. Ama duas mulheres e
ambas o amam. Pode ter dois amores simultneos, ou estar
traindo a ambos e a si mesmo ? Deve magoar uma delas e a si
mesmo, rompendo comuma para ficar coma outra ? O amor exige
uma nica pessoa amada ou pode ser mltiplo ? Que sentiro as
duas mulheres, se ele lhes contar o que se passa ? Ou dever
mentir para ambas ? Que fazer ? Se, enquanto est atormentado
pela indeciso, umconhecido o v ora comuma das mulheres, ora
com a outra e, conhecendo uma delas, dever contar a ela o que
viu? Emnome da amizade, deve falar ou calar ?
Uma mulher v umroubo. V uma criana maltrapilha e
esfomeada roubar frutas e pes numa mercearia. Sabe que o dono
da mercearia est passando por muitas dificuldades e que o roubo
far diferena para ele. Mas tambmv a misria e a fome da
criana. Deve denunci-la, julgando que comisso a criana no se
tornar umadulto ladro e o proprietrio da mercearia no ter
prejuzo ? Ou dever silenciar, pois a criana corre o risco de
receber punio excessiva, ser levada para a polcia, ser jogada
novamente s ruas e, agora, revoltada, passar do furto ao 90
homicdio ? Que fazer ?
Situaes como essas mais dramticas ou menos
dramticas surgem sempre em nossas vidas. Nossas dvidas
quanto a deciso a tomar no manifestamnosso senso moral, mas
pem prova nossa conscincia moral, pois exigem que
decidamos o que fazer, que justifiquemos para ns mesmos e para
os outros as razes de nossas decises e que assumamos todas as
conseqncias delas, porque somos responsveis por nossas
opes.
Todos os exemplos mencionados indicamque o senso
moral e a conscincia moral referem-se a valores (justia,
honradez, esprito de sacrifcio, integridade, generosidade), a
sentimentos provocados pelos valores (admirao, vergonha,
culpa, remorso, contentamento), que conduzem a aes com
consequncias para ns e para os outros. Embora os contedos dos
valores variem, podemos notar que esto referidos a umvalor mais
profundo, mesmo que apenas subentendido: o bomou o bem. Os
sentimentos e as aes, nascidos de uma opo entre o bom e o
mau ou entre o bem e o mal, tambmesto referidos a algo mais
profundo e subentendido: nosso desejo de afastar a dor e o
sofrimento e de alcanar a felicidade, seja por ficarmos contentes
conosco mesmos, seja por recebermos a aprovao dos outros.
O senso e a conscincia moral dizemrespeito a valores,
sentimentos, intenes, decises e aes referidos ao beme ao mal
e ao desejo de felicidade. Dizem respeito as relaes que
mantemos com os outros e, portanto, nascem e existemcomo parte
de nossa vida intersubjetiva, isto , de nossas relaes comoutros
sujeitos morais.
120
* MARILENA CHAUI. Professora na Universidade deSo Paulo (USP)
Vestibulares PRISE ENEM - Concursos
A educao desenha o futuro Ensino Mdio tica: filosofia moral Prof. Ulisses Vasconcelos
Cid. Nova I, WE 9A, n121, Coqueiro.
Fone: (091) 3235-1844
*
A
T
E
N
O
:
C
o
p
i
a
r
C
R
I
M
E
.
A
r
t
.
1
8
4
d
o
c
d
i
g
o
P
e
n
a
l
e
L
e
i
n
5
9
9
8
/
7
3
Juzo de fato e Juzo de valor
Se dissermos, Est chovendo, estaremos
enunciando um acontecimento constatado por ns
e o juzo proferido um juzo de fato. Se, porm,
falarmos, A chuva boa para as plantas ou A
chuva bela, estaremos interpretando e
avaliando o acontecimento; nesse caso,
proferimos um juzo de valor.
J uzos de fato so aqueles que dizem o que as
coisas so, como so e por que so. Em nossa
vida cotidiana, mas tambm na metafsica e nas
cincias, os juzos de fato esto presentes.
Diferentemente deles, os juzos de valor, so
avaliaes sobre coisas, pessoas, situaes e so
proferidos na moral, nas artes, na poltica, na
religio.
J uzo de valor avaliam coisas, pessoas,
aes, experincias, acontecimentos, sentimentos,
estados de esprito, intenes e decises como
bons ou maus, desejveis ou indesejveis.
Os juzos ticos de valor so tambm
normativos, isto , enunciam normas que
determinam o dever ser de nossos sentimentos,
nossos atos, nossos comportamentos. So juzos
que enunciam obrigaes e avaliam intenes e
aes segundo o critrio do correto e do incorreto.
Os juzos ticos de valor nos dizem o que
so o bem, o mal, a felicidade. Os juzos ticos 30
normativos nos dizem que sentimentos,
intenes, atos e comportamentos devemos ter ou
fazer para alcanarmos o bem e a felicidade.
Enunciam tambm que atos, sentimentos,
intenes e comportamentos so condenveis ou
incorretos do ponto de vista moral.
Como se pode observar, senso moral e
conscincia moral so inseparveis da vida
cultural, uma vez que esta define para seus
membros os valores positivos e negativos que
devem respeitar ou detestar.
Qual a origem da diferena entre os dois
tipos de juzos ? A diferena entre a Natureza e a
Cultura. A primeira, como vimos, constituda
por estruturas e processos necessrios que existem
em si e por si mesmos, independentemente de
ns: a chuva um fenmeno meteorolgico, cujas
causas e efeitos necessrios podemos constatar e
explicar.
Por sua vez, a Cultura nasce da maneira
como os seres humanos interpretam-se a si
mesmos e as suas relaes com a Natureza,
acrescentando-lhe sentidos novos, intervindo nela,
alterando-a atravs do trabalho e da tcnica,
dando-lhe valores. Dizer que a chuva boa para
as plantas pressupe a relao cultural dos
humanos com a Natureza, atravs da agricultura.
Considerar a chuva bela pressupe uma relao
valorativa dos humanos com a Natureza,
percebida como objeto de contemplao. 60
Frequentemente, no notamos a origem
cultural dos valores ticos, do senso moral e da
conscincia moral, porque somos educados
(cultivados) para eles e neles, como se fossem
naturais ou fticos, existentes em si e por si
mesmos. Para garantir a manuteno dos padres
morais atravs do tempo e sua continuidade de
gerao a gerao, as sociedades tendem a
naturaliz-los. A naturalizao da existncia
moral esconde, portanto, o mais importante da
tica: o fato de ela ser criao histrico-cultural.
Os valores
Mas o que so valores ? Embora a
preocupao com os valores seja to antiga como
a humanidade, s no sculo XIX surge uma
disciplina especfica, a teoria dos valores ou
Axiologia (do grego axios, valor). A Axiologia
no se ocupa dos seres, mas das relaes que se
estabelecem entre os seres e o sujeito que os
aprecia.
Diante dos seres (sejam eles coisas inertes,
ou seres vivos, ou idias etc.) somos mobilizados
pela afetividade, somos afetados de alguma forma
por eles, porque nos atraem ou provocam nossas
repulsa. Portanto, algo possui valor quando no
permite que permaneamos indiferentes. nesse
sentido que Garca Morente diz: Os valores no
so, mas valem. Uma coisa valor e outra coisa 90
ser. Quando dizemos de algo que vale, no
dizemos nada do seu ser, mas dizemos que no
indiferente. A no-indiferena constitui esta
variedade ontolgica que contrape o valor ao
ser. A no-indiferena a essncia do valer
1
.
Os valores so, num primeiro momento,
herdados por ns.
O mundo cultural um sistema de
significados j estabelecidos por outros, de tal
modo que aprendemos desde cedo como nos
comportar mesa, na rua, diante de estranhos,
como, quando e quanto falar em determinadas
circunstncias; como andar, correr, brincar; como
cobrir o corpo e quando desnud-lo; qual o padro
de beleza; que direitos e deveres temos. Conforme
Vestibulares PRISE ENEM - Concursos
A educao desenha o futuro Ensino Mdio tica: filosofia moral Prof. Ulisses Vasconcelos
Cid. Nova I, WE 9A, n121, Coqueiro.
Fone: (091) 3235-1844
*
A
T
E
N
O
:
C
o
p
i
a
r
C
R
I
M
E
.
A
r
t
.
1
8
4
d
o
c
d
i
g
o
P
e
n
a
l
e
L
e
i
n
5
9
9
8
/
7
3
atendemos ou transgredimos os padres, os
comportamentos so avaliados bons ou maus.
A partir da valorao, as pessoas nos
recriminam por no termos seguido as formas da
boa educao ao no ter cedido lugar pessoa
mais velha; ou nos elogiam por sabermos escolher
as cores mais bonitas para a decorao de um
ambiente; ou nos admoestam por termos faltado
com a verdade. Ns prprios nos alegramos ou
nos arrependemos ou at sentimos remorsos
dependendo da ao praticada. Isso quer dizer que
o resultado de nossos atos est sujeito sano,
ou seja, ao elogio ou reprimenda, recompensa
ou punio, nas mais diversas intensidades,
desde aquele olhar da me, a crtica de um
amigo, a indignao ou at a coero fsica (isto ,
a represso pelo uso da fora).
1
Garca Morente, M. Fundamentos de filosofia; lies preliminares.p.296.
____________________________________________________________
PARA REFLETIR ou FILOSOFAR
A boa e velha tica
Por Paulo Ghiraldelli J r.*
Durante os dias do julgamento dos acusados da morte de
Isabela Nardoni, um grupo de pessoas atacou fisicamente o 30
advogado do casal Nardoni, ento responsabilizados pelo
assassinato da garota. O grupo ps de lado o direito de defesa,
pertencente aos nossos costumes e vigente emnossa legislao.
Tudo ocorreu como se quisessemque o advogado abandonasse o
caso. Ora, se o advogado abandonasse os Nardoni, mediante
presso popular, comeste defensor deveria ser entendido ?
Caso o advogado largasse os Nardoni, eticamente ele
teria cometido uma falta grave. Tomada como umtodo, nossa
sociedade espera que umadvogado acredite na inocncia (ou parte
dela) do seu cliente e v at o fimna defesa. Em termos mais
gerais, nossa idia bsica que o advogado, mais do que qualquer
outro cidado, leve a srio o preceito todos so inocentes at que
se prove o contrrio, vigente como valor, regra e lei emnossa
sociedade. Caso tivesse desistido, moralmente ele tambmficaria
emdvida, ao menos consigo mesmo, pois agiria segundo uma
qualidade moral pouco louvvel entre ns, a covardia.
Esse assunto nos conduz seguinte pergunta: qual a
diferena entre tica e moral ?
tica diz respeito a costumes, hbitos e valores
relativamente coletivos, assumidos por indivduos de um grupo
social, uma sociedade ou uma nao. No caso, pode-se comentar o
seguinte: os indivduos que queriam que nenhum advogado
defendesse os Nardoni se mostraram hostis ao nosso costume
social e jogaram pela janela valores caros ao Ocidente. Eles
estavam em dissonncia com o ethos de nossa nao,
especialmente porque queriam que o prprio advogado tambm
atravessasse o comportamento tico.
Moral diz respeito a hbitos, costumes e valores
assumidos por indivduos de um grupo social, uma sociedade ou
uma nao; todavia, o comportamento desenvolvido por tal 60
assuno est diretamente relacionado psique de cada um e,
tambm, sua personalidade e at mesmo ao que chamaramos de
suas idiossincrasias (do grego Tidios, prprio de si + Sun-
krasis, mistura), termo grego que diz respeito capacidade de
cada indivduo de enxergar o universo de uma maneira prpria.
Moral tem a ver com o que o indivduo faz ou deixa de fazer
quanto a situaes que a sociedade determina como particulares;
abarca relaes de umindivduo consigo mesmo e comas pessoas
mais queridas, mais prximas. Caso o advogado dos Nardoni
tivesse cedido aos agressores e desistido do caso, talvez estes
mesmos viessema dizer que ele agiu como umhomem de moral
fraca. Ele seria, ento, caracterizado como algum que no
honrou o nosso mores.
tica e moral no so a mesma coisa. Alis, suas origens
etimolgicas assim dizem: tica vem do grego ethos e moral
origina-se do latim mores. Delimitam, respectivamente,
comportamentos sociais universais e comportamentos sociais
particulares. Em sociedades ocidentais modernas e liberais, em que
h um recorte claro e razoavelmente bem definido da esfera
pblica e da esfera particular, a tica cai no primeiro campo e
moral no segundo.
Comisso, no se quer dizer que, emuma sociedade
moderna, ocidental e liberal como a nossa, que faz recortes
razoavelmente delimitados entre o que a esfera pblica e o que
a esfera privada, o que do mbito moral no possa vir a pblico,
ou seja, no possa ser exposto a umpblico. Emvrias situaes
notveis, isto , emcasos polmicos, o que ocorre exatamente
essa transposio do que privado para o mbito pblico. No
raro, justamente nessa hora que percebemos a diferena entre um
caso e outro, entre situao moral e situao tica. 90
O caso de Ronaldinho comos travestis foi umepisdio
moral, no propriamente tico. Que Ronaldinho tenha preferncia
sexual rotineira ou no por travestis algo da sua psique. um
gosto dele, uma idiossincrasia sua, digamos assim. Nesse sentido,
em nossa sociedade, algo do mbito moral. Emnossa sociedade
ocidental, moderna e liberal o gosto sexual tende a ser tomado
como algo da personalidade de cada ume, portanto, deve pertencer
ao campo privado. Dessa forma, a moral que, enfim, encontra-se
na particularidade, adentra uma esfera afinada com a
particularidade, a esfera da privacidade. O gosto por travestis do
Ronaldinho diz respeito a ele e to-somente a ele. Por isso mesmo,
ele foi para um motel, para o divertimento privado. Quando o caso
chegou imprensa, ainda assimele permaneceu umcaso moral.
* Paulo Ghiraldelli J r.: filsofo, escritor e professor da UFRRJ .
____________________________________________________________
AGORA COM VOC !
Exerccios Propostos
1) Quais os significados dos termos Moral e tica ?
2) Estabelea a diferena fundamental entre os conceitos de
Moral e tica.
3) Por que tica filosofia prtica ?
4) Estabelea a diferena entre ato moral, imoral e amoral.
5) O que senso moral e conscincia moral ?
6) Estabelea a diferena entre juzo de fato e juzo de valor.
7) O que so valores ticos morais ? Cite exemplos. 120
Vestibulares PRISE ENEM - Concursos
A educao desenha o futuro Ensino Mdio tica: filosofia moral Prof. Ulisses Vasconcelos
Cid. Nova I, WE 9A, n121, Coqueiro.
Fone: (091) 3235-1844
*
A
T
E
N
O
:
C
o
p
i
a
r
C
R
I
M
E
.
A
r
t
.
1
8
4
d
o
c
d
i
g
o
P
e
n
a
l
e
L
e
i
n
5
9
9
8
/
7
3
8) Leia o texto de Paulo Ghiraldelli Jr e responda: qual a
diferena entre tica e Moral levando em considerao as
esferas pblica e privada de nossa sociedade ?
CAPTULO 2
A MORAL EM QUESTO
tica e Metatica
Por Paulo Ghiraldelli J r.
A investigao da tica remonta aos
primrdios da atividade filosfica. Scrates se
caracterizou por fazer perguntas tico-morais.
Todavia, foi Plato quem inventou a discusso
tica, o que denominamos hoje de metatica.
Enquanto campo de estudo e investigao, a tica
se responsabiliza pela discusso das normas e
regras de conduta e, portanto, tem como objeto as
morais vigentes. A metatica, por sua vez, um
discurso de segunda ordem que se pe
filosoficamente para validar ou no preceitos
tico-morais vigentes. A metatica diz respeito a
fundamentos e/ou justificativas da moral.
Em termos acadmicos atuais, as posies
metaticas formam trs grandes guarda-chuvas: o
naturalismo, o relativismo e o emotivismo. No
mbito propriamente tico, a tendncia dividir a 30
normatividade a partir de ticas do dever e ticas
consequencialistas. A tica judaico-crist e a
Kantiana so do primeiro tipo, o utilitarismo do
segundo tipo.
Naturalismo
A noo de natureza humana j
desfrutou de muito mais prestgio do que hoje
possui entre os filsofos. Todavia, no mbito do
senso comum, ainda utilizada como um porto
seguro. Uma boa parte das pessoas se tranqiliza
quando, diante do relato de uma situao vivida
por outros ou por si mesma, a avaliao moral
recebida vem junto frase ah, isso normal,
prprio da natureza. O que um fato que pode
ser classificado como da natureza humana
serve, ento, de fundamento tico para o
comportamento moral por mais esquisito que
este possa parecer em um primeiro momento.
A ideia bsica nesse caso est l no sculo
XVII, especialmente na distino entre fato e
valor estabelecida por David Hume (1711-
1776).
A parede da sala branca uma frase factual,
enquanto que A parede da sala horrvel uma
frase valorativa. Sendo um fato da natureza
humana pode, ento, ser tido como normal e 60
indicado como o que deve ser aceito afinal,
quem estaria autorizado a mudar a natureza
humana ?
David Hume. Filsofo e historiador escocs (1711-1776), considerado
fundador da escola ctica, o chamado Empirismo.
Um exemplo. Recentemente houve estupro
de garotas (inclusive com mortes) e a explicao
dada ao ocorrido foi que elas estavam usando a
pulseira do sexo.
A pulseira marca uma atividade de
paquera nela est escrito beijo, abrao etc.
A garota que a usa estaria, em princpio,
permitindo uma brincadeira junto aos colegas ou
pretendentes; se eles arrancam a pulseira esto
aptos a realizar o que est gravado no objeto.
Nada alm de uma brincadeira pr-adolescente,
como era o correio elegante, o bilhete que
meninos e meninas trocavam em festas escolares
h alguns anos passados e que, talvez, ainda
troquem hoje em dia.
Nos Estados em que ocorreu o caso, as
autoridades se preocuparam antes em proibir o
uso da pulseira do sexo que condenar veemente
o estupro e nele ficar. Assim, mais uma vez, a
mulher foi punida duplamente. Nessa situao,
ocorreu a conhecida posio que imputa culpa 90
vtima. No limite, as mulheres que usam um
adorno, no caso a pulseira do sexo, so
responsabilizadas pelos ataques que vierem a
sofrer de malfeitores. Elas no deveriam estar
usando aquilo, pois, como concluram as
autoridades de modo completamente irracional, a
Vestibulares PRISE ENEM - Concursos
A educao desenha o futuro Ensino Mdio tica: filosofia moral Prof. Ulisses Vasconcelos
Cid. Nova I, WE 9A, n121, Coqueiro.
Fone: (091) 3235-1844
*
A
T
E
N
O
:
C
o
p
i
a
r
C
R
I
M
E
.
A
r
t
.
1
8
4
d
o
c
d
i
g
o
P
e
n
a
l
e
L
e
i
n
5
9
9
8
/
7
3
pulseira seria o chamariz para o ataque. Em suma,
as autoridades que assim pensaram no disseram,
mas, certamente, estavam com a seguinte diretriz
na cabea: um fato da natureza humana que o
homem se sinta excitado por mulheres que
colocam a pulseira chamando para o sexo.
Alguns endossariam at mais: um fato da
natureza humana que homens que so chamados
para o sexo, uma vez rejeitados, ataquem.
Assim, a valorao moral da situao que
terminou em estupro e, em alguns casos, em
morte, tomada de modo bem menos negativo
que a princpio poderia parecer. H um crime e,
certo, trata-se de um crime que as autoridades
adoram chamar de hediondo, mas que, no caso,
cai sob as graas da avaliao moral, pois, afinal,
a atitude dos criminosos no fugiu do que pode
ser derivado de um fato da natureza humana.
Esta posio metatica base para a
fundamentao de avaliaes morais. O filsofo
George Moore (1873-1958) fez a melhor crtica
dessa posio. Essa crtica apareceu como uma
denncia ao qual ele chamou de falcia
naturalista.
Ele no contestou a existncia de uma
natureza humana. Ele foi mais decisivo, pois
questionou a legitimidade da derivao do dever
ser a partir do ser. O que se pode tomar como
algo que deveria ocorrer (ou no) no algo que
legitimamente se aponte a partir do que se mostra 30
como o que . Um fato no est autorizado a gerar
um dever. Um fato dito da natureza humana no
est logicamente autorizado a dizer o homem
deveria ou poderia agir de um modo ou de outro.
Norma e valor no podem ser obtidos do fato. A
linha entre norma (ou valor) e fato no traz a
implicao legtima, traz uma relao que conduz
a uma falcia (falso raciocnio). No difcil ver,
no caso da pulseira do sexo, a falcia em que as
autoridades dos lugares que proibiram o uso do
objeto caram.
Relativismo
A posio relativista, em uma formulao
simplificada, diz que todos os enunciados que
afirmam o certo e o errado no esto sob o crivo
que deriva de uma autoridade universal e
absoluta. claro que uma posio como esta
precisa ser discutida, pois ela no o que se pode
pensar dela inicialmente, uma posio de
autorrefutao.
Pode-se afirmar legitimamente que h
posies melhores e piores em moral, que somos
capazes de decidir sob quais no viveramos de
modo algum e sob quais poderamos, ainda que
descontentes, optar por continuar vivendo. Na
maioria das vezes, temos argumentao suficiente
para dizer isso e convencer outros de nossa
razoabilidade, mesmo que no tenhamos nada de 60
universal e menos ainda de absoluto para invocar
em favor de nossa opo.
O filsofo britnico Bertrand Russel
(1872-1970) criticou os pragmatistas americanos
de sua poca, em especial William J ames e J ohn
Dewey, acusando-os de relativistas. Ele entendia
os relativistas de uma maneira um pouco injusta,
como os que podiam dar guarida a toda e qualquer
ao ou enunciado.
Nas discusses filosficas sobre o
relativismo, ele cai na berlinda, em geral, diante
de Hitler. O genocdio dos judeus a pedra de
toque. H para o relativista um modo de condenar
o nazismo pelo Holocausto ? Ou o relativista
obrigado a confessar que entre a posio dos que
estiveram no Tribunal de Nuremberg (ocorrido
aps a Segunda Guerra Mundial), acusando os
nazistas ali julgados, e os prprios nazistas, no
poderia haver diferena? Segundo alguns
ultradireitistas, ainda hoje, os promotores de
Nuremberg no tinham nenhum elemento nas
mos alm daquele devolvido pelos nazistas a
cada acusao, a saber, que eles estavam ali sendo
julgados nica e exclusivamente por terem
perdido a guerra no eram nem mais e nem
menos criminosos que qualquer outro participante
do conflito.
A posio relativista boa quando tem de
justificar o que parece a uma cultura apenas
idiossincracia de outra, e que, na verdade, tem l 90
seu valor perante um bom contingente de pessoas
cultas. O relativismo tem menos sorte quando
cobrado diante de ter de avaliar genocidas.
O relativismo se complica mais, tambm,
quando se coloca como base para as avaliaes
tico-morais a respeito de atitudes de grupos que
colocam seus semelhantes, os mais desprotegidos,
em situao de sofrer dor ou mesmo de morte.
Acontecimentos recentes nas tribos brasileiras
lembram bem isso. H tribos que enterram vivas
crianas com algum defeito fsico ou mental. No
so to diminutos os grupos de antroplogos ou
indigenistas que, utilizando o argumento da
importncia do respeito cultura dos povos,
defendem tal prtica.
Vestibulares PRISE ENEM - Concursos
A educao desenha o futuro Ensino Mdio tica: filosofia moral Prof. Ulisses Vasconcelos
Cid. Nova I, WE 9A, n121, Coqueiro.
Fone: (091) 3235-1844
*
A
T
E
N
O
:
C
o
p
i
a
r
C
R
I
M
E
.
A
r
t
.
1
8
4
d
o
c
d
i
g
o
P
e
n
a
l
e
L
e
i
n
5
9
9
8
/
7
3
Mas o relativista srio sabe que o
relativismo no se presta legitimao de toda e
qualquer prtica. O relativismo implica em dizer
que valores, prticas e enunciados no podem ser
colocados, em princpio, fora do contexto da
discusso racional por conta de qualquer lei
escrita nas estrelas. Ou seja, tudo merece
discusso. At a barbrie merece ser discutida. No
caso de barbries horrveis o Holocausto a
pedra de toque aqui , ns no deixamos de
discuti-la. Alis, no Tribunal de Nuremberg foi
dado aos nazistas o direito de defesa. Em
determinado momento do julgamento, eles
chegaram a levar vantagem diante da opinio
pblica. S quando os filmes que eles prprios
fizeram da morte de judeus chegaram a ser
encontrados e exibidos durante o perodo de
julgamento, para todos que formavam ali o jri,
que o promotor efetivamente ganhou fora no
caso. Muitos que viram as cenas no precisaram
evocar nenhum princpio universal para ter
argumentos contra eles. Alis, depois da Segunda
Guerra Mundial se elaborou uma nova Carta de
defesa dos Direitos do Homem exatamente para
se ter um parmetro para uma futura
jurisprudncia, o que foi tomado por deciso
histrica e, portanto, sem qualquer legitimidade
outra que no a do desejo dos que a elaboraram de
no ver a barbrie repetida sem que se pudesse
dizer: Isso ns no queremos. 30
Tribunal de Nuremberg. Ocorrido aps a Segunda Guerra Mundial, em
Nuremberg, na Alemanha, julgou os nazistas que cometeram crimes
durante a guerra, desde irregularidades contra o direito internacional at
assassinatos emmassa. De 1945 a 1949, 199 pessoas foramjulgadas, sendo
que, desse total, 21 eramlderes nazistas. Umdos rus mais famosos foi o
brao direito de Adolf Hitler, Hermann Goering, que foi condenado
morte. No entanto, antes de a pena ser aplicada, ele cometeu suicdio na
priso.
Emotivismo
O filsofo britnico Alfred J . Ayer, da
linha dos positivistas lgicos, foi um dos
principais defensores do emotivismo. Ele afirmou
que todo e qualquer enunciado tico sem
sentido, no possui nenhum literalidade
alguma coisa que expressa emoo e no fatos.
Expresses de emoo, mesmo que sejam
sentenas, foram tomadas por Ayer como
equivalentes a grunhidos ou sorrisos e, por isso
mesmo, no poderiam receber os adjetivos falso
ou verdadeiro. No estando no campo do que
literal, no pertenceriam ao mbito do que pode
ser verificado.
Ora, sendo assim, mesmo que se coloque 60
um enunciado do tipo a tortura algo errado em
um documento solene como, por exemplo, a
citada Carta da Defesa dos Direitos do Homem,
h de se ter em mente que se trata de um
enunciado no verificvel. A tortura algo
errado equivale a um grito de emoo, algo
como um buuu ou iahhhaa.
Os filsofos norte-americano e britnicos
que, entre toda a comunidade filosfica, so os
mais familiarizados com essa doutrina, a
denominaram de teoria tica do Boo/Hooray,
lembrando que se algum est dizendo algo a
respeito de sentimentos est, efetivamente,
grunhindo de modo a incentivar ou reprovar algo,
com o nico objetivo de mobilizar ou
desmobilizar aes e conversas.
Poder-se-ia aqui, no caso, tambm chamar
Hitler ? Sim, claro ! Mas novamente h sadas.
Dizer buuu para algum pode no ser pouca
coisa. Um grito de reprovao um grito de
reprovao e, uma vez no ar, identifica seu
emissor. Ora, seu emissor pode, por si prprio, ter
status moral suficiente para que outros digam
ele uma pessoa razovel, no est aplaudindo
tal enunciado e, ento, vou considerar o que ele
tem a argumentar sobre isso. Podemos conversar
horas, nesse caso, sem encontrarmos leis escritas
nas estrelas para justificar o buuu, mas, na
discusso, pode-se encontrar uma srie de bons
argumentos, sentimentais ou pragmticos, que 90
indicam muito bem que no razovel e nada
bom ficar do lado do vaiado. Por exemplo, talvez
possamos mesmo convencer um nazista, que no
seja o prprio Hitler, que a democracia melhor
para a famlia dele e de seus filhos que o regime
de fora que ele adotou.
Vestibulares PRISE ENEM - Concursos
A educao desenha o futuro Ensino Mdio tica: filosofia moral Prof. Ulisses Vasconcelos
Cid. Nova I, WE 9A, n121, Coqueiro.
Fone: (091) 3235-1844
*
A
T
E
N
O
:
C
o
p
i
a
r
C
R
I
M
E
.
A
r
t
.
1
8
4
d
o
c
d
i
g
o
P
e
n
a
l
e
L
e
i
n
5
9
9
8
/
7
3
tica do Dever
Um religioso guiado pelos Mandamentos
, antes de tudo, uma pessoa que segue um cdigo
tico-moral por dever. O nome j diz tudo: no se
trata de sugestes para a vida e, sim, de ordens
mandamentos. O deus judaico-cristo no pede,
ele manda. Ele pode mandar por justia, como
no Velho Testamento, ou por amor, como no
Novo, mas que ele manda, ele manda.
Sua autoridade para mandar vem, no
Velho Testamento, dele prprio ele falou o que
era o correto para o povo judeu e, enfim, depois,
por meio deste, para o homem em geral. No Novo
Testamento, Deus se transformou em pai e, ento,
reordenou alguns princpios, repostos pelo
discurso de J esus. Nesse, ele falou o que era o
correto para os judeus e sua autoridade passou a
vir da ideia de que o amor a nica lei. Nos
dois casos, o cdigo moral a ser seguido , antes
de tudo, um conjunto normativo que seguimos
porque devemos seguir.
Com os modernos, em especial com o
filsofo alemo Immanuel Kant (1724-1804),
uma norma deveria ganhar valor moral caso
pudesse ser identificada como um imperativo o
chamado imperativo categrico, assim posto:
Atue somente de acordo com aquela mxima
que pode ser tomada como que deveria ser
uma lei universal, ao mesmo tempo que se est 30
agindo. Essa lei depende de um fato da razo:
a liberdade. O homem no est preso a agir assim,
ele age porque sua condio a de ser livre. Ele
se determina (autodetermina) a agir assim,
segundo o imperativo, para poder agir
moralmente, e isso no por sentimento (interesse
ou inclinao) e, sim, por entender que a regra do
imperativo categrico, uma vez no seguida,
resultaria em uma contradio que gritaria ao seu
ouvido racional. Que mundo pouco confortvel
(racionalmente) no seria aquele no qual o que
no pode ser tomado como lei universal fosse a
regra seguida por todos e aceita como correta ?
O exemplo aqui do prprio Kant: mentir
por amor humanidade no um ato moral, pois
a mentira como lei universal inviabilizaria nossa
sociedade e a prpria humanidade. Caso todos
pudessem mentir e, ainda assim, ter respaldo
moral para a mentira, isso institucionalizaria uma
sociedade que, no limite, j no teria parmetro
para separar moralmente, o que no pouco o
que o testemunho falso e o que o verdadeiro.
Immanuel Kant (1724-1804). Filsofo alemo autor de uma importante
obra sobre ticaintitulada Crtica da Razo Prtica.
tica Consequencialista 60
Diferentemente da tica do dever, John
Stuart Mill (1806-1873) advogou uma tica das
conseqncias a partir de seu projeto denominado
de utilitarismo. Sua idia bsica foi a de tornar
indistintos felicidade e prazer, aceitando para tal
um clculo a respeito do prazer. O que causa dor e
o que causa prazer foram postos em uma rgua de
mximos em plos opostos, e o que bom e,
portanto, um valor tico-moral, o que no traz
dor alguma. Dessa forma, inicia-se no ponto no
zero, positivo, do prazer. O mal exatamente o
que se inicia em sentido contrrio. Uma rgua
desse tipo pode avaliar cada enunciado e cada ato,
em suas conseqncias, como til ou no para o
homem.
Indagados se isso no traria uma
arbitrariedade muito grande no campo das
decises ticas, os utilitaristas responderam que
essa rgua no deveria ser posta em uso sem que
se considerasse a humanidade, o coletivo.
Todavia, ainda assim, a pergunta retornaria, pois
os conflitos tico-morais aparecem no s entre
indivduos, mas, como j mostrei aqui, tambm a
respeito de culturas o que o coletivo para o
indivduo.
Apesar dessa objeo, o utilitarismo tem
uma vantagem sobre os dois outros sistemas. Ele
menos rgido e, por isso mesmo, permite o que
essencial Filosofia, ou seja, a discusso racional 90
e no apenas a deciso racional.
Vestibulares PRISE ENEM - Concursos
A educao desenha o futuro Ensino Mdio tica: filosofia moral Prof. Ulisses Vasconcelos
Cid. Nova I, WE 9A, n121, Coqueiro.
Fone: (091) 3235-1844
*
A
T
E
N
O
:
C
o
p
i
a
r
C
R
I
M
E
.
A
r
t
.
1
8
4
d
o
c
d
i
g
o
P
e
n
a
l
e
L
e
i
n
5
9
9
8
/
7
3
Por exemplo, no caso dos ndios que
enterram crianas, um utilitarista iria fazer o que
realmente foi feito por alguns estudiosos: saber se
a dor criada por aquela situao seria
exclusivamente da criana ou de outros tambm.
O que se descobriu que alguns irmos e mesmo
algumas mes preferiam fugir a enterrar seus
filhos, pois a dor que sentiam era insuportvel,
mesmo diante do costume arraigado em sculos.
Nesse caso, a rgua moral utilitria diz que a
prpria tribo tenta sobreviver tambm por meio
dos que no concordam com o costume, e estes
fogem e sobrevivem, e no deixam de se
considerar daquela tribo por terem optado pelo
exlio nas mais duras condies da floresta. Dessa
observao, a discusso racional reaparece
exatamente porque as conseqncias no foram
pr-julgadas, elas so repostas na mesa de
conservao para os que esto observando o
quadro.
J.S.Mill (1806-173). Filsofo e economista ingls, e umdos pensadores
liberais mais influentes do sculo XIX. Foi umdefensor do utilitarismo, a
teoriaticaproposta inicialmente por seu padrinho J eremy Bentham.
Referncia:
30
GHIRALDELLI JR., Paulo. A boa e velha tica. O conceito
e suas derivaes aplicados aos mais recentes casos
noticiados pela mdia. Conhecimento Prtico Filosofia. p.
54-60. So Paulo: escala educacional, 2010.
(Adaptado por Ulisses Vasconcelos)
________________________________________
CAPTULO 3
CONCEPES TICAS
TICA CLSSICA
Segundo Scrates, Plato e Aristteles
PLATO E ARISTTELES conviverampor 20 anos na Academia
O pensamento de Scrates (470-399 a.C.)
marca o nascimento da filosofia clssica e, foi,
posteriormente desenvolvido por Plato e
Aristteles. Scrates no estava mais preocupado
com a origem do cosmo (como as pessoas no 60
tempo da mitologia) nem com o elemento que
seria a essncia de tudo (como os pr-socrticos).
Para ele, o fundamental era a reflexo sobre a vida
da plis (cidade-estado), os costumes e
comportamentos. J untos, esses fatores formam o
que os gregos chamavam de ethos (estilo de vida).
Scrates , ento, o inventor da tica, pois foi o
primeiro filsofo a questionar as aes humanas e
os valores subjacentes a elas.
Na mesma poca de Scrates, existiam os
sofistas (mestres de retrica e oratria) que
rejeitavam a tradio mtica ao considerar que os
princpios morais resultam de convenes
humanas. Embora na mesma linha de oposio
aos fundamentos religiosos, Scrates se contrape
aos sofistas acreditando que aqueles princpios
no se originam nas convenes, mas na natureza
Vestibulares PRISE ENEM - Concursos
A educao desenha o futuro Ensino Mdio tica: filosofia moral Prof. Ulisses Vasconcelos
Cid. Nova I, WE 9A, n121, Coqueiro.
Fone: (091) 3235-1844
*
A
T
E
N
O
:
C
o
p
i
a
r
C
R
I
M
E
.
A
r
t
.
1
8
4
d
o
c
d
i
g
o
P
e
n
a
l
e
L
e
i
n
5
9
9
8
/
7
3
humana, ou seja, natural do homem guiado pela
razo.
A concepo filosfica de Scrates pode
ser caracterizada como um mtodo de anlise
conceitual. Isso pode ser ilustrado pela clebre
questo socrtica O que ...?, atravs da qual se
busca a definio de uma determinada coisa,
geralmente uma virtude ou qualidade moral.
Inmeros so os dilogos de Plato (427-
347 a.C.) em que so descritas as discusses
socrticas a respeito das virtudes e da natureza do
bem. Resulta da a convico de que a virtude se
identifica com o conhecimento (com a sabedoria)
e o vcio com a ignorncia. Para Scrates, o
homem s mau porque ignora (desconhece) o
bem. Portanto, a virtude pode ser aprendida.
No dilogo Mnon, cujo tema o
ensinamento da virtude, encontramos uma clebre
passagem a esse respeito (70a-72b):
Mnon: Voc pode me dizer, Scrates, se a
virtude algo que pode ser ensinado ou que s
adquirimos pela prtica ? Ou no nem o
ensinamento nem a prtica que tornam o homem
virtuoso, mas algum tipo de aptido natural ou
algo assim ?
Scrates: (...) Voc deve considerar-me
especialmente privilegiado para saber se a
virtude pode ser ensinada ou como pode ser 30
adquirida. O fato que estou longe de saber se
ela pode ser ensinada, pois sequer tenho idia do
que seja a virtude (...). E como poderia saber se
uma coisa tem uma determinada propriedade se
sequer sei o que ela (...). Diga-me voc prprio
o que a virtude.
Este dilogo se desenrola quando Mnon
oferece vrias definies de virtude, recusadas
entretanto por Scrates, dizendo ele que mesmo as
virtudes sejam muitas e de vrios tipos, tero pelo
menos algo em comum que faz de todas elas
virtudes.
O mtodo socrtico envolve um
questionamento do senso comum, das crenas e
opinies que temos, consideradas vagas,
imprecisas, derivadas de nossa experincia, e
portanto parciais e incompletas. Nesse sentido a
reflexo filosfica vai mostrar que, com
freqncia, no sabemos aquilo que pensamos
saber. Temos talvez um entendimento prtico,
intuitivo, imediato, que contudo se revela
inadequado no momento em que deve ser tornado
explcito. O mtodo socrtico revela a fragilidade
desse entendimento e aponta para a necessidade e
a possibilidade de aperfeio-lo atravs da
reflexo. Ou seja, partindo de um entendimento j
existente, ir alm dele em busca de algo mais
perfeito, mais completo: um conceito.
Os sofistas, segundo Scrates, no 60
ensinavam o caminho (o mtodo) para o
conhecimento, para a verdade nica que resultaria
desse conhecimento, mas para a obteno de uma
verdade consensual (conveno), resultado da
persuaso da oratria.
Scrates descobriu o problema do conceito
buscando definies corretas para valores morais,
como amizade e coragem; Plato considerou o
conceito como o conhecimento de uma ideia
eterna e inata por parte da mente humana;
Aristteles reduziu-o ao conhecimento da
essncia.
Na clebre passagem de A Repblica, em
que Plato descreve o mito da caverna, reaparece
a ideia de Scrates de que a virtude se identifica
com a sabedoria: o sbio o nico capaz de se
soltar das amarras que o obrigam a ver apenas
sombras e, dirigindo-se para fora, contempla o
sol, que representa a ideia do Bem.
Portanto, alcanar o bem se relaciona
com a capacidade de compreender bem. S o
filsofo atinge o nvel mais alto de sabedoria, s a
ele cabe a virtude maior da justia e portanto lhe
reservada a funo de governar. Outras virtudes
menores, mas tambm importantes para a cidade,
cabero aos soldados defensores da plis e aos
trabalhadores comuns, artesos e comerciantes.
Herdeiro do pensamento de Plato,
Aristteles (384-322 a.C.) aprofunda a discusso
a respeito das questes ticas. Mas, para ele, o 90
homem busca a felicidade, que consiste no nos
prazeres nem na riqueza, mas na vida terica e
contemplativa cuja realizao coincide com o
desenvolvimento da racionalidade.
O que h de comum no pensamento dos
filsofos gregos a concepo de que a virtude
resulta do trabalho reflexivo, da sabedoria, do
controle racional dos desejos e paixes.
Alm disso, o sujeito moral no pode ser
compreendido ainda, como nos tempos atuais, na
sua completa individualidade. Os homens gregos
so antes de tudo cidados, membros integrantes
de uma comunidade, de modo que a tica se acha
intrinsecamente ligada poltica.
Vestibulares PRISE ENEM - Concursos
A educao desenha o futuro Ensino Mdio tica: filosofia moral Prof. Ulisses Vasconcelos
Cid. Nova I, WE 9A, n121, Coqueiro.
Fone: (091) 3235-1844
*
A
T
E
N
O
:
C
o
p
i
a
r
C
R
I
M
E
.
A
r
t
.
1
8
4
d
o
c
d
i
g
o
P
e
n
a
l
e
L
e
i
n
5
9
9
8
/
7
3
Scrates: conhecimento e felicidade
Por Ulisses da Silva Vasconcelos e Ricardo Eugnio Lima*
Conhece-te a ti mesmo estava escrito no
prtico do templo do deus Apolo. Esse enigma serviu
como mxima para a vida de Scrates. O pensador
grego julgava que a felicidade no poderia estar ligada
a coisas exteriores, mas residia no prprio homem que,
guiado pela razo, viveria virtuosamente, e desse
modo seria feliz. Assim, a felicidade seria a harmonia
interior ou ordem espiritual. Sendo interior, ningum
ou nenhuma situao poderiam remov-la, tal como
explica Plato, discpulo de Scrates, no Fdon: (...) e
os mais felizes so aqueles cujas almas vo para os
lugares mais agradveis, os que sempre exerceram
essa virtude social e civil que se chama temperana e
justia, que se formaram pelo costume e pelo exerccio
(...).
Emoutro texto, Apologia de Scrates, Plato,
ao escrever um dilogo emque critica a sociedade
ateniense pela condenao de seu mestre, o apresenta
como personagem. No dilogo, Scrates pedequeles
que o julgavam: Quando os meus filhinhos ficarem
adultos, puni-os, cidados, atormentai-os do mesmo
modo que eu os vos atormentei, quando vos parecer
que eles cuidam mais das riquezas ou de outras
coisas do que da virtude.
Como pai, Scrates tambm desejava a 30
felicidade aos seus filhos e sabia que eles s poderiam
encontr-la dentro de si mesmos. Porm, qual caminho
seguir ? A resposta para essa questo se encontra em
outro texto platnico, Crton, no qual Scrates, como
personagem do dilogo, fala a seu amigo Crton,
quando este tenta convenc-lo a fugir: Temos, pois,
de examinar se devemos proceder como queres ou
no. Quanto a mim, no de agora, sempre fui deste
feitio: no cedo a nenhuma outra de minhas razes,
seno que minhas reflexes demonstram ser a
melhor.
Voc pode no concordar coma concepo
socrtica da felicidade, mas de qualquer modo, ao
discordar, preciso pensar e encontrar argumentos
para construir a prpria compreenso do que seja a
felicidade e suas implicaes, vivendo
conscientemente e no passando pela vida semsaber o
caminho percorrido.
*ULISSES VASCONCELOS. Graduado em Filosofia (Licenciatura e
Bacharelado) emestrando emFilosofia pelaUFPA;
RICARDO LIMA. Pedagogo, professor da Rede Estadual de Ensino do
Cear ealuno do 2 perodo deFilosofia daUERN.
_______________________________________________
AGORA COM VOC !
EXERCCIOS PROPOSTOS 60
1) Destaca-se no texto Scrates: conhecimento e
felicidade o conceito de racionalidade introduzido por
Scrates e difundido por Plato na cultura ocidental. Para
Scrates, o homemguiado pela razo aquele que:
a) valoriza os instintos humanos e reflete sobre eles
racionalmente;
b) valoriza a interioridade da razo que domina e imputa
ordens s foras externas e controla tudo o que lhe
contrrio, principalmente os instintos;
c) deixa perder a lucidez racional em oposio aos desejos;
d) julga o valor da vida, separando o conhecimento sobre a
aparncia e o conhecimento sobre a essncia, dando
preferncia ao primeiro;
e) julga ser verdade a vida dos sentidos, e no a vida
contemplativa por meio da interiorizao.
2) Se, como entende Nietzsche (severo crtico da
racionalidade socrtica), Scrates foi conivente como o
veredicto de sua morte, e, como relata Plato na Apologia,
ele no quis tentar uma fuga enquanto esperava a cicuta,
ento caminhou conscientemente sua morte para
comear um novo dia; uma outra fase da vida: a da
liberdade da alma para encontro com a verdade. Com isto,
surgiu na Grcia Antiga, ao assassinar o tipo trgico, o
novo tipo de homem: o socrtico sistematizado e
difundido na obra de Plato.
(COSTA, Victor. Scrates: o problema para Nietzsche. Cincia Vida
FILOSOFIA. n. 47. So Paulo: escala, 2010.p.46) 90
Para o filsofo Nietzsche, o exemplo da vida de Scrates
mostra:
a) o fimda tragdia grega pelo domnio da razo sobre os
instintos;
b) o incio da tragdia grega pelo domnio dos instintos
sobre a razo;
c) tornou-se o novo ideal, nunca antes contemplado, da
nobre juventude grega: e o tpico jovem heleno, Plato, foi o
primeiro a lanar-se, comtoda a ardente devoo de sua
alma arrebatada, aos ps dessa imagem.
d) a prtica da Filosofia socrtico-platnica de valorar a
vida.
e) as alternativas a e c esto corretas.
3) Qual o tema (central) conceitual correspondente ao
socratismo e moral ?
a) a tica.
b) o conhecimento sensitivo.
c) a virtude.
d) a alma.
e) a justia .
4) Segundo Nietzsche, tal como a eticidade socrtica, a
moral crist nega o mundo sensorial, para, a partir de um
mundo inteligvel, poder afirmar a felicidade da alma
humana. Esta felicidade, ou melhor, essa tica orientada
por uma dimenso teleolgica (do grego telos = fim). A
Vestibulares PRISE ENEM - Concursos
A educao desenha o futuro Ensino Mdio tica: filosofia moral Prof. Ulisses Vasconcelos
Cid. Nova I, WE 9A, n121, Coqueiro.
Fone: (091) 3235-1844
*
A
T
E
N
O
:
C
o
p
i
a
r
C
R
I
M
E
.
A
r
t
.
1
8
4
d
o
c
d
i
g
o
P
e
n
a
l
e
L
e
i
n
5
9
9
8
/
7
3
finalidade da alma, para a noo socrtico-platnica,
libertar-se da matria (do conhecimento atravs dos
sentidos), e para a noo da moral crist libertar-se do
pecado (da fruio dos instintos). Em ambas as noes no
h afirmao de um tipo de homem que comporte a batalha
entre princpios racionais e desejante. H contudo, repulsa
aos desejos humanos em favor da racionalidade, em favor
da lgica de negao do mundo sensorial; em ltima
instncia: da negao da vida.
(COSTA, Victor. Scrates: o problema para Nietzsche. Cincia Vida
FILOSOFIA. n. 47. So Paulo: escala, 2010.p.49)
Em que ponto voc concorda ou discorda da posio de
Nietzsche ? Faa umbreve comentrio.
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
5) Sobre a racionalidade moral de Scrates, assinale a nica
alternativa incorreta:
a) os princpios morais resultam do consenso entre os
homens, e no da natureza humana.
b) a tranqilidade interior do homemhonesto superior 30
morte.
c) a finalidade da vida a felicidade, que est na capacidade
do homem de estabelecer para si mesmo, por meio do saber,
suas prprias leis e regras de conduta.
d) a sabedoria s pode ser resultado da percepo que temos
da prpria ignorncia.
e) a dimenso biolgico-cultural o maior obstculo no
caminho da perfeita realizao espiritual.
________________________________________
ARISTTELES: A TICA DA FELICIDADE
ARISTTELES (384-322 a.C.). Filsofo grego, discpulo de Plato, e
autor de uma grande obra intituladatica a Nicmaco
Aristteles dedicou boa parte de sua obra
ao estudo de como o ser humano pode ser feliz
vivendo em sociedade. Assim como Plato,
esboou um projeto poltico para solucionar esse
problema, que conheceremos a seguir:
O homem, afirma Aristteles em A
Poltica, naturalmente um animal poltico.
Poltico deve ser entendido como participante da
plis: uma das condies essenciais do ser
humano o fato de viver agregado a outros
homens. Em outras palavras, para esse filsofo 60
um indivduo vivendo sozinho inconcebvel: um
homem absolutamente solitrio ou auto-suficiente
deixaria de ser homem seria um deus ou uma
fera ou simplesmente no sobreviveria.
Alm disso, a plis era para Aristteles a
melhor organizao social possvel, desde que
fosse regida por critrios justos, que visassem ao
bem comum. No mais, as Cincias prticas (a
tica e a poltica) tinham a finalidade de buscar o
aperfeioamento do seu agente, isto , do homem.
A aplicao dessas cincias, segundo Aristteles,
leva o desenvolvimento do ser humano na direo
de uma existncia melhor.
Aristteles definia a tica como a cincia
que trata do carter e da conduta dos indivduos, e
a poltica como os estudos que regem a existncia
dos homens vivendo numa comunidade auto-
suficiente, no caso, a plis. A doutrina aristotlica
afirma que as duas so inseparveis. Assim, a
perfeio da personalidade individual (que se
mostra atravs da honestidade, da honra, do
respeito ao prximo, em suma, da virtude) a
finalidade almejada pela vida comunitria e pelas
leis e estas seriam os meios pelos quais se
obtm aquele fim.
Para Aristteles, de fato, a felicidade no
era apenas um estado emocional e passivo, mas
sim uma atividade: o homem feliz era aquele que
praticava incessantemente a virtude, sempre
aperfeioando seu carter. Esse seria o campo 90
especfico da tica. No entanto, a conduta justa do
indivduo s teria sentido dentro da vida em
sociedade.
A poltica seria to importante: para que o
indivduo possa ser virtuoso (tico e, portanto,
feliz), necessrio haver uma organizao
poltica favorvel para essa finalidade seja
atingida. Qual ela ? Para Aristteles, a plis
governada democraticamente, na qual todos os
cidados se conheam pessoalmente e faam parte
de uma grande assemblia que governa a cidade,
determinando seus destinos e redigindo leis que
Vestibulares PRISE ENEM - Concursos
A educao desenha o futuro Ensino Mdio tica: filosofia moral Prof. Ulisses Vasconcelos
Cid. Nova I, WE 9A, n121, Coqueiro.
Fone: (091) 3235-1844
*
A
T
E
N
O
:
C
o
p
i
a
r
C
R
I
M
E
.
A
r
t
.
1
8
4
d
o
c
d
i
g
o
P
e
n
a
l
e
L
e
i
n
5
9
9
8
/
7
3
garantam uma existncia digna para seus
habitantes.
Ser feliz possvel, mas d bastante
trabalho, segundo Aristteles, que definiu
felicidade como uma certa atividade da alma
realizada em conformidade com a virtude. Em
sua obra, tica a Nicmaco, o filsofo garante
que a eudaimonia (a palavra que designa
felicidade, em grego) depende de ns mesmos e
precisa ser buscada sempre; o meio para atingi-la
seria a virtude que o homem possui naturalmente.
Para Aristteles, o homem busca a
felicidade (o sumo bem), que consiste no nos
prazeres nem na riqueza, mas na vida terica e
contemplativa, cuja plena realizao coincide com
o desenvolvimento da racionalidade. Para ser
feliz, portanto, o homem deve viver de acordo
com a sua essncia, isto , de acordo com a sua
razo, a sua conscincia reflexiva. E, orientando
os seus atos para uma conduta tica, a razo o
conduzir prtica da virtude.
(...) o que prprio de cada coisa , por natureza, o que h
de melhor e de aprazvel para ela. (...) para o homem a vida
conforme a razo a melhor e a mais aprazvel, j que a
razo, mais que qualquer outra coisa, o homem. Donde se
conclui que essa vida tambm a mais feliz. (ARISTTELES.
tica a Nicmaco)
Para Aristteles, a virtude representa o 30
meio-termo, a justa medida de equilbrio entre o
excesso e a falta de um atributo qualquer.
(...) a virtude deve ter a qualidade de visar ao meio-termo.
Falo da virtude moral, pois ela que se relaciona com as
paixes e aes, e nestas existe excesso, carncia e um
meio-termo. (...) A virtude , ento, uma disposio de
carter relacionada com a escolha de aes e paixes, e
consistente numa mediania, isto , a mediania relativa a
ns, que determinada por um princpio racional prprio
do homem dotado de sabedoria prtica. (ARISTTELES. tica
a Nicmaco)
Por exemplo, a virtude da prudncia o
meio-termo entre a precipitao e a negligncia; a
virtude da coragem o meio-termo entre a
covardia e a valentia insana; a perseverana o
meio-termo termo entre a fraqueza de vontade e a
vontade obsessiva.
Uma vida autenticamente moral no se
resume a um ato moral, mas a repetio e
continuidade do agir moral. Aristteles afirmava
que uma andorinha, s, no faz vero para
dizer que o agir virtuoso no ocasional e
fortuito, mas deve se tornar um hbito, fundado
no desejo de continuidade e na capacidade de
perseverar no bem. Ou seja, a verdadeira vida
moral se condensa na vida virtuosa.
Para Aristteles, as necessidades fazem
com que o homem sempre adapte uma virtude a 60
sua respectiva ao. Esse processo era chamado
de variao entre ato e potncia, ou seja, o homem
em ato algo no tempo presente, mas tem
potencialidade para ser outro homem distinto. E
assim por diante, at a morte.
A busca pela felicidade, na viso de
Aristteles, seria uma eterna corrida, com vrios
obstculos a serem superados, riscos a serem
enfrentados e rduo trabalho, porm, sem
garantias de que no final o objetivo mximo fosse
alcanado.
Para o filsofo grego, a felicidade uma
satisfao das necessidades e das aspiraes
mundanas e, ao atingi-la, outras necessidades
surgiro para o homem; ento, ele sempre estar
nessa constante busca.
Os filsofos, em toda a tradio da
Filosofia Ocidental, aproximam a felicidade da
sabedoria, afirmando sua ligao com a reflexo e
a dependncia da razo, da virtude, da moderao,
em ltima anlise, o elo ntimo da felicidade com
a prpria Filosofia. o caso do filsofo grego
Epicuro (341-270 a.C.), para quem o prazer
contnuo seria a chave para uma vida feliz. Sua
filosofia tinha uma finalidade prtica, ajudando
seus seguidores a encontrar o caminho para a
felicidade atravs do prazer, que poderia ser
traduzido no por uma indulgncia sensual, mas
pelo processo de moderao, leitura e
introspeco da vida o prazer do sbio, que tem 90
controle de si mesmo. Desta maneira, os temores
seriam eliminados e os homens encontrariam o
sossego necessrio para uma vida alegre e
aprazvel.
________________________________________
Vestibulares PRISE ENEM - Concursos
A educao desenha o futuro Ensino Mdio tica: filosofia moral Prof. Ulisses Vasconcelos
Cid. Nova I, WE 9A, n121, Coqueiro.
Fone: (091) 3235-1844
*
A
T
E
N
O
:
C
o
p
i
a
r
C
R
I
M
E
.
A
r
t
.
1
8
4
d
o
c
d
i
g
o
P
e
n
a
l
e
L
e
i
n
5
9
9
8
/
7
3
PARA REFLETIR ou FILOSOFAR
VIRTUDE:
A EXCELNCIA EM PROL DA
FELICIDADE
A cada momento que utilizamos o melhor de ns, em justa
medida, ficamos mais prximo do pice do bem-estar
Por Rita Foelker*
A virtude um dos temas da tica a Nicmaco
principal tratado de tica escrito por Aristteles (384 322 a.C.) e
supostamente dirigido a seu filho , de onde foramextrados os
fragmentos abaixo.
A palavra virtude, em um sentido tico, pode ser
entendida como uma qualidade moral ou intelectual positiva do ser
humano, que o leva a agir visando ao bem. Tal virtude em
Aristteles (aret) costuma ser traduzida como excelncia moral e
assimele a define:
A excelncia moral, ento, uma disposio da alma relacionada
com a escolha de aes e emoes, disposio esta consistente
num meio-termo (relativo a ns) determinado pela razo (a razo
graas qual um homem dotado de discernimento/prudncia o
determinaria). Trata-se de um estado intermedirio, porque nas
vrias formas de deficincia moral h falta ou excesso do que
conveniente tanto nas emoes quanto nas aes, enquanto a
excelncia moral encontra e prefere o meio-termo (mesots). 30
Logo, a respeito do que ela , ou seja, a definio que expressa a
sua essncia, a excelncia moral um meio-termo, mas com
referncia ao que melhor e conforme ao bem ela um extremo.
(ARISTTELES. tica a Nicmaco)
Duas formas de virtude esto presentes na tica a
Nicmaco: a virtude intelectual e a virtude moral.
A virtude intelectual (diania) representada
principalmente pela sabedoria e pela prudncia (phrnesis),
adquiridas pela instruo e que trazemcalma e tranqilidade ao
homem. A virtude moral uma disposio de esprito ou hbito de
escolher emtodas as situaes a justa medida que convm nossa
natureza. As pessoas que tm essa virtude desenvolvem a
moderao e o bom-senso (sophrosne).
A felicidade o fim ltimo da virtude, no como
objetivo do indivduo, mas da polis, razo pela qual se pode dizer
que, para Aristteles, a tica est subordinada poltica. Segundo
David Ross (filsofo americano contemporneo), a virtude do
Estado est conforme a virtude de seus cidados. No se trata,
portanto, de um objetivo religioso nem divino, relacionado
vontade dos deuses, mas de construir uma vida social feliz e
harmoniosa.
A plenitude do ser humano
A busca da tica a busca do fimdo prprio homem
(tica Teleolgica). E este fim (tlos), no se refere apenas a uma
finalidade como se costuma traduzir emportugus , mas
tambm a uma espcie de plenitude, o que refora a idia de que
a excelncia moral e a conduta tica constituema realizao do 60
grande e verdadeiro propsito de nossas vidas, nosso ponto
mximo, nossa plenitude enquanto seres.
O tratamento que Aristteles confere ao tema da virtude
moral nos permite perceber duas idias emdestaque: 1) as virtudes
se transmitempelo exemplo e 2) as virtudes so disposies de
esprito que se concretizamemaes.
Diferentemente de Plato (427-347 a. C.), que considera
a virtude como inata, ou seja, como uma qualidade que o indivduo
j traz consigo ao nascer, Aristteles entende que ela somente pode
ser adquirida como pode ser adquirida como umhbito (ethos).
(...) quanto excelncia moral, ela o produto do hbito, razo
pela qual seu nome derivado, com uma ligeira variao, da
palavra hbito. evidente, portanto, que nenhuma das vrias
formas de excelncia moral se constitui em ns por natureza, pois
nada que existe por natureza pode ser alterado por hbito.
(ARISTTELES. tica a Nicmaco)
O saber da virtude no umsaber discursivo, conceitual.
um saber prtico:
As coisas que temos de aprender antes de fazer, aprendemo-las
fazendo-as por exemplo, os homens se tornam construtores
construindo, e se tornam citaristas tocando ctara; da mesma
forma, tornamo-nos justos praticando atos justos, moderados
agindo moderamente, e corajosos agindo corajosamente
(ARISTTELES. tica a Nicmaco)
Disso se pode deduzir que tal peculiaridade da virtude
moral, certamente, reflete-se no modo de ensin-la, que no 90
consiste em falar ou escrever sobre a excelncia moral, mas em
agir eticamente e, assim, influenciar o educando. A convivncia
com umagente virtuoso constitui o melhor meio de aprendizado.
Considerando-se que, para Aristteles, a virtude no
um bem do sujeito, ningumnasce bomou ruim. A virtude se
relaciona diretamente a uma prxis (ao prtica), e aquele que
deixa de pratic-la tambmdeixa de ser virtuoso.
* RITA FOELKER. escritora e aluna da graduao emfilosofia da
UniversidadeSo J udas Tadeu, SP.
_____________________________________________________
PARA FIXAR
VIRTUDE: Virtude vem da palavra latina vir, que
designa o homem, o varo. Virtus poder,
potncia (ou possibilidade de passar ao ato).
Virilidade est ligada ideia de fora, de poder.
Virtuoso aquele capaz de exercer uma atividade em
nvel de excelncia (virtude se refere a idia de fora,
de capacidade). Emmoral, a virtude do homem a
fora com a qual ele se aplica ao dever e o realiza. A
virtude a permanente disposio para querer o bem,
o que supe a coragem de assumir os valores
escolhidos e enfrentar os obstculos que dificultam a
ao. Uma vida autenticamente moral no se resume a
um ato moral, mas a repetio e continuidade do agir
moral. Aristteles afirmava que uma andorinha, s,
no faz vero para dizer que o agir virtuoso no 120
ocasional e fortuito, mas deve se tornar um hbito,
fundado no desejo de continuidade e na capacidade de
perseverar no bem. Ou seja, a verdadeira vida moral se
condensa na vida virtuosa.
Vestibulares PRISE ENEM - Concursos
A educao desenha o futuro Ensino Mdio tica: filosofia moral Prof. Ulisses Vasconcelos
Cid. Nova I, WE 9A, n121, Coqueiro.
Fone: (091) 3235-1844
*
A
T
E
N
O
:
C
o
p
i
a
r
C
R
I
M
E
.
A
r
t
.
1
8
4
d
o
c
d
i
g
o
P
e
n
a
l
e
L
e
i
n
5
9
9
8
/
7
3
TICA MODERNA
Segundo Kant
Immanuel Kant (1724-1804). Filsofo alemo autor de uma importante
obra sobre tica intitulada Crtica da Razo Prtica (1788), que expor a
moralidade a partir da funo prtica da razo.
KANT: A TICA DO DEVER MORAL
Analisando os princpios da conscincia
moral, Immanuel Kant (1724-1804) em suas obras
intituladas Fundamentao da Metafsica dos
Costumes (1785) e Crtica da Razo Prtica
(1788), concluiu que a vontade humana
verdadeiramente moral quando regida por
imperativos categricos. O imperativo categrico
assim chamado por ser incondicionado,
absoluto, voltado para a realizao da ao tendo
em vista o dever. Por razo prtica, Kant entende
a razo na funo de ditar vontade a lei moral.
Kant fundamentou a moral na autonomia
da razo humana. Dessa forma ele recusou todas
as ticas anteriores, fundamentadas em normas e
valores de origens diversas (ticas heternomas,
ou seja, vindas de fora do sujeito, imposta por
outras fontes que no a razo). Assim, para
impedir que os indivduos se deixem levar pelos 30
seus desejos, paixes ou motivos particulares, a
razo que deve indicar quais so os deveres e
normas a serem seguidos de uma forma universal.
Kant rejeita a concepo tica que norteia
a ao moral a partir de condicionantes como a
felicidade ou o interesse. Por exemplo, no faz
sentido agir bem com o objetivo de ser feliz ou
evitar a dor ou punio. A felicidade para Kant
um bem , mesmo que no seja considerada o
Summum bonum (bem supremo) como
efetivamente o para Aristteles.
A LEI MORAL NO PODE TER SUA
ORIGEM NA EXPERINCIA PRAZER,
UTILIDADE, FELICIDADE ETC. , MAS
CONDIO A PRIORI DA VONTADE.
O agir moralmente se funda
exclusivamente na razo. A lei moral que a razo
descobre universal, pois no se trata de
descoberta subjetiva (mas do homem enquanto ser
racional), e necessria, pois ela que preserva a
dignidade dos homens. Isso pode ser sintetizado
nas seguintes afirmaes do prprio Kant:
Age de tal modo que a mxima de tua
ao possa sempre valer como princpio
universal de conduta
60
OBEDECE A LEI PELA PRPRIA LEI. E
NO POR OUTRO MOTIVO.
EXIGE VONTADE LIVRE.
AGINDO SOB O COMANDO DO
IMPERATIVO CATEGRICO, UM
INDIVDUO AGE SOB UM COMANDO
LIVREMENTE AUTO-IMPOSTO SEM
EXPERIMENTAR NENHUMA FORMA DE
COERO EXTERNA.
Age sempre de tal modo que trates a
humanidade, tanto na tua pessoa como
na do outro, como fim e no apenas como
meio
EXIGE QUE SEJ AMOS BENEVOLENTES.
PRINCPIO DO RESPEITO PELAS
PESSOAS, COMO FORMULAO
ALTERNATIVA DO IMPERATIVO
CATEGRICO.
A autonomia da razo para legislar supe a
liberdade (independncia da vontade com
respeito coao dos impulsos da sensibilidade)
e o dever (necessidade de cumprir uma ao por
respeito lei) . A noo do dever prende-se ao
carter inteligvel (interno; da razo) e no 90
emprico (externo; da experincia sensvel) do
Vestibulares PRISE ENEM - Concursos
A educao desenha o futuro Ensino Mdio tica: filosofia moral Prof. Ulisses Vasconcelos
Cid. Nova I, WE 9A, n121, Coqueiro.
Fone: (091) 3235-1844
*
A
T
E
N
O
:
C
o
p
i
a
r
C
R
I
M
E
.
A
r
t
.
1
8
4
d
o
c
d
i
g
o
P
e
n
a
l
e
L
e
i
n
5
9
9
8
/
7
3
sujeito, vale dizer, sua liberdade. Pois todo
imperativo se impe como dever, mas a exigncia
no heternoma exterior e cega e sim
livremente assumida pelo sujeito que se
autodetermina.
Vamos exemplificar: Suponhamos a
norma moral no roubar. Para Kant, a norma se
enraza na prpria natureza da razo; ao aceitar o
roubo e consequentemente o enriquecimento
ilcito, elevando a mxima (pessoal) ao nvel
universal, haver uma contradio: se todos
podem roubar, no h como manter a posse do
que foi furtado.
Agir de acordo com o dever , em ltima
anlise, agir de acordo com os princpios
racionais. A formao da vontade conforme a
razo que produz a qualidade moral das aes
humanas.
Mas no basta, para uma ao ser
considerada moralmente boa, que ela esteja de
acordo com o dever. preciso mais do que isso:
necessrio que ela seja feita por dever. Ou seja,
necessrio no apenas que a ao se conforme ao
dever, mas tambm que o indivduo reconhea
naquele dever o princpio racional que o sustenta
como tal.
Essa inteno bem determinada em relao
aceitao e ao cumprimento do dever o que ele
designa boa vontade. Para Kant, a boa vontade o
que caracteriza a ao moralmente correta. 30
A boa vontade e o dever
A inteligncia, a faculdade de julgar, a
coragem etc., no so coisas boas absolutamente;
seu valor depende do uso que delas se faa. Cabe
dizer o mesmo quanto felicidade: no um bem
em si; pode mesmo ser uma fonte de corrupo
para quem no dispe de uma boa vontade. At
mesmo certas qualidades superiores, como o
domnio de si ou a reflexo, no podem
considerar-se verdadeiramente boas, salvo se
estiverem ao servio de uma boa vontade.
Mas o que, afinal, torna uma vontade boa
? No certamente, os seus xitos, nem a aptido
para levar a bom termo os seus propsitos; a
prpria natureza do querer.
Qual o contedo dessa boa vontade que
seria boa em si mesma ? o conceito de dever.
Este, com efeito, contm em si o da boa vontade,
mas acrescenta-lhe certos entraves subjetivos,
provindos de nossa sensibilidade, os quais pem
em relevo a boa vontade s voltas com certas
dificuldades. Poder-se-ia dizer at que a boa
vontade a vontade de agir por dever, mas no
o agir conforme o dever por qualquer interesse ou
inclinao sensvel.
Por exemplo, o comerciante que atende
lealmente aos fregueses, age em conformidade
com o dever, mas no por dever, se no tem em 60
vista seno o seu interesse bem compreendido. Do
mesmo modo, a pessoa que leva uma vida feliz e
se esfora em conservar a vida, age
conformemente ao dever, pois a conservao da
vida um dever; mas no age por dever. Ao
invs, quem se esfora por conservar uma vida a
quem j no tem amor, este sim, age por dever.
Ser benfazejo por prazer , igualmente, agir
conformemente ao dever, mas no por dever. Por
outro lado, quem pratica a beneficincia, mesmo
sem sentir-se inclinado a isso, possui um valor
moral maior do que aquele que benevolente por
temperamento; e isto, no sentir de todos. Este
valor maior lhe vem precisamente do fato de que
ele faz o bem, no por inclinao, mas por
dever.
Para ter verdadeiro valor moral, no basta
para Kant que a ao seja conforme ao dever;
mister, alm disso, seja executada por dever. Agir
sob a influncia da sensibilidade, ainda que a ao
seja concorde ao dever, algo de patolgico.
Prtico, ou moral, s o que depende direta e
exclusivamente da razo.
Assim devem, sem dvida, ser compreendidos
tambm os passos da Escritura, onde se ordena
amar o prximo e at os inimigos. Com efeito, o
amor, como inclinao, no pode ser comandado;
mas praticar o bem por dever, quando nenhuma
inclinao a isso nos incita, ou quando uma 90
averso natural e invencvel se ope, eis um amor
prtico e no patolgico, que reside na vontade, e
no na tendncia da sensibilidade, nos princpios
da ao e no uma compaixo emoliente. Ora,
este o nico amor que pode ser comandado.
(KANT. Fundamentao da Metafsica dos Costumes)
Evidencia-se assim a oposio entre o
ponto de vista da legalidade, ou da conformidade
com a lei, e o ponto de vista da moralidade
verdadeira, que reside na pureza da inteno. Eis,
pois, um primeiro princpio: o valor moral de um
ato reside na inteno. Um segundo princpio o
seguinte:
Vestibulares PRISE ENEM - Concursos
A educao desenha o futuro Ensino Mdio tica: filosofia moral Prof. Ulisses Vasconcelos
Cid. Nova I, WE 9A, n121, Coqueiro.
Fone: (091) 3235-1844
*
A
T
E
N
O
:
C
o
p
i
a
r
C
R
I
M
E
.
A
r
t
.
1
8
4
d
o
c
d
i
g
o
P
e
n
a
l
e
L
e
i
n
5
9
9
8
/
7
3
Uma ao cumprida por dever tira seu valor
moral no do fim por ela deve ser alcanado, mas
da mxima que a determina. Este valor no
depende, portanto, da realidade do objeto da
ao, mas unicamente do princpio do querer,
segundo o qual a ao produzida, sem tomar em
conta nenhum dos objetos da faculdade apetitiva
(de desejar).
(KANT. Fundamentao da Metafsica dos Costumes)
No o objeto que desejo atingir que faz o
valor moral do meu ato, mas a razo pela qual eu
quero atingi-lo. O mercador honesto moral se
honesto por dever; carece de valor moral se
honesto por interesse. Por outras palavras, o valor
moral do ato est na inteno, mas preciso
considerar a inteno prescindindo do fim visado,
ou seja, unicamente como inteno de fazer o que
se deve fazer.
Desses dois princpios decorre a seguintes
definio do dever: O dever a necessidade de
cumprir uma ao por respeito lei.
O homem necessita de mveis para poder
agir; e como nenhuma ao procedende de um
mvel tirado da sensibilidade merece ser
qualificada por moral, no resta outro mvel para
a ao de quem queira agir por dever seno o
respeito lei que lhe ordena cumprir o dever.
pois somente a representao da lei, num ser 30
racional, que pode determinar a boa vontade.
Nesta altura surge, naturalmente, o
problema de saber em que consiste essa lei:
cuja representao, sem qualquer espcie de
considerao pelo efeito que dela se espera, deve
determinar a vontade, para que esta possa ser
denominada boa absolutamente e sem restrio
(KANT. Fundamentao daMetafsicados costumes)
Em toda lei pode-se considerar a forma,
isto , a universalidade do preceito, e o contedo,
isto , o objeto a ser colimado. Mas, como vimos,
a ao moral no tira o seu valor do fim que se lhe
prope; vale dizer que a obedincia lei deve
independer do contedo da lei. Portanto, para a
vontade
nada mais resta do que a conformidade
universal das aes a uma lei em geral que deva
servi-lhe de princpio; noutros termos, devo
portar-me de modo que eu possa tambm querer
que minha mxima se torne em lei universal.
(KANT. Fundamentao daMetafsicados costumes)
PARA REFLETIR ou FILOSOFAR
UMA TICA ABAIXO DO CU
60
Por Valerio Rohden*
Kant escreveu diversas obras de filosofia prtica, entre as
quais Fundamentao da Metafsica dos Costumes (1785), A
Metafsica dos Costumes (1797) e Crtica da Razo Prtica
(1788).
(...) Aqui s poderemos abordar sinteticamente alguns
dos temas principais da Crtica da Razo Prtica, a comear pelo
ttulo. Prtico significa tudo o que se faz com base na liberdade e
por obra dela. Ela chama-se igualmente de crtica, porque
constitui a crtica a uma forma de razo que impede a prtica da
liberdade, ou seja, uma razo emprica.
Uma razo pragmtica e emprica uma razo
calculadora de interesses, combase eminclinaes. A inclinao
o hbito de seguir o prazer. A propenso a elevar o prazer ou a
inclinao a um princpio assume a denominao de princpio do
amor de si ou da felicidade prpria.
tica formal da liberdade
A tica kantiana de maneira nenhuma adversa
inclinao, ao prazer ou felicidade que constituema matria
emprica de leis prticas. Nemtampouco existe forma sem matria.
Mas no momento emque dada prioridade matria e no
forma, a razo torna-se heternoma, isto , determinada desde fora
e no por si prpria. Ento, que fique marcado: o mal no reside
nas inclinaes, no prazer, na matria, mas na prpria mxima ou
na prpria razo que, contraditoriamente eleva a matria ou a
inclinao a princpio de si mesma. j
A filosofia moral kantiana no se restringe como 90
acontecia entre os antigos at a tradio racionalista anterior a
Kant a uma tica material da felicidade, mas se constitui como
uma tica formal da liberdade. Enquanto tal, ela se apresenta como
uma tica de princpios, fundada, coma excluso de uma razo
determinante emprica, emuma razo pura. Pura uma razo que,
semmescla de interesses, se constitui como razo prtica. Trata-se,
pois, de uma razo livre ou, melhor, autnoma. Liberdade
significa, negativamente, independncia de determinaes
estranhas e, positivamente, autodeterminao.
* VALRIO ROHDEN professor de filosofia da Universidade Luterana
do Brasil (Ulbra) epesquisador do CNPq.
________________________________________
A CONSCINCIA MORAL OU RAZO PRTICA
Por M. Garca Morente*
Existe uma forma de atividade espiritual que podemos
condensar no nome de conscincia moral. A conscincia moral
contmdentro de si umcerto nmero de princpios em virtude dos
quais os homens regemsua vida. Ajustam sua conduta a esses
princpios, e, de outra parte, temneles uma base para formular
juzos morais acerca de si mesmos e de quanto os rodeia. Essa
conscincia moral umfato, umfato da vida humana, to real, to
efetivo, to inabalvel como o fato do conhecimento.
Nesse conjunto de princpios que constituem a
conscincia moral, encontra Kant a base que pode conduzir o
homem apreenso dos objetos metafsicos. A esse conjunto de 120
princpios de conscincia moral d Kant um nome. Ressuscita,
Vestibulares PRISE ENEM - Concursos
A educao desenha o futuro Ensino Mdio tica: filosofia moral Prof. Ulisses Vasconcelos
Cid. Nova I, WE 9A, n121, Coqueiro.
Fone: (091) 3235-1844
*
A
T
E
N
O
:
C
o
p
i
a
r
C
R
I
M
E
.
A
r
t
.
1
8
4
d
o
c
d
i
g
o
P
e
n
a
l
e
L
e
i
n
5
9
9
8
/
7
3
para denomin-lo os termos de que se valeu para isso mesmo
Aristteles. Aristteles chama a conscincia moral e seus
princpios razo prtica (nous practiks). Kant ressuscita essa
denominao, e ao ressuscit-la e aplic-la conscincia moral o
nome de razo prtica, faz precisamente para mostrar, para fazer
patente e manifesto que na conscincia moral atua algo que, sem
ser a razo especulativa, se assemelha razo. So tambm
princpios racionais, princpios evidentes, dos quais podemos
julgar por meio da apreenso interna de sua evidncia. Portanto,
pode cham-lo legitimamente razo. Porm, no a razo
enquanto se aplica ao conhecimento (especulativa); no a razo
encaminhada a determinar a essncia das coisas, aquilo que as
coisas so, mas a razo aplicada ao, prtica, aplicada
moral.
Pois bem. Uma anlise desses princpios da conscincia
moral conduz Kant aos qualificativos morais; por exemplo, bom,
mau, moral, imoral, meritrio, pecaminoso etc. Estes qualificativos
morais, estes predicados morais que ns muitas vezes costumamos
estender s coisas, no convmtodavia as coisas. Dizemos que
esta coisas ou aquela coisa boa ou m; mas, emrigor, as coisas
no so boas nemms, porque nas coisas no h mrito nem
demrito. Por conseguinte, os qualificativos morais no podem
predicar-se das coisas, que so indiferente ao beme ao mal; s
podem predicar-se do homem, da pessoa humana. Somente o
homem, a pessoa humana verdadeiramente digno de ser chamado
bomou mau.s As demais coisas que no so o homem, como os
animais, os objetos, so aquilo que so, porm no so bons nem
maus.
Por que o homemo nico ser do qual pode, emrigor,
predicar-se a bondade e a maldade moral ? Pois porque o 30
homemrealiza atos e na realizao desses atos o homemfaz algo,
estatui uma ao, e nessa ao podemos distinguir dois elementos:
aquilo que o homemfaz efetivamente e aquilo que quer fazer.
Feita esta distino entre aquilo que faz e aquilo que quer fazer,
notamos imediatamente que os predicados bom, mau, os
predicados morais, no correspondem tampouco quilo que o
homemfaz efetivamente, mas corresponde estritamente quilo que
quer fazer. Se uma pessoa comete umhomicdio involuntrio, por
exemplo, este ato evidentemente uma grande desgraa, porm
no pode qualificar-se de bomnemde mau aquele que o cometeu.
No, pois, ao contedo efetivo; no, pois matria do ato que
convmos qualificativos morais de bomou mau, mas vontade
mesma do homem.
Esta anlise conduz concluso de que a nica coisa que
verdadeiramente pode ser boa ou m a vontade humana. Uma
vontade boa ou uma vontade m.
IMPERATIVO HIPOTTICO E IMPERATIVO
CATEGRICO
Ento o problema que se apresenta o seguinte: que ,
emque consiste a vontade boa ? Que chamamos uma vontade boa
? Aprofundando-se nesta direo, Kant adverte que todo ato
voluntrio se apresenta razo, reflexo, na forma de um
imperativo. Comefeito, todo ato, no momento de iniciar-se, de
comear a realizar-se, aparece conscincia sob a forma de
mandamento: h que se fazer isto, isto tem que ser feito, isto deve
ser feito, faz isto. Essa forma de imperativo, que a rubrica geral
emque se contmtodo ato imediatamente possvel, especifica-se
segundo Kant em duas classes de imperativos; os que ele chama 60
imperativos hipotticos e os imperativos categricos.
A forma lgica, a forma racional, a estrutura interna do
imperativo hipottico, aquela que consiste em sujeitar o
mandamento, ou imperativo mesmo, a uma condio. Por
exemplo: Se queres sarar de tua doena, toma o remdio. O
imperativo toma o remdio; porm esse imperativo est
limitado, no absoluto, no incondicional, antes est colocado
sob a condio de que queiras sarar. Se me respondes, No
quero sarar, ento no vlido o imperativo. O imperativo Toma
o remdio , pois, vlido somente sob a condio de que queiras
sarar.
Pelo contrrio, outros imperativos so categricos:
justamente aqueles emque a imperatividade, o mandamento, o
mandado, no est colocado sob condio nenhuma. O imperativo
ento impera, comanda, como diz Kant, incondicionalmente,
absolutamente; no relativa e condicionalmente, mas de um modo
total, absoluto e semlimitaes. Por exemplo: os imperativos da
moral costumam formular-se desta maneira, sem condies:
Honra teus pais, No mates outro homem, enfim, todos os
mandamentos morais bemconhecidos.
A qual desses dois imperativos corresponde o que
chamamos moralidade ? Evidentemente, a moralidade no o
mesmo que a legalidade. A legalidade de um ato voluntrio
consiste emque a ao seja conforme e esteja ajustada lei.
Porm, no basta que uma ao seja conforme e esteja ajustada
lei para que seja moral; no basta que uma ao seja legal para que
seja moral. Para que uma ao seja moral mister que acontea
algo no na ao mesma e na sua concordncia coma lei, mas no
instante que antecede ao, no nimo ou vontade daquele
daquele que a executa. Se uma pessoa ajusta perfeitamente seus 90
atos lei, porm os ajusta lei porque teme o castigo,
consequentemente ou apetece a recompensa conseguinte, ento
dizemos que a conduta ntima, a vontade ntima dessa pessoa no
moral. Para ns, para a conscincia moral, uma vontade que se
resolve a fazer o que faz por esperana de recompensa ou por
temor de castigo, perde todo o valor moral. A esperana de
recompensa e o temor do castigo menoscabam a pureza do mrito
moral. Pelo contrrio, dizemos que umato moral templeno mrito
moral quando a pessoa que o realiza determinou-se a realiz-lo
unicamente porque esse o ato moral devido.
Se agora traduzimos isto formulao, que antes
explicvamos, do imperativo hipottico e do imperativo
categrico, advertimos desde j que os atos emque no h a
pureza moral exigida, os atos emque a lei foi cumprida por temor
do castigo ou por esperana de recompensa, so atos nos quais, na
interioridade do sujeito, o imperativo categrico tornou-se
habilmente imperativo hipottico. Emlugar de escutar a voz da
conscincia moral, que diz Obedece a teus pais, No mates teu
prximo, este imperativo categrico converte-se neste outro
hipottico: se queres que no te acontea nenhuma coisa
desagradvel, se queres no ir ao crcere, no mates teu prximo.
Ento o determinante aqui foi o temor; e esta determinao de
temor tornou o imperativo (que na conscincia moral categrico)
um imperativo hipottico; e o tornou hipottico ao coloc-lo sob
essa condio e transformar a ao nummeio para evitar tal ou
qual castigo ou para obter tal ou qual recompensa.
Ento diremos que para Kant uma vontade plena e
realmente pura, moral, valiosa, quando suas aes esto regidas
por imperativos autenticamente categricos.
Se agora quisermos formular isto emtermos tirados da 120
lgica, diremos que emtoda ao h uma matria, que aquilo que
seser faz ou aquilo que se omite, e h uma forma, que o por que
se faz ou o por que se omite. E ento a formulao ser: uma ao
denota uma vontade pura e moral quando feita no por
considerao ao seu contedo emprico, mas simplesmente por
respeito ao dever, quer dizer, como imperativo categrico e no
como imperativo hipottico. Mas este respeito ao dever
simplesmente a considerao forma do dever, seja qual for o
contedo ordenado nesse dever. E essa considerao forma pura
proporciona a Kant a frmula conhecidssima do imperativo
categrico, ou seja, a lei moral "universal, que a seguinte: Age
de maneira que possas querer que o motivo que te levou a agir
seja uma lei universal. Esta exigncia de que a motivao seja lei
universal vincula inteiramente a moralidade pura forma da
vontade, no ao seu contedo.
* Garca Morente, M. Fundamentos de filosofia; lies preliminares.
p.252-255.
____________________________________________________________
Vestibulares PRISE ENEM - Concursos
A educao desenha o futuro Ensino Mdio tica: filosofia moral Prof. Ulisses Vasconcelos
Cid. Nova I, WE 9A, n121, Coqueiro.
Fone: (091) 3235-1844
*
A
T
E
N
O
:
C
o
p
i
a
r
C
R
I
M
E
.
A
r
t
.
1
8
4
d
o
c
d
i
g
o
P
e
n
a
l
e
L
e
i
n
5
9
9
8
/
7
3
PARA FIXAR
DOUTRINAS MORAIS FUNDAMENTAIS:
TELEOLOGIA E DEONTOLOGIA
TELEOLOGIA: Doutrina tica cujos
princpios repousam principalmente na avaliao
de modos de agir e condutas que se conformam a
um determinado fim (telos) a ser alcanado e tido
como um bem, seja ele a felicidade (pretende que
o motivo central de nossas decises e aes a
busca da felicidade) a excelncia humana (o
sumo bem) , ou mesmo o prazer. Aqui
concedida uma prioridade ao conceito de bem.
Principais representantes:
- Aristteles (384-322 a.C.): o homem busca a
felicidade, que consiste no nos prazeres nem na
riqueza, mas na vida terica e contemplativa cuja
realizao coincide com o desenvolvimento da
racionalidade.
- Epicuro (341-270 a.C.): principal representante
dos hedonistas (do grego hedon, prazer). O
bem se encontra no prazer. Considera que os
prazeres do corpo so causas de ansiedade e
sofrimento. Para permanecer impertubvel, a alma
precisa desprezar os prazeres materiais, o que leva
Epicuro a privilegiar os prazeres espirituais, 30
dentre os quais aqueles referentes amizade.
DEONTOLOGIA: Doutrina tica que
privilegia, entre as prioridades da interao
pessoal, a conformidade a certas normas de
carter obrigatrio e universal, onde a idia de
respeito recproco assume um valor intrnseco,
revestindo-se da dignidade de um dever moral a
ser cumprido. Aqui concedida uma prioridade
ao conceito de justia.
Principal representante:
- Immnuel Kant (1724-104): O respeito, e no o
prazer ou a fruio da felicidade, pois algo para
o qual nenhum sentimento precedente, posto
como fundamento da razo, possvel (porque
este seria sempre esttico e patolgico); a
conscincia do constrangimento imediato da
vontade pela lei (imperativo categrico)
dificilmente um anlogo do sentimento de
prazer porque, em relao faculdade de desejar,
produz justamente o mesmo sentimento, mas a
partir de fontes diferentes; porm s mediante este
modo de representao se pode alcanar o que se
procura, a saber, que as aes tm lugar no
apenas em conformidade com o dever (em
conseqncia de sentimentos agradveis), mas por
dever, o que tem de ser o verdadeiro fim de toda
formao moral. 60
(KANT. Crtica da Razo Prtica).
LEIS NATURAIS E LEIS MORAIS
(Institudas pelos homens para regular suas relaes)
LEIS NATURAIS: leis nas quais todo o ser
vivo est submetido. Necessariamente nascemos,
vivemos e morremos, como todos os demais
animais. As leis naturais no esto subordinadas
nossa vontade. Para o empirista ingls David
Hume (1711-1776), a lei natural resultado de
uma experincia fixa e inaltervel. Assim, todos
ns estamos submetidos a leis naturais invariveis
cuja descoberta precisa e a reduo ao mnimo
possvel constituem os objetivos dos cientistas.
LEIS MORAIS: O reino das leis morais o
reino da prxis, no qual as aes so realizadas
racionalmente no por necessidade causal, mas
segundo a nossa vontade. Apesar de existirem
milhares de leis ou regras morais que variam de
sociedade para sociedade, segundo Kant (1724-
1804) o dever uma forma que deve valer para
toda e qualquer ao moral. Assim, o dever o
respeito lei ou ao imperativo categrico, que
ordena incondicionalmente a razo (de forma
absoluta), e vale, sem exceo, para todas as 90
circunstncias das aes verdadeiramente morais.
O imperativo categrico uma lei moral
universal.
PRINCIPAIS JUSTIFICAES PARA
AS NORMAS MORAIS
PERSPECTIVA RELIGIOSA: os valores das
normas morais so considerados transcendentes,
porque resultam de doao divina, o que
determina a identificao do homem moral com o
homem temente a Deus.
Vestibulares PRISE ENEM - Concursos
A educao desenha o futuro Ensino Mdio tica: filosofia moral Prof. Ulisses Vasconcelos
Cid. Nova I, WE 9A, n121, Coqueiro.
Fone: (091) 3235-1844
*
A
T
E
N
O
:
C
o
p
i
a
r
C
R
I
M
E
.
A
r
t
.
1
8
4
d
o
c
d
i
g
o
P
e
n
a
l
e
L
e
i
n
5
9
9
8
/
7
3
PERSPECTIVA JUSNATURALISTA: a
norma moral se funda na lei natural (teses
jusnaturalistas). Para os tericos jusnaturalistas,
como Rousseau, ela se funda no direito natural,
comum a todos os homens.
PERSPECTIVA EMPIRISTA: a norma
moral se funda no interesse (teses empiristas, que
explicam a ao humana como busca do prazer e
evitao da dor). Para os empiristas, como Locke
e Condillac, a norma deriva do interesse prprio,
depois o sujeito que a desobedece ser submetido
ao desprazer, censura pblica ou priso.
PERSPECTIVA KANTIANA: a norma moral
se funda na prpria razo. Para Kant, a norma se
enraza na prpria natureza da razo. Por
exemplo, ao aceitar o roubo e consequentemente o
enriquecimento ilcito, elevando a mxima
(pessoal) ao nvel universal, haver uma
contradio: se todos podem roubar, no h como
manter a posse do que foi furtado.
________________________________________
AGORA COM VOC !
Exerccios Propostos
01) A palavra tica tem origem em dois termos 30
gregos que, pela falta de uma letra em lngua
portuguesa para designar como fonema distinto o
e longo e o e curto, so referidos como ethos.
Os sentidos que mais bem expressam os
significados destes termos so:
a) finalidade e dever;
b) costumes e normas;
c) bem e dever;
d) costumes e carter.
02) O que realmente justifica a tica ser
denominada Filosofia Prtica a ocupao
desta disciplina filosfica com a reflexo:
a) dos costumes e comportamentos humanos;
b) da razo e sensibilidade humana;
c) das leis naturais que instituem a moral humana;
d) dos valores ticos-morais que fundamentam a
ao prtica (prxis) humana.
03) (...) h duas espcies de virtude, a
intelectual e a moral. A primeira deve, em grande
parte, sua gerao e crescimento ao ensino, e por
isso requer experincia e tempo; ao passo que a
virtude moral adquirida em resultado do hbito,
de onde e seu nome se derivou, por uma pequena
modificao dessa palavra
1
.
(ARISTTELES. tica aNicmaco. Livro II)
1
Do grego: ethos, e sua derivao ethik. 60
Em relao a tica de Aristteles, podemos
afirmar:
a) trata-se de uma deontologia, pois visa a
felicidade;
b) baseada nas virtudes dianoticas que
dependem do hbito;
c) tem por finalidade ltima o exerccio da virtude
da justia;
d) considera a instruo e o hbito fundamentais
para a virtude.
04) Aristteles, em tica a Nicmaco, afirma que
a natureza d ao homem duas armas: a prudncia
e a virtude. Acerca da phronesis, que pode ser
traduzida como prudncia ou discernimento, o
filsofo afirma que:
a) uma qualidade racional que leva verdade no
tocante s aes relacionadas aos bens humanos;
b) uma virtude moral que leva ao meio-termo
entre duas formas de deficincia moral;
c) impossvel ser uma virtude intelectual porque
no conhecimento cientfico nem arte;
d) a virtude intelectual que permite contemplar a
idia de bem e aplic-la s situaes humanas.
05) De acordo com a tica aristotlica, o Bem
supremo :
a) Deus, sumamente bom e poderoso que concede
a graa da f aos que podero encontr-lo em sua 90
prpria alma.
b) a liberdade, caracterstica do eu puro de
ultrapassar a causalidade da natureza e forjar seu
prprio destino;
c) a boa vontade, regida pela conscincia moral,
que se submete ao dever na obedincia aos
imperativos;
d) a felicidade, buscada por todos os homens, e
que necessita ser conquistado numa atividade
dirigida pela razo;
e) a vontade de poder, que se realiza no eterno
retorno e na possibilidade de superar os valores do
cristianismo.
Vestibulares PRISE ENEM - Concursos
A educao desenha o futuro Ensino Mdio tica: filosofia moral Prof. Ulisses Vasconcelos
Cid. Nova I, WE 9A, n121, Coqueiro.
Fone: (091) 3235-1844
*
A
T
E
N
O
:
C
o
p
i
a
r
C
R
I
M
E
.
A
r
t
.
1
8
4
d
o
c
d
i
g
o
P
e
n
a
l
e
L
e
i
n
5
9
9
8
/
7
3
06) Em sua obra tica a Nicmaco, Aristteles
sintetiza as virtudes que constituam a excelncia
moral grega. Assinale a alternativa em que a
virtude, o vcio por excesso e o vcio por falta
esto corretos:
a) amizade bufonaria grosseria.
b) coragem temeridade covardia .
c) moderao exagero insensibilidade.
d) liberalidade luxria insensibilidade.
07) A filosofia de Aristteles pode parecer uma
catedral abandonada, uma construo a ser
visitada aos domingos, a respeito da qual
perguntaria, com certa curiosidade, que pessoas
a teriam habitado. Um exame mais atento da
filosofia do nosso sculo, porm, atesta o
contrrio. Aristteles foi continuamente discutido,
analisado, debatido, e isto nas mais diferentes
correntes, em momentos decisivos de suas
elaboraes. Em particular, a tica aristotlica
ocupa uma posio privilegiada nos atuais
debates sobre a moral. A razo disso consiste
muito provavelmente no fato de que a tica
contempornea buscou atenuar os elementos
demasiadamente rgidos que herdou do que
podemos considerar a tica por excelncia da
poca moderna o formalismo kantiano. As
reflexes de Aristteles sobre a ao, a moral e a
razo foram corretamente vistas por um bom
nmero de autores como podendo servir de 30
contrapeso a esta herana.
(Marco Zincano. Prefcio. In: Hobuss J oo. Eudaimonia auto-suficincia
em Aristteles. Pelotas: Ed. Universitria, UFPel, 2002, p. 9 (com
adaptaes)
A partir do texto acima e de conhecimento acerca
da tica clssica, assinale a opo correta:
a) a tica de Kant uma atualizao da tica
aristotlica.
b) a tica contempornea reconhece a necessidade
de recorrer tica de Aristteles, pois seus
conceitos parecem-lhe mais apropriados do que os
da tica moderna.
c) a filosofia aristotlica um edifcio em runa,
relevante somente para fins arqueolgicos.
d) a tica o estudo das normas clssicas de
convivncia social.
08) Aristteles, em tica a Nicmaco, afirma que
existem duas formas de virtude (qualidade
intelectual ou moral positiva do ser humano, que
o leva a agir visando o bem): a virtude intelectual
(diania) e a virtude moral. Sobre a virtude moral,
podemos afirmar:
a) representada principalmente pela sabedoria e
pela prudncia (phrnesis), adquiridas pela
instruo e que trazem calma e tranqilidade ao
homem;
b) uma disposio de esprito ou hbito de 60
escolher em todas as situaes a justa medida que
convm nossa natureza;
c) considerada como inata, ou seja, como uma
qualidade que o indivduo j traz consigo ao
nascer;
d) uma disposio de esprito que se concretiza
em aes e hbitos, porm no pode ser
transmitida pelo exemplo.
09) (...) quanto excelncia moral, ela o
produto do hbito, razo pela qual seu nome
derivado, com uma ligeira variao, da palavra
hbito. evidente, portanto, que nenhuma das
vrias formas de excelncia moral se constitui em
ns por natureza, pois nada que existe por
natureza pode ser alterado por hbito.
O texto acima foi extrado da obra de
Aristteles tica a Nicmaco, e pode ser
compreendido como este filsofo contrrio:
a) ao inatismo de Plato;
b) a anlise conceitual de Scrates;
c) a ideia de virtude como excelncia moral;
d) a ideia de que a essncia da excelncia moral
um meio-termo (mesots).
10) Age de tal modo que a mxima de tua ao
possa sempre valer como princpio universal de
conduta.
(IMPERATIVO CATEGRICO. Immanuel Kant, filsofo alemo do
sculo XVIII) 90
Esta frase de Kant traduz os princpios
fundamentais da tica kantiana e significa que:
Assinale a(s) alternativa(s) correta(s):
a) devemos agir sempre pensando em ns
mesmos, sem nos importar com os outros;
b) devemos sempre agir pensando nos outros, sem
nos importar com ns mesmos;
c) nossa ao deve sempre estar fundamentada em
nossos desejos, exclusivamente;
d) nossa ao deve ser racionalmente decidida, de
forma que possa valer para todos e no apenas
para ns mesmos.
e) nossa ao deve ser decidida instintivamente,
de forma tal que valha tanto para ns mesmos
como tambm para todos os outros.
Vestibulares PRISE ENEM - Concursos
A educao desenha o futuro Ensino Mdio tica: filosofia moral Prof. Ulisses Vasconcelos
Cid. Nova I, WE 9A, n121, Coqueiro.
Fone: (091) 3235-1844
*
A
T
E
N
O
:
C
o
p
i
a
r
C
R
I
M
E
.
A
r
t
.
1
8
4
d
o
c
d
i
g
o
P
e
n
a
l
e
L
e
i
n
5
9
9
8
/
7
3
11) O conceito de dever, na tica kantiana,
significa:
a) a necessidade de realizar uma ao conforme a
lei moral, relacionando-a com um objeto da
faculdade de desejar;
b) a ao objetivamente prtica, isto , a
coincidncia entre a inteno do agente e os
efeitos da ao;
c) a ao objetivamente prtica, isto , a
coincidncia entre a mxima que determina a
vontade e a lei moral;
d) a necessidade de realizar uma ao por respeito
lei moral, sem relao com a motivao da
vontade.
12) Com relao boa vontade em Kant,
podemos dizer que ela a nica coisa que
podemos considerar como um bem em si mesmo.
Sendo assim, correto dizer que a boa vontade:
a) algo que podemos notar atravs das atitudes e
dos resultados das aes alheias;
b) pode ser resumida na vontade de agirmos por
dever;
c) depende de uma srie de circunstncias
empricas que a direcionem;
d) nos impele a escutarmos o que o nosso corao
tem a nos dizer, nos tornando mais sensveis.
13) A separao entre a tica kantiana e as outras
clarssima. Enquanto todas as outras concepes 30
morais com exceo da estica (Kant
reapresenta, por meio do imperativo categrico,
os conceitos de autonomia estoicistas,
delimitando a liberdade individual em conexo
com a sua universalidade) especialmente o
hedonismo (defendia a busca do prazer como o
segredo da felicidade), o utilitarismo e o
eudemonismo, se fundam num imperativo
hipottico (p.ex., se queres ser feliz, bem sucedido
etc., observa esta lei), a moral de Kant funda-se
num imperativo absoluto, categrico: deves
obedecer sempre lei, prescindindo de qualquer
preocupao com o til ou o prejudicial.
De acordo com o texto acima, podemos
dizer que a concepo tica kantiana chamada
de:
a) Teleolgica;
b) J usnaturalista;
c) Deontolgica;
d) Empirista;
e) Estoicista.
14) Segundo os esticos, o mundo era governado
por um determinismo implacvel do qual no se
podia fugir, e a receita da felicidade estava em
aceitar o que a vida nos dava. Uma anedota ajuda
a compreender esse ponto de vista. Dizem que
Zeno (336 264 a.C.), criador do estoicismo,
castigava um escravo por sua falta quando
argumentou que no tinha culpa, pois, segundo a 60
filosofia de seu senhor, ele estava condenado, por
toda a eternidade, a cometer aquela falta. Zeno
replicou que, da mesma forma, ele estava
destinado a bater no escravo. Epicuro (341 270
a.C.) discordaria dessa viso determinstica e
argumentaria que ns mesmos somos guias de
nosso destino, pois podemos form-lo com nosso
raciocnio. Aqui temos a ideia de Epicuro de que
o homem livre e responsvel sobre seu prprio
destino.
A msica de Raul Seixas Um Messias
Indeciso poderia exemplificar bem a viso
epicurista sobre o destino: Quem faz o destino
a gente, na mente de quem for capaz.
(Por Ivan Carlo A. de Oliveira. Mestre emcomunicao pela Universidade
Metodista deSo Paulo eprofessor universitrio emMacap)
Analise reflexivamente o texto acima e
faa um breve comentrio sobre liberdade e
determinismo, concordando ou discordando
dessas duas posies. Resuma o seu comentrio.
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 90
________________________________________
________________________________________
15) Encontro-me em grave apuro e me pergunto
se posso fazer uma promessa falsa, isto , uma
promessa que no pretendo cumprir. A prudncia
me aconselha a que no a faa, em vista das
conseqncias desfavorveis que uma promessa
pode me acarretar. Mas, se me abstenho por
mera prudncia, no se pode dizer que esteja
agindo moralmente. Ser sincero por medo de
alguma conseqncia desfavorvel e ser sincero
por dever so duas coisas muito diferentes.
(PASCAL, Georges. Compreender Kant. 2. ed. Petrpolis, RJ : Vozes,
2005.p.123)
Vestibulares PRISE ENEM - Concursos
A educao desenha o futuro Ensino Mdio tica: filosofia moral Prof. Ulisses Vasconcelos
Cid. Nova I, WE 9A, n121, Coqueiro.
Fone: (091) 3235-1844
*
A
T
E
N
O
:
C
o
p
i
a
r
C
R
I
M
E
.
A
r
t
.
1
8
4
d
o
c
d
i
g
o
P
e
n
a
l
e
L
e
i
n
5
9
9
8
/
7
3
Diante das duas situaes apresentadas no texto
acima e com base na concepo tica kantiana,
assinale a alternativa que contm a mxima
pessoal que corresponde ao imperativo categrico
(lei da moralidade):
a) lcito, por prudncia, tirar-me de uma
dificuldade com promessas mentirosas.
b) lcito, por dever, tirar-me de uma dificuldade
com promessas mentirosas.
c) no devo fazer promessas mentirosas para no
perder o crdito quando se descobrir o meu
procedimento.
d) no fazer promessas mentirosas por dever
deve valer como lei universal (tanto para mim
como para os outros).
e) tirar-me de uma dificuldade por meio de uma
promessa mentirosa deve valer como lei
universal.
16) Uma pessoa, por uma srie de desgraas,
chegou ao desespero e sente tdio da vida, mas
est ainda bastante em posse da razo para poder
perguntar a si mesma se no ser talvez contrrio
ao dever para consigo mesma atentar contra a
prpria vida. E procura agora saber se a mxima
da sua ao se poderia tornar em lei universal da
natureza. A sua mxima, porm, a seguinte: Por
amor de mim mesmo, admito como princpio que,
se a vida, prolongando-se, me ameaa mais com
desgraas do que me promete alegrias, devo 30
encurt-la.
(KANT. Fundamentao da Metafsica dos Costumes)
De acordo com a concepo tica kantiana, e
supondo que tal maneira de pensar (a mxima
apresentada no texto) se transforme em lei
universal da natureza, assinale a alternativa
incorreta:
a) no poderia de forma alguma dar-se como lei
universal da natureza.
b) absolutamente contrria ao princpio supremo
de todo o dever.
c) por amor de si mesmo, perfeitamente possvel
que uma lei universal da natureza possa subsistir
segundo aquela mxima.
d) conservar a vida, no por amor de si mesmo,
mas por dever, deve ser a mxima sem
contradio com a lei universal da natureza.
e) com o suicdio infringimos a lei moral com a
ideia de estarmos apenas abrindo uma exceo em
nosso favor.
17) (...) um hipottico dono de mercearia, ao
deparar com um comprador inexperiente, uma
criana, por exemplo, no cobra um preo maior
do que o praticado normalmente. Essa ao foi
realizada por dever ? Kant dir: depende. Caso o
merceeiro tenha feito isso para no perder outros
fregueses j que o fato de cobrar mais caro de 60
uma criana poderia chegar ao conhecimento de
seus fregueses, e incomod-los a ao tem uma
inteno egosta, e foi realizada com base em um
clculo da relao entre meios e fim (no vendo
por um preo mais alto para no perder
fregueses). Caso o dono da mercearia tenha
agido por dever, ele se comportou de um ponto de
vista estritamente racional.
(Por Maurcio Keinert. Doutor emFilosofia pela USP).
No exemplo dado, possvel perceber, que
segundo a tica kantiana, incorreto afirmar:
a) as aes humanas reguladas por meio de uma
inteno egosta, no podem se caracterizadas
como livres, pois esto ancoradas em inclinaes
(desejos, intenes, impulsos).
b) uma ao por dever no est fundada na
conseqncia da ao, no objeto do querer, mas
no princpio formal e racional (ligado inteno)
que a determina.
c) para pensar uma ao por dever, necessrio
pensar em um princpio formal da vontade, que
deve ser compreendido como uma lei da razo
(dever a necessidade de uma ao por respeito
lei).
d) o uso prtico da razo, na sua relao com a
vontade, dependente de um fator emprico;
sendo assim, a prpria lei racional poder ter um
contedo predeterminado.
90
18) Segundo a tica kantiana, a ao moral
definida por meio do(a):
a) virtude somente.
b) virtude e da felicidade.
c) interesse e do imperativo hipottico.
d) razo e do imperativo categrico.
e) direito natural.
19) O imperativo categrico kantiano (Devo
proceder sempre de maneira que eu possa querer
tambm que a minha mxima se torne uma lei
universal) est vinculado:
a) ao dever, a uma obrigao imposta pela razo.
b) a uma ao possvel como um meio de alcanar
um determinado fim.
c) a regras de destreza ou conselhos de prudncia.
Vestibulares PRISE ENEM - Concursos
A educao desenha o futuro Ensino Mdio tica: filosofia moral Prof. Ulisses Vasconcelos
Cid. Nova I, WE 9A, n121, Coqueiro.
Fone: (091) 3235-1844
*
A
T
E
N
O
:
C
o
p
i
a
r
C
R
I
M
E
.
A
r
t
.
1
8
4
d
o
c
d
i
g
o
P
e
n
a
l
e
L
e
i
n
5
9
9
8
/
7
3
d) s conseqncias da ao do objeto do querer
e do contexto em que so utilizados.
e) ao arbtrio humano sob a influncia de
impulsos sensveis.
20) Kant trata da questo da caridade no exemplo
a seguir:
Se uma pessoa ajuda outra porque se sente bem
com isso, porque isso a torna mais feliz, h uma
inteno egosta por trs de sua ao.
O que denota que esta ao:
a) no foi realizada por dever.
b) livre e inteiramente de boa vontade.
c) moralmente correta.
d) determinada pela razo.
e) no se baseia em um fator emprico.
________________________________________
CAPTULO 5
LIBERDADE E DETERMINISMO
INTRODUO
Quando nos referimos ao conceito de
liberdade, podemos faz-lo a partir de diversas
perspectivas. No sentido mais comum, uma 30
pessoa livre aquela que pensa e age por si
prpria, no constrangida a fazer o que no
deseja nem escrava ou prisioneira. Mas
podemos considerar liberdade em outros sentidos
mais amplos, por exemplo, no mbito da poltica,
da economia, das leis, da sociedade, dos espaos
especficos em que os indivduos se relacionam
entre si no exerccio do poder, dos negcios, do
direito, no convvio pessoal. Embora esses
campos tenham suas caractersticas prprias, em
todos eles perpassa a ideia de liberdade tica, que
diz respeito ao sujeito moral, capaz de decidir
com autonomia em relao a si mesmo e aos
outros. Sabemos que, assim como somos
determinados pela natureza, somos submetidos
regras sociais que determinam nosso
comportamento desde o nosso nascimento.
preciso considerar os dois plos contraditrios do
pessoal e do social como uma relao dialtica, ou
seja, uma relao em que se estabelea o tempo
todo a discusso da implicao recproca entre
determinismo e liberdade, entre aceitao e recusa
da interdio.
O QUE DETERMINISMO ?
Segundo o determinismo cientfico, tudo
que existe tem uma causa, ou seja, todo efeito tem
uma causa. O mundo explicado pelo princpio do
determinismo o mundo da necessidade, e no o 60
da liberdade. Necessrio significa tudo aquilo que
tem de ser e no pode deixar de ser. Nesse
sentido, necessidade o oposto de contigncia,
que significa o que pode ser de um jeito ou de
outro. Exemplificando: se aqueo uma barra de
ferro (causa), ela se dilata (efeito), pois a dilatao
necessria, no sentido de que um efeito
inevitvel, que no pode deixar de ocorrer. No
entanto, contingente que neste momento eu
esteja usando roupa vermelha ou amarela.
Como vimos, do ponto de vista moral,
somos determinados a herdar os valores do grupo
social aque estamos inseridos, mas a dimenso
social da moral passa pelo crivo da dimenso
pessoal. Ou seja, somos livres, e enquanto seres
capazes de agir de forma autnoma, podemos
alterar ou modificar totalmente essas regras, caso
contrrio, as regras seriam eternamente vlidas.
No campo moral, importante refletirmos neste
item: se nossas aes e decises dependem apenas
do nosso querer (da nossa vontade), da nossa
liberdade, ou so definidas e determinadas por
condies que nos obrigam a agir
independentemente de nossa escolha consciente ?
CONTINGNCIA OU ACASO
A liberdade a capacidade para darmos
um sentido novo ao que parecia fatalidade,
transformando a situao de fato numa realidade 90
nova, criada por nossa ao. Essa ao
transformadora, que torna real o que era somente
Vestibulares PRISE ENEM - Concursos
A educao desenha o futuro Ensino Mdio tica: filosofia moral Prof. Ulisses Vasconcelos
Cid. Nova I, WE 9A, n121, Coqueiro.
Fone: (091) 3235-1844
*
A
T
E
N
O
:
C
o
p
i
a
r
C
R
I
M
E
.
A
r
t
.
1
8
4
d
o
c
d
i
g
o
P
e
n
a
l
e
L
e
i
n
5
9
9
8
/
7
3
possvel e que se achava apenas latente como
possibilidade, o que faz surgir uma obra de arte,
uma obra de pensamento, uma ao herica, um
movimento anti-racista, uma luta contra a
discriminao sexual ou de classe social, uma
resistncia tirania e a vitria contra ela.
O possvel no pura contingncia ou
acaso. O necessrio no fatalidade bruta. O
possvel o que se encontra aberto no corao do
necessrio e que nossa liberdade agarra para
fazer-se liberdade. Nosso desejo e nossa vontade
no so incondicionados, mas os
condicionamentos no so obstculos liberdade
e sim o meio pelo qual ela pode exercer-se.
Se nascemos numa sociedade que nos
ensina certos valores morais justia, igualdade,
veracidade, generosidade, coragem, amizade,
direito felicidade e, no entanto, impede a
concretizao deles porque est organizada e
estruturada de modo a impedi-los, o
reconhecimento da contradio entre o ideal e a
realidade o primeiro momento da liberdade e da
vida tica como recusa da violncia. O segundo
momento a busca das brechas pelas quais possa
passar o possvel, isto , uma outra sociedade que
concretize no real aquilo que a nossa prope no
ideal.
(Marilena Chau, do livro Introduo Filosofia, editora tica)
30
________________________________________
A liberdade como questo filosfica
Filosoficamente, a questo da liberdade se
apresenta na forma de dois pares de opostos:
1 o par Necessidade Liberdade.
2 o par Contingncia Liberdade.
O par necessidade liberdade tambm
pode ser formulado em termos religiosos, como
fatalidade liberdade, e em termos cientficos,
como determinismo liberdade.
* Necessidade: o termo empregado para referir-
se ao todo da realidade, existente em si e por si,
que age sem ns e nos insere em sua rede de
causas e efeitos, condies e conseqncias.
* Fatalidade: o termo usado quando pensamos
em foras transcendentes superiores s nossas e
que nos governam, queiramos ou no.
* Determinismo: o termo empregado, a partir
do sculo XIX, para referir-se s relaes causais
necessrias que regem a realidade conhecida e
controlada pela cincia e, no caso da tica, para
referir-se ao ser humano como objeto das cincias
naturais (qumica e biologia) e das cincias
humanas (sociologia e psicologia), portanto, como 60
completamente determinado pelas leis e causas
que condicionam seus pensamentos, sentimentos
e aes, tornando a liberdade ilusria.
O par contingncia liberdade tambm
pode ser formulado pela oposio acaso
liberdade. Contingncia ou acaso significam que
a realidade imprevisvel e mutvel,
impossibilitando deliberao e deciso racionais,
definidoras da liberdade. Num mundo onde tudo
acontece por acidente, somos como um frgil
barquinho perdido num mar tempestuoso, levado
em todas as direes, ao sabor das vagas e dos
ventos.
Necessidade, fatalidade, determinismo
significam que no h lugar para a liberdade,
porque o curso das coisas e de nossa vida j est
fixado, sem que nele possamos intervir.
Contingncia e acaso significam que no
h lugar para a liberdade, porque no h curso
algum das coisas e de nossa vida sobre o qual
pudssemos intervir.
(Marilena Chau, do livro Ensino Mdio/2 Srie,
editora SER Abril Cultural)
PARA REFLETIR ou FILOSOFAR
Thomas Hobbes (1588 1679): Para este filsofo, o
Direito de natureza, direito natural ou jusnaturalismo o 90
conjunto de regras que se supem existir em decorrncia da
prpria natureza do homem, ou da natureza emgeral, e que,
por isso, independem de qualquer legislao feita pelo
homem, opondo-se, portanto, ao conceito de direito
positivo, que o conjunto de regras estabelecidas pela
sociedade. Hobbes faz, no Leviat (seu livro mais
conhecido), uma distino interessante entre direito de
natureza e lei da natureza: embora os que tmtratado
deste assunto costumamconfundir jus e lex, o direito e a lei,
necessrio distingui-los um do outro. Pois o direito
consiste na liberdade de fazer ou de omitir, ao passo que a
lei determina ou obriga a uma dessas duas coisas. De modo
que a lei e o direito se distingue tanto como a obrigao e a
liberdade, as quais so incompatveis quando se referem
mesma matria. A lei natural seria, assim, uma regra
imperativa, mesmo que decorrente da natureza das coisas.
(CHALITA, Gabriel. Vivendo a filosofia. Volume nico. So Paulo: tica,
2005. p. 210)
Vestibulares PRISE ENEM - Concursos
A educao desenha o futuro Ensino Mdio tica: filosofia moral Prof. Ulisses Vasconcelos
Cid. Nova I, WE 9A, n121, Coqueiro.
Fone: (091) 3235-1844
*
A
T
E
N
O
:
C
o
p
i
a
r
C
R
I
M
E
.
A
r
t
.
1
8
4
d
o
c
d
i
g
o
P
e
n
a
l
e
L
e
i
n
5
9
9
8
/
7
3
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778): Este filsofo
queria uma sociedade emque as pessoas fossem apenas
livres e iguais, mas tambmsoberanas, isto , que tivessem
umpapel ativo dentro do contexto geral. Para isso, alm de
um contrato justo, seria preciso ensin-las a ser livres
(realizar o que o corao manda), autnticas (reconhecer e
mostrar verdadeiros sentimentos) e autnomas (conduzir o
prprio destino). E essa tarefa de civilizar a civilizao
deveria partir da educao das crianas. O filsofo se
dedicou a ela escrevendo umtratado pedaggico emforma
de romance cujo ttulo Emlio, o nome da personagem
principal. A tese fundamental de Rousseau a de que o
homem naturalmente bom mas foi corrompido pela
sociedade.
(CHALITA, Gabriel. Vivendo a filosofia. Volume nico.
So Paulo: tica, 2005. p. 282)
____________________________________________________________
LIBERDADE EM HOBBES, MAQUIAVEL,
LOCKE E ROUSSEAU:
Filsofos apostam no exerccio da crtica como
nica forma de ser livre.
________________________________________
H RECOMPENSA POSSVEL PARA QUEM
RENUNCIA LIBERDADE ?
Por J os Antonio Rodrigues Porto* 30
Dizer que renunciar liberdade renunciar
qualidade de homem exige que expliquemos o que
liberdade e de que maneira ela participa da definio de ser
humano a que J ean J acques Rousseau (1712-1778) nos
remete quando faz essa afirmao. O problema do
delineamento do campo da liberdade humana deve-se aos
restritos limites impostos liberdade, tanto pela necessidade
quanto pela contigncia.
Na vida cotidiana, o homem oprimido por
situaes adversas, contra as quais nada pode fazer, pois
essas so regidas por regras obrigatrias, tanto naturais
quanto culturais, que independemda vontade humana para
alterar-lhes o rumo ou direo. Essas regras so, assim
sendo, necessrias, e os homens se vemimpotentes para
lutar contra elas. Temos clara amostra delas, tanto nas
cincias quanto nas religies.
Para a maior parte dos cientistas do final do sculo
XIX, as leis da natureza eram invariveis, podendo ser
medidas por instrumentos muito precisos e independendo da
vontade de quem realizava a experincia. Hoje em dia,
podemos at fazer chover, mas as leis que regema chuva
so prprias da natureza e ao cientista basta apenas saber
aplic-las. Alguns cientista mais radicais do fimdo sculo
XIX e incio do sculo XX, conhecidos por fisicistas,
acreditavam na inteira determinao dos seres humanos,
inclusive dos seus pensamentos, sentimentos e aes de
acordo coma configurao fsica de seus corpos (gentipo)
e dos estmulos externos a que eramsubmetidos. Tal linha
de pensamento conhecida por determinismo e tem no 60
fatalismo a sua contraparte religiosa. No fatalismo existem
foras transcendentes, superiores s nossas, que nos
governam, quer queiramos ou no. Tanto no fatalismo
quanto no determinismo a liberdade meramente ilusria.
Outro modo de refletir sobre a realidade, que deixa
pouca margempara a liberdade, aquele no qual todos os
acontecimentos so atribudos ao acaso, isto , tudo
imprevisvel e mutvel, impossibilitando qualquer tipo de
deciso ou escolha por parte do ser humano. Seremos,
ento, todos impotentes e a liberdade humana mera iluso ?
Seremos apenas peas no jogo dos deuses, subjugados
Moiras e Fortuna ?
A Liberdade para Aristteles
emAristteles (384-322 a.C.) que encontramos o
primeiro terico da liberdade. Para ele, a liberdade se ope
ao que condicionado externamente (necessidade) e ao que
acontece semescolha deliberada (contingncia). Aristteles
distingue as aes voluntrias e involuntrias. As
involuntrias ocorrem por compulso (fora externa) ou
ignorncia , ou seja, aquelas em que o princpio motor se
encontra fora de ns e para o qual em nada contribui a
pessoa que age e que sente a paixo . As voluntrias, em
contraposio, so todas aquelas aes nas quais o princpio
motor est no prprio agente. Aristteles vai mais alm, de
forma a tornar a anlise mais precisa, e distingue as aes
voluntrias entre aquelas em que h escolha e aquelas em
que no h. As aes guiadas unicamente pelas paixes no
so aes orientadas por escolha, pois se assim fossem, os 90
prprios animais escolheriam, o que Aristteles no pode
aceitar. A escolha, portanto, envolve um princpio racional
e o pensamento. Entretanto, no acaba a a busca
aristotlica. H ainda que se pesquisar o que pode ser objeto
de deliberao. Aristteles nos mostra que s podemos
deliberar sobre coisas que esto ao nosso alcance e que,
efetivamente, podemser realizadas . Assim, podemos dizer
que na concepo aristotlica a liberdade o princpio que
rege a escolha voluntria e racional entre alternativas
possveis.
A liberdade para Hobbes e
o Contrato Social no direito civil
Thomas Hobbes e o seu leviat
Thomas Hobbes (1588-1679) acrescentou
definio aristotlica mais uma restrio, qual seja, que
nosso poder de escolha entre possveis no incondicional,
Vestibulares PRISE ENEM - Concursos
A educao desenha o futuro Ensino Mdio tica: filosofia moral Prof. Ulisses Vasconcelos
Cid. Nova I, WE 9A, n121, Coqueiro.
Fone: (091) 3235-1844
*
A
T
E
N
O
:
C
o
p
i
a
r
C
R
I
M
E
.
A
r
t
.
1
8
4
d
o
c
d
i
g
o
P
e
n
a
l
e
L
e
i
n
5
9
9
8
/
7
3
depende do nosso poder para realiz-los. Isso quer dizer que
nossa escolha condicionada pelas circunstncias naturais,
psquicas, culturais e histricas em que vivemos . Note-se
que isso no o mesmo que ser guiado pela necessidade, o
que seria novamente perda total da liberdade, ao contrrio, o
possvel se encontra no seio da necessidade, mas de alguma
forma temos o poder de alterar-lhe o curso, sob certas
condies. Os limites para a liberdade humana so, desse
modo, tanto internos quanto externos. Nesse sentido,
podemos dizer que a a liberdade a conscincia
simultnea das circunstncias existentes e das aes que,
suscitadas por tais circunstncias nos permitem
ultrapass-las .
Apesar de nos movermos no mundo da necessidade
e da contingncia isto , de no escolhermos as condies
e circunstncias materiais que nos cercam, nem mesmo as
coisas imprevisveis que nos podem acontecer podemos,
contudo, mudar o rumo de determinados acontecimentos em
certas condies, surgindo um campo de possibilidades
objetivas, dentro do qual a liberdade humana real. Nicolau
Maquiavel (1469-1527) expressou de forma bem clara essa
concepo quando disse: J que nosso livre-arbtrio no
desapareceu, julgo possvel ser verdade que a fortuna seja
rbitro de metade de nossas aes, mas que tambmdeixe
ao nosso governo a outra metade, ou quase. Onde no h
lei no h liberdade umparadoxo ?
Anteriormente, definimos liberdade como sendo o
princpio que rege a escolha voluntria e racional entre
alternativas possveis. Vimos, tambm, que sendo a escolha
um processo racional, o princpio de liberdade deve ser 30
exclusivamente humano. Como todos os homens s so
livres quando agem movidos unicamente por si mesmos, a
dificuldade da conciliao entre liberdade e sociedade reside
no fato de que nas sociedades os homens esto submetidos
s leis e, portanto, o motor de suas aes externo.
Thomas Hobbes, na introduo do seu Leviat, diz
claramente que o principal objetivo de qualquer sociedade
civil a segurana de seu povo, Salus Populi, e que, para
tanto devem ser adotadas leis que expressem a vontade
artificial do corpo poltico. Para Hobbes, apesar de
pequenas diferenas, a natureza fez os homens to iguais em
capacidade que nenhum deles pode aspirar a qualquer
benefcio que o outro tambmno possa. Disso segue que
homens que possuam as mesmas esperanas possam, muitas
vezes, disputar os mesmos objetos, pois esses so os nicos
meios de alcanarem os seus fins. Quando isso acontece, um
homem ver o outro como uminimigo e o tratar como tal.
Ora, como todos os homens so iguais, basta que algum
deles perceba umnico outro homemcomo inimigo para
que infira todos os demais como igualmente adversrios,
formando assimumestado de desconfiana geral, pois todos
eles so capazes da mesma inferncia. Desta igualdade
quanto capacidade deriva quanto esperana de
atingirmos nossos fins. Portanto, se dois homens desejam a
mesma coisa, ao mesmo tempo em que impossvel ela ser
gozada por ambos, eles tornam-se inimigos.
Um estado de tamanha insegurana levar esses
homens, que tambm so igualmente prudentes, a
conceberemque muito mais sensato atacar antes de ser
atacado, o que , inclusive, justificado como questo de 60
sobrevivncia, pois no se pode manter uma posio
defensiva indefinidamente. Um tal estado no pode ser
descrito de forma mais exata do que umestado de guerra de
todos contra todos, emque os homens igualmente s podem
ter uma vida solitria, pois no confiamemningum; uma
vida pobre, pois no h tempo para se produzir riquezas ;
srdida e embrutecida, pois s visam a luta; e curta, pois
qualquer descuido pode resultar emmorte.
Emtal estado no h sociedade, portanto, no h
leis comuns que regulem o justo e o injusto, ou, nem
mesmo, o meu e o teu. No h lugar para qualquer tipo de
desenvolvimento material, pois o fruto do trabalho nunca
seguro. Um tal estado, segundo Hobbes, s pode ser
mediante outras paixes que superemas anteriores, pois no
uma faculdade da razo do homem hobbesiano regular as
paixes. Estas paixes so trs: a) medo da morte violenta,
b) desejo das coisas necessrias a uma vida confortvel, e c)
esperana de consegui-las atravs do trabalho. A superao
de umestado to terrvel s pode se dar por meio de um
acordo firmado com base emumcontrato entre os homens.
Mas o que um contrato ? Contrato a transferncia
mtua de direitos Direito a liberdade que todo homem
possui para utilizar em suas faculdades naturais em
conformidade coma razo reta. Logo, devemos saber quais
direitos o homempossui em seu estado natural e que, ao
firmar umcontrato, transferir para outro.
Todo homem temo direito natural, jus naturale,
que a liberdade que cada homem possui de usar seu
prprio poder, da maneira que quiser, para a preservao de
sua prpria vida; consequentemente, como o direito ao fim 90
confere o direito aos meios necessrios para aquele fim,
tem tambm o direito de fazer tudo aquilo que julgar
necessrio para alcan-lo. Logo, todos tero iguais direitos
a todas as coisas, o que absurdo e intil, pois ningum
poder usufruir coisa alguma, pois no h diferena entre o
meu e o teu. O Estado natural hobessiano , portanto, um
estado de tanta igualdade (faculdades e direitos) e liberdade
entre os homens, que as liberdades individuais acabam se
anulando umas s outras por falta de limites claros que as
distingam.
somente atravs da cesso desse direito a todas
as coisas, atravs de umcontrato, que o homemnatural
poder superar esse estado em que no temcomo usufruir a
liberdade que possui. Entretanto, como a sociedade no
objetiva a preservao da liberdade, mas a segurana do
povo, o Estado civil hobessiano se caracterizar pela perda
total da liberdade, o que no contraditrio, pois como o
direito a todas as coisas no pode ser exercido de fato, os
indivduos no perdem nada e ainda ganham, entre outras
coisas, a segurana necessria preservao de suas vidas.
O Estado civil hobbesiano se caracteriza, portanto, por uma
cesso total de direitos que todos os homens contratam entre
si emfavor de umterceiro homemou assemblia , que
por no participar do contrato, deteria todos os seus direitos,
submetendo todos sua vontade que ter tanto poder
que, pelo terror que este suscita, poder conformar as
vontades dos particulares unidade e concrdia. A
vontade do corpo poltico a vontade do soberano que,
como tem o poder de fazer as leis, se encontra acima delas.
S o soberano realmente livre no Estado hobessiano. 120
Vestibulares PRISE ENEM - Concursos
A educao desenha o futuro Ensino Mdio tica: filosofia moral Prof. Ulisses Vasconcelos
Cid. Nova I, WE 9A, n121, Coqueiro.
Fone: (091) 3235-1844
*
A
T
E
N
O
:
C
o
p
i
a
r
C
R
I
M
E
.
A
r
t
.
1
8
4
d
o
c
d
i
g
o
P
e
n
a
l
e
L
e
i
n
5
9
9
8
/
7
3
Liberdade para Locke:
liberdade natural e civil
JOHN LOCKE (1632-1704)
Muito embora a doutrina hobessiana tenha
influenciado sobremaneira os pensadores de sua poca,
felizmente no atingiu o mesmo xito na prtica. Nesse
sentido, se faz necessrio a anlise da liberdade nos escritos
de John Locke (1632-1704), outro pensador do sculo XVII,
que influenciou e fundamentou a poltica de seu tempo,
tendo seguidores at os dias de hoje. Encontramos a melhor
exposio sobre liberdade na sua obra Dois tratados sobre o
governo, no captulo referente escravido. Nele, Locke
define as liberdades natural e civil: liberdade natural
consiste em estar livre de qualquer poder superior sobre a
Terra e em no estar submetido vontade ou autoridade
legislativa do homem, mas ter por regra apenas a lei da 30
natureza, e liberdade civil consiste em no estar
submetido a nenhum outro poder legislativo seno quele
estabelecido no corpo poltico mediante consentimento, nem
sob o domnio de qualquer vontade ou sob a restrio de
qualquer lei afora as que promulgar o legislativo, segundo
o encargo a este confiado.
Analisando a definio de liberdade natural, nota-
se que como todos os homens esto somente submetidos
lei da natureza, o Estado de natureza lockiano umEstado
onde h igualdade. Essa igualdade se d porque todos os
seres humanos adultos e sadios tmna razo a faculdade
que permite o acesso a lei natural, que em parte alguma se
encontra escrita. Parece, pois, que a lei natural impe ao
homem que viva segundo a regra da razo e da equidade,
donde podemos concluir que todos os homens nascem
iguais e livres, tal qual emHobbes, mas de maneira muito
diversa, pois, para Locke, a razo ensina a todos aqueles
que a consultam que, sendo todos iguais e independentes,
ningum deveria prejudicar a outrem em sua vida, sade,
liberdade ou posses.
O ponto mais importante aqui que a liberdade do
homem j se encontra, mesmo no estado de natureza,
limitada pela razo. Muito embora os limites possam no
ser claros para todos os homens, todos os homens sabem
que existem limites impostos pela pessoa do outro. A
liberdade no consiste empoder fazer tudo que se queira,
mas estar livre de restries e violncias por parte dos
outros homens, o que no pode existir onde no existe lei.
Em Hobbes, vimos que uma liberdade ilimitada era o
mesmo que liberdade alguma. Agora, em Locke, j 60
possvel compreender que a finalidade da lei no seja abolir
ou restringir a liberdade, mas, ao contrrio, conserv-la e
ampli-la.
Locke no chega a discutir o assunto das paixes,
mas implicitamente admite ser provvel que algum homem
talvez queira ultrapassar os limites da sua liberdade, quer
isso seja resultado de paixes ou ignorncia. De qualquer
modo, como sua prpria razo lhe dita uma regra e este
homemage de maneira diferente, obviamente no pode ser
a razo que o move, tornando-o, vista dos demais, um ser
irracional, que deve ser impedido ou destrudo para a
segurana de todos. a prpria razo que, mais uma vez,
dita a regra pela qual todos devem agir, e, nesse caso,
quando um homem ameaa aos demais, ela fundamenta o
direito que os homens tm de serem os executores da lei da
natureza, podendo punir o agressor proporcionalmente
infrao cometida. H uma jurisdio recproca entre todos
os homens, que so igualmente interpretadores e executores
da lei da natureza, entretanto, por terema tendncia de
interpretar a lei natural em seu prprio benefcio, os homens
so levados a unirem-se em sociedade, onde haveria leis
escritas e um juiz para dirimir eventuais dvidas. Para tanto,
cedero somente os seus direitos de interpretadores e
executores da lei natural, mantendo intacta a sua pessoa, no
que se refere sua vida, liberdade e bens. O que Locke quer
dizer exatamente que os homens so levados a abandonar
o Estado de natureza para estabelecer uma fonte de poder
comum de forma a regular, proteger e conservar as suas
propriedades.
Ora, vimos, anteriormente, que a igualdade entre os 90
homens imprescindvel para a sua liberdade. Dessa forma,
emsociedade, ou a igualdade mantida ou um homem
poder, arbitrariamente, submeter outro a sua vontade.
Como o que garante a igualdade no estado de natureza a
submisso de todos lei natural, emsociedade, todos, da
mesma maneira, devem estar submetidos a um mesmo
conjunto de leis. Desse modo, se algumhomemdetiver o
poder de fazer as leis, ter poder supremo sobre os demais,
eliminando a igualdade e a liberdade. A soluo sugerida
por Locke o estabelecimento de um poder legislativo,
escolhido e nomeado pelos cidados, de tal forma que s as
leis que foremsancionadas por esse poder teriamfora de
obrigao para os indivduos. Todavia, como o corpo
legislativo sempre ser constitudo por homens, para que o
capricho dos mesmos no exera influncia na elaborao
das leis, deve haver limites para o poder legislativo. So
eles: o governo deve ser exercido atravs de leis que no
podero variar nos casos particulares, mas segundo uma
mesma regra para ricos e pobres, para o favorito na corte e o
campons no arado; as leis devemsempre visar o bemdo
povo; no deve ser imposto tributos sobre a propriedade do
povo semo seu consentimento; no transferir o poder de
fazer leis para quemquer que seja.
De Hobbes a Locke, vimos como possvel
entender e superar o aparente paradoxo habilmente expresso
por Locke na frase onde no h lei no h liberdade.
estranho pensar que para que haja liberdade preciso que
haja tambm limites, mas se tratarmos os termos de forma
dialtica ou sob o prisma da teoria das formas, talvez tudo
se torne mais claro. A liberdade humana sempre limitada 120
e, luz do prisma proposto, dar claros contornos a esse
limite torna tambm a liberdade mais clara. A lei, quando
bemestabelecida, que d os limites para a liberdade, o
fundo sobre o qual a liberdade se destaca e, desta forma, em
Vestibulares PRISE ENEM - Concursos
A educao desenha o futuro Ensino Mdio tica: filosofia moral Prof. Ulisses Vasconcelos
Cid. Nova I, WE 9A, n121, Coqueiro.
Fone: (091) 3235-1844
*
A
T
E
N
O
:
C
o
p
i
a
r
C
R
I
M
E
.
A
r
t
.
1
8
4
d
o
c
d
i
g
o
P
e
n
a
l
e
L
e
i
n
5
9
9
8
/
7
3
vez das leis contriburempara a aniquilao da liberdade, na
verdade elas fazem, ao lhe dar contornos ntidos, com que a
liberdade adquira toda a sua amplido. Ser, ento, que
simplesmente basta a elaborao de um perfeito conjunto de
leis para promover uma sociedade perfeita ?
Liberdade para Rousseau:
Liberdade no estar submetido vontade de um outro homem
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)
Rousseau diz que a liberdade e a igualdade so os
maiores bens e finalidades de uma legislao. Isso se d
principalmente por que na sociedade civil de Rousseau
todos os sditos alienamtodos os seus direitos em prol da 30
comunidade, tornam-se membros de um todo indivisvel, de
tal forma que, no se alienando a ningum em particular,
no se submetem a ningum; por isso, podem ser livres,
pois, para Rousseau, liberdade no estar submetido
vontade de um outro homem.
O contrato social que vigorava seria, de acordo
coma viso de Rousseau, uma burla, uma enganao. Como
legitimar, isto , tornar direito e justo aquilo que umdia no
passou de uma armadilha ? A resposta de Rousseau a essa
questo formulada na obra Do contrato social. Dada a
impossibilidade de o homem voltar a seu estado primordial,
o filsofo se empenha emconceber umcontrato social, ou
forma de associao, que defenda e proteja a pessoa e os
bens de cada associado com toda a fora comum, e pela
qual cada um, unindo-se a todos, s obedece contudo a si
mesmo, permanecendo assim to livre quanto antes.
Para que isso ocorra, o pacto social deve nascer da
entrega total de cada indivduo comunidade, com o que ele
no perde nada, pois, diz Rousseau, cada um dando-se a
todos no se d a ningum. E ainda sai ganhando, porque,
como todos fazemo mesmo, ele recebe de volta todos os
direitos que cedeu e maior fora para conservar o que se
tem. Assim todos se mantmlivres e iguais ao ingressar na
sociedade civil, isto , o corpo poltico. Rousseau concebe,
pois, o corpo poltico como um todo, uma unidade orgnica,
com vida e vontade prprias. E o que d vida ao corpo
poltico a prpria unio de seus membros, ou seja, a
coletividade. As leis desse corpo poltico devemser, desse
modo, o reflexo da vontade geral, que aquela que busca o
melhor para a sociedade como um todo, ou seja, deve ser 60
aquela que satisfaz o interesse pblico, e no o de
particulares. E todo cidado deve se subordinar a essa
vontade geral, mesmo que, como indivduo (e no como
cidado), entenda que ela contraria seu interesse particular.
Na sociedade rousseauniana, o poder legislativo
exercido por todo o corpo de cidados, de forma muito
semelhante aos comcios romanos, pois no h
representao. Cada cidado participa do processo de
votao a diretamente, contribuindo to estreitamente na
formao das leis, que podemos dizer que as leis que ele
segue foram feitas por ele mesmo, de tal forma que, ao
obedecer s leis, obedece a si mesmo, sendo, portanto, livre.
O que torna todos iguais, alm da igual participao
poltica, o fato das leis sempre seremgerais, atingindo a
todos igualmente, semdiferenciao, de tal forma que se,
individualmente, cada particular possa tender para a
desigualdade, a legislao o faz tender novamente para a
igualdade e, consequentemente, para a liberdade.
A autoridade soberana exercida por todo corpo
poltico, e o governo, quer seja monrquico, aristocrtico ou
democrtico, est sempre submetido a ela. A manuteno da
liberdade, por isso, depende da atuao de todos os
cidados. Seria tudo muito simples emuma sociedade de
deuses, mas uma sociedade de homens fatalmente degenera,
pois os seus integrantes j se encontramdegenerados. O
bom selvagem se encontra escondido debaixo de uma
espessa crosta de cobia, ou seja, de aspirao por todas as
coisas que, uma vez adquiridas, os tornariam felizes e
contentes; de iluso, porque uma vez nascidos sob um
governo, adotam a postura servil como natural, 90
principalmente movidos pelos costumes que a preservam
atravs do seu ensino; e de covardia, pois o povo nem
sequer admite que se toque emseus males para destru-los,
como aqueles doentes, tolos e semcoragem, que tremem em
presena do mdico. Tal qual o corcel que uma vez
domado se curva s ordens do seu dono e que, quando por
este ornamentado com belas vestimentas, desfila
orgulhoso comos sinais do seu jugo.
Rousseau percebe que no aos escravos que
compete raciocinar sobre a liberdade, mas aos homens
livre. Uma vez perdida a liberdade, ela no pode ser
recuperada, pois tal qual os senhores precisamde escravos,
os prprios escravos precisamde senhores e da vontade
de servir que o senhor se alimenta. Pobres tolos, que cegos
de cobia caemde joelhos voluntariamente diante de um
senhor que lhes tira tudo. Vemos, assim, que a manuteno
da liberdade requer prontido. No basta ser cidado apenas
elegendo deputados ou votando em leis sob influncia de
algumgrupo. H necessidade de se ter conscincia de que a
liberdade deve ser defendida em cada ato e que tudo que
temos depende disso. Com a perda da liberdade tudo se
perde e no h recompensa possvel para quem a tudo
renuncia. A eleio de representantes, nesse sentido,
colabora para o afastamento do povo na elaborao das leis,
tornando-o vtima da sua prpria indolncia. Dessa maneira,
possvel entender por que a religio civil de Rousseau
inclui a aceitao de alguns dogmas, tais quais: a felicidade
dos justos, o castigo dos maus e a santidade do contrato
social e das leis.
nesse esprito de f, e tendo em vista o bem 120
comum, que os cidado devem participar ativamente da vida
poltica. No flertando coma servido, por melhor que ela
esteja vestida. O ato de obedecer deve, portanto, sempre ser
uma deciso crtica.
____________________________
Vestibulares PRISE ENEM - Concursos
A educao desenha o futuro Ensino Mdio tica: filosofia moral Prof. Ulisses Vasconcelos
Cid. Nova I, WE 9A, n121, Coqueiro.
Fone: (091) 3235-1844
*
A
T
E
N
O
:
C
o
p
i
a
r
C
R
I
M
E
.
A
r
t
.
1
8
4
d
o
c
d
i
g
o
P
e
n
a
l
e
L
e
i
n
5
9
9
8
/
7
3
AS CONCEPES FILOSFICAS DA LIBERDADE
DE ARISTTELES E DE SARTRE
A primeira grande teoria filosfica da liberdade
exposta por Aristteles emsua obra tica a Nicmaco e,
com variantes, permanece atravs dos sculos chegando at
o sculo XX, quando foi retomada pelo filsofo francs
Jean-Paul Sartre (1905-1980).
Nessa concepo, a liberdade se ope ao que
condicionado externamente (necessidade) e ao que acontece
semescolha deliberada (contingncia). Diz Aristteles que
livre aquele que tem em si mesmo o princpio para agir ou
no agir.
A liberdade concebida como o poder pleno e
incondicionado da vontade para determinar a si mesma, isto
, para autodeterminar-se. pensada, tambm, como uma
capacidade que no encontra obstculos para se realizar
nem forada por coisa alguma para agir. Trata-se da
espontaneidade plena do agente.
Alm de distinguir entre o necessrio e o
contingente, Aristteles tambm distingue entre o
contingente e o possvel: o primeiro o puro acaso; o
segundo o que pode acontecer desde que um ser humano
delibere e decida realizar uma ao. Assim, na concepo
aristotlica, a liberdade o princpio para escolher entre
alternativas possveis, realizando-se como deciso e ato
voluntrio.
Contrariamente ao necessrio ou necessidade e
contingncia, sob as quais o agente sofre a ao de uma
causa externa que o obriga a agir de determinada maneira, 30
no ato voluntrio livre o agente causa de si, isto , causa
integral de sua ao. Sem dvida, poder-se-ia dizer que a
vontade livre determinada pela razo ou pela inteligncia
e, nesse caso, seria preciso admitir que no causa de si ou
incondicionada, mas causada pelo raciocnio ou pelo
pensamento.
No entanto, como disseramos filsofos posteriores
a Aristteles, a inteligncia inclina a vontade para certa
direo, mas no a obriga nema constrange, tanto assim que
podemos agir na direo contrria indicada pela
inteligncia ou razo. por ser livre e incondicionada que a
vontade pode seguir ou no os conselhos da conscincia. A
liberdade ser tica quando o exerccio da vontade estiver
emharmonia coma direo apontada pela razo.
Emsua obra O ser e o nada, Sartre levou essa
concepo ao ponto limite. Para ele, a liberdade a escolha
incondicionada que o prprio homem faz de seu ser e de seu
mundo. Quando julgamos estar sob o poder de foras
externas mais poderosas do que nossa vontade, esse
julgamento uma deciso livre, pois outros homens, nas
mesmas circunstncias, no se curvaramnemse resignaram.
Emoutros termos, conformar-se ou resignar-se
uma deciso livre, tanto quanto no se resignar nem
conformar, lutando contra as circunstncias. Quando
dizemos que no podemos fazer alguma coisa porque
estamos fatigados, a fadiga uma deciso nossa, tanto assim
que uma outra pessoa, nas mesmas circunstncias, poderia 60
decidir no se sentir cansada e agir. Da mesma maneira,
quando dizemos estar enfraquecidos e por isso no temos
fora para fazer alguma coisa, a fraqueza uma deciso
nossa, pois umoutro poderia, nas mesmas circunstncias,
no se considerar fraco e agir.
Por isso Sartre faz uma afirmao aparentemente
paradoxal, dizendo que estamos condenados liberdade.
Qual o paradoxo ? Identificar liberdade e condenao, isto
, dois termos incompatveis, pois livre quem no est
condenado.
O que Sartre pretende dizer ? Que, para os
humanos, a liberdade como a necessidade e a fatalidade,
no podemos escapar dela. ela que define a humanidade
dos humanos, semescapatria.
___________________________
Um s pensamento
Nos meus cadernos de escola
Minha carteira e nas rvores
Nas areias e na neve
Gravo o teu nome
Emcada pgina lida
Emcada pgina em branco
Papel pedra sangue ou cinza
Gravo o teu nome
[...] 90
Na ausncia semmais desejos
Na solido toda nua
Em cada degrau da morte
Gravo o teu nome
Na sade que voltou
No perigo que passou
Na esperana semsaudade
Gravo teu nome
Graas a uma s palavra
Reconheo a minha vida
Nasci para conhecer-te
E chamar-te
Liberdade.
Paul luard (trad. Guilherme de Almeida)
In: ALMEIDA, Guilherme de. Poetas de Frana. 4. Ed. So Paulo:
Nacional, 1965.
Vestibulares PRISE ENEM - Concursos
A educao desenha o futuro Ensino Mdio tica: filosofia moral Prof. Ulisses Vasconcelos
Cid. Nova I, WE 9A, n121, Coqueiro.
Fone: (091) 3235-1844
*
A
T
E
N
O
:
C
o
p
i
a
r
C
R
I
M
E
.
A
r
t
.
1
8
4
d
o
c
d
i
g
o
P
e
n
a
l
e
L
e
i
n
5
9
9
8
/
7
3
Você também pode gostar
- Diferenças Entre Ética e Moral (FILO)Documento33 páginasDiferenças Entre Ética e Moral (FILO)Paulo Tarabai100% (2)
- ÉTICADocumento37 páginasÉTICACJG100% (2)
- Apostila - ÉticaDocumento15 páginasApostila - ÉticaKoelho KoelhoAinda não há avaliações
- Ética e MoralDocumento21 páginasÉtica e Moralruinun616Ainda não há avaliações
- Ética, Moral e CidadaniaDocumento15 páginasÉtica, Moral e CidadaniaRenata LeãoAinda não há avaliações
- C - 1 Ética, Moral e BioéticaDocumento12 páginasC - 1 Ética, Moral e BioéticaWander PereiraAinda não há avaliações
- Ética e DeontologiaDocumento35 páginasÉtica e DeontologiaInesAinda não há avaliações
- O Conceito de Ética e Sua Relação Com A MoralDocumento5 páginasO Conceito de Ética e Sua Relação Com A MoralGimo Benjamim MutacateAinda não há avaliações
- Ética e Moral - Entre o Bem e o MalDocumento39 páginasÉtica e Moral - Entre o Bem e o MalPaulo TarabaiAinda não há avaliações
- Conceitos FilosóficosDocumento20 páginasConceitos FilosóficosBrenda VerchAinda não há avaliações
- 2.3. Conhecimentos Gerais - Ética Na Administração Pública FederalDocumento41 páginas2.3. Conhecimentos Gerais - Ética Na Administração Pública FederalAdeilson SouzaAinda não há avaliações
- Apostila Ética e EducaçãoDocumento37 páginasApostila Ética e EducaçãoPaula Barroso da CostaAinda não há avaliações
- Scan Doc0047Documento18 páginasScan Doc0047Ary TjrAinda não há avaliações
- Apostila de Ética, Cidadania e DHDocumento31 páginasApostila de Ética, Cidadania e DHDarioAinda não há avaliações
- 6537 Etica e Moral Fidel RibeiroDocumento6 páginas6537 Etica e Moral Fidel RibeiroTcherllesAinda não há avaliações
- Ética, Moral e HistoriaDocumento20 páginasÉtica, Moral e HistoriaEdson PequeninoAinda não há avaliações
- Etica Geral e ProfissionalDocumento8 páginasEtica Geral e ProfissionalEvandro MouraAinda não há avaliações
- Qual A Diferença Entre Ética e MoralDocumento39 páginasQual A Diferença Entre Ética e MoralFelipe MonteiroAinda não há avaliações
- Ética. Aula 1Documento16 páginasÉtica. Aula 1Angelo PanseraAinda não há avaliações
- Ética No Serviço Público 24 PágsDocumento25 páginasÉtica No Serviço Público 24 PágsMurillo Apostilas DecisãoAinda não há avaliações
- Apostila - 1° Ano Valores Morais e ÉticosDocumento6 páginasApostila - 1° Ano Valores Morais e ÉticosFabricio de Santana Castro100% (1)
- Ética e MoralDocumento3 páginasÉtica e MoralRogério AndradeAinda não há avaliações
- Aula 1 EmpreendedorismoDocumento21 páginasAula 1 EmpreendedorismoJoara GuimarãesAinda não há avaliações
- Aula 1 - O Objeto Do Saber Ético e As Normas MoraisDocumento24 páginasAula 1 - O Objeto Do Saber Ético e As Normas MoraisPother DilceleAinda não há avaliações
- Direito Internacional Por Uma Ética No Terceiro MilênioDocumento11 páginasDireito Internacional Por Uma Ética No Terceiro Milêniosidnei escobarAinda não há avaliações
- Etica e Moral - TextoDocumento8 páginasEtica e Moral - Textojoao pedro silvaAinda não há avaliações
- Ética e Moral Aula 3 AgostoDocumento3 páginasÉtica e Moral Aula 3 AgostoAline Mírian Custódio Teixeira SampaioAinda não há avaliações
- I. Introdução À Dimensão Ético-PolíticaDocumento28 páginasI. Introdução À Dimensão Ético-PolíticaSónia RibeiroAinda não há avaliações
- Materia de Ética e Deontologia Capítulo IDocumento10 páginasMateria de Ética e Deontologia Capítulo Iadilsonjacinto19945Ainda não há avaliações
- La Moral y La ÉticaDocumento6 páginasLa Moral y La ÉticaPatricia OrtizAinda não há avaliações
- Ética e Moral - Qual É A Diferença - UOL EducaçãoDocumento5 páginasÉtica e Moral - Qual É A Diferença - UOL EducaçãoMarlonCarvalhoAinda não há avaliações
- Resumo Aula 1Documento7 páginasResumo Aula 1taiamorim841Ainda não há avaliações
- EticaDocumento18 páginasEticaassiralegriaAinda não há avaliações
- ISCEDDocumento7 páginasISCEDIssenguel AntónioAinda não há avaliações
- Ética MoralDocumento20 páginasÉtica MoralSara HellenAinda não há avaliações
- Livro - Ética JurídicaDocumento52 páginasLivro - Ética JurídicaPedro ValimAinda não há avaliações
- AVA 634274281944622778aula 6 Apostila Inf e Soc Tads t2007Documento10 páginasAVA 634274281944622778aula 6 Apostila Inf e Soc Tads t2007Alexandre CunhaAinda não há avaliações
- ÉTica Moral e DeontologiaDocumento7 páginasÉTica Moral e DeontologiaFabiana GonçalvesAinda não há avaliações
- Ética - Ir. Walter Celso de LimaDocumento5 páginasÉtica - Ir. Walter Celso de LimaJuliano VieiraAinda não há avaliações
- EticaDocumento2 páginasEticaDouglas ThiagoAinda não há avaliações
- Portifolio de Etica e MoralDocumento15 páginasPortifolio de Etica e MoraldarciAinda não há avaliações
- Agh Unidade IiDocumento9 páginasAgh Unidade IiEric de Valton Guilherme PenicelaAinda não há avaliações
- à Tica, Moral, Direito EtcDocumento6 páginasà Tica, Moral, Direito EtcSanny NogueiraAinda não há avaliações
- Aula 1 O Que É Ética, Moral e PolíticaDocumento6 páginasAula 1 O Que É Ética, Moral e PolíticaLucas MilkeAinda não há avaliações
- Etica e Moral Difrenca e SemelhancaDocumento7 páginasEtica e Moral Difrenca e SemelhancaMuquissirima Ussene AbacarAinda não há avaliações
- Campo de Investigação Da ÉticaDocumento3 páginasCampo de Investigação Da ÉticaIgor LopesAinda não há avaliações
- A. Santos - Introdução A Ética - Princípios, Teorias e FundamentosDocumento19 páginasA. Santos - Introdução A Ética - Princípios, Teorias e FundamentosAndrei SantosAinda não há avaliações
- Apostila de Ética BarretoDocumento51 páginasApostila de Ética BarretoRamonAinda não há avaliações
- Introduçã1Documento8 páginasIntroduçã1alexandrina arigeAinda não há avaliações
- 1 Aula de Ética e Deontologia ProfissionalDocumento4 páginas1 Aula de Ética e Deontologia ProfissionalFelisberto Aguiar MuanhaAinda não há avaliações
- AULA 01 - Ética Origens e Distinção Da MoralDocumento28 páginasAULA 01 - Ética Origens e Distinção Da MoraldannhalabeAinda não há avaliações
- Ética - Texto 1Documento4 páginasÉtica - Texto 1Monique MartinsAinda não há avaliações
- Apostila ÉticaDocumento10 páginasApostila ÉticaJoabe ComJAinda não há avaliações
- Matéria de ÉticaDocumento289 páginasMatéria de ÉticaBartô TraderAinda não há avaliações
- Dimensão Ética Do AgirDocumento27 páginasDimensão Ética Do AgirÍris VianaAinda não há avaliações
- Decidindo com Ética: Um Guia Prático para Tomada de DecisõesNo EverandDecidindo com Ética: Um Guia Prático para Tomada de DecisõesAinda não há avaliações
- A Cura Da Depressão E Da Ansiedade Baseado Em Fatos ReaisNo EverandA Cura Da Depressão E Da Ansiedade Baseado Em Fatos ReaisAinda não há avaliações