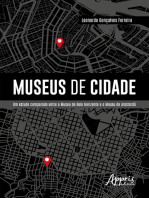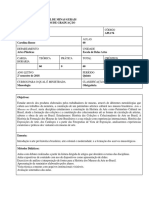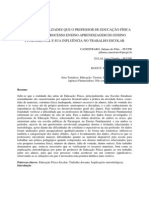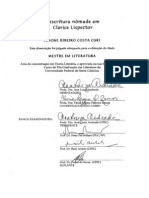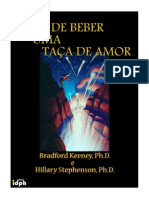Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
1caderno Diretrizes Museologicas 2
1caderno Diretrizes Museologicas 2
Enviado por
claudioimperadorDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
1caderno Diretrizes Museologicas 2
1caderno Diretrizes Museologicas 2
Enviado por
claudioimperadorDireitos autorais:
Formatos disponíveis
d
e
MEDIAO EM MUSEUS: CURADORIAS, EXPOSIES E AO EDUCATIVA
Cadernos de diretrizes museolgicas 2 : mediao em museus:
curadorias, exposies, ao educativa / Letcia Julio,
coordenadora ; Jos Neves Bittencourt, organizador. ---- Belo
Horizonte : Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais,
Superintendncia de Museus, 2008.
152 p. : il.
Inclui bibliografa.
Acompanhado pelo DVD : mediao em museus: curadorias,
exposies, ao educativa.
ISBN : 978-85-99528-26-6
1. Museus. 2. Museologia. 3. Museus - Exposies. 4. Museus -
Acervo. 5. Museus - Pesquisa. 6. Exposies - Curadoria. I. Julio,
Letcia. II. Bittencourt, Jos Neves.
CDD 069
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DE MINAS GERAIS
SUPERINTENDNCIA DE MUSEUS
BELO HORIZONTE
2008
d
e
MEDIAO EM MUSEUS: CURADORIAS, EXPOSIES E AO EDUCATIVA
GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Acio Neves
SECRETRIO DE ESTADO DA CULTURA
PauloEduardo Rocha Brant
SECRETRIA ADJUNTA DE CULTURA
Sylvana Pessoa
SUPERINTENDENTE DE MUSEUS
Letcia Julio
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE LINGUAGENS MUSEOLGICAS
Ana Maria Azeredo Furquim Werneck
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE AES MUSEOLGICAS
Silvana Canado Trindade
DIRETORIA DE GESTO DE ACERVOS MUSEOLGICOS
Maria Inez Cndido
ASSESSORIA DA SUPERINTENDNCIA DE MUSEUS
Marcos Rezende
DIRETOR DO MUSEU CASA GUIMARES ROSA
Ronaldo Alves de Oliveira
Caderno de Diretrizes Museolgicas 2
Mediao em Museus: Curadoria, Exposies, Ao Educativa
EDIO:Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais|Superintendncia de Museus|ORGANIZAO:Jos Neves
Bittencourt|REVISO:Meire Bernardes|CATALOGAO NA FONTE:Maria Clia Pessoa Ayres|PROJETO GRFICO:Frederico
S Motta|PRODUO EXECUTIVA:Gabriela Gontijo|GESTO FINANCEIRA:Via Social
Vdeo
Mediao em Museus: Curadoria, Exposies, Ao Educativa
CONCEPO:Letcia Julio|Silvana Canado Trindade|Maria Inz Cndido|Ana Maria Werneck|Marcos Rezende|Jos
Neves Bittencourt|DIREO:Marcos Rezende|Lo Alvim|EDIO:LoAlvim|Marcos Rezende|PRODUO EXECUTIVA:Gabriela
Gontijo|GESTO FINANCEIRA:Via Social
V
V
I
I
A Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais apresenta o Caderno de Diretrizes Museolgi-
cas 2. Trata-se de projeto que se insere na linha de divulgao da Superintendncia de Museus,
cujo primeiro volume Caderno de Diretrizes Museolgicas 1 teve e ainda tem ressonncia
entre a comunidade de estudiosos, profssionais e apreciadores de museus em todo Estado e,
tambm, em mbito nacional.
O lanamento do nmero dois da srie d continuidade a aes que lograram xito em anos
anteriores e que, por isso, no devem, de forma alguma, ser interrompidas ou paralisadas. De
outra parte, esto consubstanciadas as diretrizes de interiorizao e descentralizao ditadas
pelo Governo do Estado, as quais imprimem um trao de modernidade e arrojo Administrao
Pblica.
Neste volume, a Superintendncia de Museus associou-se a profssionais experientes e renoma-
dos, que desenvolvem trabalhos especfcos da rea. Em parceira com a Associao dos Amigos
do Museu Casa Guimares Rosa, o Caderno 2 foi patrocinado pela Lei Estadual de Incentivo
Cultura, com recursos da Companhia Energtica de Minas Gerais CEMIG, empresa que apia
importantes projetos culturais, numa demonstrao de cuidado e sensibilidade com o que de
propriedade pblica.
O Caderno 2 vem, portanto, ratifcar o compromisso da Secretaria de Estado de Cultura em de-
senvolver projetos e aes de impacto, que gerem bons frutos, e cuja repercusso se estenda por
todos os municpios mineiros. Reafrma, por outro lado, o propsito de trabalhar em estreito e
constante dilogo com a comunidade museolgica de Minas Gerais, com vista a implementar a
poltica de preservao e a promoo do patrimnio cultural do Estado.
Paulo Brant
Secretrio de Estado de Cultura
V
I
I
I
Uma empresa que tem como princpio trabalhar em sintonia e se colocar a servio da sociedade
da qual faz parte, deve estar atenta s necessidades do mundo contemporneo. esse o caso da
CEMIG Companhia Energtica de Minas Gerais.
verdade que a expanso contnua, o bom atendimento aos cidados e a gerao de riqueza e
empregos fazem parte dos objetivos da instituio. Foi seguindo esse caminho que a empresa
frmou sua imagem de uma das maiores concessionrias de energia eltrica do Brasil. No se
tm dvidas de que esses objetivos continuam - e continuaro - a ser perseguidos, inspirados
nos planos traados h mais de meio sculo atrs pelo ento governador Juscelino Kubitschek
de Oliveira.
Ao longo de sua histria, a CEMIG tem acumulado outras funes e d provas de estar em sin-
tonia com a modernidade. Voltando-se para projetos que se somam tradicional prestao dos
servios fnalsticos da empresa, coloca-se como parceira nas aes de preservao e promoo
do Patrimnio Cultural mineiro.
No ano em que comemora 56 anos de criao, a CEMIG apresenta o Caderno de Diretrizes Mu-
seolgicas 2 e reposiciona-se, ao lado da Secretaria de Estado de Cultura / Superintendncia de
Museus, com o propsito de contribuir para o estreitamento das relaes e a profcua troca de
conhecimentos com a comunidade museolgica de Minas Gerais.
CEMIG
V
I
I
I
I
Uma contribuio ao debate museolgico
Curadoria: desafos contemporneos o tema escolhido para ser tratado no Caderno de Dire-
trizes Museolgicas 2. As razes dessa escolha so basicamente de duas ordens. Primeiro por
ser assunto recorrente no mundo dos museus, que se soma aos do Caderno de Diretrizes 1 - ex-
perincia bem sucedida da Superintendncia de Museus/SUM - na sua misso de difundir con-
hecimentos e prticas no campo dos museus. Em segundo lugar e no menos importante, por
ser assunto relevante que ainda no mereceu uma publicao especfca, o que confere aspecto
indito iniciativa.
Em que pesem o sentido de continuidade e de reafrmao dos propsitos institucionais da SUM,
o Caderno de Diretrizes Museolgicas 2 apresenta um formato que difere do da publicao
predecessora. dividido em duas partes, reservando-se a primeira para uma abordagem emi-
nentemente terica e conceitual sobre a curadoria em museus. Na segunda, o tema explorado
sobre diferentes possibilidades - curadoria de acervos museolgicos; de acervos documentais; de
processos educativos; de exposies cientfcas, histricas, de arte ou arqueolgicas - que so
alinhados pelo vis da prtica de profssionais experientes.
A refexo incitada pelo tema e os amplos contedos de conhecimentos tratados no Caderno
ganham uma nova linguagem e traduzem-se no CD que acompanha a publicao. Em imagem e
som, nele so reunidas entrevistas com curadores competentes e depoimentos de profssionais
que se dedicam ao trabalho de aprimorar os museus da SUM e de algumas equipamentos muse-
olgicas de Belo Horizonte e do Rio de Janeiro.
Espera-se que o Caderno de Diretrizes Museolgicas 2 possa, efetivamente, cumprir o seu papel
de atender s demandas da comunidade museolgica em questes sobre curadorias em museus
e contribuir para que, fortalecidos, os museus mineiros estejam qualifcados para promover seus
acervos e conquistar novos pblicos.
Letcia Julio
Superintendente de Museus
I
X
DE OBJETOS A PALAVRAS
Refexes sobre curadoria de
exposies em Museus de Histria
Aline Montenegro Magalhes
Francisco Rgis Lopes Ramos
POR UMA TRANSLUCIDEZ CRTICA
Pensando a curadoria
de exposies de arte
Roberto Conduru
artigo
3
artigo
6
Os caminhos do enquadramento,
tratamento e extroverso da
herana patrimonial. - pg.95
artigo
9
Os caminhos do enquadramento,
tratamento e extroverso da
herana patrimonial. - pg.143
artigo
artigo
2
1
artigo
5
Os caminhos do enquadramento,
tratamento e extroverso da
herana patrimonial. - pg.79
artigo
8
Os caminhos do enquadramento,
tratamento e extroverso da
herana patrimonial. - pg.135
artigo
11
Os caminhos do enquadramento,
tratamento e extroverso da
herana patrimonial. - pg.09
introduo
artigo
4
Os caminhos do enquadramento,
tratamento e extroverso da
herana patrimonial. - pg.61
artigo
7
Os caminhos do enquadramento,
tratamento e extroverso da
herana patrimonial. - pg.113
artigo
10
Os caminhos do enquadramento,
tratamento e extroverso da
herana patrimonial. - pg.09
MEDIAO, CURADORIA, MUSEU
Uma introduo em torno de
defnies, intenes e atores
Jos Neves Bittencourt 00
MONOGRAFIAS TRIDIMENSIONAIS:
A EXPERINCIA CURATORIAL NAS
EXPOSIES DE MDIA E CURTA
DO MUSEU HISTRICO ABLIO BARRETO
Thas Velloso Cougo Pimentel
Thiago Carlos Costa
MEDIAO, CURADORIA, MUSEU
Uma introduo em torno de defnies,
intenes e atores
Jos Neves Bittencourt
CONCEITOS, DEFINIES
Este segundo Caderno de Diretrizes Museolgicas tem uma temtica complexa: Mediao em museus.
Como o leitor ir perceber, logo ao abrir a primeira parte, os textos giram em torno de uma questo, a da
curadoria. Esta, entretando, encontra-se, no ttulo, colocada juntamente com exposio e educao.
justo que o leitor se pergunte o motivo pelo qual foi feito assim. Poderamos at dizer que a refexo que,
esperamos, surja da leitura, comea com essa pergunta.
Mediao, segundo o Dicionrio da Academia das Cincias de Lisboa, o ato ou efeito de mediar
1
; ou,
de forma mais aprofundada, ato de servir de intermedirio entre pessoas, grupos, partidos, faces, pases
etc., a fm de dirimir divergncias ou disputas; arbitragem, conciliao, interveno, intermdio. A mediao
, ento, uma ao que se remete a sistemas de regulao institudos para reduzir a dissonncia, a incon-
gruncia, a distoro. Esses sistemas, quando atuam no nvel da aquisio de conhecimentos, costumam a ser
chamados pelos especialistas de modelos de ordem ou modelos mediadores
2
. Ou seja, a mediao busca,
formalmente, estabelecer uma ordem
3
. O mediador se coloca entre duas posies, de modo a esclarec-las
uma em relao outra.
Por outro lado, uma defnio mais especfca de mediao a coloca como mediao cultural, e a defne
como processos de diferente natureza cuja meta promover a aproximao entre indivduos e coletividades
e obras de cultura e arte
4
. O autor dessa defnio a remete ao cultural e agente cultural.
Podemos dizer que no cruzamento dessas duas defnies de mediao, encontramos o curador. Esse agente
cultural faz com a exposio museal exatamente foi esclarecido: primeiro, ele a coloca entre o museu e suas
atividades, e os diversos pblicos que podem procurar o museu; segundo, com esse ato, ele aproxima os pbli-
cos da cultura. O que dado como a funo primordial dos museus.
O substantivo curador
5
, de acordo com o dicionrio a que nos remetemos, tem sua raiz no latim cur, que
remete ao cuidado, ao zelo. O mesmo dicionrio explica o signifcado do substantivo latino curtor o que
cuida, o encarregado de zelar, comissrio, tutor, rendeiro, caseiro. Em todos os signifcados atribudos essa
palavra, est contido o sentido de cuidar, tomar conta.
1
PORTUGAL, Academia das Cincias de Lisboa. Dicionrio da Lngua Portuguesa Contempornea. Lisboa: Editorial Verbo, 2001. Verbete Mediao,
vol. 2, p. 2416.
2
Cf. SILVA, Benedito (coord.). Dicionrio de Cincias Sociais. Rio de Janeiro: Ed. da Fundao Getlio Vargas, 1982 (2v.). Verbete Mediao, vol. 1, p.
735.
3
Ibid.
4
TEIXEIRA COELHO. Dicionrio crtico de poltica cultural. So Paulo: FAPESP/Iluminuras, 2 ed., 1999. Verbete Mediao cultural, p. 248.
5
PORTUGAL, Academia das Cincias de Lisboa. Dicionrio... Op. cit. Verbete Curador, vol. 1, p. 1046.
3
|
M
e
d
i
a
o
,
c
u
r
a
d
o
r
i
a
,
m
u
s
e
u
.
U
m
a
i
n
t
r
o
d
u
o
e
m
t
o
r
n
o
d
e
d
e
f
n
i
e
s
,
i
n
t
e
n
e
s
e
a
t
o
r
e
s
Estudar a etimologia das palavras ou seja, a origem de um termo, na forma mais antiga conhecida, ou em
alguma etapa de sua evoluo nos ensina que o signifcado dessas unidades da lngua escrita pode ir sendo
desdobrado, pode ganhar novos sentidos. Curador, a pessoa que exercita a atividade, por sua vez, resulta em
curadoria, a atividade do curador. A raiz latina do termo a mesma que vimos acima. Entretanto, o signif-
cado mais estreito: cargo ou funo de pessoa que legalmente administra ou fscaliza bens ou zela pelos
interesses de incapacitados ou de desaparecidos que no tenham representante legal
6
. Todas as defnies de
curadoria contidas em dicionrios de nossa lngua apresentam o mesmo signifcado.
Mas se examinarmos um pouco mais os verbetes de dicionrios brasileiros e portugueses, aprenderemos que,
em certas regies do Brasil, curador um indivduo que trata das pessoas mordidas por cobras venenosas,
e que, dada essa estranha arte, respeitado por esses animais. A ns pareceu, dentre todos os signifcados
encontrados, o mais interessante. Afnal, uma pessoa que se torna to hbil em uma arte qualquer deveria ser
sempre merecedora do respeito daqueles que com tal arte tomam contato.
O que nos leva a um terceiro signifcado que, embora no diretamente associado curadoria, nos interessa
diretamente: no conjunto de acepes reunidas para a entrada curar, aparece, como brasileirismo, preparar
a madeira, de modo a torn-la melhor para o uso
7
. Algumas outras acepes trazem o sentido de preparar,
e visto o radical latino comum a essas podemos dizer que esse sentido tem certa importncia da composio
dos desdobramentos de curador e curadoria: curador tambm poderia ser aquele que prepara alguma
coisa para ser usada.
Por outro lado, existe um sentido para os substantivos curador e curadoria que os lxicos portugueses e
brasileiros no trazem. aquele sentido que identifca curadoria com o processo de organizao e mon-
tagem da exposio pblica de um conjunto de obras de um artista ou conjunto de artistas
8
. interessante
que o signifcado desse conceito, conforme desenvolve o autor, remete-se arte, e a nenhum outro ramo de
atividade. Temos que discordar: exposies pblicas no so apenas aquelas que expem arte ou cultura
conceito este de defnio complexa mas que, certamente, no se remete apenas arte. A no ser que o autor
estivesse considerando exposio em si, como uma arte. No parece ser o caso.
Um dicionrio antigo nos d uma defnio de exposio que parece ser bem objetiva: Uma mostra de tra-
balhos de arte, cincia ou histria em recinto apropriado. Pode ser permanente (colees de museus), temporria
(por tempo determinado), itinerante (em vrias localidades), retrospectiva, comemorativa
9
. Nota-se que um
texto antigo: hoje em dia as exposies so de longa durao, de mdia durao ou de curta durao, mas
continua valendo entender-se um evento desse tipo como uma mostra de trabalhos instalada em um recinto
6
Id., verbete Curadoria, vol. 1, p. 1046.
7
Id., verbete Curar, vol. 1, p. 1047.
8
Cf. TEIXEIRA COELHO. Dicionrio crtico... Op. cit. Verbete Curadoria, p. 141.
9
REAL, Regina M. Dicionrio de Belas-Artes: (Termos tcnicos e matrias afns). Rio de Janeiro: Ed. Fundo de Cultura, 1962. Verbete Exposio, vol. 1,
p. 227.
4
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
apropriado. A questo que, do ponto de vista museal, a defnio de recinto apropriado se ampliou, e pode
estar delimitado pela musealizao, ou seja, pela sistematizao das propriedades comunicativas que tm as
construes humanas, sejam elas materiais ou imateriais: ecomuseus e museus de regio ou de territrio
estendem sua abrangncia at extenses bem maiores do que um mero espao delimitado por paredes, muros
ou cercas.
Outra observao que parece ser interessante diz que [as] exposies tem se tornado meio atravs do qual a
arte se torna conhecida. No somente o nmero e alcance das exposies tem crescido de forma notvel nos
anos recentes, como museus e galerias de arte tais como a Tate, em Londres, e o Whitney [Museum of American
Art] em Nova Iorque agora apresentam suas colees numa srie de exposies de curta e mdia durao.
10
Embora a temtica do livro a que nos remetemos sejam as exposies de arte, vale frisar dois pontos no curto
recorte acima: primeiro, que exposies so o meio (no sentido de mdia, ou seja, elemento de produo
e suporte de dados e informaes) de fazer a arte se difundir. Diante dessa constatao bastante precisa,
diga-se de passagem o passo seguinte considerar que exposies so um dos meios de se difundir todo e
qualquer fazer humano, seja ele da ordem da arte, das cincias, da tecnologia, da histria.
Um leitor atento poderia, aqui, levantar a questo de que no apenas exposies so mdia para a divulga-
o de fazeres humanos. Tambm poderia esse leitor apontar que outras mdias tambm se colocam como
mediao entre posies. Seriam ambas observaes corretas: livros, jornais, cinema, a Internet, apenas para
citar alguns exemplos, tambm fazem as duas coisas, talvez com maior alcance que as exposies museais.
Entretanto, a exposio tem uma caracterstica que no pode ser encontrada nessas outras mdias: frisar a
inter-relao que articula as produes humanas. possvel ver essas produes como entidades relacionadas
umas s outras, produtos de fazer e movimento histricos. Nas outras mdias, essa percepo, quando est
presente, nem sempre imediata.
No que uma exposio museal sempre faa isso, at porque ver nem sempre conhecer. A capacidade
de uma exposio em fazer o visitante entender seu contedo no automtica. O objeto musealizado ou em
sua vida comum, no possui propriedades intrnsecas que no sejam seus aspectos fsico-qumicos. Adiante
desses, tudo que dele se consegue extrair sentido, fazer signifcar alguma coisa. Deixemos bem claro: o ob-
jeto no fala. Quem fala, atravs dele, o curador. Essa idia, bem desenvolvida pelo terico brasileiro Ulpiano
Meneses
11
, aponta, simultaneamente, a importncia da exposio e da curadoria. E aponta para uma terceira
questo (e esta nos parece de grande importncia): a curadoria exerce, no museu, um papel de mediao.
10
GREENBERG, Reesa; FERGUSON, Bruce W.; NAIRNE, Sandy (eds.). Introduction. In: ___ Thinking about Exhibitions. Oxon (Ingl.): Nova Iorque: Rou-
tledge, 1996. p. 2.
11
Para o aprofundamento da questo, cf. MENESES, Ulpiano T. B. de. Do teatro da memria ao laboratrio da histria: a exposio museolgica e
o conhecimento histrico. Anais do Museu Paulista: Histria e Cultura Material (Nova srie, vol. 2 - Jan./Dez. 1994). So Paulo: Museu Paulista da
USP, 1994; ___. O museu e o problema do conhecimento. In: IV Seminrio sobre Museus-Casas: Pesquisa e Documentao. Anais... Rio de Janeiro:
Fundao Casa de Rui Barbosa, 2002.
5
|
M
e
d
i
a
o
,
c
u
r
a
d
o
r
i
a
,
m
u
s
e
u
.
U
m
a
i
n
t
r
o
d
u
o
e
m
t
o
r
n
o
d
e
d
e
f
n
i
e
s
,
i
n
t
e
n
e
s
e
a
t
o
r
e
s
A mediao exercida pela exposio aponta para a importncia dessa mdia mas tambm aponta os problemas
nela contidos. ... trabalhar com as coisas, para por intermdio delas permitir entender muito mais do que elas
mesmas, demandaria domnio da linguagem das coisas e da linguagem museal. O historiador, o antroplogo,
o especialista em artes plsticas, etc., ao redigirem uma monografa, dispensam os documentos de que se
serviram e empregam apenas palavras. No museu, com as mesmas coisas que o essencial (no a totalidade,
claro) deve ser dito. A linguagem, para tanto, no dispensa os auxlios de outra natureza inclusive a
utilizao de recursos virtuais mas, para justifcar a convocao do museu, necessrio que a linguagem
visual e espacial sejam prioritrias (no mnimo, de algum peso signifcativo).
12
Esse trecho relaciona alguns
dos aspectos mais problemticos de se fazer exposies. Nas entrelinhas, pode-se pensar em outros. Fazer
mediao em museus um desafo. A curadoria de exposies um desafo.
No cruzamento desses dois desafos surge este novo volume da srie Cadernos de Diretrizes Museolgicas
Mediao em museus: curadorias, exposies e ao educativa.
AS INTENES DE UM PROJETO
Nunca demais lembrar qual a razo de ter sido o conceito diretrizes aposto ao ttulo da srie e, de certa
forma, lhe determinando o sentido. O signifcado da palavra esclarece o motivo: linha bsica que determina
o traado de uma estrada; esboo, em linhas gerais, de um plano; diretiva; norma de procedimento, conduta.
As diretrizes museolgicas so, pois, o conjunto de diretivas que se imagina que podero ajudar a esboar
um projeto museolgico, ou como no primeiro signifcado, o traado de uma estrada, a linha ao longo da qual
se chega a um lugar. Embora as diretrizes aqui apresentadas no o sejam para impor qualquer obrigatorie-
dade, a complexidade do fazer museal, na atualidade, coloca a formao e o aperfeioamento como parte das
tarefas de todos os profssionais envolvidos nesse fazer talvez a nica diretriz obrigatria.
A formao aponta a necessidade de esclarecimento e refexo em torno dos temas da rea seja qual ela for. A
questo das exposies museais e da curadoria como, por excelncia, atividades de mediao museolgica, pre-
sentes em qualquer museu, independente de temtica, tamanho, localizao, levou a uma pergunta: estariam
os profssionais de museus atentos para essas questes? Provavelmente sim, visto que fazer e cuidar exposies
(enfm, os sentidos mais corriqueiros de curadoria, como vimos antes) so problemas cotidianos, para aqueles
profssionais. Mas contam eles com ferramentas adequadas de esclarecimento e refexo?
Esta preocupao se mostra mais objetiva. A apresentao da questo implica em um mtodo que permita ao
interessado aprofundar-se na temtica segundo suas necessidades, que, certamente, sso diversas, de lugar
para lugar, de museu para museu. Neste sentido, pareceu adequado abordar a curadoria por dois ngulos: o
12
MENESES, Ulpiano T. B. de. O museu e o problema... Op. cit. p. 36.
6
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
primeiro apontando museus, exposies e curadoria como questes relacionadas; o segundo procura des-
construir a instituio museal pela via de suas aes: exposies, tratamento tcnico de acervos, atividades
educativas. Seria uma forma de mostrar o museu seguramente formado por um conjunto de atividades que se
solidarizam umas com as outras, e, como diz Ulpiano Meneses, ... as variadas possibilidades devem se fertilizar
umas s outras.
13
Esses dois pontos de vista resultaram nas duas sees em que o volume est dividido: Curadoria como con-
ceito e Curadoria como mediao. A curadoria posta em relevo por ser um conceito diretamente ligado
mediao, como vimos acima. Dessa forma, na primeira parte encontra-se um estudo terico, que gravita em
torno da defnio de curadoria; na segunda parte, a desconstruo de que falamos acima apresenta as di-
versas mediaes que a curadoria pode estabelecer. No entanto, vale pena advertir que tal diviso no traduz
uma proposta que indique a inviabilidade do funcionamento dos inmeros pequenos museus que povoam o ter-
ritrio brasileiro. Pelo contrrio. Nesse momento, convm lembrar a observao de um terico norte-americano:
A pessoa encarregada de um pequeno museu, cumprindo simples funes administrativas deveria ser chamada
de curador, ao invs de diretor. Um museu de maiores propores ter um curador em cada uma das maiores
divises, tal como um curador de histria, um curador de arte, e assim por diante. Uma vez que os curadores
so chefes de departamento, parece conveniente dar o mesmo ttulo a outros chefes de departamento. Assim,
temos o curador de exposies, o curador de atividades educativas, curadores de televiso, etc.
14
AS ESTRUTURAS E OS ATORES DE UMA OBRA
A primeira parte constri o tema de modo a apresent-lo como questo complexa, de mltiplas abordagens
possveis. Os trs artigos so refexes densas, que se complementam em deixar clara a curadoria como uma
questo do campo dos museus. O objetivo comum indicar os caminhos que tm sido percorridos e possibili-
dades que se apresentam, em direo defnio conceitual desse tema.
O primeiro artigo, de autoria de Cristina Bruno, abre-se estabelecendo que o conceito de curadoria, nas pa-
lavras da prpria autora, tem uma trajetria de difcil mapeamento. Navegando por trs perspectivas, uma
histrica, uma contempornea e uma processual, Bruno procura ver como as trs delineiam tanto o perfl
profssional do curador quanto e as prticas curatoriais desenvolvidas pelos museus, sempre atendo-se ao
contexto dos museus, de seus acervos e colees, pois nesses contextos que se iro desenvolver as relaes
curatoriais e seus efeitos. As refexes de Bruno interagem com a refexo desenvolvida por Nelson Sanjad e
Carlos Roberto Ferreira Brando. Esses dois profssionais, de longa experincia em museus de cincia, intro-
duzem alguns pontos para a refexo sobre a comunicao museolgica em relao com a poltica curatorial
dos museus. Sanjad e Brando consideram que uma poltica curatorial depende da compreenso, pelos profs-
13
MENESES, Ulpiano T. B. de. O museu e o problema... Op. cit. p. 22.
14
BURCAW, G. Ellis. Introduction to museum work. Nashville (EUA): American Association for State and Local History, 2a ed. 1983. P. 39.
7
|
M
e
d
i
a
o
,
c
u
r
a
d
o
r
i
a
,
m
u
s
e
u
.
U
m
a
i
n
t
r
o
d
u
o
e
m
t
o
r
n
o
d
e
d
e
f
n
i
e
s
,
i
n
t
e
n
e
s
e
a
t
o
r
e
s
sionais do museu, do desenvolvimento do acervo, que contm as transformaes pelas quais os museus pas-
saram no tempo. Os dois autores usam esse atalho para chegar exposio, que consideram como discursos
dirigidos aos variados pblicos por um grupo especfco.
O objetivo que, de forma transparente, atravessa o texto, ressaltar a necessidade de estudos que tenham no
horizonte todo o processo curatorial, ou seja, que investiguem e avaliem como ocorre a produo de sentido
nas exposies. O criterioso levantamento que os autores fazem do estado da arte da produo nacional em
torno da questo indica a importncia da relao entre polticas curatoriais e as leituras feitas pelo pblico
em torno das exposies. Essa seria a forma de aperfeioar o processo, e uma sugesto que aparecer em
diversos pontos do livro. O terceiro artigo, de certa forma, sintetiza e estende as intenes dos dois anteriores.
Analisa o museu como um fenmeno, a partir de sua origem mtica. A autora Tereza Scheiner, terica e profes-
sora conhecida nacionalmente. Estabelece o museu como processo, e indica, com clareza, que essas instituies
tem alcance muito mais abrangente que os processos curatoriais. A idia principal veiculada pelo texto que
no possvel tratar dos processos curatoriais sem defnir que idia de museu lhes serve de fundamento.
Segundo a autora, a universalidade dos museus est muito alm da presena de acervos, excelncia tcnica ou
interesse dos pblicos: est na sua essncia como representao simblica, e na capacidade, que intrnseca
instituio de mover-se e se transformar. Um dos pontos fundamentais desse terceiro artigo que, inclusive,
determinou sua posio no livro so as observaes sobre as relaes entre museu e Museologia, disciplina
cujos fundamentos tericos vinculam-se ao reconhecimento do carter plural do Museu; percepo de que
ele se d em processo; e anlise dos processos de musealizao, sobre os quais se instituem os processos
curatoriais.
A segunda parte do livro rene oito artigos, que, como foi dito mais acima, buscam a curadoria como parte
constitutiva do fazer museal. As observaes contidas nos trs artigos da primeira parte que, note-se bem,
no considerada uma introduo ou apresentao do tema servem para orientar a leitura de cada um dos
textos que se seguem, mas no so indispensveis a essa leitura. Como foi esclarecido antes, toda a estru-
tura da obra est plantada na constatao de que diferentes museus, ligados a diferentes contextos, geram
necessidades diferentes. Os museus brasileiros esto em movimento. Por isso interessa compreende-los em
sua dinmica social e interessa compreender o que se pode fazer com eles, apesar deles, contra eles e a partir
deles, no mbito de uma poltica pblica de cultura.
15
A curadoria e os processos curatoriais se colocam
nesse amplo contexto, no qual os museus podem ser grandes, pequenos, ricos, pobres, bem conhecidos, pouco
conhecidos. E os profssionais de museus, igualmente sintonizados a esse movimento dos museus, tero ne-
cessidades igualmente diversas.
Nesse momento, cabe advertir os leitores para a importncia do vdeo que compe esta obra. Esse produto faz
parte do conjunto, sendo importante observar que, embora estruturado em outra mdia e em outra linguagem,
15
BRASIL, Instituto do Patrimnio Histrico e Artstico Nacional, Departamento de Museus e Centros Culturais. Veredas e construes de uma poltica
nacional de museus. In. ___. Poltica Nacional de Museus: Relatrio de Gesto 2003-2006. Braslia: MINC/IPHAN/DEMU, 2006. p. 13.
8
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
no um complemento do livro. Dever ser visto em ambos os sentidos que esta expresso pode ter como
uma terceira parte do Caderno, e no dever dele ser separado. O fato do vdeo ter o mesmo nome deste
volume dos Cadernos uma ttica editorial que visa chamar ateno para a integralidade do conjunto.
E qual o contedo? Entrevistas com curadores, selecionados, num universo de nomes e prticas consolidadas
pela experincia. O vdeo coloca em palavras o contedo da segunda parte do livro. Permite que o leitor viven-
cie e, de certo modo, interaja com profssionais que vivem situaes cotidianas, tm preocupaes e sofrem
presses e atritos que podem ser diferentes em volume e especifcidade, daquelas situaes, preocupaes,
presses e atritos por que passam os leitores, em seus museus maiores ou menores, mas tem a mesma na-
tureza. Porque a experincia do fazer museus, como nos ensina Tereza Scheiner, celebra a aventura da vida
e valoriza o patrimnio material e imaterial, defnidor de identidade dos diferentes grupos humanos. A partir
do reconhecimento das referncias patrimoniais que as identifcam, as sociedades criam museus. E como se
articulam de distintas maneiras, no tempo e no espao, criam e desenvolvem diferentes formas de Museu.
Os oito artigos da segunda parte falam, de certa forma, de diferentes formas de museu e de diferentes ex-
perincias curatoriais. Pode ser dividida, embora essa diviso no seja marcada, em dois blocos. O primeiro de-
les fala da curadoria de exposies; o segundo, de algumas atividades museais. As exposies so de histria,
de arte, de cincia e tecnologia, de arqueologia; as experincias so o fazer exposies de curta e mdia
durao em um museu de porte mdio, proceder o tratamento tcnico de acervos, elaborar aes educativas,
cuidar de acervos documentais.
Tanto num bloco quanto no outro, as abordagens e os pontos de vista so diversos. Aline Montenegro Maga-
lhes e Francisco Rgis Lopes Ramos, profssionais com grande experincia em museus histricos, escolhem
para ponto de partida a constatao de que museus de histria relaciona-se uma preocupao: combater o
esquecimento. Vestgios de pocas mortas, quando so coletados, preservados e expostos ao olhar dos vivos,
podem abrir muitos espaos para o ato de lembrar... para a elaborao de problemticas histricas sobre as
relaes entre passado, presente e futuro. Os artigos que se seguem, nesse bloco, de certa formam, seguem
o tom desse diapaso. Roberto Conduru, professor universitrio e crtico de arte no Rio de Janeiro analisa a
exposio de arte como discurso no qual todos seus elementos so constituintes de seus sentidos e, portanto,
precisam ser pensados pelos agentes e instituies envolvidos na realizao do evento. O autor considera
os objetos, os textos tanto da exposio quanto do material impresso, as imagens complementares, e at os
equipamentos de segurana, mobilirio e arquitetura como fatores que no podem ser deixados de lado para a
compreenso do processo curatorial. O artigo busca tornar translcida a crtica de exposies, evidenciando
a curadoria como subsdio dos jogos entre artistas, obras de arte e pblico. Tanto Aline e Rgis quanto Conduru
posicionam-se frmemente, quando vem a exposio como uma construo integral, da qual nenhuma parte
pode deixar de ser pensada. Ctia Rodrigues Barbosa optou por analisar as exposies de cincia e tecnologia
a partir da multiplicidade caleidoscpica em que se transmutou, na atualidade, o curador. O artigo da pro-
fessora Ctia examina as responsabilidades dessa fgura multifacetada como condutor de um processo cujo
9
|
M
e
d
i
a
o
,
c
u
r
a
d
o
r
i
a
,
m
u
s
e
u
.
U
m
a
i
n
t
r
o
d
u
o
e
m
t
o
r
n
o
d
e
d
e
f
n
i
e
s
,
i
n
t
e
n
e
s
e
a
t
o
r
e
s
sucesso em parte determinado por sua capacidade de administrar essas diversas fguras. O quarto artigo
escrito por um historiador, Pablo Lus de Oliveira Lima, e dois arquelogos, Gilmar Henriques e Mrcio Castro. A
experincia mltipla desses profssionais reuniu-se no momento em que se tornaram curadores de um projeto:
a implantao do Museu Municipal de Pains, pequena cidade em Minas Gerais. O artigo procura apresentar
a riqueza arqueolgica da regio, uma provncia arqueolgica da regio do Alto So Francisco como parte do
contexto social e poltico que leva deciso de criar o museu.
O bloco apresenta quatro experincias de exposio, vividas a partir de posies que so diversas e comple-
mentares: o primeiro e o quanto artigos partem do interior da experincia museal; o segundo e o terceiro, de
uma posio em que a crtica entendida como levantamento de problemas examina a curadoria como uma
parte do processo. Mas pode-se observar uma convergncia, resumida por Cristina Bruno, em seu artigo: ...
nas ltimas dcadas a defnio de curadoria tem sido permeada pelas noes de domnio sobre o conheci-
mento de um tema referendado por colees e acervos que, por sua vez, permite a lucidez do exerccio do
olhar... A observao de Bruno coloca a competncia dos curadores como pr-condio para a competncia
do olhar do pblico, ponto comum que pode ser observado nos quatro artigos.
O segundo bloco apresenta quatro artigos nos quais, de certa forma, as exposies foram deslocadas do cen-
tro do palco, dando lugar para as atividades dadas como cotidianas. So atividades que podemos encontrar
em qualquer tipo de museu, independente de onde ele esteja, qual seja seu tamanho e variedade. O primeiro
desse segundo bloco, escrito por profssionais de longa experincia em um museu de porte mdio e grande im-
portncia, situado em Belo Horizonte, procura situar claramente a curadoria de exposies de curta e mdia
durao jargo que substituiu, a no muito tempo, a defnio de exposies permanentes e temporrias.
Thas Velloso Cougo Pimentel e Thiago Carlos Costa constroem um texto de grande densidade terica, cuja
fnalidade embasar a experincia prtica, aquilo que temos chamado, para fns desta abertura, de cotidiano.
O texto de Pimentel e Costa aponta para diversas questes para as quais o profssional de museus, seja ele
curador ou no, dever estar atento. Uma delas se sobressa, conforme ensinam os dois: A exposio, seja
ela de curta, mdia ou longa durao, surge da pesquisa curatorial, ou seja, da investigao voltada para o
adensamento do tema ou do conceito. Esse adensamento faz com que a exposio deixe de ser apenas idia,
e tome forma na realidade institucional do museu. Esta uma questo fulcral neste artigo, e que vaza para
todo o bloco, toda a segunda parte do livro e, fnalmente, para todo o livro: a importncia da pesquisa. Con-
forme aponta Ulpiano Meneses, a atuao do museu se compromete fora do universo do conhecimento. Alm
disso, o museu opera com material que pode tambm ser trabalhado como fonte de informao para produzir
conhecimento.
16
Meneses refere-se, claro, aos acervos, a herana patrimonial que d ttulo ao artigo de
Cristina Bruno. Pimentel e Costa manejam magistralmente essa questo, ao mostrar como o acervo preservado
na instituio em que trabalham gera um tipo de conhecimento que eles denominam 'monogrfco', ou seja,
as exposies elaboradas pela instituio.
16
MENESES, Ulpiano T. B. de. O museu e o problema... Op. cit. p. 34.
1
0
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
Os artigos seguintes tratam da curadoria de atividades especifcamente museais: o tratamento tcnico de
acervos museolgicos, as aes educativas e o tratamento de acervos de documentos. Foram escolhidos esses
tpicos poderiam ter sido muitos outros, visto que so mltiplas as atividades desenvolvidas no cotidiano de
um museu. Entretanto, nem todas esto presentes. Talvez de uma forma um tanto arbitrria, foi decidido que
seria muito difcil encontrar um museu sem acervos, de modo que a curadoria de acervos foi posta em evidn-
cia; tambm muito difcil encontrar museus onde no seja consistente a idia da importncia das atividades
educativas; um tipo de acervo que quase sempre se encontra em museus, mesmo de porte muito reduzido, so
os acervos de documentos sobre suporte-papel, as colees arquivsticas. Como podemos ver, uma seleo
arbitrria, como qualquer seleo...
Marcus Granato e Cludia Penha Santos, abordando objetos museolgicos, examinam no somente as ex-
posies, mas as aes que lhes do origem, a partir dos objetos. Especialistas em um museu cientfco de
grande complexidade, partem da divulgao e disseminao dos acervos, por meio de exposies ou de outros
meios passando pelas aes de pesquisa, coleta, documentao e chegando at a conservao e exposio.
Segundo os dois autores, foi um modo de problematizar cada uma dessas aes. O artigo apresenta conside-
raes sobre o tema curadoria, procurando discutir algumas questes que dele decorrem, a comear pela
conceituao dos termos curador e curadoria desde um ponto de vista amplo at a situao da questo em
nosso pas. Um dos pontos altos do texto a refexo que fazem sobre a relao entre curadoria e museologia.
Trata-se de uma refexo bastante necessria, num momento em que a formao bsica do profssional de
museus tem sido centro de diversos debates. A partir da perspectiva da criao, no Brasil, de uma srie de
novos cursos de graduao, tanto de Museologia como de Conservao, Granato e Santos tentam vislumbrar
os desafos e perspectivas futuras. O artigo seguinte relaciona-se ao tema, acervos museolgicos, e podemos
dizer que um desdobramento dele: os acervos documentais.
Talvez esse tema no fosse relacionado, caso no tivesse sido feita a constatao de que todo museu tem
colees de documentos sobre suporte papel. muito comum que pessoas prximas instituies museais locais
acabem doando para essas instituies, documentos pessoais, fotografas e at arquivos completos. Duas tcni-
cas nessa especialidade foram convidadas a escrever sobre o assunto, a partir da perspectiva a atuao diria no
tratamento de colees documentais no ambiente museal: Clia Regina Araujo Alves e Nila Rodrigues Barbosa.
As duas autoras esclarecem que a curadoria de acervos documentais uma atividade que permite um dilogo
interdisciplinar entre a Histria, a Arquivologia e Museologia. Discutem tecnicamente a metodologia para cura-
doria de documentos textuais e iconogrfcos, que envolve o processamento tcnico das colees, traduzido em
pelo menos trs aspectos bsicos: compreender o processo de formao da coleo em si; retirar as informaes
das unidades documentais e, fnalmente, gerar a documentao museolgica. Alves e Santos esclarecem que
a curadoria desses acervos consiste na anlise do conjunto documental de cada uma de suas unidades e na
elaborao de uma documentao que contem as informaes levantadas pela atividade de pesquisa sobre a
documentao. preciso considerar nessa curadoria a infuncia de vertentes historiogrfcas s quais estejam
ligados a instituio e o responsvel tcnico em sintonia com os procedimentos de organizao documental.
1
1
|
M
e
d
i
a
o
,
c
u
r
a
d
o
r
i
a
,
m
u
s
e
u
.
U
m
a
i
n
t
r
o
d
u
o
e
m
t
o
r
n
o
d
e
d
e
f
n
i
e
s
,
i
n
t
e
n
e
s
e
a
t
o
r
e
s
O ltimo artigo trata de um tema que est ligado instituio museal como um todo, e por esse motivo foi
posto na ltima posio a questo da funo educativa dos museus. Essa funo tradicionalmente identi-
fcada como afeita a essas instituies, de modo que sua colocao como fecho da obra busca apresent-la
como relacionada a outro resultado da mediao (o primeiro, como vimos, so as exposies). Magaly Cabral e
Aparecida Rangel, especialistas muito atuantes nesse setor, discutem o papel educacional do museu, qualquer
que seja seu tamanho, localizao ou tipologia, afrmando que tal papel no somente importante, mas sim
detentor de uma ampla responsabilidade social, pois devemos reconhecer que o museu uma organizao
cultural situada numa estrutura contraditria e socialmente desigual. E o Setor Educativo de um museu
que faz a ponte entre ele e o pblico. Segundo as duas autoras, uma concepo de que a ao educativa
em museus requer que seja pensada com rigor at que se chegue proposta de pensar a ao educativa em
museus em forma de curadoria. Partem do pressuposto que a rea educativa deve estar presente em todas
as atividades do museu, principalmente na concepo e montagem de exposies, como forma de fazer com
que os processos educativos decorrentes da exposio museolgica ocorram em alto nvel. Trata-se de uma
reivindicao observada em todos os museus, o que pode signifcar que, apesar da aparente unanimidade em
torno das aes educativas, possvel que o lugar dessas atividades dentro dos museus ainda no tenha sido
exatamente determinado.
A apresentao dos temas, da estrutura da obra e dos artigos desse Caderno de Diretrizes Museolgicas 2
busca frisar que, embora seja possvel um passeio sem programa por suas pginas e suas imagens em movi-
mento (as do vdeo), no e esse, de forma alguma, o conselho que o grupo que o produziu daria ao leitor.
Certamente no nosso objetivo esgotar o tema curadoria, nem sua relao como mediao e educao.
Essa ambio, por sinal, seria de realizao impossvel. Mas toda a estrutura baseia-se no trabalho presente e
passado de autores escorados em conhecimentos amplos, tanto do ponto de vista geral, dito terico, quanto
em uma prtica museal que tem como caracterstica fundamental a solidez. essa caracterstica a viga
mestra dessa obra, e nela reside a possibilidade de que outras temticas, no abarcadas nos limites deste
Caderno, possam tambm ser fertilizadas.
Mas possvel dizer ao leitor que faa como lhe seja mais til ou lhe d mais prazer: uma leitura sistemtica
ou um passeio pelas pginas seguintes; comece pelo comeo ou pelo fm; veja o vdeo antes ou depois. No
importa. Independente de toda forma, possvel que um objetivo que articulou as intenes de organizador,
autores e editores, se cumpra: apresentar a mediao e a curadoria como questo, problemas e potencialidade
que merece a ateno dos profssionais de museus. Enfm, como um problema contemporneo.
1
2
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
DEFINIO DE CURADORIA
Os caminhos do enquadramento,
tratamento e extroverso
da herana patrimonial
Maria Cristina Oliveira Bruno
p
a
r
t
e
1
A histria de um conceito no , de forma alguma, a de seu refnamento progressivo, de sua racio-
nalidade continuamente crescente, de seu gradiente de abstrao, mas a de seus diversos campos de
constituio e de validade, a de suas regras sucessivas de uso, a dos meios tericos mltiplos em que
foi realizada e concluda a sua elaborao.
Georges Canguilhem,1990
O artigo ora apresentado foi elaborado com o objetivo de indicar alguns caminhos que tm sido percorridos em
direo defnio conceitual sobre curadoria e que aproximam diferentes tempos histricos, distintos campos
de conhecimento e mltiplos atalhos para seus usos. Trata-se, em especial, de um ensaio que busca desvelar a
teia de infuncias que ampara a utilizao e os mltiplos impactos contemporneos do referido conceito.
Defnir um conceito com larga e difusa aplicao, como o caso de curadoria, pressupe enunciar as quali-
dades essenciais de algo que o singularize, mas tambm, limitar, demarcar, procurar razes e razes, buscar
explicaes e referendar constataes. uma operao intelectual de mo dupla, pois, por um lado, h o
impulso para buscar razes precisas e marcas histricas contundentes, mas, por outro, emergem as foras que
valorizam a percepo em relao multiplicidade de perspectivas, os usos como refexo de expressiva mas-
sifcao e os reiterados confrontos intelectuais em funo das diversas aplicaes conceituais.
Defnir , portanto, conviver com tenses, articular antagonismos para possibilitar esclarecimentos, permitir
avanos em campos de conhecimento, ter a liberdade para fazer opes e diminuir as distncias entre aqueles
que sabem e ensinam e aqueles que aprendem e consomem. Defnir , tambm, determinar a extenso de um
conceito, indicar o seu verdadeiro sentido e mapear as suas aplicaes, procurando decodifcar os limites e reci-
procidades em relao aos diferentes usos. Defnir implica, ainda, em procurar se desvencilhar das armadilhas que
as tradues dos distintos idiomas nos colocam quando tratamos com conceitos de aplicao universal.
A partir dessas consideraes iniciais e compreendendo que o conceito de curadoria tem uma trajetria de
difcil mapeamento, este ensaio procura entrelaar trs perspectivas: alguns aspectos do percurso histrico do
conceito de curadoria que geraram heranas relevantes para a atual proposta de defnio; os matizes de sua
aplicao contempornea que permitem observar os refexos difusos desta herana e as respectivas reciproci-
dades entre o delineamento do perfl profssional do curador e o essencial do processo curatorial desenvolvido
pelos museus. Cabe registrar que as refexes aqui apresentadas privilegiam o contexto dos museus e as rela-
es curatoriais que se estabelecem com os seus acervos e colees.
Defnir , sobretudo, expressar um ponto de vista, registrar uma anlise resultante de uma experincia e propor
um caminho de percepo a partir de um olhar subjetivo e contaminado pelas artimanhas da prpria formao
profssional.
1
7
|
O
s
c
a
m
i
n
h
o
s
d
o
e
n
q
u
a
d
r
a
m
e
n
t
o
,
t
r
a
t
a
m
e
n
t
o
e
e
x
t
r
o
v
e
r
s
o
d
a
h
e
r
a
n
a
p
a
t
r
i
m
o
n
i
a
l
.
A elaborao deste ensaio levou em considerao que curadoria um conceito em constante transformao
com origem e longo caminho permeados por aes e refexes relevantes para o cenrio museolgico, mas,
pela forte capacidade de migrao e de pouso em diferentes contextos, levou para outros cenrios os atributos
que caracterizam e valorizam as aes curatoriais inerentes aos acervos e colees.
Nesse sentido, este texto est ancorado em uma perspectiva museolgica e privilegia um olhar em relao
aplicao do conceito de curadoria no contexto contemporneo dos processos museolgicos, a partir da
valorizao de idias e prticas pretritas e da constatao de que se trata de um conceito que tem sido apro-
priado, ressignifcado e utilizado pelos mais diferentes campos profssionais.
ANTECEDENTES: OS PERCURSOS QUE CONTRIBURAM PARA
O DESENHO CONTEMPORNEO DO CONCEITO DE CURADORIA
A histria dos museus testemunha, pelo menos h quatro sculos, o surgimento das atividades de curadoria em
torno das aes de seleo, estudo, salvaguarda e comunicao das colees e dos acervos.
Desde o incio desse percurso, as aes curatoriais denotaram certa cumplicidade com o pensar e o fazer em
torno de acervos de espcimes da natureza e artefatos, evidenciando o seu envolvimento simultneo com as
questes ambientais e culturais. Dessa forma, o conceito de curadoria tem em suas razes as experincias
dos gabinetes de curiosidades e dos antiqurios do renascimento e dos primeiros grandes museus europeus
surgidos a partir do sculo XVII.
Essas razes desvelam facetas do colecionismo, das expedies, dos saques e dos processos de espoliao de
referncias patrimoniais, como tambm esto na origem do surgimento de diversos campos de conhecimento
que se estruturaram a partir dos estudos das evidncias materiais da cultura e da natureza. Cabe sublinhar que
a origem das aes curatoriais carrega em sua essncia as atitudes de observar, coletar, tratar e guardar que,
ao mesmo tempo, implicam em procedimentos de controlar, organizar e administrar.
Essa teia de infuncias que chegou at nossos dias est impregnada, sobretudo, do exerccio da capacidade
de olhar, entendendo que:
O olhar tem que ter os atributos principais: lucidez e a refexidade.
Para ser lcido, o olhar tem que se libertar dos obstculos que cerceiam a vista; para ser refexo, ele tem que
admitir a reversibilidade, de modo que o olhar que v possa por sua vez ser visto.
1
1
ROUANET, Srgio Paulo. O Olhar Iluminista. In: NOVAES, Adauto. O Olhar. So Paulo: Editora Schwarcz, 1989. p. 131.
1
8
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
A extensa bibliografa sobre a histria dos museus
2
procura explicar as razes, as estruturas de longa durao
e os momentos de ruptura que tm envolvido o colecionismo e as entranhas dos processos institucionais que
so responsveis pelo estudo, preservao e divulgao das colees no mbito dos museus. Essa mesma
bibliografa informa que, em sua origem, as aes curatoriais bifurcaram-se em duas rotas que tm sido
percorridas ao longo dos sculos, em alguns momentos cruzando-se, em outros distanciando-se e, ainda,
potencializando a gerao de novos caminhos.
Por um lado, os acervos de espcimes da natureza necessitavam de aes inerentes a proceder cura de suas
colees e, por outro, os acervos artsticos exigiam aes relativas a proceder manuteno de suas obras,
impondo aes diferenciadas, permitindo a diversidade de modelos institucionais, potencializando a especia-
lizao de museus e o surgimento de diferentes categorias profssionais: o curador e o conservador. Essa pers-
pectiva consolidou, por exemplo, as diferenas iniciais entre os perfs dos Museus de Histria Natural em rela-
o aos Museus de Arte, e at o sculo XIX essa diversidade tipolgica caracterizou o universo dos museus.
A grande dispora museolgica, ocorrida nesse perodo, que responsvel pelo surgimento de instituies
congneres em todos os continentes, exportou a forma de trabalho curatorial como essencial para a atuao
dos museus. A partir desse momento, verifca-se que os elementos europeus referentes origem do conceito de
curadoria ampliam-se e mesclam-se com distintas trajetrias locais, permitindo a percepo de outros matizes
para a elaborao da defnio de curadoria. dessa forma que a potencialidade patrimonial do Brasil surge
para essa defnio e o prprio conceito de curadoria envolve-se com a nossa realidade museolgica.
Entretanto, essa diversidade no minimizou a importncia do estudo para a defnio das aes curatoriais,
permitindo cunhar no mago do conceito de curadoria a perspectiva de produo de conhecimento novo a
partir de colees e acervos museolgicos, reverberando os refexos da importncia dos museus nos meios das
instituies cientfcas e culturais.
Assim, possvel constatar que o conceito de curadoria surgiu infuenciado pela importncia da anlise das
evidncias materiais da natureza e da cultura, mas tambm pela necessidade de trat-las no que corresponde
manuteno de sua materialidade, sua potencialidade enquanto suportes de informao e exigncia de
estabelecer critrios de organizao e salvaguarda. Em suas razes mais profundas articulam-se as intenes
e os procedimentos de coleta, estudo, organizao e preservao, e tm origem as necessidades de especia-
lizaes, de abordagens pormenorizadas e do tratamento curatorial direcionado a partir da perspectiva de um
campo de conhecimento.
A bifurcao acima referida infuenciou, ainda, o surgimento de diferentes nichos profssionais no inte-
rior das instituies que tm sob sua responsabilidade colees e acervos. Desta forma, os cuidados com a
2
Cf. Abreu, 1996; Barbuy, 1999; Benoist, 1971; Bittencourt, 1996; Bolaos, 2002, Bruno, 1999; Fernandez, 1999; Fontanel, 2007; Kavanagh, 1990,
Lopes, 1997; Pearce, 1994; Schaer, 1993. Para a referncia complete, ver Bibliografa, ao fm deste artigo.
1
9
|
O
s
c
a
m
i
n
h
o
s
d
o
e
n
q
u
a
d
r
a
m
e
n
t
o
,
t
r
a
t
a
m
e
n
t
o
e
e
x
t
r
o
v
e
r
s
o
d
a
h
e
r
a
n
a
p
a
t
r
i
m
o
n
i
a
l
.
manuteno permitiram o delineamento de uma rota independente, ainda hoje com singular importncia, que
acolhe as atividades de conservao e restauro dos bens patrimoniais, amparando a profsso de conservador-
restaurador e determinando a necessidade de formao especfca.
Este ensaio est pautado, portanto, pela trajetria das aes curatoriais que subsidiaram a funo do curador
e de seus respectivos refexos nos processos museais. A partir desse ponto de vista possvel reconhecer que as
razes conceituais do conceito de curadoria, em especial, ramifcaram-se nas estratigrafas dos solos das ins-
tituies museolgicas dedicadas s cincias e s tardiamente, na segunda metade do sculo vinte, migraram
para as instituies dos campos das artes. Da mesma forma, as aes curatoriais at o perodo acima referido,
restringiram-se aos procedimentos de estudos (pesquisas de diferentes campos de conhecimento) e salvaguar-
da (atividades de conservao e documentao) das colees e acervos e, na contemporaneidade, subsidiam os
processos de extroverso dos bens patrimoniais, consolidando aes de comunicao e educao.
No foram somente as colees e os acervos relativos aos ramos da Histria Natural, mas tambm aqueles
refe-rentes aos estudos antropolgicos, arqueolgicos, histricos, entre outros, que se benefciaram das noes
e dos procedimentos curatoriais, que consolidaram a importncia dos museus, contriburam para a elaborao
de metodologias cientfcas, defniram a hierarquia de campos profssionais e permitiram a preservao patri-
monial, uma vez que proceder cura passou a ser interpretado como um conjunto de procedimentos inerentes
seleo, coleta, registro, anlise, organizao, guarda e difuso do conhecimento produzido. Trata-se de uma
articulao de procedimentos tcnicos e cientfcos que tm contribudo sobremaneira para o nosso conheci-
mento relativo s questes ambientais e culturais de interesse para a humanidade. Nesse sentido, as noes
herdadas de organizao e guarda ampliaram e particularizaram os aspectos constitutivos da defnio de
curadoria e, ao mesmo tempo, consolidaram diversos campos de conhecimento. Essa defnio, gradativa-
mente, passou a ser difundida a partir de publicaes de peridicos especializados das mais variadas reas
cientfcas, impregnou os textos dos trabalhos acadmicos no ambiente universitrio e sinalizou em relao a
sua expanso, nomeando os certames cientfcos.
De certa forma, as aes curatoriais que contriburam para o delineamento do perfl das instituies mu-
seolgicas e permitiram a emergncia de reas de conhecimento, evidenciam a importncia da articulao
cotidiana de diferentes trabalhos, mas uma observao pormenorizada dessas instituies nos faz perceber
que essa herana chegou ao sculo XX permeada por aes isoladas, com pouca inspirao democrtica e vo-
cacionada ao protagonismo. No so raros os casos que emergem da bibliografa especializada que apontam o
curador como o responsvel por um acervo, como o especialista de um campo de conhecimento, como aquele
profssional apto a assumir a direo de um museu.
Essas idiossincrasias, de alguma forma distanciam a defnio de curadoria, que compreendida como o con-
junto de atividades solidrias, em relao defnio de curador, quando esse visto como um profssional
onipotente em relao dinmica institucional. Essa contradio tambm deixou marcas na organizao dos
2
0
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
museus, na concepo dos cursos de formao profssional e contribuiu com a rpida migrao para outros
contextos externos ao universo museolgico.
Entretanto, possvel considerar que em sua origem remota a defnio de curadoria, contextualizada pela
trajetria dos museus, est apoiada na constatao que os acervos e colees exigem cuidados que, por sua
vez, so reconhecidos como procedimentos tcnicos e cientfcos e tm sido responsveis pela organizao de
metodologias de trabalho de diferentes cincias.
MATIZES DA APLICAO CONTEMPORNEA DAS AES CURATORIAIS:
OS IMPACTOS DA MIGRAO E DA VULGARIZAO CONCEITUAIS.
As aes curatoriais, com distintos graus de especializaes, alcanaram o sculo passado e encontraram
os profssionais de museus envolvidos em grandes confrontos, reconhecendo e valorizando inditos recortes
patrimoniais, sofsticando os seus processos de trabalho, abrindo as suas portas para novos segmentos das
sociedades e constatando a necessidade do trabalho interdisciplinar. As heranas dos perodos anteriores
marcaram a defnio de curadoria nos seguintes aspectos:
valorizao da especializao na formao acadmica e no exerccio profssional;
importncia da tutela, com vistas aos estudos, tratamento e extroverso dos acervos e colees;
relevncia e independncia da fgura do curador, como o profssional responsvel pela dinmica institucional;
projeo da importncia dos museus nos circuitos universitrios e culturais.
A partir da segunda metade do sculo XX, as anlises crticas, sobejamente discutidas pelas mais diferentes cor-
rentes bibliogrfcas
3
, impulsionaram a experimentao de inditos processos de ao museolgica, valorizan-
do a participao comunitria no que tange aos procedimentos de salvaguarda e comunicao e estabelecen-
do uma nova dinmica em relao s noes de acervo e colees. Os impactos dessas crticas geraram, ainda,
novos modelos museolgicos, como os museus comunitrios e os ecomuseus e movimentos de profssionais
que, hoje, so reconhecidos como integrantes da Sociomuseologia. Nesse contexto, o conceito de curadoria
no encontrou eco e as metodologias de trabalho implementadas tm sinalizado para processos transdisci-
plinares, coletivos e de auto-gesto.
Nesse mesmo perodo, contraditoriamente, a fgura do curador j contava com espao central nas instituies
museolgicas de carter cientfco e se confundia com o nico profssional apto a responder pelas colees e
acervos de sua especialidade, em todos os nveis da ao museolgica.
3
Cf., por exemplo, Chagas, 1999; Desvalles, 1992; Guarnieri, 1990; Hernndez, 1998; Huyssein, 2000; Varine, 1996, entre muitos outros autores.
Para a referncia complete, ver Bibliografa, ao fm deste artigo.
2
1
|
O
s
c
a
m
i
n
h
o
s
d
o
e
n
q
u
a
d
r
a
m
e
n
t
o
,
t
r
a
t
a
m
e
n
t
o
e
e
x
t
r
o
v
e
r
s
o
d
a
h
e
r
a
n
a
p
a
t
r
i
m
o
n
i
a
l
.
Da mesma forma, entrelaado em contradies, o processo de trabalho curatorial passou a ser relevante para
as instituies com acervos materiais e imateriais artsticos, histricos, de cultura popular, entre muitos
outros e, ainda, ampliou os seus tentculos atingindo outros modelos de instituio, como centros culturais,
centros de memria e galerias de arte. Esse movimento entre funes, responsabilidades e perfs profssionais
potencializou as atividades curatoriais, orientando-as tambm para as aes de exposio e de educao.
Entretanto, possvel constatar que o profssional curador e o conceito de curadoria fcaram delimitados aos
museus tradicionais, impregnados pela projeo das especializaes, pela relevncia dos profssionais e pela
potencialidade cientfco-cultural dos acervos e colees.
Nesse percurso, o conceito de curadoria passou a desempenhar um papel central em relao ao estudo, orga-
nizao e visibilidade dos acervos de arte e da produo artstica, com especial nfase para a produo con-
tempornea. Dessa forma, a defnio de curadoria ganhou atributos novos que trouxeram para esse cenrio a
super valorizao das atividades expositivas das colees e dos acervos, a possibilidade de articulao com os
prprios autores das obras e um protagonismo sem precedentes que se mistura com o mercado de artes, com
os canais de comunicao e com a projeo social. Enquanto a herana proveniente dos museus de cincias
valoriza o curador, que o especialista de sua prpria instituio e com enorme projeo interna no que diz
respeito aos destinos da instituio, os museus de arte no priorizam essas caractersticas e, muitas vezes,
abrigam trabalhos curatoriais externos ao seu universo profssional.
Assim, nas ltimas dcadas a defnio de curadoria tem sido permeada pelas noes de domnio sobre o co-
nhecimento de um tema referendado por colees e acervos que, por sua vez, permite a lucidez do exerccio do
olhar, capaz de selecionar, compor, articular e elaborar discursos expositivos, possibilitando a reversibilidade
pblica daquilo que foi visto e percebido, mas considerando que as aes de coleta, conservao e documen-
tao j foram realizadas. Para alguns, a implementao de atividades curatoriais depende especialmente
de uma cadeia operatria de procedimentos tcnicos e cientfcos, e o domnio sobre o conhecimento que
subsidia o olhar, acima referido, na verdade a sntese de um trabalho coletivo, interdisciplinar e multiprofs-
sional. Para outros, o emprego da defnio de curadoria s tem sentido se for circunscrito a uma atividade
que refita um olhar autoral, isolado e sem infuncias conjunturais que prejudiquem a exposio de acervos e
colees, conforme os critrios estabelecidos em funo do domnio sobre o tema.
O alcance do universo das artes, a resistncia nos contextos das instituies cientfcas, a cumplicidade com os
meios acadmicos e, mais recentemente, a convivncia com os cenrios de comunicao de massa, trouxeram
defnio de curadoria as perspectivas de popularizao e de vulgarizao que difcultam o mapeamento
contemporneo sobre os limites desse alcance. Reconhece-se, entretanto, que essa defnio j extrapolou e
muito o universo das instituies museolgicas e tem sido aplicada em diversos contextos, onde os parme-
tros de estabelecer critrios para seleo de referncias de um universo referido, de organizar dados para a
realizao de um processo comunicacional, de tutelar a guarda e extroverso de acervos so relevantes para
o desenvolvimento de projetos que tm caracterizado os campos das artes e das cincias.
2
2
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
Assim, os matizes contemporneos que podem colaborar com o desenho da defnio de curadoria so difusos,
cada vez mais pulverizados em diferentes campos de atuao profssional e, muitas vezes, de difcil manejo
quando confrontados com alguns paradigmas contemporneos que pregam a importncia do trabalho inter-
disciplinar, que exigem das instituies cientfcas e culturais a possibilidade de participao comunitria em
suas decises em relao aos acervos e colees e que mobilizam diferentes estratgias para dar um sentido
social aos bens patrimoniais.
A IMPORTNCIA DOS PROCESSOS MUSEOLGICOS PARA A DEFINIO DE CURADORIA
Defnir curadoria, a partir de um olhar permeado por noes museolgicas, permite perceber a importncia da
cadeia operatria de procedimentos de salvaguarda (conservao e documentao) e comunicao (exposio
e ao educativo-cultural) que, uma vez articulados com os estudos essenciais relativos aos campos de co-
nhecimento responsveis pela coleta, identifcao e interpretao das colees e acervos, so fundamentais
para o desenvolvimento dos museus e das instituies congneres.
A defnio contempornea pode trazer parmetros para outros contextos institucionais que tm utilizado o
conceito de curadoria, extrapolando a ao museolgica, mas para os museus as pers-pectivas de processo
e de cadeia operatria so essenciais. Essas perspectivas, por sua vez, abrem caminhos para as exigncias
relativas s necessidades de planejamento e de avaliao no mbito dos museus e, ao mesmo tempo, implicam
na assimilao de desafos inditos no que tange qualidade tcnica, prestao de contas pblicas e
transparncia nos procedimentos.
A partir das heranas j mencionadas e da constatao dos insumos contemporneos, essa defnio deve
articular as noes de olhar refexivo, ou seja, aquele que permite a percepo, a seleo, a proteo e a
exposio de evidncias materiais da cultura e da natureza e o domnio sobre o conhecimento de colees e
acervos, com as perspectivas de aes interdependentes que estabelecem a dinmica necessria aos proces-
sos curatoriais. Essa articulao, por sua vez, aproxima as intenes e as idias curatoriais das diferentes
expectativas que as sociedades projetam nas instituies patrimoniais. Essa defnio contempla tambm a
funo que os acervos, colees e museus devem desempenhar na contemporaneidade.
Assim, refetir sobre a defnio de curadoria permite reconhecer que para a efetivao dos processos curato-
riais fundamental o exerccio do olhar, a implementao de atividades solidrias e o respeito s exigncias
socioculturais. Trata-se, em sua essncia, de uma defnio que no reserva espao para aes isoladas, pro-
tagonismos individuais ou negligncia em relao aos fruidores das atividades curatoriais.
Hoje, essa defnio encontra maior aplicao e visibilidade no mbito dos procedimentos expogrfcos das
instituies museolgicas e mesmo nos projetos expositivos que so viabilizados em outros espaos pblicos.
2
3
|
O
s
c
a
m
i
n
h
o
s
d
o
e
n
q
u
a
d
r
a
m
e
n
t
o
,
t
r
a
t
a
m
e
n
t
o
e
e
x
t
r
o
v
e
r
s
o
d
a
h
e
r
a
n
a
p
a
t
r
i
m
o
n
i
a
l
.
Os termos curadoria e curador tm sido utilizados com freqncia e de forma restrita para indicar o tipo de
trabalho e o perfl do protagonista, inerentes concepo de discursos expositivos, ou seja: a realizao de
uma exposio depende do domnio sobre os acervos e colees, da potencialidade de seleo e da capacidade
de elaborao de hipteses para a constituio de discursos expositivos.
As tarefas que envolvem a extroverso e o tratamento pblico de temas e acervos refetem grande afnidade com
as atividades museolgico-curatoriais, tm sido abordadas por correntes bibliogrfcas vinculadas aos aspectos
metodolgicos da produo dos museus e dos processos museolgicos (Cury, 2005; Fernandez & Fernandez,
1999; Gmez, 2005; Montaner, 1995; Rico, 2006; Thompson, 1992, entre outros autores) e podem ser resumidas
nas seguintes operaes:
delimitao do recorte patrimonial no mbito das colees e dos acervos, a partir de intenes pr-
estabelecidas;
concepo do conceito gerador a partir da delimitao do enfoque temtico e do conhecimento das
expectativas do pblico em relao temtica selecionada, valorizando as vocaes preservacionistas e
educacionais dos discursos expositivos;
seleo e enquadramento dos bens identifcados como referenciais para a abordagem do tema proposto,
respeitando as articulaes com os processos de conservao e documentao;
conhecimento do espao expositivo e de suas potencialidades pblicas;
defnio dos principais objetivos do discurso expositivo e dos critrios para avaliao do produto ex-
pogrfco, respeitando as potencialidades de ressignifcao das colees e acervos, as necessidades de
entrelaamento com as premissas educacionais e a realidade conjuntural da instituio;
concepo do roteiro do circuito expogrfco, a partir do delineamento das questes de infra-estrutura e
das linguagens de apoio;
elaborao do desenho expogrfco, indicando as caractersticas tcnicas da proposta expositiva e
organizao e realizao do projeto executivo, considerando os parmetros de produo, cronograma,
oramento e avaliao.
As operaes acima sintetizadas permitem avaliar o grau de interdependncia entre as diferentes aes cura-
toriais e a relevncia da noo de processo para a realizao das atividades de curadoria. Englobam, em sua
dinmica, a importncia do conhecimento acumulado em diversos campos j estabelecidos, a expectativa da
produo de novas anlises, o domnio tcnico sobre os mais variados trabalhos e a conscincia de que o resul-
tado dessas operaes deve servir s sociedades. As atividades museolgico-curatoriais so, imperiosamente,
aes coletivas e multiprofssionais. Nesse sentido, o protagonismo do curador deve ser o refexo de sua capaci-
dade de liderana e de sua compreenso em relao s reciprocidades entre as atividades acima indicadas.
Apesar das contradies geradas ao longo do tempo, o conceito de curadoria ainda referencial para a concep-
o e desenvolvimento dos museus e instituies congneres, inspirador para a sensibilizao dos estudantes
que procuram especializaes nesses campos profssionais, discutido em uma vasta bibliografa pontuada por
2
4
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
distintas reas cientfcas e ainda potencializado pelos meios de comunicao de massa. So evidncias, sem
dvida, de sua atualizao e relevncia nos dias atuais.
Assim, pode-se considerar que curadoria a somatria de distintas operaes que entrelaam intenes, re-
fexes e aes, cujo resultado evidencia os seguintes compromissos:
a identifcao de possibilidades interpretativas reiteradas, desvelando as rotas de ressignifcao dos
acervos e colees;
a aplicao sistmica de procedimentos museolgicos de salvaguarda e de comunicao aliados s
noes de preservao, extroverso e educao e
a capacidade de decodifcar as necessidades das sociedades em relao funo contempornea dos
processos curatoriais.
Em um olhar retrospectivo possvel constatar que a trajetria da defnio do conceito de curadoria evidencia ten-
tativas de refnamento progressivo, mas tem sido pautada pela tenso entre os diferentes campos que interagem nos
museus, permeados pelos caminhos do enquadramento, do tratamento e da extroverso da herana patrimonial.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ABREU, Regina. A Fabricao do Imortal: memria, histria e estratgias de consagrao no Brasil. Rio de Janeiro: Lapa: Rocco, 1996.
BARBUY, Heloisa. A exposio universal de 1889 em Paris. So Paulo: Loyola, 1999.
BENOIST, Luc. Muse et Museologie. Paris: Presses Universitaires de France, 1971. (Collection Encyclopdique, Que sais-je?, 904).
BITTENCOURT, Jos Neves. Gabinetes de Curiosidades e museus: sobre tradio e rompimento. Anais do Museu Histrico Nacional. Rio de
Janeiro, v.2,1996.
BOLAOS, Maria (edit.). La Memria del mundo cien aos de museologia 1900-2000. Gjon: Ediciones TREA, 2002.
BRUNO, Maria Cristina. Musealizao da Arqueologia: um estudo de modelos para o Projeto Paranapanema, So Paulo. Lisboa: Universidade
Lusfona de Humanidades e Tecnologias, 1999. (Cadernos de Sociemuseologia, 17)
CANGUILHEM, Georges. La sant: concept vulgaire et question philosophique. Toulouse: Sables,1999.
CHAGAS, Mrio S. H uma gota de sangue em cada museu: a tica museolgica de Mario de Andrade. Lisboa: Universidade Lusfona de
Humanidades e Tecnologias, 1999. (Cadernos de Sociomuseologia, 13).
DESVALLES, Andr. Vagues: une anthologie de la nouvelle musologie. Mcon: Editions W: M.N.E.S., v.2, 1994. (Collection Musologique).
FERNANDEZ, Luiz Alonso. Museologia: introduccin a la teoria y practica del museo. Madrid: ISTMO, 1993.
FONTANEL Batrice. LOdysse ds Muses. Paris: ditions de La Martinire, 2007.
GUARNIERI, Waldisa R. C. Conceito de cultura e sua inter-relao com o patrimnio cultural e preservao. In: Cadernos Museolgicos,
Rio de janeiro, n.3, 1990.
HERNNDEZ, Francisca. El museo como espacio de comunicacion. Gijon: Ediciones TREA, 1998.
HUYSSEIN, Andras. Seduzidos pela memria: arquitetura, monumentos e mdia. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2000.
KAVANAGH, Gaynor. History Curatorship. Washington: Smithsonian Institution Press, 1990.
LOPES, Maria Margareth. O Brasil descobre a pesquisa cientfca: os museus e as cincias naturais do sculo XIX. So Paulo: HUCITEC, 1997.
PEARCE, Susan M. Museums and appropriation of culture. London: Atlantic Highland: Athlone Press, 1990.
ROUANET, Srgio Paulo. O Olhar Iluminista. In: o Olhar. So Paulo. Editora Schwarcz, 1989.
SCHAER, Roland. Linvention ds Muses. Evreux: Gallimard, 1993. (Dcouvertes Gallimard, 187).
VARINE, Hugues. Respostas de Hugues de Varine s perguntas de Mrio Chagas. Lisboa: Universidade Lusfona de Humanidades e Tecnolo-
gias, 1996. (Cadernos de Sociomuseologia, 5).
2
5
|
O
s
c
a
m
i
n
h
o
s
d
o
e
n
q
u
a
d
r
a
m
e
n
t
o
,
t
r
a
t
a
m
e
n
t
o
e
e
x
t
r
o
v
e
r
s
o
d
a
h
e
r
a
n
a
p
a
t
r
i
m
o
n
i
a
l
.
A EXPOSIO COMO PROCESSO
COMUNICATIVO NA POLTICA
CURATORIAL
Nelson Sanjad
Carlos Roberto F. Brando
O conceito de curadoria de colees desenvolveu-se empiricamente, antes de ser formalmente sistematizado.
Curadoria , portanto, uma prtica gerada pelo processo de interiorizao nos museus, de normas, usos e obriga-
es, tal como na perspectiva do habitus de Bourdieu
1
. Trata-se de um sistema de disposies, durveis e trans-
ponveis, que integra todas as experincias passadas e que funciona como uma matriz de percepes, de aprecia-
es e de aes. A construo do habitus curatorial exige no s o domnio individual da tcnica, mas tambm, e
mais decisivamente, a inscrio coletiva em uma tica profssional no interior do microcosmo do museu.
Curadoria, ora entendida como a prtica de organizar mostras especfcas, ora como um conjunto de tcnicas
objetivando a conservao de objetos, defnida aqui como o ciclo completo de atividades relativas aos acervos,
compreendendo a execuo ou a orientao da formao e desenvolvimento de colees, segundo uma raciona-
lidade pr-defnida por uma poltica de acervos; a conservao fsica das colees, implicando em solues per-
manentes de armazenamento e em eventuais medidas de manuteno e restauro; o estudo e a documentao,
alm da comunicao e informao, que devem abranger todos os tipos de acesso, divulgao e circulao do
patrimnio constitudo e dos conhecimentos produzidos, para fns cientfcos, educacionais e de formao profs-
sional (mostras de longa durao e temporrias, publicaes, reprodues, experincias pedaggicas, etc.)
2
.
Essa defnio ampla permite situar o papel de um programa de comunicao dos conhecimentos sobre os
acervos em uma poltica institucional abrangente. Nesse sentido, valoriza a comunicao museolgica, re-
conhecendo a riqueza de possibilidades de construo de signifcados pelos museus e seus usurios. Tambm
promove o necessrio balano entre as vrias formas de divulgao de acervos, incluindo as exposies, que
tm linguagem especfca e podem ser focadas ou no em pblicos previamente determinados.
Este captulo pretende introduzir alguns pontos para a refexo sobre a comunicao museolgica em relao
com a poltica curatorial dos museus. Dentre as vrias formas e possibilidades de comunicao entre os mu-
seus e a sociedade
3
, as exposies sero priorizadas em razo de constiturem etapa importante no processo
curatorial, embora esse no se esgote ou fnalize na montagem de exposies. Dessa maneira, o captulo di-
vide-se em trs partes: a primeira abordar, de maneira bastante breve, a relao entre a histria do museu e o
desenvolvimento do acervo, cuja compreenso basilar para o delineamento de uma poltica curatorial, desta-
cando como a composio dos acervos registra as transformaes pelas quais os museus passaram no tempo,
seja em nvel macro (transformaes estruturais e epistemolgicas) ou em nvel micro (injunes polticas,
1
Cf. BOURDIEU, Pierre. The logic of practice. Cambridge: Polity Press, 1990 [1
a
Ed., 1980].
2
Esta defnio devedora do relatrio preparado por comisso designada pelo reitor da Universidade de So Paulo (USP), Jos Goldemberg, e
presidida pelo professor Jos Jobson de Andrade Arruda, que discutiu o conceito de curadoria cientfca e seu papel organizador em um museu
universitrio. Por sugesto dessa comisso, foram reunidos em uma s instituio, o atual Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE/USP), os acervos
do ento MAE, os acervos similares do Museu Paulista, do Instituto de Pr-Histria e do Acervo Plnio Ayrosa, ento depositado no Departamento de
Antropologia da Faculdade de Filosofa, Letras e Cincias Humanas/USP (Brando e Costa, 2007).
3
Alguns autores, como Cabral (Cf. CABRAL, Magaly. Algumas refexes sobre os princpios fundamentais da Comunicao Museolgica. In: Seminrios
de Capacitao Museolgica. Anais... Belo Horizonte: Instituto Cultural Flvio Gutierrez. p. 319-326.), tm chamado a ateno para as vrias formas
de comunicao que os museus estabelecem com os seus pblicos. Incluem desde o servio de atendimento de chamadas telefnicas at programas
educativos, passando pelos impressos e pela arquitetura do edifcio. Todas essas formas de comunicao podem, inclusive, interferir na leitura e
apreciao que o pblico faz das exposies (Cf. HOOPER-GREENHILL, Eilean. Museums and their visitors. Londres: Routledge, 1994).
2
7
|
A
e
x
p
o
s
i
o
c
o
m
o
p
r
o
c
e
s
s
o
c
o
m
u
n
i
c
a
t
i
v
o
n
a
p
o
l
t
i
c
a
c
u
r
a
t
o
r
i
a
l
atuao de dirigentes e curadores, doaes, prioridades de pesquisa, etc.). So apresentadas duas exposies
que exploraram essa relao, como exemplos das possibilidades existentes para a comunicao museolgica.
A segunda e a terceira partes so complementares, pois abordam a exposio enquanto discurso e a recepo
(ou percepo) desse discurso pelos pblicos. A inteno ressaltar a necessidade de estudos que tenham no
horizonte todo o processo curatorial, ou seja, que investiguem e avaliem como ocorre a produo de sentido
nas exposies em relao com essa poltica e tambm como as leituras feitas pelo pblico podem contribuir
para aperfeioar o processo. Parte-se do pressuposto de que essas pesquisas podem ser mais do que ferramen-
tas para avaliao de determinadas aes e para o conhecimento das motivaes do pblico.
MUSEU E ACERVO
Nos ltimos dois sculos, os museus adotaram diferentes modos de organizao e atuaram de acordo com ob-
jetivos e estratgias tambm diferenciados, sendo sucessivamente adaptados ao passo do contexto poltico em
que esto imersos e dos avanos conceituais na compreenso e prtica museolgica
4
. Nesse processo, os museus
ditos enciclopdicos, de origem mais antiga, fragmentaram-se, assumindo carter mais circunscrito e acompa-
nhando a prpria especializao das cincias e humanidades
5
. Os museus da atualidade, no entanto, reconstroem
a integralidade de outrora, correspondendo e abarcando, na soma, as grandes reas de conhecimento nas quais
os acervos so imprescindveis como substrato de pesquisa: Histria Natural, Arqueologia e Etnologia, Cultura
Material e Arte. Recentemente, os museus decidiram incorporar o patrimnio intangvel, suscitando novos de-
safos conceituais, mtodos de trabalho e formatos institucionais
6
.
A eventual perda de conexo de disciplinas, que o formato anterior permitia e que alguns museus contem-
porneos tentam retomar de acordo com novos arranjos institucionais, vem sendo amplamente compensada
pelo crescimento exponencial do nmero de museus, ainda que concentrados nas grandes cidades. Essa nova
rede museal, fortemente cingida a temas e territrios (e no mais a disciplinas ou reas de conhecimento),
ensejou a formao de uma multiplicidade de profssionais mais especializados, enriquecendo o cenrio e
preparando os caminhos de novos e ainda mais importantes saltos qualitativos
7
.
4
Essas complexas transformaes institucionais e epistemolgicas no podem ser reduzidas ao modelo das trs geraesde museus, proposto
por Mc Mannus (Cf. McMANUS, Paulette M. Investigation of exhibition team behaviors and the infuences on them: towards ensuring that planned
interpretations come to fruition.), concebido de maneira evolucionista, eurocntrica e a-histrica por desconsiderar os contextos onde surgem e as
foras polticas e sociais que atuam externa e internamente. Museus no so entidades imunes s contingncias locais, ou que se reproduzem aqui
e alhures de maneira uniforme e sincrnica e tambm no desaparecem ou congelam no tempo quando surgem outros formatos institucionais.
Cabe aos pesquisadores brasileiros (e latino-americanos) que tm adotado o modelo nas suas anlises exercer um pouco mais de crtica e promover
a refexo sobre a viabilidade do prprio modelo. Sobre a relao entre museus e poltica, ver Santos (Cf. SANTOS, Myrian Seplveda dos. Museus
brasileiros e poltica cultural.) e Sanjad (Cf. SANJAD, Nelson. A Coruja de Minerva: o Museu Paraense entre o Imprio e a Repblica, 1866-1907).
5
O museu enciclopdico do sculo XIX norteou, no Brasil, a fundao dos primeiros museus de histria natural: o Museu Nacional (1818), no Rio de
Janeiro, o Museu Paraense (1866), em Belm, e o Museu Paulista (1893), em So Paulo. Nos trs casos esse formato foi substitudo por enfoques
temticos, mais objetivos, preponderantes no rol dos museus atuais, no Brasil e no mundo (Lopes, 1997; Sanjad, 2005).
6
Ver, por exemplo, Cabral (Cf. CABRAL, Magaly. Museus e o patrimnio intangvel: o patrimnio intangvel como veculo para a ao educacional e
cultural) e o conjunto de artigos reunidos em Bittencourt et al. (2007).
7
Tal multiplicao de interesses refete-se na composio dos atuais 30 comits internacionais temticos do International Council of Museums
(ICOM), nos quais so matriculados os cerca de 25.000 membros da organizao, de 150 pases. Esses profssionais so responsveis pela salvaguarda
2
8
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
Os acervos dos museus, tomados em conjunto, detm um patrimnio cultural que, pela multiplicidade de
fruies e leituras que permite, constitui extraordinria ferramenta para a compreenso e documentao do
ambiente e da cultura dos povos. Mas, se tomado especifcamente, o acervo de um museu refete uma seleo
deliberada de objetos, em geral aleatria e circunstancial. Essa seleo depende dos objetivos do museu, do
que se deseja conservar (testemunho, modo de vida, tecnologia, informao, etc.) e, por que no, das crenas
e idiossincrasias dos dirigentes e curadores. Evidentemente, a forma de selecionar objetos (e desenvolver um
acervo) varia conforme o tipo de museu. Se as doaes e compras so mais freqentes nos museus de histria
e de arte, nos museus de cincias o acervo formado pela atividade de coleta regular, planejada e executada
conforme a problemtica cientfca a que se dedicam. Nesse caso, a histria da formao do acervo indis-
socivel da prpria histria da pesquisa cientfca, pois o que coletado e incorporado ao acervo depende, em
grande medida, do que se pesquisa e de como se pesquisa (Sanjad, 2007)
8
.
De maneira geral, o prprio desenvolvimento dos acervos em quantidade de objetos e em diversidade de
materiais determinou a reestruturao dos museus em diversos tipos, a criao das reservas tcnicas e a
conseqente separao entre objetos para exposio e objetos para pesquisa. Contudo, essa separao apenas
parcialmente verdadeira. Se para as cincias naturais ela ocorreu em funo das necessidades de conservao
do material biolgico, sobretudo os typus, nos casos da etnografa, arqueologia, histria e arte ela no existe,
pois os objetos so nicos como artefato e manufatura, diferentemente de um animal taxidermizado, de uma
exsicata ou de uma amostra mineralgica, que representam sries especfcas e podem ser substitudos, nas ex-
posies, por outros exemplares (o que se deseja mostrar no o indivduo, e sim a espcie, o txon). Quanto aos
artefatos, se no fguram nas exposies, so mantidos em reserva tcnica, um espao inventado pelos museus
no apenas para propiciar melhores condies de conservao para os objetos (embora os afastando das vistas
do pblico), mas tambm para salvaguardar os objetos que, por diversos motivos, no tm lugar nas exposies.
O prprio desenvolvimento de tcnicas e exigncias expogrfcas tambm contribuiu para relegar alguns objetos
s reservas tcnicas.
Questes como a histria da formao do acervo, os usos, as funes e a circulao dos objetos no interior de
um museu, so pertinentes a uma poltica curatorial. Por esse motivo, podem e devem ser exploradas na comu-
nicao museolgica. Por exemplo, o Museu Paraense Emlio Goeldi (MPEG) inaugurou, em 2006, a mostra de
longa durao Reencontros: Emlio Goeldi e o Museu Paraense, que trata basicamente das origens do acervo
e do perfl da instituio, ambas localizadas no fnal do sculo XIX, em um dado contexto poltico, econmico
e social. Ali esto expostos os primeiros exemplares do acervo, como a exsicata nmero um (atualmente so
mais de 190 mil) e a primeira urna arqueolgica (atualmente so mais de 40 mil peas). Tambm so expostos
dos testemunhos que a sociedade seleciona, estuda e mantm para as geraes futuras. Seu trabalho envolve aspectos cientfcos, tcnicos, legais e
ticos, exigindo a concorrncia e articulao de saberes de inmeras disciplinas e incontveis tecnologias.
8
Cf. SANJAD, Nelson. O lugar dos museus como centros de produo de conhecimento cientfco. Veja, por exemplo, o caso das colees etnogrfcas,
resultantes do colonialismo e do processo de apropriao do conhecimento oriundo das sociedades no europias. Com a crise desse modelo em
meados do sculo XX, no qual os museus tiveram papel central, os antroplogos viram-se compelidos a parar de coletar ou a negociar com os povos
que estudam a permisso para a coleta e a melhor maneira de fazer isso. Vale destacar, ainda, o estudo de Sanjad (Cf. SANJAD, Nelson. A Coruja de
Minerva... Op. cit) sobre o Museu Paraense Emlio Goeldi,onde foi demonstrado como o acervo dessa instituio desenvolveu-se, no fnal do sculo
XIX, conforme projeto cientfco previamente determinado e tambm conforme as demandas estatais que incidiram sobre os funcionrios do museu.
2
9
|
A
e
x
p
o
s
i
o
c
o
m
o
p
r
o
c
e
s
s
o
c
o
m
u
n
i
c
a
t
i
v
o
n
a
p
o
l
t
i
c
a
c
u
r
a
t
o
r
i
a
l
os nomes e rostos das pessoas, homens e mulheres, que apostaram em um projeto de longo prazo, dando incio
a uma empresa coletiva que se perpetuaria no tempo e receberia contribuies de muitas geraes. O objetivo
da exposio apresentar o museu como uma construo social e um processo histrico, reforado pelo fato
da mostra ter sido montada em um prdio de meados do sculo XIX, smbolo de um estilo de vida que j no
existe, mas que, de certa forma, est na origem do prprio museu.
Por sua vez, o Museu de Zoologia da Universidade de So Paulo (MZUSP) mantinha, at o fnal dos anos 1990,
mostra permanente, tributria da exposio do Museu Paulista, que, em moldes tradicionais, apresentava um
catlogo de animais, organizado segundo determinada classifcao. Apesar da inegvel atrao que o acervo
exposto exercia sobre um pblico fel e cativo, a antiga exposio no espelhava a riqueza, a dinmica e a atua-
lidade das pesquisas realizadas nos bastidores da instituio. Com o fechamento da exposio ao pblico, dadas
s necessrias reformas internas pelas quais o MZUSP passou, visando modernizao de seus laboratrios e
colees, foi possvel reorganizar o mesmo acervo, ainda que depurado, sob outro prisma. A nova mostra de longa
durao, inaugurada em setembro de 2002 com o ttulo Pesquisa em Zoologia a biodiversidade sob o olhar do
zologo, permite sobrepor ao museu-catlogo o trabalho do pesquisador, rever sua histria, delinear sua forma-
o e ideologia, sinalizando os meios da produo cientfca e apontando os rumos institucionais.
Ambos os exemplos podem ser considerados tentativas de integrar a comunicao museolgica a uma poltica
curatorial, pois propiciam a refexo sobre o papel social dos museus a partir da histria de seus acervos, da
forma como esses desenvolveram-se no tempo e dos motivos pelos quais foram e continuam sendo teis so-
ciedade (apesar de serem, algumas vezes, centenrios). Exploram, para concluir, aquilo que prprio dos museus,
a atribuio de sentido aos objetos tendo em vista a apropriao social de segmentos da natureza fsica e a
apreenso da dimenso material da vida social
9
EXPOSIO E DISCURSO
H, no Brasil, uma pequena, mas consistente produo intelectual sobre a relao entre o museu e seus
pblicos. Alguns autores tm se esforado para ampliar e consolidar esse campo de conhecimento, fragmen-
tado sob diferentes roupagens e tcnicas, porm coerente no que diz respeito preocupao com o ponto
de contato do pblico com o patrimnio cultural musealizado
10
. Contudo, os estudos de pblico so apenas
parte do processo de avaliao da comunicao museolgica. O discurso manifesto nas exposies pelos
museus e seus porta-vozes , tambm, tema passvel de investigao, talvez at mais importante para se
compreender as possibilidades e limites da comunicao na poltica curatorial
11
. Nesse sentido, a investigao
9
MENESES, Ulpiano T. Bezerra de. A exposio museolgica e o conhecimento histrico. p. 18.
10
Alm de Cury (CURY, Marlia Xavier. Os usos que o pblico faz do museu: a (re)signifcao da cultura material e do museu. p. 93), os seguintes autores
fazem bons panoramas sobre os estudos de pblico no Brasil, mais comuns entre os museus ditos cientfcos: Cazelli et al. (Cf. CAZELLI, Sibele; MARAN-
DINO, Martha; STUDART, Denise Coelho. Educao e Comunicao em Museus de Cincia: aspectos histricos, pesquisa e prtica.) e Studart et al. (Cf.
STUDART, Denise Coelho; ALMEIDA, Adriana Mortara; VALENTE, Maria Esther. Pesquisa de pblico em museus: desenvolvimento e perspectivas.).
11
McManus (Cf. McMANUS, Paulette M. Investigation of exhibition team behaviors and the infuences on them: towards ensuring that planned inter-
pretations come to fruition. p. 182-189) ressaltou a necessidade de pesquisas sobre o processo de concepo de exposies, que tem recebido bem
menos ateno que as pesquisas de pblico. A abordagem feita aqui vai alm da proposio feita pela autora, pois tem como fm entender como a
3
0
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
sobre a dinmica da concepo de exposies, sobretudo a maneira como so negociados ou escolhidos os
temas e as abordagens, permite avaliar at que ponto a poltica curatorial de um museu pensada de maneira
abrangente; incorpora a histria e a funo social dos museus entre suas preocupaes manifestas; leva em
considerao o potencial do acervo como canal de comunicao entre a instituio e a sociedade; com-
prometida com a refexo crtica, com a transformao e a incluso social (conceitos pouco claros, mas na
agenda dos museus atuais); e, no limite dessa anlise, mantm-se aberta para demandas sociais, em um pro-
cesso de (re)construo permanente e (re)defnio de prioridades.
No Brasil, os estudos sobre a concepo de exposies se resumem a algumas poucas experincias. Por exemplo,
Marandino
12
analisou a construo do discurso expositivo em museus de cincias, entendido como o conjunto
de elementos (objetos, textos, vitrines, imagens, iluminao, modelos, rplicas, etc.) articulados em um deter-
minado espao, repletos de signifcados e portadores de uma inteno. Segundo a autora, no processo de cons-
truo desse discurso, saberes de diferentes naturezas (senso comum, cientfco, museolgico, comunicao,
educao e outros) confrontam-se e so transpostos em uma sntese museogrfca. O saber cientfco, geral-
mente o saber de referncia em museus desse gnero, recontextualizado e transformado por outros saberes e
tambm pelas disputas no interior do museu e pelas especifcidades de tempo, de espao e do acervo.
Com um recorte mais especfco, Marandino
13
analisou a produo de textos para exposies em museus de
cincias, abordando questes como linguagem, formato, extenso e articulao com imagens. Os resultados
apontam para a necessidade de aperfeioamento na produo dos textos, que devem levar em considerao o
pblico alvo, a relao que mantm com os objetos e a linguagem prpria das exposies, isso , a articulao
de diferentes elementos presentes no espao expositivo. Ao fnal, a autora avana em direo a um ponto
essencial para este trabalho, embora no o desenvolva: a fliao dos textos s propostas conceituais que
fundamentam as exposies, sejam concepes cientfcas, museolgicas ou educacionais. E, mais ainda, sua
associao com um marco referencial poltico-institucional, o qual estabelece as diretrizes para as escolhas
realizadas no processo de concepo das exposies (Marandino, 2002, p. 201). Ao que parece, nenhum dos
cinco museus visitados havia concebido suas exposies com essa perspectiva.
Outra pesquisa, tambm coordenada por Martha Marandino, foi realizada no Museu de Astronomia e Cincias
Afns (MAST). Ali foram analisados os processos de transposio museogrfca de duas exposies, Ciclos
Astronmicos e a Vida na Terra e Estaes do Ano: a Terra em Movimento, ou seja, como conceitos cient-
fcos foram transformados em recursos museogrfcos e como esses mesmos recursos foram percebidos pelo
pblico (Marandino et al., 2003). Segundo Davallon (1999), autor utilizado como referncia, trata-se de um
processo que ocorre em trs etapas, seguindo operaes lgicas diferenciadas: os objetivos que fundamentam
a exposio e a formulao do saber de referncia (lgica do discurso), a concepo e realizao da exposio
(lgica do espao) e a interao do pblico com a mostra (lgica do gesto). Nesse processo podem ocorrer mu-
poltica curatorial interfere - interage - na comunicao museolgica, e no apenas como tornar essa comunicao mais efciente.
12
MARANDINO, Martha. O conhecimento biolgico em exposies de museus de cincias: anlise do processo de produo do discurso expositivo. So
Paulo: Faculdade de Educao/USP, 2001. Tese de Doutorado.
13
MARANDINO, Martha. A biologia nos museus de cincias: a questo dos textos em bioexposies. p. 187-202.
3
1
|
A
e
x
p
o
s
i
o
c
o
m
o
p
r
o
c
e
s
s
o
c
o
m
u
n
i
c
a
t
i
v
o
n
a
p
o
l
t
i
c
a
c
u
r
a
t
o
r
i
a
l
danas de planos, confitos e at mesmo desvios, como, por exemplo, o que se deseja mostrar e o que efetiva-
mente se mostra, ou o que a exposio possibilita como interpretao e o que o pblico efetivamente reconhece
(ou no) como inteno. No caso da primeira exposio do MAST, a pesquisa detectou uma falta de sintonia
entre a primeira etapa e a segunda, levando os visitantes a construrem uma narrativa fragmentada, distante
da pretendida pelos idealizadores. Na segunda exposio, o processo de transposio foi mais bem sucedido, o
que foi confrmado pelas entrevistas realizadas junto ao pblico.
Apesar de bem conduzida, a pesquisa no explorou o ponto central em discusso nesse trabalho, diretamente
relacionado primeira etapa, que pode ser resumido em uma pergunta feita de diferentes maneiras: qual a
relao entre os temas abordados e os objetivos do museu, ou por que os temas foram escolhidos pelo mu-
seu ou, ainda, que tipo de valor, leitura ou viso de mundo o museu quer afrmar, apresentando explicaes
cientfcas para fenmenos naturais, perceptveis pelo senso comum? Essa no uma questo simples, pois, do
contrrio, as mostras poderiam prescindir do museu e serem montadas em um shopping center, sem grandes
prejuzos para as expectativas dos idealizadores. O que fez, portanto, aquelas exposies serem consideradas
importantes para aquele museu? As razes certamente existem e podem at ser deduzidas pelos leitores, mas
foram manifestadas nas exposies e fcaram claras para o pblico?
Infelizmente, por diversos motivos, os museus brasileiros no incentivam esse tipo de pesquisa. No h da-
dos disponveis, portanto, para comparaes e anlises. Mas, pela experincia inovadora do MAST
14
, pode-se
argumentar em favor do ponto em discusso nesse trabalho, de que a escolha de temas e abordagens nas
exposies (o discurso) deve remeter, em primeiro lugar, para uma poltica institucional que d sentido
comunicao museolgica ou, melhor dizendo, que a insira em um processo curatorial capaz de lhe atribuir
valor moral e poltico. Para isso, os museus devem ter claramente estabelecidos os seus princpios e os seus
objetivos, a partir dos quais a instituio pode planejar suas aes.
PBLICO E RECEPO
Os estudos sistemticos sobre a relao entre museus e pblicos, no Brasil, so relativamente recentes, tendo
iniciado h pouco mais de 15 anos. A produo cientfca esparsa, no h peridicos especializados e nem
eventos acadmicos regulares, o nmero de profssionais envolvidos pequeno, so poucas as instituies ca-
pacitadas para desenvolv-los e os estudos de caso so restritos a alguns museus, centros de cincias e centros
culturais de So Paulo e do Rio de Janeiro. Ainda no h nada parecido, no pas, com amostragens nacionais ou
com estatsticas gerais (e confveis) sobre o pblico visitante dos museus, o que limita, sobremaneira, qualquer
anlise sobre o assunto, por falta de parmetros, sries histricas e ndices de referncia.
14
A mesma pesquisa foi divulgada em outro artigo (Cf. Cazelli et al. Comunicao e educao: exemplos dessa articulao no Museu de Astronomia e
Cincias Afns.), mas com uma caracterizao do MAST enquanto museu de cincias e com uma anlise da cultura cientfca na sociedade contempo-
rnea, dando ao estudo maior amplitude e densidade.
3
2
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
Contudo, o campo est em ampliao, sobretudo pela qualifcao de pesquisadores em cursos de ps-gradua-
o. Este um aspecto particularmente relevante, pois possvel observar a fertilizao do tema por distintas
disciplinas, como Educao, Comunicao Social, Cincias da Informao, Psicologia e Cincias Sociais
15
. Na
ausncia de uma rede de formao de pesquisadores em Museologia, os interessados buscam disciplinas afns
para, na interseo com os assuntos museais, desenvolverem suas investigaes. Nesse sentido, as abordagens
variam, estando algumas bem desenvolvidas no campo e outras ainda promissoras. As diversas pesquisas que
tm sido publicadas mostram que, por mais que o campo sofra um ajuste em um futuro prximo, o marco
conceitual e os mtodos de pesquisa no sero (nunca?) uniformes.
Essa caracterstica dos estudos de pblico no , em si mesma, negativa ou prejudicial consolidao do
campo. O problema aparece na falta de parmetros para anlise e formulao de recomendaes, o que
limita a prpria avaliao e remete os pesquisadores para a literatura estrangeira, nem sempre compatvel
com o contexto brasileiro e regional. Outro problema central para este trabalho o fato de alguns estudos,
independentemente de sua fliao terica, colocarem em cena o pblico fazendo o museu e a exposio desa-
parecerem. Nesses casos, so relatados o perfl socioeconmico do pblico, o comportamento dos visitantes, suas
motivaes, seus conhecimentos e desejos, sem, ao menos, ser descrito o que est sendo avaliado e esclarecido
quais os limites de interpretaes possveis. A exposio que estabelece a priori esses limites fca obscurecida nas
suas intenes e nos elementos que mobilizam o pblico.
Estudos com essa caracterstica pouco tm a contribuir para o aperfeioamento de uma poltica curatorial. Para
tanto, seria necessrio no omitir das anlises o efetivo, o real, o constituinte papel dos museus de propor um
sentido, de interpretar e como o pblico reage a essa provocao
16
. Uma avaliao deve considerar a interao
discursiva entre a exposio e o pblico, e no apenas o que o pblico tem a dizer sobre o museu (seja o que
for, o resultado j estar condicionado pelo ambiente onde ele se encontra). Isso no signifca dar aos museus o
controle ou monoplio do sentido, e sim reconhecer seu papel no processo comunicacional. Os museus no devem
ser desqualifcados enquanto instituies legitimadas pela sociedade para dizer algo sobre o universo material.
Pelo contrrio, devem ser instados, cobrados, para que manifestem claramente, em seus programas educativos e
exposies, o que defendem ou como se posicionam frente a questes como poder e dominao. Como diz Mene-
ses, uma exposio no ser autoritria, automaticamente, pela natureza de quem a produz, mas pela tutela que
pretenda exercer sobre o sentido produzido (em produo)
17
.
Esse um dos desafos das pesquisas de pblico em museus, em geral, e de recepo de exposies, em par-
ticular. Incorporar, nos seus mtodos, estruturas conceituais e ferramentas que permitam, a um s tempo,
15
Cf. CURY, Marlia Xavier. Os usos que o pblico faz do museu: Op. cit.
16
Cabe lembrar que o prprio conceito de pblicocomo categoria universalizada est sendo desconstrudo e repensado em outros nveis,
a partir das estratgias que os museus utilizam para criar seu prprio pblico, da historicizao do conceito e da diferenciao cultural e
sociolgica dos distintos pblicos aos quais os museus servem (Sobre o tema, cf, APPADURAI, Arjun; BRECKENRIDGE, Carol A. Museus so
bons para pensar: o patrimnio em cena na ndia. p. 12).
17
MENESES, Ulpiano T. Bezerra de. A exposio museolgica... Op. cit. p. 67.
3
3
|
A
e
x
p
o
s
i
o
c
o
m
o
p
r
o
c
e
s
s
o
c
o
m
u
n
i
c
a
t
i
v
o
n
a
p
o
l
t
i
c
a
c
u
r
a
t
o
r
i
a
l
inferir qualitativamente o discurso expositivo (que pode abranger no apenas a exposio, mas outras formas
de comunicao museolgica) e medir, registrar, avaliar a efetividade desse discurso junto ao pblico (ou a
reao do pblico ao discurso, incluindo a construo de outros discursos). nessa interseo que a poltica
curatorial de um museu pode ser atualizada, com base em pesquisas que forneam dados sobre como ocorre
a produo de sentido em todo o processo curatorial, da seleo do acervo interao do pblico com ele, in-
termediada pela exposio. A partir deste ponto seria possvel promover ajustes para que o processo funcione
de fato, (re)defnir prioridades sobre temas e abordagens e entender melhor como repercutem nas exposies
e no gesto do pblico as aes realizadas ao longo do processo.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ABREU, Regina. Museus etnogrfcos e prticas de colecionamento: antropofagia dos sentidos. Revista do Patrimnio Histrico e Artstico
Nacional (n. 31, 2005). Rio de Janeiro: Instituto do Patrimnio Histrico e Artstico Nacional, 2005. p. 101-125.
ALMEIDA, Adriana Mortara. Comunicao Museolgica: a importncia dos estudos sobre os receptores/visitantes. In: Seminrios de Capacita-
o Museolgica. Anais... Belo Horizonte: Instituto Cultural Flvio Gutierrez, 2004, p. 327-338.
. Modelos de comunicao aplicados aos estudos de pblicos de museus. Revista de Cincias Humanas, (V. 9, n. 2). Taubat: Universidade
Federal de So Carlos, 2003. p. 137-145.
APPADURAI, Arjun; BRECKENRIDGE, Carol A. Museus so bons para pensar: o patrimnio em cena na ndia. Musas Revista Brasileira de
Museus e Museologia (N. 3, 2007). Rio de Janeiro: Instituto do Patrimnio Histrico e Artstico Nacional/Departamento de Museus e Centros
Culturais, 2007. p. 10-26.
BITTENCOURT, Jos Neves; GRANATO, Marcus; BENCHETRIT, Sarah Fassa (Orgs.). Museus, Cincia e Tecnologia. Rio de Janeiro: Museu Histrico
Nacional, 2007.
BOURDIEU, Pierre. The logic of practice. Cambridge: Polity Press, 1990[1980].
BRANDO, Carlos Roberto Ferreira; COSTA, Cleide. Uma crnica da integrao dos museus estatutrios USP. Anais do Museu Paulista
(Histria e Cultura Material) (N. Ser., v. 15, n. 1). So Paulo: Museu Paulista/USP. p. 207-217, 2007.
CABRAL, Magaly. Algumas refexes sobre os princpios fundamentais da Comunicao Museolgica. In: Seminrios de Capacitao Museo-
lgica. Anais... Belo Horizonte: Instituto Cultural Flvio Gutierrez, 2004, p. 319-326.
. Museus e o patrimnio intangvel: o patrimnio intangvel como veculo para a ao educacional e cultural. Musas Revista Brasileira de
Museus e Museologia (N. 1, 2004). Rio de Janeiro: Instituto do Patrimnio Histrico e Artstico Nacional/Departamento de Museus e Centros
Culturais, 2004. p. 49-59.
CARVALHO, Rosane Maria Rocha de. As transformaes da relao museu e pblico sob a infuncia das tecnologias da informao. Musas
Revista Brasileira de Museus e Museologia (N. 2, 2006). Rio de Janeiro: Instituto do Patrimnio Histrico e Artstico Nacional/Departamento
de Museus e Centros Culturais, 2007. n. 2, p. 127-138.
. As transformaes da relao museu e pblico: as infuncias das tecnologias da informao e comunicao no desenvolvimento de um
pblico virtual. Rio de Janeiro: IBICT/ECO-UFRJ, 2005. Tese de Doutorado.
. Exposio em Museus e Pblico: o processo de comunicao e transferncia da informao. In: Encontro sobre a Pesquisa em Educao,
Comunicao e Divulgao Cientfca em Museus. Anais... Rio de Janeiro: Museu da Vida/Espao Cultural FINEP/MAST, 2001. p. 147-156.
CAZELLI, Sibele; ALVES, Ftima; VALENTE, Maria Esther. Comunicao e educao: exemplos dessa articulao no Museu de Astronomia e
Cincias Afns. In: Seminrios de Capacitao Museolgica. Anais... Belo Horizonte: Instituto Cultural Flvio Gutierrez, 2004, p. 372-385.
CAZELLI, Sibele; MARANDINO, Martha; STUDART, Denise Coelho. Educao e Comunicao em Museus de Cincia: aspectos histricos, pes-
quisa e prtica. In:
GOUVA, Guaracira; MARANDINO, Martha; LEAL, Maria Cristina (Orgs.). Educao e Museu: A construo social do carter educativo dos
museus de cincia. Rio de Janeiro: Access, 2003, p. 83-106.
3
4
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
CURY, Marlia Xavier. Marcos tericos e metodolgicos para recepo de museus e exposies. UNIrevista, v. 1, n. 3, 2006. Disponvel em http://
www.unirevista.unisinos.br/_pdf/UNIrev_Cury.PDF. Acessado em maio de 2008.
CURY, Marlia Xavier. Comunicao e pesquisa de recepo: uma perspectiva terico-metodolgica para os museus. Histria, Cincias, Sade
Manguinhos, v. 12 (suplemento), p. 365-380, 2005a.
CURY, Marlia Xavier. Comunicao museolgica Uma perspectiva terica e metodolgica de recepo. So Paulo: Escola de Comunicao
e Artes/USP, 2005b. Tese de Doutorado.
CURY, Marlia Xavier. Os usos que o pblico faz do museu: a (re)signifcao da cultura material e do museu. Musas Revista Brasileira de
Museus e Museologia, n. 1, p. 87-106, 2004.
CURY, Marlia Xavier. Exposio: anlise metodolgica do processo de concepo, montagem e avaliao. So Paulo: Departamento de Biblio-
teconomia e Documentao, 1999. Dissertao de Mestrado.
DAVALLON, J. Lexposition louvre: stratgies de communication et mdiation symbolique. Paris: LHarmattan, 1999.
HOOPER-GREENHILL, Eilean. Museums and their visitors. Londres: Routledge, 1994.
LOPES, Maria Margaret. O Brasil descobre a pesquisa cientfca. Os museus e as cincias naturais no sculo XIX. So Paulo: Ed. Hucitec, 1997.
MARANDINO, Martha. Museus de cincias como espaos de educao. In: FIGUEIREDO, Betnia; VIDAL, Diana (Orgs.). Museus dos Gabinetes
de Curiosidades Museologia Moderna. Belo Horizonte: Argumentum; Braslia: CNPq, 2005, p. 165-175.
MARANDINO, Martha; VALENTE, Maria Esther; CAZELLI, Sibele; ALVES, Ftima; GOUVA, Guaracira; FALCO, Douglas. Estudo do processo de
transposio museogrfca em exposio do MAST. In: GOUVA, Guaracira; MARANDINO, Martha; LEAL, Maria Cristina (Orgs.). Educao e
Museu: a construo social do carter educativo dos museus de cincia. Rio de Janeiro: Access, 2003, p. 161-184.
MARANDINO, Martha. A biologia nos museus de cincias: a questo dos textos em bioexposies. Cincia & Educao (V. 8, n. 2, 2002). Bauru:
Programa de Ps-Graduao em Educao para a Cincia/Faculdade de Cincias da Unesp, 2002. p. 187-202
MARANDINO, Martha. O conhecimento biolgico em exposies de museus de cincias: anlise do processo de produo do discurso exposi-
tivo. So Paulo: Faculdade de Educao/USP, 2001. Tese de Doutorado.
McMANUS, Paulette M. Investigation of exhibition team behaviors and the infuences on them: towards ensuring that planned interpretations come
to fruition. In: DUFRESNE-TASS, Colette. (Org.). Cultural diversity, distance and learning. Montreal: Universit de Montreal, 2000, p. 182-189.
McMANUS, Paulette M. Topics in museums and science education. Studies in Science Education(v. 20, n. 1, 1992), Leeds: 1992. p. 157-182.
MENESES, Ulpiano T. Bezerra de. A exposio museolgica e o conhecimento histrico. In: FIGUEIREDO, Betnia; VIDAL, Diana (Orgs.). Museus
dos Gabinetes de Curiosidades Museologia Moderna. Belo Horizonte: Argumentum; Braslia: CNPq, 2005, p. 15-84.
SANJAD, Nelson. O lugar dos museus como centros de produo de conhecimento cientfco. In: BITTENCOURT, Jos Neves et al. (Orgs.). Mu-
seus, Cincia e Tecnologia. Rio de Janeiro: Museu Histrico Nacional, 2007, p. 123-133.
SANJAD, Nelson. A Coruja de Minerva: o Museu Paraense entre o Imprio e a Repblica, 1866-1907. Rio de Janeiro: Casa de Oswaldo Cruz/
Fiocruz, 2005. Tese de Doutorado.
SANTOS, Myrian Seplveda dos. Museus brasileiros e poltica cultural. Revista Brasileira de Cincias Sociais, v. 19, n. 55, p. 53-72, 2004.
STUDART, Denise Coelho; ALMEIDA, Adriana Mortara; VALENTE, Maria Esther. Pesquisa de pblico em museus: desenvolvimento e perspec-
tivas. In: GOUVA, Guaracira; MARANDINO, Martha; LEAL, Maria Cristina (Orgs.). Educao e Museu: A construo social do carter educativo
dos museus de cincia. Rio de Janeiro: Access, 2003, p. 129-157.
VALENTE, Maria Esther Alvarez. Educao em museu o pblico hoje no museu de ontem. Rio de Janeiro: Departamento de Educao/PUC,
1995. Dissertao de Mestrado.
VAN VELTHEM, Lcia Hussak. Objeto etnogrfco, colees e museus. In: MOREIRA, Eliane; et al. (Orgs.). Propriedade intelectual e patrimnio
cultural: Proteo do conhecimento e das expresses culturais tradicionais. Belm: MPEG/CESUPA, 2005, p. 71-77.
VENTURA, Paulo Cezar Santos. La ngociation entre les concepteurs, les objets et le public dans les muses techniques et les salons profession-
nels. Dijon (Frana): Universidade de Bourgogne, 2001. Tese de Doutorado.
3
5
|
A
e
x
p
o
s
i
o
c
o
m
o
p
r
o
c
e
s
s
o
c
o
m
u
n
i
c
a
t
i
v
o
n
a
p
o
l
t
i
c
a
c
u
r
a
t
o
r
i
a
l
O MUSEU COMO PROCESSO
Tereza Cristina Scheiner
The ordinary moment
Holds extraordinary phenomena.
The future becomes past.
(The Temporary Museum of Permanent Change)
Falar de museu como processo leva-nos a pensar que processos se encontram envolvidos na realidade dos museus.
Uma breve consulta s fontes disponveis revela as mltiplas dimenses processuais da gesto museolgica, desig-
nadas a partir das funes bsicas do cuidado com museus institudos: processo criativo; processo legal; processo
documental; processo de pesquisa; processo de conservao; processo de criao e desenvolvimento de exposies;
processo educativo; processo de agregao comunitria; processo de realocao de referncias e assim podera-
mos seguir longamente, explicitando as muitas e detalhadas faces do universo curatorial. Em sua quase totalidade,
os autores que pretendem tratar do museu como processo
1
referem-se essencialmente aos procedimentos estrat-
gicos que viabilizam e otimizam a gesto do patrimnio musealizado, permitindo uma viso particular dos museus
como objetos de refexo, contemplao e discusso
2
e valorizando os processos de re-presentao, socializao,
institucionalizao e comoditizao
3
neles desenvolvidos.
Todos esses processos tratam de fazeres fundamentais constituio de um certo tipo de museu e garantem
sua existncia e estabilidade como agncias culturais, instrumentalizando o trato das referncias patrimo-
niais, musealizveis ou j musealizadas. Ou seja, os processos existem para dinamizar o museu que, sem
eles, permaneceria inalterado pelo tempo, como um depsito de objetos ou como espao sagrado de con-
templao, de signifcado hermtico para o grande pblico. E, quando o museu ainda no existe, preciso
cri-lo, para permitir que tais processos, apropriadamente articulados, garantam a permanncia no tempo
de referncias tangveis ou intangveis de memria.
A meno a tais processos fundamenta-se numa idia pr-concebida: a do museu enquanto realidade orga-
nizacional, enquanto todo institudo, espao delimitado que abriga colees e que se abre para um pblico
experincia a que denominamos Museu Tradicional. Trata-se, assim, de iniciativas de estudo e adoo de
processos contemporneos de gesto, que possibilitariam o desenvolvimento de padres culturais, sociais e
estticos cujo objetivo seria infuenciar a percepo pblica sobre determinados tipos de acervos, alterando
a forma como so percebidos a arte, a cincia e a tcnica, e fazendo com que determinadas representaes -
tais como o museu espetacular - sejam percebidas como paradigmas.
Alguns autores convidam a examinar criticamente, como processo, determinadas formas de museu - como
os museus de arte -, desconstruindo o que foi construdo, desde a Renascena, como smbolo da sociedade
1
Como exemplo, ver JEFFERS, Carol S. Museum as Process. Disponvel em http://muse.jhu.edu/demo/the_journal_of_aesthetic_education/
v037/37.1jefers.html. Consultado em 12 de abril de 2008.
2
BOLIN, Paul; MAYER, Melinda. Art museums and schools as partners in learning, NAEA Advisory, Spring (Reston, Va.: National Art Education Associa-
tion, 1998), 1, apud JEFFERS, Carol S. Op. cit.
3
Ibidem.
3
7
|
O
M
u
s
e
u
c
o
m
o
p
r
o
c
e
s
s
o
ocidental
4
. Isso seria possvel analisando-se o impacto desses museus sobre o seu publico, bem como a sua
representatividade e signifcao enquanto agncias culturais. E tambm lanando um olhar crtico sobre o
contexto histrico em que se originaram e desenvolveram esses museus, bem como sobre o papel que exercem
ainda hoje, como smbolos de valores permanentes da cultura universal representatividade que resulta de
uma tradio de educao sobre e para museus, desenvolvida pela cultura ocidental a partir do fnal do sculo
18, e que vem criando padres e cdigos defnidores do que relevante no universo dos museus.
No mais possvel pensar assim o museu. Ou melhor, no mais possvel pens-lo apenas assim. E nem tratar
dos processos curatoriais todos absolutamente legtimos e necessrios, em determinadas realidades sem,
entretanto, defnir que idia de museu lhes serve de fundamento. Pois o que move os museus no tempo e
lhes assegura a existncia est muito alm da presena de acervos, da excelncia tcnica ou do interesse dos
pblicos: est na sua prpria essncia enquanto representao simblica, e na sua intrnseca e constante
capacidade de transformao.
Museu como fenmeno: assim que a teoria museolgica vem tratando de estudar essa poderosa representa-
o, que tem sua origem no universo simblico de grupos sociais que serviram de matriz ao que se denominou
pensamento ocidental.
5
E assim que precisamos compreender o Museu, se desejamos verdadeiramente v-lo
como processo.
MUSEU: CONHECER PELA ORIGEM
Uma das mais fascinantes representaes da sociedade humana, o Museu foi tradicionalmente compreendido,
na sociedade dita ocidental, como instituio permanente - dedicada ao estudo, conservao, documentao e
exibio de evidencias materiais do homem e do seu ambiente. Essa percepo limitada do Museu, como espao
fsico de guarda de objetos, originou-se provavelmente no pensamento europeu do sculo 16 e prolongou-se
na literatura ocidental, a partir da nfase dada atividade colecionista pela sociedade do Renascimento uma
sociedade afuente, fundada no trabalho e na produo, circulao e acumulao de bens materiais. Parece
ter sido esse tambm o momento em que se passou a vincular a origem do Museu palavra grega Mouseion,
ou templo das musas, freqentemente confundido com o local (em Delfos) onde as musas falavam, pela voz
das pitonisas; ou com o Mouseion de Alexandria, primeiro centro cultural conhecido do ocidente, fundado no
sculo 3 a.C., para glria do mundo helenstico.
Pensar a origem do Museu no templo das musas implicaria, entretanto, em imaginar sua existncia irremediavel-
mente vinculada a um local especfco (templo) onde se guarda o sagrado (musas) provvel origem da idia de
4
Eileen Hooper-Greenhill and Flora Kaplan, Museum meanings New York: Rutledge, 1997, resenha por George Hein, Learning in the Museum (New
York: Rutledge, 1998). Apud. JEFFERS, Carol S. Museum as process... Op. cit.
5
Usaremos aqui o termo Museu, com maiscula, para diferenciar o fenmeno de qualquer uma de suas manifestaes, ou seja, de museus especfcos.
3
8
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
museu como espao sacralizado de guarda da memria. E remete a uma cultura grega j detentora de um sistema
flosfco desenvolvido, onde predomina a razo e o mundo percebido sob relaes de simetria, de equilbrio,
de igualdade entre os diversos elementos que compem o cosmos
6
. Nessa cultura, os diferentes planos do Real,
rigorosamente delimitados, afastam o mito e tendem a medir, pelo discurso, as diversas relaes entre a lgica
do saber terico e uma lgica do verossmil ou do provvel
7
, fundamentada na experincia prtica
8
.
Baseado nesse modo de pensar confgura-se um modelo de Museu que denominaremos Museu Tradicional
- e cuja unidade conceitual o objeto, fundamento de sua existncia e instrumento primordial do trabalho
que sobre ele se desenvolve. sobre o objeto que o museu tradicional constri sua teoria: sem objeto no h
coleo, e, portanto, no h museu. Mas a natureza mesma desse trabalho fragmentria porque, na maioria
dos casos, o museu retira do mundo esses objetos, remetendo-os a uma situao ou contexto artifcial, onde a
realidade precisa ser reinventada. Lembremos aqui que o termo objeto se aplica, no mbito do museu tradi-
cional, tanto aos objetos fabricados como aos espcimes naturais ou fragmentos de natureza tratados como
exemplares colecionveis, por constituir exemplos de interesse cientfco ou mera curio-sidade. O surgimento
dos museus exploratrios, nos anos 1950, amplia essas relaes, ao alargar o conceito de objeto para incluir
os modelos experimentais de fenmenos cientfcos como elementos constituintes dos acervos legitimando,
dessa forma, a experimentao como essncia do conhecimento cientfco, bem como o carter relacional dos
processos pedaggicos.
O advento dos parques nacionais e dos museus a cu aberto
9
, na segunda metade do sculo 19, j havia permi-
tido pensar o Museu para alm dos espaos construdos e dos conjuntos de objetos, desvelando a possibilidade
da sua existncia sob a forma de reas naturais
10
. Museus em reas naturais multiplicam-se e pluralizam-se
6
VERNANT, J. P. As origens do pensamento grego. Trad. de Isis Borges B. da Fonseca. RJ, Bertrand Brasil, 9 ed. 1996. p. 6
7
Idem., p. 26
8
Admitir a origem do Museu no templo das musas signifca perceb-lo essencialmente como experincia oracular, cuja funo a de ser agente da
Verdade: assim como as pitonisas, ele poderia recontar o passado, narrar o presente e prever, pela palavra, os acontecimentos. Como espao fsico,
estaria irremediavelmente vinculado idia de preservao: um templo um relicrio, um local de guarda das coisas sagradas, acessvel apenas a
poucos; solene, o espao do ritual - um espao de reproduo, devotado muito mais permanncia do que criao. No possvel imaginar a
dessacralizao do templo: sua prpria existncia se justifca pela mstica do ritual. O templo local de reverncia, de ocultao do novo, de repeti-
o do j experimentado. Aberto ao pblico, o templo tambm um espao impessoal, onde os sacra- objetos sagrados, smbolos religiosos cuja
funo primordial a de serem vistos, transformam-se em espetculo. No h espao para as Musas num lugar assim. A esse respeito, ver SCHEI-
NER, Tereza C. Apolo e Dioniso no Templo das Musas. Museu: gnese, idia e representaes nos sistemas de pensamento da sociedade ocidental.
Dissertao de Mestrado. ECO/UFRJ, 1997. Cap. 01.
9
com os museus a cu aberto que se faz a relao direta entre a cultura do homem do campo e a experincia patrimonial. Esses museus
desenvolvem-se a partir de reconstituies clssicas do sc. 18, tais como a bergeriede Maria Antonieta, em Versailles, ou o museu de esculturas
de Alexandre Lenoir, no Elyse onde hoje se encontra a escola nacional de belas artes de Paris. So criados principalmente nos pases escandinavos,
a partir das experincias de Bygdoy, Noruega; de Arthur Hazelius - o Nordiskafolk Museum (1872) e Skansen (1891); do museu de Sorlgenfr, em
Copenhague (1897 - hoje parte do Museu Nacional da Dinamarca); do Museu Noruegus de Arte Popular em Oslo (1902) e do museu Sandvig, em
Lillehamer (1904), ambos na Noruega; ou do museu de Flis, Finlndia (1908). Em 1909 a experincia dos museus a cu aberto estende-se ao homem
urbano, com a criao, em Jutland, Dinamarca, do Aarhus - primeiro museu a cu aberto com casas urbanas. Ver MAURE, Marc. Nation, paysan et
muse: La naissance des muses dethnographie dans les pays scandinaves (1870-1904). Disponvel em http://terrain.revues.org/document3065.
html#tocto2. Consultado em 15 de abril de 2008; tb. SCHEINER, Teresa. Apolo e Dioniso no Templo... Op.cit. cap. 3.
10
Museus em reas naturais j existiam h alguns sculos: lembremos do Jardin des Plantes, criado em Paris por Guy de la Brosse, em 1626 e dos
parques renascentistas europeus. Mas no sculo 19 que tais reas so fnalmente consideradas museus. Nesse sentido, ver DAVALLON, Jena;
GRANDMONT, Gerald; SCHIELLE, Bernard. Lenvironnement entre au Muse. Lyon: Presses Universitaires de Lyon, 1992 (Collection Musologies).
3
9
|
O
M
u
s
e
u
c
o
m
o
p
r
o
c
e
s
s
o
na primeira metade do sculo 20, assumindo diferentes formas e caractersticas
11
; mas apenas na dcada de
60 do sculo 20 que, em conseqncia da evoluo dos paradigmas cientfcos e da revalorizao das teorias
holistas, confgura-se outro modelo de Museu: o Museu Integral espao ou territrio musealizado, no qual
sociedade, memria e produo cultural formam um todo indissolvel. Nesse modelo a base conceitual no o
objeto, mas o territrio do Homem, com suas caractersticas geogrfcas, ambientais e de ocupao e produo
cultural. A idia de objeto superada pela idia de patrimnio: trata-se aqui da apropriao simblica de um
conjunto de evidncias naturais e de produtos do fazer humano, defnidores ou valorizadores da identidade de
determinados grupos sociais.
Tais relaes podem ser melhor compreendidas no mbito de uma viso holstica de mundo, segundo a qual
o universo compreendido como um sistema relativo, do qual o humano no constitui o centro, mas mero
elemento. Sob esse paradigma, percebe-se que o Museu no trata apenas do humano e de sua produo, mas
da natureza em sua totalidade: aquilo que poderamos denominar o patrimnio integral da humanidade.
Mas, se o museu integral constitui um avano sobre a teoria do museu tradicional, ainda assim vincula-se
presena de um espao fsico (ou territrio), deixando de lado outras dimenses do Museu, que s mais adi-
ante poderiam ser percebidas.
Pensar o Museu implicaria, portanto, em rever a prpria gnese do conceito, pensar o seu incio a partir de ou-
tras possibilidades que no a do templo das Musas, imaginar outras trajetrias que no aquela que deriva no
museu-instituio. E para isso preciso conhecer algumas relaes do Museu com o mito - pois por meio do
mito que ele surge, e tambm pela fala mtica da sociedade burguesa que legitima um estatuto hegemnico
que vem tornando muito difcil que se lhe vejam as outras faces.
a partir dessas percepes que se desenvolve a Museologia. Inicialmente compreendida como o conjunto
de metodologias e tcnicas relativas aos museus como espao fsico, na sua forma institucionalizada, a Mu-
seologia vem ganhando forma e fora, a partir dos anos 1970, como a rea do conhecimento que identifca
e analisa a idia de Museu em suas diferentes representaes. Com o objetivo maior de constituir-se como
cincia, ou disciplina cientfca, a Museologia s se justifca como rea do conhecimento na medida em que se
afasta da idia e da imagem do museu-espao-de-objetos, para entender o Museu para alm de seus limites
fsicos e o patrimnio nas suas dimenses material e no material. Esse o movimento que nos permitir
perceber a existncia de outras manifestaes do Museu, s possveis de apreender quando se trabalha com
determinados paradigmas: a relatividade e o inconsciente (Museu Interior); as novas tecnologias (Museu Vir-
tual, Museu Global). E compreender, fnalmente, que a origem do Museu no pode estar na Grcia clssica e
nem no templo.
11
Museus a cu aberto. Parques naturais musealizados parques de caa, parques nacionais, monumentos naturais. Heimattmuseen (Museus de
histria local) E fnalmente, a partir dos anos 1960, os ecomuseus.
4
0
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
PENSANDO A GNESE DO MUSEU
Um dos caminhos possveis para investigar a gnese do Museu pens-lo no como produto, mas como idia
ou como processo. Suponhamos, ento, que a idia de Museu tenha estado, desde a sua origem, relacionada
idia de um espao perceptual, de um tempo de presentifcao das musas; um tempo de revelao, de criao,
de celebrao do humano sobre a natureza, a sua prpria cultura e o universo. A origem do Museu seria, assim,
no o templo, mas as prprias musas - uma origem mtica, essencialmente ligada ao pensamento tradicional de
uma Hlade arcaica, habitada por culturas grafas, e cujas matrizes culturais se articulavam na interface entre
pequenos agricultores e sociedades guerreiras. Uma Grcia ligada a um passado micnico e cuja viso de mundo
ainda no tendia a opor os diferentes planos do real: passado e presente, vida e morte, homens e deuses; e onde
as antigas cosmogonias ainda no haviam cedido lugar s sophias: a Grcia anterior ao sc. 8 a.C.
12
Lembremos que, nas sociedades arcaicas, o mito dado como real, e que toda confgurao cosmognica
de carter mtico. E que as musas so as responsveis, no panteo grego, pela manuteno da identidade
do seu prprio universo. Elas no so deusas, so as palavras cantadas - expresso criativa da memria via
tradio oral, trazidas luz da conscincia pela ao dos poetas, para tornar presentes os fatos passados e
futuros, reinstaurando o tempo e o mundo a partir de sua origem
13
. Filhas de Zeus (criador do tempo) e de
Mnemsyne (memria) revelam continuamente o que so e como se criaram todas as coisas, trazendo luz
da presena o que se ocultava na noite do esquecimento (o no-ser), no exerccio mesmo de manter o ser
das moradas em que cantam.
14
importante observar aqui que ter, em grego, signifca tambm manter: e se
as musas cantam o espao Olmpio, elas simultaneamente o mantm (trazem) presente na memria.
15
No se
trata, portanto, de um territrio mas de um espao simblico, presentifcado pela palavra: as musas no tm
nenhum espao que no seja o seu prprio espao (abstrato) de manifestao. Nessa perspectiva, o nome das
Musas tambm o seu prprio ser: elas existem quando nomeadas e precisam ser nomeadas para que possam,
com o seu canto, recriar o mundo. E o fazem em processo contnuo e com a atualidade de um viver contnuo,
pois a memria no tem comeo nem fm, e nem implica em cronologia: ela a experincia, apreendida e
presentifcada. Sem memria h o esquecimento, que equivale morte (o no-ser).
Seria, ento, equivocado julgarmos que a idia de Museu se tenha originado a partir de um espao fsico espec-
fco onde habitassem as musas, um espao possudo pelas musas ou a elas dedicado, e onde se manifestassem:
O que poderia ser o templo das Musas, seno o espao intelectual possvel de presentifcao das idias,
de manifestao da memria? No seria o Mouseion (templo das Musas) uma interpretao equivocada do
12
Cf. SCHEINER, Tereza C. Apolo e Dioniso no Templo... Op. cit., cap. 1: tb. SCHEINER, Tereza C. As bases ontolgicas do Museu e da Muse-
ologia. In: Museologia, Filosofa e Identidad en Amrica Latina y el Caribe / Museologia, Filosofa e Identidade na Amrica Latina e Caribe. VIII
ICOFOM LAM. Rio de Janeiro: Tacnet Cultural, 2000. CD. p. 138-183.
13
Cf. HESODO. Teogonia: A origem dos deuses. Estudo e trad. Jaas Torrano. Rio de Janeiro: Iluminuras, 1991 (Biblioteca Plen). Hesodo foi um
poeta arcaico, um dos que compuseram Teogonia para os gregos, dando nome aos deuses e identifcando suas caractersticas.
14
Idem. p. 83-87.
15
Este seria um movimento similar ao do verbo ingls to be que signifca igualmente ser e estar.
4
1
|
O
M
u
s
e
u
c
o
m
o
p
r
o
c
e
s
s
o
termo Mouson ou Mousaion (pelas Musas) - das Musas como o veculo de expresso da criao mtica e da
concepo de mundo do homem grego? Se o Museu no o espao fsico das musas, mas antes o espao de
presentifcao das idias, de recriao do mundo por meio da memria, ele pode existir em todos os lugares
e em todos os tempos: ele existir onde o Homem estiver e na medida em que assim for nomeado - espao in-
telectual de manifestao da memria do Homem, da sua capacidade de criao. E como o pensamento grego
estabelece, de uma ou de outra forma, o Homem como a medida de todas as coisas, o espao primordial de
manifestao das Musas seria ento o prprio corpo do Homem - este sim, o verdadeiro templo das Musas,
atravs do qual elas se manifestam pela palavra, pelo canto e pelos mitos de origem.
16
Eis a a essncia mesma do Museu: a criatividade, a espontaneidade, a tradio oral. A origem do Museu no
est, portanto, sujeita a um lugar especfco, nem a um conjunto especfco de referncias: ele fato dinmico,
eternamente a conjugar memria, tempo e poder, recriando-se continuamente para seduzir o ouvinte pela sua
voz. Podemos, ento, perceb-lo como fenmeno, como algo que se d em processo, essencialmente vincu-
lado dinmica dos processos culturais. E compreender que, como fenmeno, se manifesta e faz presente na
experincia humana de diferentes maneiras: o Museu se d em pluralidade.
MUSEOLOGIA E MUSEU
Museu , pois, um nome genrico que se d a um conjunto de manifestaes simblicas da sociedade humana,
em diferentes tempos e espaos. As diferentes formas de Museu nada mais so do que representaes (ou ex-
presses) desse fenmeno, em diferentes tempos e espaos, de acordo com as caractersticas, os valores e vises
de mundo de diferentes grupos sociais. E a Museologia no tem como objeto de estudo os museus, ou a institui-
o museu, mas sim a idia de Museu desenvolvida em cada sociedade, em cada momento de sua histria. Esse
movimento torna-se possvel por meio da investigao dos diferentes modos e formas pelos quais a sociedade
humana percebe o Real traduzidos pela relao que se estabelece, em cada momento, entre indivduo, socie-
dade e toda parcela do Real apreendida sob a forma de realidade, por um determinado grupo social.
Sociedades diferentes possuem diferentes vises de mundo e a idia de Museu uma das muitas represen-
taes simblicas desenvolvidas por grupos sociais especfcos, em momentos determinados de sua trajetria
no tempo. Podemos dizer, ento, que a idia de Museu desenvolvida em cada sociedade se fundamenta nas
relaes que se estabelecem entre o humano e o meio natural, a cada momento de sua trajetria no plan-
eta e que se traduz por meio de diferentes cdigos e valores, especfcos da cultura de cada grupo social. A
relao entre Homem, cultura e meio ambiente, em cada poca, em cada lugar, o que efetivamente constitui
o fundamento da idia de Museu.
16
SCHEINER, Teresa C. Apolo e Dioniso no Templo... Op. cit. Na mesma obra, na pgina 21, rodap, verifca-se ainda o seguinte comentrio:
A origem do termo Museu poderia ainda ser Musaios, musico e poeta, flho de Selene e mestre de Orfeu, de qualquer modo associado
atividade criativa do canto - talvez ele mesmo uma das muitas interpretaes das musas na Grcia arcaica [nota da Autora].
4
2
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
Este o Museu que desejamos estudar: o museu fenmeno, o museu processo, o museu que independe de
um espao e de um tempo especfcos, mas que se revela de modos e formas muito defnidas como espelho
e smbolo de diferentes categorias de representao social. Compreender que Museu (fenmeno) no o
mesmo do que um museu (expresso limitada do fenmeno) permite-nos aceitar que ele assuma diferentes
formas; permite-nos, ainda, prestar ateno s diferentes idias de Museu, presentes no universo simblico
dos diferentes grupos sociais.
Apaixonado, contraditrio, em permanente processo, o Museu celebra a aventura da vida e valoriza o patrimnio
material e imaterial, defnidor de identidade dos diferentes grupos humanos. A partir do reconhecimento das
referncias patrimoniais que as identifcam, as sociedades criam museus. E como se articulam de distintas
maneiras, no tempo e no espao, criam e desenvolvem diferentes formas de Museu: o museu tradicional,
em suas vrias representaes (museu ortodoxo, museu exploratrio, museu de vizinhana, jardim botnico,
zoolgico, aqurio, planetrio); o museu de territrio sob a forma do museu a cu aberto, do parque nacio-
nal, da cidade-monumento, do ecomuseu; o museu virtual - que s existe na tela do computador; o museu
global memria da biosfera.
Conhecer a trajetria do Museu no quadro simblico das diferentes sociedades e compreender a sua relevn-
cia para a sociedade atual so tarefas da Museologia o campo disciplinar que estuda o fenmeno Museu
e suas relaes com o Real, no mbito dos sistemas de pensamento. A percepo do Museu como fenmeno
ou manifestao cultural, capaz de assumir diferentes formas e apresentar-se de diferentes maneiras, de
acordo com os sistemas de valores priorizados em cada sociedade, confgura bases de anlise especfcas da
Museologia jamais, antes, abordadas por outros campos do conhecimento. Entre os fundamentos tericos
da disciplina museolgica, estariam:
o reconhecimento do carter plural do Museu (ele se faz representar sob diferentes formas, muitas das
quais coexistem no tempo e no espao);
a percepo de que ele processo, e no produto cultural (e portanto, est em contnua mutao, d-se
no instante, e se defne na relao);
A compreenso de sua essencial liberdade (qualquer espao, fato, fenmeno ou objeto , potencialmente,
museu - se, quando e enquanto assim for nomeado;
17
O estudo dos processos intrnsecos relacionados ao Museu - que tm como base o processo de musea-
lizao, sobre o qual se constituem os processos curatoriais.
O estudo da trajetria do Museu como representao nos mostra que ele vem sendo entendido simultanea-
mente como: espao fsico ou geogrfco (territrio, espao aberto ou edifcao), contendo registros mate-
riais (mveis ou imveis) ou imateriais de patrimnio; espao intelectual de criao e produo de cultura
(incluindo-se aqui os espaos imaginrios, que confguram o que se poderia denominar o museu interior); es-
17
Ver SCHEINER, Teresa C. (coord.) - Interao museu-comunidade pela Educao Ambiental. Rio de Janeiro: Tacnet Cultural Ltda., 1991; ___.
Repensando os Limites do Museu. Editorial. Boletim ICOFOM LAM, Ano III no. 6/7, dez. 92/abril 93, p. 1-2.
4
3
|
O
M
u
s
e
u
c
o
m
o
p
r
o
c
e
s
s
o
4
4
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
pao de explorao, investigao e experimentao; espao de preservao de registros da memria humana
e do planeta. Essas dimenses no so necessariamente consideradas ou trabalhadas em separado, podendo
articular-se das mais diversas formas, de acordo com cada representao do fenmeno. E levam-nos tambm
a verifcar que a atividade museolgica pode desenvolver-se no apenas naqueles lugares tradicionalmente
reconhecidos como museus, mas tambm em qualquer espao ou esfera simblica onde o humano se haja
integrado natureza, para produzir cultura.
Nada no Museu , portanto, absoluto e nem poderia ser, luz do conhecimento contemporneo, que a
tudo relativiza.
18
A negao de vnculos absolutos entre Museu e Museologia e a percepo de que podem
existir museus sem museologia e museologia sem museus permite explicar as diferenas de qualidade de
inmeras instituies denominadas museus, bem como a existncia de uma vigorosa produo museolgica
fora dos limites dos museus institudos por exemplo, nas universidades.
Trabalhar o Museu nas suas diversas manifestaes ajuda ainda a perceber como certas sociedades constroem
a sua auto-narrativa: como elas se colocam no mundo, como vem o mundo, e qual esse mundo que vem.
O Museu seria, assim, espelho e sntese de um Real que se nos apresenta em multiplicidade: enquanto sub-
stncia (domnio da flosofa), matria (domnio da fsica) ou instncia relacional (domnio da comunicao)
aquilo que o conhecimento contemporneo reconhece como o Real complexo. importante fazer aqui uma
distino conceitual entre real e realidade, lembrando que o termo Real, na flosofa, remete percepo de
um todo unvoco e no separvel, do qual se destaca a realidade como local, atual, pontual, como a aparn-
cia do real, a verso do real no instante presente
19
. E como tudo se transforma continuamente, o sentido
no est, nem por um momento, nas coisas - est na relao.
20
Eis como deve ser percebido, hoje, o Museu: enquanto dobra (do Real), fenmeno, processo livre, plural, em
permanente e continuada mutao. esse o Museu em que acreditamos: o que se d no instante, em todas as
suas formas, em todas as suas manifestaes, tambm chamadas museus: a praa, a aldeia musealizada, a
cidade-monumento, o jardim botnico, o zoolgico, o aqurio, o parque nacional, o centro de cincia e tcni-
ca, a galeria de arte contempornea, o ecomuseu. E tambm o museu-tesouro, o templo, e o museu virtual - s
existente na tela do computador. E o museu-relicrio, museu interior, sntese das nossas pequenas (e grandes)
experincias pessoais. O museu integral, a grande memria da biosfera. Cada dobra analgica ao modelo, mas
ainda assim nica, enquanto individuao. Cada uma com seu prprio espao, seu prprio ritmo, seu prprio
tempo... como o quadro de Deleuze, que se torna belo aos nossos olhos quando se sente que o movimento,
que a linha que est emoldurada vem de fora, que ela no comea no limite da moldura
21
.
18
-___ - On Museum, Communities and the Relativity of it All. In: ICOM/ICOFOM. Symposium Museum and Community ICOFOM Study Series
no. 25, II. Stavanger, Norway: July 1995. p. 95-98
19
MARTINS, Andr. Esboo de uma flosofa tica. Dissertao de Mestrado. RJ: UFRJ/ECO, 1990. xerox. Introduo.
20
Ibid. In Op. Cit, p. 35-36.
21
Gilles Deleuze apud HAINARD, Jacques; KAHER, Roland. Objets prtextes... Op. cit.p. 184
4
5
|
O
M
u
s
e
u
c
o
m
o
p
r
o
c
e
s
s
o
Falemos, ento, aqui, de duas dimenses do Museu: o museu em potncia e o museu manifesto. Potencial-
mente, o Museu pode existir em qualquer lugar - nos raros lugares do planeta apenas tocados pelo humano,
e onde os processos naturais encontram-se ainda quase totalmente preservados; ou mesmo nos mltiplos
universos, reais ou simblicos, at onde pode ir a mente humana: do museu interior, onde complexos proces-
sos da memria, da mente e dos sentidos confguram um patrimnio mental muito especfco, biosfera, ao
universo cosmolgico; dos territrios geogrfcos ao universo dito virtual. nesse incomensurvel universo de
possibilidades que as diferentes manifestaes do Museu vm se realizando, pelo tempo: do canto ditirmbico
ao Mouseion de Alexandria; dos tesouros nos claustros e catedrais aos rituais pagos de um medievo pleno de
contradies; do gabinete de curiosidades s feiras populares; das colees reais ao museu da Revoluo; do
museu tradicional aos museus de territrio; das colees de arte contempornea ao ecomuseu; dos parques
naturais musealizados ao museu virtual
22
cada expresso ou representao de Museu trazendo sempre a
marca de seu criador, e do tempo e lugar onde foi criada.
Museu Tradicional, Museu Integral, Museu Virtual, Metamuseu: espelho de muitas faces, cada uma delas in-
teragindo de formas especfcas com o corpo social, numa relao de extrema complexidade. Este o Museu
que se d na relao: cada indivduo ou grupo social o defne para si mesmo - no sendo nenhuma forma de
museu, em nenhuma circunstncia, melhor do que a outra. Museologia cabe atuar o Museu nas suas dife-
rentes manifestaes, tratando de compreender em profundidade quais os contextos, razes e propsitos que
as fundamentam, e buscando identifcar como algumas delas se realizam hoje na sociedade contempornea.
Esse um movimento importante para fortalecer o Museu como sntese das mltiplas realidades sociocul-
turais do passado e do presente; e como instncia de legitimao e reconhecimento da diferena, da empatia
e da participao social. Difcil misso, impregnada de sutilezas ticas: muselogos, hoje, devem atuar como
mediadores entre as vrias manifestaes do Museu e a sociedade, usando os museus como agncias de
formao e de transformao; devem elaborar um discurso que permita aos distintos grupos sociais maior
compreenso sobre seu lugar no mundo, seus direitos e suas responsabilidades para com o meio ambiente. E
tambm, quando necessrio, utilizar a Museologia como instrumento contra a face perversa da globalizao
a favor da pluralidade cultural e social, das liberdades polticas e flosfcas e da paz. Mas essa a prtica
museolgica apenas possvel quando se percebe o Museu em processo, jamais como coisa dada - e quando se
admite o Museu em pluralidade.
MUSEU COMO PROCESSO: DESAFIOS CONTEMPORNEOS
As muitas dimenses do Museu que se delineiam hoje, como presena, podem ser facilmente apreendidas pelo
pensamento contemporneo, que percebe a realidade de forma plural, ainda que submetida aos imperativos
do individualismo. E como hoje as coisas j no so vistas como dadas, mas sempre em processo, no im-
possvel imaginar o Museu em processo tambm. E um processo sobre o qual podemos ter interferncia: pois
22
Cf. SCHEINER, Teresa C. Apolo e Dioniso no Templo... Op. cit.
4
6
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
j no mais queremos ser apenas o espelho do mundo, mas sim agentes de criao de um mundo que nos
todo particular, e que seja o prolongamento de nossa prpria experincia. Nesse novo ambiente perceptual,
onde j no pensamos o acontecimento em historicidade, ou num continuum presente-futuro, mas em tempo
real, importante analisar o Museu no como algo que , mas como algo que est sendo movimento que
s possvel se mergulharmos no Museu como experincia. importante tambm reconhecer a presena e
a infuncia avassaladoras das novas tecnologias no como acessrio tcnico, mas como instncia de pos-
sibilidades, como abertura para novas expresses e realizaes do Museu, nos mltiplos universos paralelos
tornados possveis pela realidade virtual.
Muito se escreve sobre o Museu Virtual, como expresso mais contempornea do fenmeno Museu ou sobre
as infnitas possibilidades de captura, codifcao e interpretao de um patrimnio digital. Mas pouco se
investiga e se experimenta a potncia do Museu em relao a esses universos paralelos, onde se abrem as
mais infnitas possibilidades de criao, desvelamento e entrecruzamento de experincias. E exatamente a
neste ambiente, onde se diluem as diferenas entre comunicao e conhecimento e onde o indivduo perde
seus limites, imerso numa imensa malha de produo transindividual, que reside a potncia maior do museu
contemporneo: a de alternar mudana e permanncia, de maneiras totalmente inusitadas.
Lembremos que hoje o pensamento apreendido em processo e no produto, e tambm que o exerccio do
poder, que na Modernidade vinculava-se identidade, agora d-se como informao. Como afrma Serres
23
,
somos todos mensageiros, habitamos espaos de comunicao, difceis de representar pelos sistemas e cdi-
gos tradicionais. Nesse ambiente sem territrio todos os lugares esto no mesmo lugar: centro e circunfern-
cia. como se o mundo no existisse sem esse tecido complexo de relaes continuamente entremeadas
24
,
onde as prprias coisas prolongam os lugares at o universo. Construmos simulacros para que pensem por
ns, para ns e atravs de ns.
preciso ento buscar compreender como o Museu est sendo neste ambiente cultural que nos circunda e quais
os movimentos que o identifcam, como voz da contemporaneidade. Descobriremos, sem muita difculdade, que
o Museu se nos apresenta, hoje, fundamentalmente, como instncia imagtica: seja na virtualidade, seja no es-
petculo. E, ainda que a imagem no possa jamais substituir o objeto, ou mesmo as expresses de vida existentes
num territrio, inegvel a fora que tem a imagtica de reter e, ao mesmo tempo, modifcar os registros do Real
(no apenas do real exterior, mas tambm das representaes do nosso mundo interior - nosso universo simbli-
co). Temos assim a iluso de sermos senhores de nossas prprias lembranas, de sermos capazes de manipular a
memria em sua totalidade, como produto e como processo. Que outra iluso justifcaria as infnitas experin-
cias de captura do patrimnio em sucessivos bancos de dados
25
, ou a existncia de projetos como a Memria
23
SERRES, Michel. Atlas. Lisboa: Inst. Piaget, s/d (Col. Epistemologia e Sociedade).
24
Idem. p. 132
25
Cf. SCHEINER, Tereza. Imagens do No-lugar: Comunicao e os Novos Patrimnios.. Rio de Janeiro: ECO/UFRJ, 2004. cap. 3 (Tese de
Doutoramento).
4
7
|
O
M
u
s
e
u
c
o
m
o
p
r
o
c
e
s
s
o
do Mundo
26
, estabelecida pela UNESCO para documentar, preservar e disseminar o patrimnio contido nos
arquivos e bibliotecas de todo o mundo (incluindo arquivos fonogrfcos, imagticos e digitais), protegendo-
nos da amnsia coletiva?
Como as antigas musas, as novas expresses do Museu visam trazer nossa presena aquilo que, sem elas,
seria esquecimento; e pretendem no apenas presentifcar o mundo no Museu, mas tambm presentifcar, em
processo, o Museu no mundo. Os prprios museus tradicionais tornam-se espaos multifacticos, incorpo-
rando as tecnologias digitais de modo a reinscrever-se no mbito do maravilhoso.
27
Presentifcao e documentao por meio das tecnologias digitais... Mas seria isto a virtualidade? No neces-
sariamente, pois o uso dos multimeios e das novas tecnologias em espaos musealizados em nada modifca o
fato de que esses museus sero, ainda assim, representaes de modelos institudos na moder-nidade...
Como j havamos afrmado em trabalhos anteriores, Museu virtual o que ganha corpo e forma na tela
do computador, e tanto pode ser resultado do trabalho de um s autor ou de uma colagem multiau-
toral. O importante perceber, aqui, uma nova forma de potncia: a de permitir que cada indivduo pos-
sa ter consigo a sntese do Museu desejado: no apenas a recriao virtual de um objeto ou coleo, mas
tambm a fachada de um museu, ou o percurso de uma exposio. Desterritorializado, este o museu
do no-lugar e simultaneamente, de todos os lugares, pois entra em rede e alcana o mundo em tem-
po real
28
. Ele a anttese da cultura de massa, pois acess-lo um ato isolado, que depende dos tempos
e espaos perceptuais de cada indivduo; mas permite uma forma inusitada de ligao: a do indivduo com a
sua prpria capacidade criativa. Permite, ainda, que se vivencie o museu como processo, facilitando a percep-
o das demais expresses do fenmeno Museu.
Entre os exemplos possveis nenhum parece ser mais adequado para exemplifcar esse carter processual
do que o Museu Temporrio da Mudana Permanente (The Temporary Museum of Permanent Change),
29
um
projeto participativo de base comunitria desenvolvido na cidade de Salt Lake City, Utah, Estados Unidos
26
UNESCO. Memory of the World. Disponvel em http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=1538&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.
Em 16.04.2008.
27
Lembramos, aqui, que o advento do museu virtual no diminui a importncia cultural dos outros modelos: ao contrrio, uma das marcas da con-
temporaneidade o fortalecimento do museu tradicional enquanto modelo mtico, mais que nunca representativo da potncia do capital. No tempo
da imagtica, o museu tradicional seduz pela presena do objeto. Na sua forma mais estvel (as mostras permanentes), um espao de encontro,
de congregao de pessoas, de reunio; e tambm o cenrio privilegiado da novssima burguesia - que, no tendo palcios onde congregar sua
corte, realiza no museu seus ritos sociais: formaturas, aniversrios, casamentos, saraus. Na sua forma deambulatria, multiplica-se em exposies
itinerantes, simulacro da cultura desterritorializada dos nossos dias: protegidos pela tecnologia, acervos cruzam o mundo, e hoje possvel mostrar,
simultaneamente, Monet no Rio de Janeiro e o ndio amaznico em Paris. Assume, ainda, seu lado dionisaco, fazendo-se perceber como espao de
desordem atravs de instalaes, representaes efmeras, ou mesmo pela incorporao do que a Psicologia entender por temas malditos.
28
O museu virtual no tem modelo, ele se recria continuamente, acionado pela vontade de seus criadores. Pode ainda existir nos pequenos aparatos
individualizados da realidade virtual- que, colocados na cabea de um indivduo, literalmente o projetam para dentro da imagem. Existir na ima-
gem, ser ele mesmo um corpo virtual, estar num no-tempo, num no-lugar - eis o desejo absoluto do homem contemporneo. Pois estar no mundo
absurdo do simulacro representa a imortalidade. SCHEINER, Tereza. As bases ontolgicas do Museu ... Op.cit.
29
Disponvel em http://www.museumofchange.org/ Consultado em 16 de abril de 2008.
4
8
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
para abordar o contnuo processo de mudana que ocorre no meio urbano. um museu plural em todos os
seus aspectos: articula produo de vdeos, arte visual, arqueologia urbana, histria e antropologia locais, ex-
posies de rua, bem como processos de construo e desconstruo arquitetnica, num continuado esforo
para administrar e celebrar a mudana
30
.
No tem endereo especfco, constituindo um apanhado de idias representativas dos processos de mudana
da cidade, veiculadas essencialmente em meio virtual; mas suas pegadas se encontram no centro urbano da
cidade. Com um discurso atualizado e pleno de charme, o museu estende a todos um convite: Sempre mu-
dando sempre aberto veja voc mesmo
31
. E sugere que faamos o download de um tquete de entrada. Ao
faz-lo, lemos o termo de admisso: admitimos temporariamente a sua paixo pela mudana...
Percebemos, aqui, o Museu na sua face mais verdadeiramente contempornea: a que o instaura como sistema
semiolgico, ou acontecimento essencialmente vinculado irrupo do novo, sem que necessariamente
acontea enquanto forma (pr)dada, representao no tempo ou presena materializada no espao. Ou algo
que pode ser simultaneamente todas essas coisas.
E como fcariam os processos curatoriais frente a essas realidades? Ora, onde sempre estiveram: no lugar de
dispositivos tcnicos, segundo os quais se realizam as funes intrnsecas a cada um desses tipos de Museu.
So eles que garantem a sua existncia e legitimidade, e atravs deles podemos reconhecer como os museus
evoluem no tempo mesmo que seja em tempo real. No museu tradicional (qualquer seja a sua forma), esses
processos estaro sempre sob o controle absoluto do especialista e tero como norte um pblico conhe-
cido pela estatstica; nos museus comunitrios, ou ecomuseus, sero objeto de infnitas negociaes entre
especialistas e comunidades, usurias, elas mesmas, desses museus; nos museus virtuais sero o resultado
de interessantes e complexas interfaces entre especialistas, comunidades localizadas no espao geogrfco e
indivduos que atuaro simultaneamente como criadores e usurios, como parte da incomensurvel comuni-
dade que acessa a rede.
Por trs de todos esses processos, de todas essas dinmicas, permanece o movimento que deu origem ao mito
das Musas, e que a essncia do prprio Museu: a necessidade de presentifcar a experincia humana, para
que ela no caia na noite do esquecimento.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
JEFFERS, Carol S. Museum as process Disponvel em http://muse.jhu.edu/demo/the_journal_of_aesthetic_education/v037/37.1jefers.html.
HESODO. Teogonia: A origem dos deuses. Estudo e trad. Jaas Torrano. RJ, Bibl. Plen, Iluminuras, 1991.
MAURE, Marc. Nation, paysan et muse: La naissance des muses dethnographie dans les pays scandinaves (1870-1904). Disponvel em
30
Ibid.
31
No original: Always changing always open see for yourself.
4
9
|
O
M
u
s
e
u
c
o
m
o
p
r
o
c
e
s
s
o
http://terrain.revues.org/document3065.html#tocto2. Em 15.04.2008
SCHEINER, Tereza C. Apolo e Dioniso no Templo das Musas: Museu: gnese, idia e representaes nos sistemas de pensamento da sociedade
ocidental. Dissertao de Mestrado. ECO/UFRJ, 1997.
_________ . As bases ontolgicas do Museu e da Museologia. In: Museologa, Filosofa e Identidad en Amrica Latina y el Caribe / Museologia,
Filosofa e Identidade na Amrica Latina e Caribe. VIII ICOFOM LAM. RJ, Tacnet Cultural Ltda., 2000. CD.
________ . Imagens do No-lugar: Comunicao e os Novos Patrimnios. RJ: ECO/UFRJ, 2004 (Tese de Doutoramento).
________ . On Museum, Communities and the Relativity of it All. In: ICOM/ICOFOM. Symposium Museum and Community ICOFOM Study
Series no. 25, II. Stavanger, Norway: July 1995.
________ . Repensando os Limites do Museu. Editorial. Boletim ICOFOM LAM, Ano III no. 6/7, dez. 92/abril 93, p. 1-2.
SERRES, Michel. Atlas. Lisboa, Inst. Piaget, s/d (Col. Epistemologia e Sociedade).
STRINGER, Jacob. Visual Art / Work in Progress: The Temporary Museum of Permanent Change chronicles a city in fux Disponvel em http://
www.slweekly.com/index.cfm?do=article.details&id=A7B0DF81-C9A0-130D-7F01003C1991C48C. Em 16.04.2008.
The Temporary Museum of Permanent Change. Disponvel em http://www.museumofchange.org/events/storyprojects.php
UNESCO. Memory of the World. Disponvel em http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=1538&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.
html.
VERNANT, J. P. As origens do pensamento grego. Trad. de Isis Borges B. da Fonseca. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 9 ed., 1996.
DE OBJETOS A PALAVRAS
Refexes sobre curadoria de
exposies em Museus de Histria
Aline Montenegro Magalhes
Francisco Rgis Lopes Ramos
p
a
r
t
e
2
... porque se os mortos no estiverem no meio dos vivos acabaro
mais tarde ou mais cedo por ser esquecidos...
Jos Saramago.
1
institucionalizao dos museus de histria relaciona-se uma preocupao: combater o esquecimento. Vest-
gios de pocas mortas, quando so coletados, preservados e expostos ao olhar dos vivos, podem abrir muitos
espaos para o ato de lembrar. Por outro lado, esses indcios do passado devem servir, no nosso entender, para
a elaborao de problemticas histricas sobre as relaes entre passado, presente e futuro.
Expor ao olhar est entre as principais funes de um museu. Por meio das suas mostras, temporrias ou de
longa durao, o museu oferece ao pblico o contato com os vestgios do passado. Esse contato pode ser
realizado de vrias formas, que vo desde a experincia sensvel at a construo da conscincia histrica,
podendo passar pelo espetculo, pela chamada interatividade e pela crtica, dependendo do tom que dado
traduo de um conceito, uma idia ou uma determinada abordagem da histria em uma narrativa tridimen-
sional que combina imagens, objetos, textos e outros recursos. Nessa perspectiva, pretendemos refetir sobre
algumas questes que envolvem o trabalho de curadoria
2
de exposies em museus de histria. Uma delas diz
respeito prpria historicidade do ato de expor sobre o passado; outra se refere aos objetivos a serem alca-
nados quando pensamos em uma exposio de histria, o que, necessariamente, implica uma preocupao
de carter educacional. Por fm, buscamos interpretar certas relaes de poder entre a palavra impressa e o
objeto exposto no ambiente museolgico.
EXPOSIES SOBRE O PASSADO E SUA HISTORICIDADE
A seleo de objetos antigos e sua organizao em exposies possuem uma historicidade. Outras formas de
acesso ao passado, antes da confgurao da Histria como campo especfco do saber, mobilizaram a orga-
nizao de museus. Entre outras, podemos citar a sensibilidade dos antiqurios do sculo XVIII
3
, que, ao salvar
fragmentos materiais de tempos longnquos, desejava ressuscitar a realidade vivida naqueles perodos em que
os objetos foram produzidos e tiveram uma funo social, seja por sua utilidade ou por seu pertencimento. As-
sim, antiqurios, como Bryan Fausssett e Alexandre du Sommerard
4
, criaram museus, nos quais os fragmentos
1
SARAMAGO, Jos. Todos os nomes. So Paulo: Companhia das Letras, 2007. p. 208.
2
Segundo Solange Ferras de Lima e Vnia Carneiro de Carvalho, a prtica curadorial consiste na produo de um sistema documental, de conheci-
mento na rea da cultura visual e de obras dedicadas ao pblico de um museu de histria. Cf. LIMA, Solange Ferraz de. CARVALHO, Vnia Carneiro
de. Cultura Visual e curadoria em museus de histria. Estudos ibero-americanos. Porto Alegre, PUCRS, v. 31, n. 2, p.53-77, dez. 2005.
3
BANN, Stephen. Vises do passado: refexes sobre o tratamento dos objetos histricos e museus de histria. In:___. As invenes da histria:
Ensaios sobre a representao do passado. So Paulo: Unesp, 1994.
4
Citamos esses dois antiqurios como exemplo por terem sido analisados em ensaio do historiador Stephen Bann. O ingls Bryan Faussett
(1720-1776) no criou propriamente um museu, mas sim pavilho de fragmentos histricos onde expunha sua vasta coleo de antiguidades. J o
francs Alexandre du Sommerard (1779-1842) criou o Museu de Cluny em Paris onde expunha suas colees de objetos da Idade Mdia e do Renas-
cimento. Cf.: Bann, Stephen. Vises do passado... Op.cit.
5
1
|
D
e
o
b
j
e
t
o
s
a
o
a
l
a
v
r
a
s
.
R
e
f
e
x
e
s
s
o
b
r
e
a
c
u
r
a
d
o
r
i
a
d
e
e
x
p
o
s
i
e
s
e
m
M
u
s
e
u
s
d
e
H
i
s
t
r
i
a
5
2
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
histricos mais valorizados por seu valor de poca do que pelo seu valor histrico
5
eram acumulados de
forma a ocupar todos os espaos disponveis e provocar os sentidos, o envolvimento do observador com pret-
rito visualizado. Nessa perspectiva, os objetos, por si, deveriam proporcionar uma experincia sensorial com
pretrito representado. As inscries impressas em placas ou legendas cumpriam a funo de potencializar a
capacidade dos objetos falarem sobre o passado, ou melhor, trazerem o passado para o presente.
Essa atitude antiquria para com o passado foi apropriada pela Histria como parte de seus procedimentos
cientfcos quando a nova disciplina passa a valorizar a pesquisa sistemtica sobre documentos histricos, como
forma de provar a existncia do pretrito. Tais documentos so encarados como testemunhos das realidades
estudadas. Entretanto, aps essa inspirao na erudio antiquria, a Histria passa a deslegitim-la como via
de acesso ao passado, confgurando uma querela entre dois campos autnomos do saber, na qual as prticas dos
antiqurios acabaram subordinadas Histria como suas auxiliares.
6
Afnal, os objetos no falavam mais por
si sobre os homens e acontecimentos remotos, e a escrita textual foi a que ocupou esse lugar de fala.
Segundo Stephen Bann, a atitude antiquria tambm contribuiu poderosamente para o mito dominante da
historiografa romntica a de que o passado seria ressuscitado
7
. Nessa perspectiva, o historiador alemo
Leopold Von Ranke procurou devolver vida s experincias remotas por meio de sua escrita, dedicada reconsti-
tuio rigorosa de como os fatos histricos efetivamente teriam acontecido
8
. Assim, o crescente interesse que
o passado despertava no perodo motivou poetas e romancistas do sculo XIX a escreverem sobre personagens e
tramas histricos em textos impressos, relegando aos fragmentos materiais um papel de ilustrao, fgurao.
Os antiqurios davam valor a objetos histricos, e no anacrnico sugerir que este valor era do terceiro tipo
mais tarde teorizado por Riegl, nem artstico, nem, propriamente falando, histrico no tipo, mas identifcado
com os sinais visveis de velhice e decadncia. Mas os poetas, romanciamente, historiadores, que eram ungidos
pela sensibilidade antiquria, foram capazes de levar mais longe suas intuies, articulando novas narrativas
pitorescas e dramticas de um passado at ento abandonado. Na medida em que essa narrativa assumia o
papel principal de servir como um cone do processo histrico, ela tendia, inevitavelmente, a esvaziar o objeto
e a imagem de seu papel cataltico. visualizar o passado no era mais uma questo de mediao atravs da
representao visual, ou pelo menos no predominantemente: o pblico leitor podia imaginar um reino rico
e pitoresco, agudamente diferenciado do mundo de hoje, simplesmente atravs da mediao da palavra im-
pressa. (...) No obstante, parece vlido argumentar que o estmulo original oferecido pela imagem tende a ser
anulado pela existncia de uma narrativa forte, que a relega a um papel meramente decorativo.
9
5
Seguimos as consideraes do historiador da arte Alois Riegl ao falarmos dos valores de poca, histrico e artstico. Cf. RIEGL, Alos. Le culte moder-
ne des monuments. Paris: Seuil, 1984.
6
Cf. GUIMARES, Manoel Luiz Salgado. Memria, Histria e museografa. In: BENCHETRIT, Sarah Fassa; BITTENCOURT, Jos Neves; TOSTES, Vera Lcia
Bottrel. Histria representada: O dilema dos museus. Rio de Janeiro: Museu Histrico Nacional, 2003. p. 75-96. GUIMARAES, Manoel Luiz Salgado.
Vendo o passado. Anais do Museu Paulista (V.15, n. 2, jul-dez 2007. p. 11-30) So Paulo: Museu Paulista/USP, 2007..
7
Idem. p. 162
8
BANN, Stephen. The Clothing of Clio: A study of the representation of history in nineteenth-century Britain and France. Cambridge: Cambridge
University Press, 1984. p. 22.
9
BANN, Stephen. Vises do passado... op.cit. p. 163/164.
5
3
|
D
e
o
b
j
e
t
o
s
a
o
a
l
a
v
r
a
s
.
R
e
f
e
x
e
s
s
o
b
r
e
a
c
u
r
a
d
o
r
i
a
d
e
e
x
p
o
s
i
e
s
e
m
M
u
s
e
u
s
d
e
H
i
s
t
r
i
a
A narrativa sobre o passado baseada em pesquisas de documentos sobretudo aqueles em suporte de papel vistos
como mais confveis do que os fragmentos materiais teve peso signifcativo na cientifzaoa Histria. Parecia
que s por meio de sua trama era possvel ter uma apreenso total do passado; ter o conhecimento sobre como
teria sido.
10
A fora do discurso histrico acabou por infuenciar a organizao dos objetos antigos nos museus
histricos, uma vez que as exposies de antigidades passaram a se submeter lgica cronolgica, temtica
e teleolgica da Histria. As exposies deixam de ter uma organizao que os historiadores consideram como
catica
11
, impregnada de peas por todos os lados e passa a seguir um circuito narrativo, de modo que a visualiza-
o do passado passa a ser uma leitura da Histria. Os vestgios que sobreviveram ao tempo fcam subordinados
palavra impressa que se impe em forma de legendas e explicaes de paredes. Deixam de fazer sentido em si
mesmos e passam a compor textos tridimensionais: como um livro de memrias que se l com o corao
12
.
As exposies museolgicas sobre o passado, a partir do sculo XIX, tendem a fcar atreladas lgica his-
toriogrfca, sendo muitas vezes representaes tridimensionais dos discursos produzidos nas academias e
nas universidades. Podemos citar o Museu Histrico Nacional, criado em 1922, como um exemplo de como
a organizao dos objetos deixaram de seguir uma lgica antiquria para se adequar a um modelo narrativo
prprio da Histria.
At 1930, as exposies montadas pelo diretor Gustavo Barroso seguiam a lgica colecionista. Cada galeria era
denominada segundo trs critrios, encerrando em si a representao do passado.
13
O primeiro critrio era quan-
do a denominao da sala referia-se principal coleo, formada segundo a tipologia ou utilidade dos objetos.
Na Arcada dos Coches, por exemplo, estavam expostos 8 meios de transportes terrestres de todas as pocas. Na
Arcada dos Canhes, havia 18 peas de artilharia de todas as pocas. O segundo critrio era quando o nome se
relacionava a um tema ou personagem da histria ao qual as colees se referiam diretamente, como a Sala dos
Ministros, que guardava 311 objetos relativos aos Ministros da Guerra e histria militar de todas as pocas,
como armas brancas e retratos; Sala Osrio, que abrigava objetos que pertenceram ao al e que deveriam se remeter
Guerra do Paraguai, somando 116 itens entre os quais o busto do militar, artigos de viagem e indumentria. O
terceiro critrio emergia quando o nome no expressava uma relao imediata com os objetos expostos, como
a Escadaria dos Escudos que apesar do nome, era composta em sua maioria por retratos, mas guardava tam-
bm fragmentos de construo e brases e a Sala dos Capacetes, que continha objetos das pocas colonial,
Brasil-Reino, Independncia e Regncia. Ressalta-se que s havia quatro capacetes de bronze da Imperial
Guarda de Honra e uma diversifcada coleo de outros objetos, como quadros, documentos textuais, frag-
mentos de arquitetura, armaria, porcelanas, livros, oratrios etc., que somavam 328 peas. A denominao
dessa sala parecia atribuir uma hierarquia aos itens em exposio. Apesar de pouco numerosos, os capacetes
10
GUIMARES, Manoel Luiz Salgado. Memria, histria e historiografa. In: BENCHETRIT, Sarah Fassa, BITTENCOURT, Jos Neves, TOSTES, Vera Lcia
Bottrel. Histria representada: o dilema dos museus. Rio de Janeiro: Museu Histrico Nacional, p. 75-94, 2003. p. 90
11
Aos olhos dos antiqurios essa organizao fazia sentido e era legitimada pela idia de experincia com o passado pelos sentidos, como a viso e o
olfato. Via-se o passado; respirava-se o passado e esse contato gerava a idia de que o passado revivia naquele lugar.
12
RIBEIRO, Adalberto. O Museu Histrico Nacional. Revista do Servio Pblico, fev. 1944.
13
BARROSO, Gustavo. Catlogo Geral Primeira Seco: Archeologia e Histria. Rio de Janeiro, 1924.
devem ter sido eleitos como relquias mais valiosas do que as outras do mesmo espao.
14
A partir dessa carac-
terizao da exposio museolgica do MHN de 1924 percebe-se que, em certo sentido, o tempo linear no
foi o fo condutor da exposio. Havia outras maneiras de estabelecer contatos com o pretrito, parmetros
que misturavam perspectivas nacionalistas com a sensibilidade antiquria.
A partir de 1930, a exposio ganha uma confgurao cronolgica e temtica, enfatizando personagens
e acontecimentos em um sentido linear. Parece assumir um carter de texto tridimensional, sistematizado
segundo os paradigmas historiogrfcos ofciais do sculo XIX, especialmente os estabelecidos pelo Instituto
Histrico e Geogrfco Brasileiro. O circuito feito para os visitantes fcou assim organizado: Arcada dos Desco-
brimentos (no Ptio de Minerva, logo entrada do Museu); Colnia (Sala D. Joo VI); 1 e 2 Reinados (res-
pectivamente Pedro I e Pedro II); Marinha (Tamandar); Paraguai (Duque de Caxias); Osrio, Miguel Calmon,
Jias (Guilherme Guinle); Sala da Nobreza Brasileira e Getlio Vargas, entre outras.
15
Nesse caso, a Histria
contada pela lgica biogrfca ao enaltecer os heris e os estadistas, sendo que o tempo torna-se o principal
fo condutor da narrativa.
Vale destacar a especifcidade das publicaes que apresentavam as exposies do Museu Histrico Nacional
ao pblico, nos diferentes momentos aqui analisados. A primeira exposio tratada no catlogo de 1924,
cujas pginas trazem todas as salas de exposio com uma fotografa e todos os seus objetos, que somavam
um total de 2.486. Cada item da sala era listado e acompanhado das seguintes informaes: denominao,
pequeno histrico, origem e forma de entrada no MHN doao, compra, transferncia, recolhimento etc. Na
Sala dos Tronos, por exemplo, havia um Pancho de S. A. I. o Sr. Conde deu usado na Guerra do Paraguai com
sinais de balas. Procedncia: oferta de S. A. o Prncipe D. Pedro ao Museu Histrico.
16
J a exposio confgurada a partir de 1930 no possui um catlogo. Ela pode ser conhecida por meio de um
guia do visitante, cuja edio de 1955, onde, embora as salas sejam apresentadas, h pouca preocupao
com o conjunto dos objetos, uma vez que raros so os citados no corpo de um texto que procura orientar o
visitante em um circuito narrativo e cronolgico. Os objetos citados, quando citados, so aqueles eleitos como
principal atrao em uma galeria de heris ou de grandes acontecimentos:
Entra-se no Museu pelo Porto da Minerva, num ptio que tem sob as arcadas vrias maquetes representan-
do vultos histricos (...) Nas paredes vem-se os brases de D. Manuel, o Venturoso, Pedro lvares Cabral,
Pero Vaz de Caminha e os capites da armada que descobriu o Brasil, da se chamar essa dependncia Ar-
cada dos Descobridores. (...) Segue-se a Sala dos Donatrios (...) sua decorao feita com os brases dos
Donatrios das antigas Capitanias (...) Comea a coleo de porcelanas do Museu na Sala Brasil-Portugal
com as louas pertencentes a D. Joo VI e segue-se pelas salas dos Vice-Reis e da Nobreza Brasileira...
17
14
Cf. MAGALHES, Aline Montenegro. Culto da Saudade na Casa do Brasil: Gustavo Barroso e o Museu Histrico Nacional. (1922-1959). Fortaleza:
Museu do Cear/Secretaria da Cultura do Estado do Cear, 2006. (Coleo Outras Histrias). p. 49-66.
15
Sobre as primeiras exposies do Museu Histrico Nacional Cf. BITTENCORT, Jos Neves. Cada coisa em seu lugar. Ensaio de interpretao do
discurso de um museu de histria. Anais do Museu Paulista. So Paulo. Nova Srie. v. 8/9. p. 151-174. 2000-2001. Editado em 2003.
16
BARROSO, Gustavo. Catlogo Geral... op.cit. p. 139.
17
MINISTRIO DA EDUCAO E CULTURA. Museu Histrico Nacional. Guia do Visitante. Rio de Janeiro, 1955. p. 17-21
5
4
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
S
a
l
a
d
o
s
T
r
o
f
u
s
|
F
o
n
t
e
:
C
a
t
l
o
g
o
.
.
.
,
1
9
2
4
.
5
5
|
D
e
o
b
j
e
t
o
s
a
o
a
l
a
v
r
a
s
.
R
e
f
e
x
e
s
s
o
b
r
e
a
c
u
r
a
d
o
r
i
a
d
e
e
x
p
o
s
i
e
s
e
m
M
u
s
e
u
s
d
e
H
i
s
t
r
i
a
S
a
l
a
C
a
x
i
a
s
|
F
o
n
t
e
:
G
u
i
a
d
o
v
i
s
i
t
a
n
t
e
d
e
1
9
5
5
.
p
.
2
4
Por essa diferenciao na forma de apresentar as exposies ao pblico por meio de uma publicao possvel
inferir o quanto a tradio antiquria se impunha na primeira forma de organizao dos objetos nas galerias do
museu. Os vestgios materiais eram to valorizados que o visitante deveria saber todas as informaes a eles rela-
tivas, independente da narrativa histrica que se constituiria a partir de seus estudos ou de sua organizao no
circuito museolgico. O catlogo era um dos principais meios de sistematizao das informaes sobre as colees
que os antiqurios dos sculos XVII e XVIII utilizavam. Certamente, Gustavo Barroso partilhava dessa prtica.
No Guia do visitante (1955) o que sobressai a escrita da historia formada pelos objetos, de modo que o pblico
deveria comear sua visita pelos descobrimentos e fnaliz-la no perodo republicano, conforme cuidadosamente
era orientado na publicao. Caso essa orientao fosse ignorada ou desrespeitada, ou seja, caso o visitante
optasse por percorrer de forma diferenciada o circui-to, acreditava-se que as exposies no fariam sentido, con-
seqentemente o visitante no iria entender a monumental histria do Brasil fazendo com que sua ida ao museu
no cumprisse o objetivo esperado: o aprendizado sobre os vultos ilustres e os grandes acontecimentos histricos.
Miriam Seplveda dos Santos em seu trabalho A escrita do passado em museus histricos analisa as exposies
do Museu Histrico Nacional e do Museu Imperial de Petrpolis, buscando identifcar os diferentes discursos
produzidos ao longo da trajetria dessas instituies. Em relao ao MHN, infere que a exposio museolgica
organizada por Gustavo Barroso em 1924 caracterizava-se como a de um museu-memria:
... o forte simbolismo ou carisma atado s peas remete no a elas prprias, mas a uma realidade maior, da
qual os objetos so apenas um fragmento. O MHN de 1922, portanto, trabalhava com amostras do passado,
e no com exemplos. Fazia aluso ao passado e no procurava demonstr-lo.
18
A autora no analisa as exposies museolgicas organizadas a partir de 1930. Sua linha de estudos d um
salto para as exposies atuais do MHN, especialmente a denominada Colonizao e Dependncia, inaugu-
rada em 1987 e que considerada como a de um museu-narrativa, uma vez que o acervo no mais quem
dita a exposio; ele aparece como auxiliar na narrativa,
19
na escrita da Histria. Essa exposio parte de um
conceitual, as relaes de colonizao e dependncia que marcam a trajetria nacional para representar a
histria do Brasil por meio de textos e objetos. Seu discurso no mais o dos vultos ilustres e grandes acon-
tecimentos, mas sim articulado a uma perspectiva historiogrfca que valoriza os ciclos econmicos e a forma-
o das sociedades a partir das relaes de trabalho e da explorao de riquezas. Produzido em um momento
poltico considerado divisor de guas entre o regime ditatorial e a abertura democrtica, procura desconstruir
heris, inserir as minorias na representao histrica e denunciar as relaes de explorao colonial no Brasil,
desde o seu sentido poltico e econmico at a esfera cultural.
A abordagem do atual circuito expositivo do MHN, ao tratar a Histria do Brasil a partir de um problema
historicamente fundamentado, traz diferentes agentes sociais, como os negros, os ndios e os imigrantes. Sua
18
SANTOS, Myrian Seplveda. A escrita do passado em museus histricos. Rio de Janeiro: Garamond, MinC, Iphan, Demu, 2006. p. 21.
19
Idem. p.69.
5
6
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
concepo partiu de estudos e discusses interdisciplinares que contaram com profssionais de diversas reas
do conhecimento, como socilogos, antroplogos, historiadores, arquitetos e muselogos. Por outro lado, sua
museografa procura uma adequao s orientaes da Mesa Redonda de Santiago do Chile, realizada pelo
Icom (ICOM - International Council of Museums) em 1972, onde surgiu a declarao da Nova Museologia que
foi referendada e ampliada no encontro de 1984 na Declarao de Quebec.
A Nova Museologia tem essencialmente por misso favorecer por todos os meios, o desenvolvimento da
cultura crtica no indivduo e o seu desenvolvimento em todas as camadas da sociedade como melhor rem-
dio para a desculturizao, a massifcao ou a falsa cultura (...) Dependendo do tipo de instituio na qual
opera, a nova museologia, utiliza, ento as culturas etnolgicas e as culturas eruditas para proporcionar o
desenvolvimento desta cultura critica que permite adquirir o sentido da qualidade, libertar-se dos estere-
tipos e portanto, assegurar ao maior nmero uma estratgia de vida individual e coletiva do mesmo modo
que uma identidade mais forte.
20
Nessa perspectiva, possvel dizer que a preocupao com a formao e o desenvolvimento social forma um dos
pilares da Nova Museologia, uma vez que os museus podem e devem desempenhar um papel decisivo na educa-
o da comunidade.
21
No que a educao no estivesse na ordem do dia dos ditos museus tradicionais, mas na
perspectiva das novas diretrizes museolgicas esse papel educativo torna-se mais amplo e mais atuante, visando
contribuir diretamente para o desenvolvimento social, conforme as consideraes de Maria Madalena Cordovil:
o museu tradicional produz-se num edifcio, com uma coleo e para um pblico determinado. Trata-se agora
de ultrapassar estes princpios substituindo-os por um territrio, um patrimnio integrado e uma comunidade
participativa.
22
Assim, como as exposies de histria podem ser pensadas no sentido cumprir essa orientao
junto ao seu pblico?
CURADORIA DE EXPOSIES:
ENTRE A HISTRIA PROBLEMA E O CONSUMO DO PASSADO.
Como ressalta Jos Amrico Pessanha, preciso entender os museus no conceito das instituies argumentativas:
(...) mais do que em discursos museais, eu falaria em argumentos museais. Os museus, a meu ver, e no s
os museus, mas as cincias humanas tambm, e no s as cincias humanas, a flosofa tambm, ns todos
no dia-a-dia somos seres fundamentalmente argumentativos, persuasivos, o que uma maneira de dizer
que somos seres sedutores. Pretendemos cativar para nossas idias, nosso ponto de vista, nossa causa, nosso
20
Museologie et Cultures. apud CORDOVIL, Maria Madalena. Novos Museus. Novos perfs profssionais. Cadernos de museologia (N.3, 1993). Lisboa:
Centro de Estudos de Sociomuseologia, 1993 p. 14.
21
ICOM. Mesa-redonda de Santiago do Chile, 1972.
Disponvel em <http://www.revistamuseu.com.br/legislacao/museologia/mesa_chile.htm> Ultimo acesso em 27 abr. 2008.
22
CORDOVIL, Maria Madalena. Novos Museus.... Op.cit. p. 13 [grifos da autora]
5
7
|
D
e
o
b
j
e
t
o
s
a
o
a
l
a
v
r
a
s
.
R
e
f
e
x
e
s
s
o
b
r
e
a
c
u
r
a
d
o
r
i
a
d
e
e
x
p
o
s
i
e
s
e
m
M
u
s
e
u
s
d
e
H
i
s
t
r
i
a
programa, nosso partido, nossa religio, nossa mercadoria, nosso produto, nossa empresa, nossa ptria,
nossa causa poltica, enfm, o tempo todo estamos no simplesmente nominando coisas gua, gua, copo,
copo, caneta, caneta, no importa , ns no estamos dizendo s crianas pedra, lago, rvore, mas no
suba na pedra, no meta o p no lago (...).
23
Atualmente, os debates sobre o papel educativo do museu afrmam que o objetivo no mais a celebrao de
personagens ou a classifcao enciclopdica da natureza, e sim a refexo crtica. Se antes os objetos eram
contemplados, ou analisados, dentro da suposta neutralidade cientfca, agora devem ser interpretados. Mu-
dam, portanto, os argumentos museais, e entra em voga a discusso sobre as tenses entre o museu-templo
e o museu-frum, termos que fcaram no vocabulrio museolgico a partir das consideraes de Duncan
Cameron no incio dos anos 70.
24
Para assumir seu carter educativo, o museu coloca-se, ento, como o lugar onde os objetos so expostos para
compor um argumento crtico. Sem problemticas historicamente fundamentadas no possvel produzir uma
exposio histrica com qualidade de refexo crtica. A problemtica a possibilidade de negar as perguntas
tradicionais, as indagaes que solicitam dados ou informaes sobre datas, fatos ou certas personalidades. Por
exemplo: quando foi proclamada a Repblica? Quem proclamou a Repblica? E assim por diante... No caso do
Museu: quais as peas expostas? Qual a data de tal quadro? A quem pertenceu certa cadeira?... Tais interroga-
es inclinam-se para o refexo condicionado, gerando como resultado uma coleo de datas e fatos, uma linha
cronolgica pontuada de acontecimentos, sem relao dialtica com o presente emerge um passado morto.
Lucien Febvre explica que pr um problema precisamente o comeo e o fm de toda a histria. Se no h
problemas, no h histria. Apenas narraes, compilaes.
25
Um princpio bsico que constitui a histria-problema a sua ntima relao com o conhecimento crtico
enredado na prpria historicidade das vrias dimenses constitutivas da vida social. A histria-problema
enxerga o passado como fonte de refexo acerca do presente, indagando as inmeras tenses e confitos que
se fazem em mudanas e permanncias. Assim, a histria deixa de ser uma sucesso de eventos e assume a
condio de pensamento sobre a multiplicidade do real.
Sem problemticas historicamente fundamentadas no sentido de produzir o saber crtico, a visita se torna um
ato mecnico. Ainda muito comum o professor de histria exigir dos alunos o famigerado relatrio da visi-
ta. A, vemos uma legio de estudantes desesperados, copiando as legendas rapidamente, para fazer a tarefa
exigida. Nessa atividade, baseada no refexo e no na refexo, o visitante chega ao ponto de perder o que h
23
PESSANHA, Jos Amrico. O sentido dos museus na cultura. In: O museu em perspectiva. Rio de Janeiro: Funarte, 1996, p. 33. (Srie Encontros e
Estudos, v. 2).
24
CAMERON, Duncan. Le muse: un temple ou um forum (1971). In: Desvalles, Andr. Vagues: Une anthologie de la nouvelle museologie. Paris:
ditions W.M.N.E.S., v. 1, 1992, p.77-86.
25
FEBVRE, Lucien. Combates pela histria. Lisboa: Presena, 1989. p. 31.
5
8
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
de mais importante: o contato com os objetos. Na corrida contra o tempo, os alunos procuram transcrever
tudo, mas nunca conseguem faz-lo. E a tudo pode acontecer: os que copiam extintor, ou proibido fumar,
ou aqueles que chegam a usar suportes e vitrines como mesa para apoiar o caderno. Seguindo os passos da
educao bancria, como diz Paulo Freire, o museu transformado em fornecedor de dados.
Em uma exposio historicamente fundamentada, entra-se em contato mais direto com o que exposto na
medida em que se olha com o olhar eivado de questes. O desafo, portanto, potencializar o campo de per-
cepo diante dos objetos, por meio da pedagogia da pergunta, como diria Paulo Freire. Aprender a refetir a
partir da cultura material em sua dimenso de experincia socialmente engendrada.
26
Ao assumir seu papel educativo, comprometido com o ensino de histria (de modo formal ou informal), o
museu histrico pressupe que o ato de expor um exerccio potico a partir de objetos e com objetos cons-
truo de conhecimento que assume sua especifcidade. A peculiaridade do museu se realiza plenamente em
mltiplas interaes: com tramas estticas e cognitivas, em anlises e deslumbramentos, na dimenso ldica
e onrica dos fundamentos historicamente engendrados que constituem o espao expositivo.
27
O ato de expor nunca se deve negar enquanto atitude, postura diante e dentro do mundo histrico. Desde os
seus primrdios como instituio pblica at hoje, o museu pe em jogo uma questo crucial: a metamorfose
dos objetos no espao expositivo. Ao tornar-se pea do museu, cada objeto entra em uma reconfgurao de
sentidos. Para conduzir tal processo, a museologia histrica tem o compromisso tico de explicitar seus prprios
parmetros e, por conseguinte, seus desdobramentos educativos, em contraponto com outras experincias.
(...) quando entramos nos museus, entramos no tribunal, onde vrias falas se apresentam, vrias vozes silen-
ciosas, fortssimas e eloqentes se apresentam, h rplicas e trplicas, h a possibilidade o tempo todo de
uma altercao, e tem-se, de alguma maneira, que tomar posio. (...) para que ele (o pblico) seja levado
a tentar tomar posio e ganhar essa autonomia de quem toma posio, que o grande papel educativo
que as instituies culturais podem ter, a prpria instituio tem que assumir esse papel pedaggico, nesse
sentido no-totalitrio, no-autoritrio, no-monolgico, e tem que abrir o espao para a dialogia, em todos
os recursos possveis(...)
28
Qualquer exposio sempre uma leitura a partir de determinados parmetros e, por isso mesmo, nunca
pode assumir a condio de conhecimento acabado, para (con)vencer o visitante. A partir de problemticas
histricas, que se fundamentam em certos critrios de interpretao, no h dados expostos e sim modos
de provocar refexes.
26
Sobre essa abordagem, ver: RAMOS, Francisco Rgis Lopes. A danao do objeto: O museu no ensino de histria. Chapec: Editora Argos, 1994.
27
Garcia Canclini argumenta que o museu e qualquer poltica patrimonial tratam os objetos, os edifcios e os costumes de tal modo que, mais que
exibi-los, tornam inteligveis as relaes entre eles, propem hipteses sobre o que signifcam para ns que hoje os vemos ou evocamos.(CANCLINI,
Nstor Garcia. Culturas hbridas: Estratgias para entrar e sair da modernidade. So Paulo: Ed. USP, 1998. p. 202).
28
PESSANHA, Jos Amrico. O sentido dos museus... Op. cit. p. 37.
5
9
|
D
e
o
b
j
e
t
o
s
a
o
a
l
a
v
r
a
s
.
R
e
f
e
x
e
s
s
o
b
r
e
a
c
u
r
a
d
o
r
i
a
d
e
e
x
p
o
s
i
e
s
e
m
M
u
s
e
u
s
d
e
H
i
s
t
r
i
a
Nesse sentido, o Museu do Cear abraou como meta o desafo de representar a histria do Estado e da cidade
de Fortaleza a partir das refexes da Histria Social da Memria em conexo com princpios da pedagogia de
Paulo Freire e da Nova Museologia. Abrindo mo de um modelo expogrfco que valorizava as personalidades
do Cear e as suas colees, o museu implementou, a partir do ano 2001, um projeto de pesquisa que gerou
uma nova proposta expositiva, dentro de perspectiva plural, conforme o prprio nome da exposio sugere:
Cear: Histria no plural. Esse projeto prope a existncia de mdulos que no se ligam por um sentido
cronolgico. Cada um trata de um determinado problema, com uma narrativa especfca estabelecida pelos
dilogos entre textos e objetos em torno de uma determinada questo historicamente fundamentada. Os oito
mdulos so assim denominados: Memrias do Museu, Povos indgenas entre o passado e o futuro, Poder
das armas e armas do poder, Artes da escrita, Escravido e Abolicionismo, Padre Ccero: mito e rito,
Caldeiro: f e trabalho e Fortaleza: imagens da cidade.
29
Entre os mdulos gostaramos de aproximar nosso foco sobre Poder das armas e armas do poder
30
. Alm
dos diferentes tipos de armas utilizadas na violncia fsica, como espingardas e revlveres, a exposio traz
outros objetos que dizem respeito violncia simblica, como retratos de membros da elite local, mobilirio,
dinheiro, espadas do fnal do sculo XIX e medalhas, entendidos como armas do poder. O dilogo travado entre
os objetos e entre esses e o pblico remete a uma srie de refexes sobre as formas pelas quais o poder se
constri. Nesse sentido, o texto de abertura desse mdulo ressalta: Afnal o poder no natural, precisa ser
construdo. E nessa construo os objetos ocupam signifcativo papel.
31
Em outros textos explicativos (e pro-
vocativos), h sugestes de refexo sobre o acervo, a partir do problema proposto. Citamos, como exemplos,
alguns pedaos dessa conduo textual diante dos objetos expostos:
Entre a fora da lei e a lei da fora, as armas criaram, prolongaram e encurtaram confitos, por vrios motivos:
posses, heranas, terras, moedas, famlias, casamentos, religies, polticas, traies, fdelidades, desafetos...
Mas nunca demais lembrar que a violncia fsica tem inmeros e inesperveis cruzamentos com a violn-
cia simblica, que se faz em vrios objetos, com fardas, cadeiras, bandeiras, medalhas. Confeccionados nos
sculos XIX e XX, os objetos desse mdulo apresentam algumas pistas sobre mudanas e permanncias entre
o passado e o presente nosso de cada dia. (...)
No furo das balas ou no corte das lminas, vrios foram os poderes das armas: matar ou intimidar, dar cora-
gem ou medo, defender ou atacar, prender e soltar. So artefatos que podem tirar dos pobres ou aumentar a
fortuna dos ricos. De modo explcito ou no, so componentes da luta de classes. (...)
As armas so sempre enfeitadas com alguns detalhes, que no se limitam ao valor prtico. Assim, mostram,
mais uma vez, que no possvel separar o poder das armas das armas do poder. Serviram a cangaceiros e
coronis do serto, a pistoleiros e policiais. Continuam servindo para muita coisa, inclusive no esporte ou
29
O projeto foi coordenado por Rgis Lopes e Antnio Luiz Macedo e Silva Filho, com a participao do Ncleo Educativo do Museu do Cear. Sobre
o roteiro desse projeto, ver: Museu do Cear 75 anos. Fortaleza: Associao Amigos do Museu do Cear/Secretaria da Cultura do Estado do Cear,
2007. p. 453-458.
30
Idem. p. 455.
31
Idem.
6
0
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
na diverso. Mas, nunca se deve esquecer que carregam o poder de aumentar a legio dos mutilados e a
procisso dos ausentes.
32
Com base no problema da relao entre poder e violncia, sejam eles fsicos ou simblicos, a exposio pos-
sibilita uma refexo crtica sobre essa temtica, no passado e no presente. Ao visitante cabe costurar essa
narrativa aparentemente desconexa, criando sentidos para os objetos a partir de questionamentos baseados
em uma determinada questo histrica. Na forma pela qual o projeto foi montado, est em pauta inegocivel
uma pedagogia da pergunta, um questionamento a partir da construo de problemas histricos. Nesse sen-
tido, o projeto (que ainda no foi completamente executado) fruto da prpria poltica educativa que o museu
vem desenvolvendo desde 2001, a partir de pesquisas sobre o acervo e da estruturao de um ncleo educativo
responsvel pelo atendimento aos grupos de estudantes.
Paralelamente a essas iniciativas comprometidas com a formao crtica da conscincia histrica existem,
atualmente, outras propostas. Em muitos casos h inovaes que apresentam uma mudana de perspectiva
em relao ao dito museu tradicional de forma totalmente ilusria, pois se faz a partir de certo tipo de
cenografa desprovida de fundamentao histrica, na qual a soluo mais recorrente a simples reproduo
32
Idem. p. 455 e 456.
6
1
|
D
e
o
b
j
e
t
o
s
a
o
a
l
a
v
r
a
s
.
R
e
f
e
x
e
s
s
o
b
r
e
a
c
u
r
a
d
o
r
i
a
d
e
e
x
p
o
s
i
e
s
e
m
M
u
s
e
u
s
d
e
H
i
s
t
r
i
a
M
d
u
l
o
3
d
a
e
x
p
o
s
i
o
d
o
M
u
s
e
u
d
o
C
e
a
r
,
P
o
d
e
r
d
a
s
A
r
m
a
s
e
a
r
m
a
s
d
o
p
o
d
e
r
.
de ambientes tpicos, numa mistura de Disneylndia com o historicismo do sculo XIX e sua proposta de
contemplar o passado. A idia de construir a histria crtica perde-se na falta de parmetros tericos,
caindo em posturas que, no fnal das contas, atiram para todos os lados e no cumprem o papel de produzir
conhecimento refexivo.
O entusiasmo em torno da reproduo de ambientes passou pela cpia de edifcios e chegou at a reconstitui-
o de cidades. Como lembra Ulpiano Bezerra de Meneses, o novo projeto encontrou inicialmente grande res-
sonncia nos Estados Unidos e paulatinamente espalhou-se pelo mundo. O modelo ganhou flego e chegou ao
pice com a reproduo de situaes e aes, com a completa teatralizao da exposio. H, por exemplo,
museus que funcionam com guias vestidos a carter, que podem aparecer fabricando velas com tecnologia e
materiais antigos (as quais sero depois vendidas, obviamente a preos atualizados) ou ministrando aulas de
msica em cravos originais ou reproduzidos.
33
Antes de tudo, a reproduo cenogrfca inconsistente porque copia, de modo grosseiramente ferico, teo-
rias de historiadores do sc. XIX, como a de resgate do passado tal como teria acontecido. Ao contextualizar
os objetos com a reproduo de cenrios, a museologia pressupe que o passado dado, ou melhor, um dado
espetacular e aberto para a aceitao de esteretipos, esvaziando a proposta de colocar a histria como lugar
de juzo crtico, de problematizao a partir do presente. Elimina-se, na reproduo, o labor interpretativo das
problemticas historicamente engajadas. Para Gadamer, a reconstruo das condies originais uma em-
presa impotente, na medida em que simplifca a relao entre passado e presente, deixando o tempo pretrito
como algo congelado, apenas num sentido morto.
34
O conhecimento histrico que fundamenta a exposio se faz no presente e pelo presente que interpela o
passado. No mais possvel pensar na possibilidade de colocar o historiador no terreno da poca estudada,
como se fosse plausvel penetrar em tempos pretritos por meio da mquina de voltar o tempo. Como res-
salta Gadamer, o tempo no um precipcio que devamos transpor para recuperarmos o passado; , na reali-
dade, o solo que mantm o devir e onde o presente cria razes.
35
Os temas e as problemticas historicamente
fundamentadas vo ao passado na medida em que esse passado desperta interesse para os desafos contem-
porneos. Implica em tomada de posio no presente, que dialoga com o passado para questionar o rumo
dos nossos predecessores, aprofundando nosso entendimento sobre as vias que se mostram na atualidade e o
compromisso com as escolhas que fazemos.
certo que a reproduo cenogrfca guarda uma inconfessvel relao com a perversidade da sociedade de
consumo. Mas a questo no se resume a isso. Alm de ser mais um produto da cultura-mercadoria, como diria
Guattari, a reproduo inverte o sentido educativo que o museu deveria assumir. Em outros termos: trata-se de
33
MENESES, Ulpiano Toledo Bezerra de. A exposio museolgica e o conhecimento histrico. In: FIGUEIREDO, Betnia Gonalves; VIDAL, Diana
Gonalves (Orgs.). Museus: dos gabinetes de curiosidades museologia moderna. Belo Horizonte: Argvmentvm, 2005, p. 42.
34
GADAMER, Hans-Georg. Verdade e mtodo: Traos fundamentais de uma hermenutica flosfca. Petrpolis: Vozes, 1997. p. 266.
35
GADAMER, Hans-Georg. O problema da conscincia histrica. Rio de Janeiro: Fundao Getlio Vargas, 1998. p. 67.
6
2
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
uma prtica que, alm de mercantilizar a cultura, ainda tenta se mostrar como avano nas polticas educativas,
que evidenciam e valorizam a chamada identidade cultural ou a histria do cotidiano. Mas o resultado desem-
boca em um espetculo de esteretipos, produto de consumo rpido, sem substncia interpretativa.
Ao estudar a proliferao de museus que, nos Estados Unidos, lidam com a reproduo de objetos e cenrios,
Umberto Eco chega a dizer que, em tal procedimento expositivo, o desejo espasmdico do Quase Verdadeiro
nasce apenas como reao neurtica ao vazio das lembranas, o Falso Absoluto flho da conscincia infeliz
do presente sem consistncia.
36
Argumenta-se que a reproduo cenogrfca tem um papel ldico e que
o museu no pode abdicar do seu carter de entretenimento. Isso ningum pode negar. H, inclusive, uma
questo poltica nisso tudo: uma das formas de enfrentar a maldade dissimulada da economia de mercado
exatamente o ato compartilhado de reanimar, cada vez mais, a educao ldica.
Por outro lado, mister considerar que h uma armadilha nesse argumento a favor da reproduo: seu lado
saudvel esconde a dimenso anti-educativa, que nega a fundamentao do conhecimento histrico, ou mel-
hor, que despreza a refexo sobre a complexidade do tempo no qual vivemos, com o qual devemos dialogar
e sobre o qual faremos nossas opes. Ao invs de desenvolver tcnicas de reproduo, que a rigor seguem
lgicas mecnicas, devemos constituir bases tericas e metodolgicas para dar vez ao ato criador, potncia
esttica de inventar o novo a partir dos objetos.
Ao fm das contas, a montagem reprogrfca do passado aviltante, porque no s anula a distncia tem-
poral mas tambm joga o visitante em um misto de equvoco camufado (ou absteno de pensamento) e
propaganda enganosa. O sentido metafrico mobiliza um conceito menos dogmtico de verdade enquanto
correspondncia pura entre discurso e ao. Fornecer somente dados eliminar o processo educativo, assim
como negar o ldico deixar a educao carente de nimo criativo. Saindo do caminho mais fcil, que a via
da reproduo, fca ento o enorme desafo: fazer exposies atraentes e educativas. Tarefa difcil porque
ainda estamos pouco preparados para desvincular a educao da seriedade repressiva, da pedagogia do medo
e das mecnicas de avaliao. O mais comum cair numa relatividade frouxa e enredada nas inconfessveis
relaes com a sociedade de consumo. Sem refexo sobre os objetos, esmigalha-se o potencial inovador
e criativo do museu histrico. O museu que no tem compromisso educativo transforma-se em depsito de
objetos, ou vitrines de um shopping center Cultural.
O museu no deve, portanto, ser parte constitutiva da sociedade de consumo e sim trat-la como objeto
de estudo. Ressaltamos, nesse sentido, as propostas elaboradas por Ulpiano Bezerra de Meneses, que partem
exatamente de problemticas historicamente fundamentadas diante dos artefatos:
Um museu de cidade, por exemplo, pode contar com uma coleo de relgios de rua. E pode ampliar tipo-
logicamente tal coleo e tambm exp-la tipologicamente, em paralelo a vrias outras classes de objetos,
36
ECO, Umberto. Viagem na irrealidade cotidiana. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. p. 40.
6
3
|
D
e
o
b
j
e
t
o
s
a
o
a
l
a
v
r
a
s
.
R
e
f
e
x
e
s
s
o
b
r
e
a
c
u
r
a
d
o
r
i
a
d
e
e
x
p
o
s
i
e
s
e
m
M
u
s
e
u
s
d
e
H
i
s
t
r
i
a
cada uma em seu segmento taxonmico. Pouco conhecimento se ter da cidade, salvo numa escala pontual
e limitada. Sequer fcariam claras as funes desse tipo de monumento urbano. No entanto, caso se parta
de um problema (que prpria coleo de relgios pode sugerir), como a do tempo enquanto forma de con-
trole social no espao urbano, j se pode montar uma estratgia e mobilizar outras colees existentes ou
defnir uma poltica de coleta. Assim, a partir do relgio de rua, como referncia que projetava no espao
urbano as signifcaes do tempo enquanto fator de organizao e convergncia, numa sociedade em pro-
cesso rpido de fragmentao, buscar-se-iam relaes com outras formas de controle social por meio dos
objetos pertinentes. Como, por exemplo, a domesticao do tempo natural pelas exigncias da produo,
que nossa sociedade impe. A produo requer continuidade, mas o tempo natural apresenta rupturas como
a alternncia dia/noite. Da ser adequado incorporar exposio colees de equipamentos de iluminao
(domstica, industrial, de rua), capazes de permitir o entendimento deste domnio sobre o tempo. Outra rela-
o poderia ser com o domnio da durao das coisas, da vida til dos objetos reduzidos a mercadoria, a fm
de que elas circulem mais rapidamente (, portanto, a mesma matriz). Assim, a exposio contaria tambm
com uma coleo de objetos descartveis, como embalagens, copos, por exemplo, ou outros objetos marca-
dos pelo efmero ou pela obsolescncia programada. Poderia parecer uma exposio compsita, ecltica. De
fato, mas nisso mesmo ela remete s mltiplas malhas da interao social, sem a qual escaparia o sentido
histrico dos diversos tipos de objetos exibidos.
37
Ao enfrentar o desafo de realizar uma exposio atraente e educativa, abordando um tema ins-tigante da
nossa contemporaneidade, o Museu do Cear inaugurou no dia 12 de junho de 2004 no por acaso o dia dos
namorados sua mostra de curta durao, Coisas do Amor, objetos e imagens do romantismo. Organizada
pela professora Knia Rios, com a participao de uma equipe de alunos do Curso de Histria da Universidade
Federal do Cear (UFC), a exposio teve como principal objetivo provocar o debate sobre a materializao
do amor em nossa sociedade, por meio de diferentes objetos, como fotografas, cartas, mveis etc. Objetos
do acervo do museu dialogaram, ento, com imagens e objetos pessoais cedidos pelo pblico. Diante da sua
repercusso e dos diversos questionamentos incitados a partir da leitura dessa narrativa expositiva, a mostra
fcou em cartaz por mais de um ano. Eis algumas partes do texto de abertura:
Afnal, que dizer do amor? Loucura, represso, (des)encontro, liberdade, censura, dor, felicidade, saudade,
declaraes pblicas, segredos ntimos ou inconfessveis. (...)
Antes de tudo um sentimento que precisa ganhar forma para ser visto, sentido e provado. O amor se faz
existncia e se transforma em pedaos de memria: bas, caixinhas, cartas, bilhetes, poemas, fores, per-
fumes, fotografas, pinturas, mveis, jornais e santos. Vestgios que podem alimentar a imaginao dos que
perseguem a histria nas mltiplas dimenses da vida e da morte. (...)
O amor carrega as marcas do espao e do tempo. Papis culturais de homens e de mulheres, relaes
econmicas e familiares, religio, trabalho e sociedade de consumo so alguns dos temas que podem sugerir
nas linhas de uma carta. (...)
37
MENESES, Ulpiano Toledo Bezerra de. A exposio museolgica.... Op.cit., p.24
6
4
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
A exposio Coisas do amor junta objetos e imagens dos sculos XIX, XX e XXI, na tentativa de abordar as
mudanas e permanncias das relaes romnticas, numa fascinante histria das provas de amor.
38
Em um dos mdulos foi colocado um urso branco de pelcia, do tipo que se vende no dia dos namorados, que
segura um coraozinho vermelho no qual se v: I Love You. O objeto, comprado por R$ 20,00 em uma loja
perto do museu, apareceu como indcio da sociedade de consumo. O urso foi inserido na qualidade de criatura
e criao das relaes amorosas. No foi tratado como simples ilustrao de uma situao e sim na qualidade
um artefato que pode provocar refexes sobre a confgurao dos objetos no capitalismo, sobre a relao
entre amor e comrcio. Ao lado dele fcou um texto sobre a inveno do dia dos namorados, as propagandas
para esse dia, as liquidaes, as promoes para presentes do amor. Nessa perspectiva, o urso foi exibido numa
caixa com espelhos internos. Espelho na base, em cima, no fundo e nos lados. O efeito conhecido, at porque
esse no um recurso cenogrfco novo: o bichinho foi reproduzido infnitamente. Ficou, no fnal das contas,
um urso fabricado em srie, preso no consumo de sua prpria materialidade.
Em outra parte, haveria um conjunto de artefatos de uma loja de produtos erticos, coisas com pilha, sem
pilha, para muitas situaes. Mas, sob a coordenao da professora Knia, a equipe concluiu que, se o museu
simplesmente exibe esses instrumentos da vida privada, entra-se no jogo do sensacionalismo mercantil. Por
outro lado, uma exposio daquela natureza no poderia excluir os objetos partcipes de certas histrias de
amor. Ento, depois de se discutir muito, de ver possibilidades, veio a idia: foi colocada em uma parte da ex-
posio uma porta cenogrfca, com um buraco de fechadura. O orifcio no era to pequeno, mas escondia o
que estava l dentro. E, l de dentro, veio uma luz para chamar a ateno dos visitantes. Na parede do fundo,
foi impressa uma frase do Drummond. Quem olhava pelo buraco, esperando revelar o velado, via o texto: O
que acontece na cama segredo de quem ama.
39
38
Museu do Cear 75 anos... Op. cit. p. 380 e 381.
39
Sobre a experincia de coleta de acervo, pesquisa e montagem da exposio Coisas do Amor, ver o livro: RIOS, Knia Sousa. Coisas do Amor:
Memrias de uma exposio no Museu do Cear. Fortaleza: Museu do Cear / Secretaria da Cultura do Cear, 2004.
6
5
|
D
e
o
b
j
e
t
o
s
a
o
a
l
a
v
r
a
s
.
R
e
f
e
x
e
s
s
o
b
r
e
a
c
u
r
a
d
o
r
i
a
d
e
e
x
p
o
s
i
e
s
e
m
M
u
s
e
u
s
d
e
H
i
s
t
r
i
a
U
r
s
o
d
e
p
e
l
c
i
a
n
a
e
x
p
o
s
i
C
o
i
s
a
s
d
o
a
m
o
r
.
.
.
Assim, preciso levar em considerao que expor signifca repor, recolocar o objeto. Para se mostrar um objeto
no museu preciso levar em considerao a sua ex-posio, a posio anterior, quando ainda funcionava.
Na verdade, os prefxos latinos que indicam anterioridade ou movimento para trs so ante, pr, retro. Ex
comporta um sentido mais radical, pois faz referncia a movimento para fora (da expor, exibir, extrair, xodo),
separao e transformao. Portanto, quando se fala ex-ministro, no se indica apenas que se foi ministro
antes, mas que entre o passado e o presente se gerou uma diferena, uma transformao: aquilo que um dia
foi, j no mais! Isso tambm vale para exposio, que vista superfcialmente passa a idia de posiciona-
mento decorrido; examinada de perto, contudo, sugere esse mover-se para o exterior, irromper em meio a uma
circunstncia no-familiar, estranha, da porque a busca da reproduo de ambientes, que promete um abrigo
seguro para o objeto, transparece como operao redutora e equivocada, pois expor , por defnio, separar
para mostrar, ou tornar algo passvel de mostra por seu desarraigamento do lugar de origem.
No dicionrio percebe-se que, alm de apresentar, revelar, trazer a pblico, pr vista ou conhecimento dos
outros, expor signifca tambm contar, narrar (expor um fato), explicar, interpretar (expor os motivos de uma
ao) e pr em perigo, arriscar (expor a vida). Essa variedade de operaes que desinstalam lugares estveis e
sentidos cristalizados emergem precisamente no objeto que, ao perder valor de uso na exposio, se transfgura
em objeto narrado e, dependendo da exposio, em objeto narrador... E essa potncia narrativa articula-se com
o caleidoscpio de usos pelos quais os artefatos ganhavam vida cotidiana, antes de ir para o museu. Na varie-
dade de usos, os objetos no esto simplesmente localizados dentro de uma fnalidade preestabelecida. H o
jogo entre locao e deslocamento na forma pela qual se constitui a vida social dos objetos. Artefatos mudam
o rumo das utilidades originais ao sabor das circunstncias, sobretudo nas sociedades industriais, onde o termo
reciclagem faz grande sucesso. Mas nada muito programado: na prpria vivncia cotidiana que se faz
o consumo no autorizado, como diria Michel de Certeau. Caa no autorizada, modos de transformar e
inventar artes de fazer, que esto em ntima relao com as artes de utilizar
40
.
Como ressalta Ulpiano Meneses, uma exposio historicamente fundamentada no pode simplesmente passar
a verdade sobre o passado, mas isso no signifca cair no relativismo:
No sendo a Histria um conjunto a priori de noes, afrmaes e informaes mas uma leitura que ela
mesma institui, em ltima instncia, aquilo que pretende tornar inteligvel ensinar Histria s pode ser,
obrigatoriamente, ensinar a fazer Histria (e aprender Histria, aprender a fazer Histria). Por isso, a diretriz
(obviamente no exclusiva, mas necessariamente presente) de um museu histrico seria transformar-se num
recurso para fazer Histria com objetos e ensinar como se faz Histria com os objetos. Assim, numa mostra,
suponhamos, sobre a Revoluo Constitucionalista de 1932, no se deveria procurar a verso mais correta ou
adequada ao estado da disciplina, pois isso ser sempre feito melhor e com muito maior competncia numa
monografa. Antes, do museu espera-se que acompanhe como uma revoluo se transforma em memria e,
nesse processo, qual o papel desempenhado pelos objetos: como uma revoluo vira coleo. Reitere-se o que
40
Cf. Certeau, Michel de. A inveno do cotidiano: 1. Artes de fazer. Petrpolis: Vozes, 1994.
6
6
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
j se afrmou: ao museu no compete produzir e cultivar memrias, mas analis-las, pois elas so um com-
ponente fundamental da vida social. E como esta memria multifacetada e socialmente localizada (dos com-
batentes em ambas as trincheiras, das mulheres e das crianas, dos polticos, dos fabricantes de armas e dos
comerciantes, dos historiadores e literatos, dos tecnlogos e banqueiros e assim por diante), a exposio no
deveria manter-se unilinear (...) Assim, por que no organizar duas exposies paralelas explorando o mesmo
tipo de material mas chegando a pontos divergentes? O objetivo no seria relativizar o conhecimento histri-
co, mas demonstrar quais de seus ingredientes e processos constitutivos e, portanto, medir seu alcance.
41
Nunca demais pesquisar a prpria tessitura de acontecimentos que vai da exposio do objeto at ao movi-
mento que institui a exposio museolgica. Afnal, o museu institucionaliza um grande movimento de locao
dos objetos. Portanto, sempre vale a pena perguntar: por que certo objeto foi parar em determinado museu?
Com essa orientao terica e metodolgica de pesquisa poderamos dar um grande passo para a construo
do museu educativo. Na condio de lugar de expor artefatos, o museu deve ser tratado como objeto de ex-
posio, aberto para gerar vias de refexo sobre a nossa historicidade. Em outros termos: preciso lidar com
a histria do objeto antes e depois de sua entrada no espao museolgico. S assim que o saber da histria
comea a ser desnaturalizado para tornar-se saber da histria que, antes de tudo, histrico.
Como j foi dito, no se trata de colocar o objeto no museu tal como seria sua existncia anterior, inserindo-o
numa ambientao tpica ou dando-lhe estatuto unvoco. Objeto de museu sempre objeto recolocado: no
pode nem deve ter a condio anterior. O objeto deve necessariamente participar de um jogo que o transporta
da vivncia no cotidiano para o espao da pesquisa histrica, com recortes e problemticas. Como ressalta
Ulpiano Bezerra de Meneses, uma ingenuidade intil pensar que o chamado museu vivo pode trazer vida
para dentro do espao de atuao do museu: Museu vivo (...) aquele que cria a distncia necessria para se
perceber da vida tudo que a existncia cotidiana vai embaando e diluindo.
42
Criar distncia: eis uma questo
central. Fazer distncia entre a vida cotidiana do objeto, que produto e produtor de relaes socialmente
engendradas, e a vida museolgica do objeto. Confuses entre essas duas condies reduzem o museu a um
espao de imitao grosseira, morte do conhecimento e, portanto, declnio vertiginoso do sentido educativo.
SOBRE O PODER DA PALAVRA
Em uma exposio podem existir variados elementos signifcativos que interagem com os objetos: cores,
luzes, percursos, sons, cheiros, textos, recursos eletrnicos, expositores, vitrines, imagens cinematogrfcas,
jogos interativos. Sem desprezar a importncia da interao entre essas vrias dimenses constitutivas de
uma exposio, as quais em certo sentido j foram tratadas aqui, no decorrer das nossas argumentaes,
41
MENESES, Ulpiano Toledo Bezerra de. A exposio museolgica ... Op. cit. p. 49.
42
BEZERRA DE MENESES, Ulpiano. O museu e o problema do conhecimento. IV Seminrio sobre Museus-Casas: pesquisa e documentao. Anais...Rio
de Janeiro: Fundao Casa de Rui Barbosa, 2002. p. 23.
6
7
|
D
e
o
b
j
e
t
o
s
a
o
a
l
a
v
r
a
s
.
R
e
f
e
x
e
s
s
o
b
r
e
a
c
u
r
a
d
o
r
i
a
d
e
e
x
p
o
s
i
e
s
e
m
M
u
s
e
u
s
d
e
H
i
s
t
r
i
a
enfocaremos agora um aspecto mais especfco: o texto. Isso signifca reconhecer que desafo terico e met-
odolgico para a construo de exposies historicamente fundamentadas passa necessariamente pelas ml-
tiplas relaes entre os objetos e as palavras. claro que as condies de possibilidade para a existncia desses
relacionamentos no podem ser interpretadas como algo natural ou eterno. E, nesse sentido, nunca demais
salientar que no se pode falar em uma relao e sim em vrias maneiras de compor pontes e abismos entre
a materialidade das coisas e a materialidade da escrita. De qualquer modo, o fundamental problematizar
essas tenses sem esquecer que foram se constituindo alguns poderes verbais diante das coisas, que foram se
compondo relaes de dependncia entre o mutismo dos utenslios e o falatrio das letras. Estamos diante de
uma longa tessitura de convnios e quebras de contrato, um jogo de concrdias e querelas, uma infnidade de
fdelidades e traies.
Para discutir esse aspecto sero citados dois casos, no da teoria da histria ou da museologia, mas sim da
literatura. Primeiro, Gabriel Garcia Mrquez em Cem anos de solido, depois Mia Couto em Cada homem uma
raa. Tudo indicava que a vida fcaria maior, porque todos teriam mais tempo com a falta de sono. A doena
da insnia foi bem vinda e Buendia chegou a dizer: se a gente no voltar a dormir, melhor. Melhor porque a
vida, sem o intervalo da noite e sem o cansao do dia, seria mais longa. por isso que a peste da insnia foi
bem vinda em uma das passagens de Cem anos de solido.
43
Como em vrios outros trechos do livro, Garcia Mrquez enfrentava a questo do tempo e da memria. A ausn-
cia do sono, que trouxe generalizada alegria, porque havia ento tanto o que fazer em Macondo, comeou a
trazer problemas, na medida em que trabalharam tanto que logo no tiveram mais o que fazer. As madrugadas
insones com os braos cruzados vieram acompanhadas de algo muito mais grave: o esquecimento.
Foi Aureliano quem concebeu a frmula que havia de defend-los, durante vrios meses, das evases da
memria. Descobriu-a por acaso. Insone experimentado, por ter sido um dos primeiros, tinha aprendido com
perfeio a arte da ourivesaria. Um dia, estava procurando a pequena bigorna que utilizava para laminar os
metais, e no se lembrou do seu nome. Seu pai lhe disse: ts. Aureliano escreveu o nome num papel que
pregou com cola na base da bigorninha: tas. Assim, fcou certo de no esquece-lo no futuro. No lhe ocor-
reu que fosse aquela a primeira manifestao do esquecimento, porque o objeto tinha um nome difcil de
lembrar. Mas poucos dias depois, descobriu que tinha difculdade de se lembrar de quase todas as coisas do
laboratrio. Ento, marcou-as com o nome respectivo, de modo que bastava ler a inscrio para identifc-
las. Quando seu pai lhe comunicou o pavor por ter-se esquecido at dos fatos mais impressionantes da sua
infncia, Aureliano lhe explicou o seu mtodo, e Jos Arcdio Buenda o ps em prtica para toda a casa e
mais tarde o imps a todo o povoado. Com um pincel cheio de tinta, marcou cada coisa com o seu nome:
mesa, cadeira, relgio, porta, parede, cama, panela. Foi ao curral e marcou os animais e as plantas: vaca,
cabrito, porco, calinha, aipim, taioba, bananeira.
44
43
MRQUEZ, Gabriel Garcia. Cem anos de solido. Rio de Janeiro: Record, 1995. P. 47.
44
Idem. p. 50
6
8
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
Est a uma questo fundamental: a letra como instrumento de memria. No sem propsito imaginar
que as plaquetas de identifcao de peas expostas em museus guardam certa semelhana com a soluo
encontrada por Buenda. Em museus ou no povoado de Garca Mrquez, a escrita procura suprir a carncia
de memria. Mais do que isso, porque, diante das coisas, as palavras no so apenas informativas, pois a
nomeao d sentido (e existncia) ao que nomeado. Em uma sociedade com memria coletiva comum,
compartilhada, no haveria necessidade de peas identifcadas, ou melhor, no existiria a necessidade de
identifcar o que j era conhecido.
A narrativa continua e mostra que o remdio das plaquetas no foi sufciente. Quando tudo parecia estar
resolvido diante da peste do esquecimento, veio outro problema. A doena aumentou e ningum se recor-
dava mais da utilidade das coisas. A soluo foi complementar os textos. As inscries, alm da identif-
car, comearam explicar. Na vaca, por exemplo, fcou pendurado o seguinte letreiro: esta vaca, tem-se que
ordenh-la todas as manhs para que produza o leite e o leite preciso ferver para mistur-lo com o caf e
fazer caf com leite.
45
A situao, pouco antes da chegada de uma substncia milagrosa, fcou to crtica que Buenda passou a
imaginar a construo da mquina da memria, uma espcie de dicionrio giratrio, para exibir noes gerais:
A geringona se fundamentava na possibilidade de repassar, todas as manhs, e do princpio ao fm, a totali-
dade dos conhecimentos adquiridos na vida.
46
Est em jogo, portanto, o poder das palavras diante das coisas, o direcionamento de sentido promovido pela
escrita. O escritor, no calor da fco, faz uma refexo sobre seu ato de escrever, seu poder de nomear. E
reconhece, ao mesmo tempo, a fragilidade das inscries. Ora, nesse caleidoscpio de poder e fraqueza, de
abundncia e necessidade, que vai se compondo a trama de (de)pendncias entre a palavra e o objeto.
No terceiro conto do livro Cada homem uma raa, do moambicano Mia Couto, h, tambm, situaes nas
quais o poder da escrita posto em cena. A personagem central Rosalinda, a nenhuma. Na juventude, ela
era daquelas mulheres que explicam o amor. Mas, depois do casamento, fcou feia, desconjuntada, triste.
Apanhava do marido, que, alm de beber muito e ter outras, chegou a lhe dizer: Teu nome, Rosalinda, so
duas mentiras. Nem rosa, nem linda. Quando se tornou viva, percebeu, nas visitas ao cemitrio, que fnal-
mente realizava o verdadeiro casamento com Jacinto. Sentia que ele era somente seu, exclusivo. E assim pas-
sou a viver, em subterrneo namoro.
Pode-se dizer que Rosalinda encontrou, ao seu modo, um jeito de usar o passado. Como era de se esperar, ela
no sustentou por muito tempo a leveza de sua memria. Veio a surpresa, exatamente quando ia, mais uma
vez, acomodar fores no tmulo do esposo. Apareceu, de repente, uma moa bela e ligeirenta: - Essa deve ser
45
Idem p. 51
46
Ibidem.
6
9
|
D
e
o
b
j
e
t
o
s
a
o
a
l
a
v
r
a
s
.
R
e
f
e
x
e
s
s
o
b
r
e
a
c
u
r
a
d
o
r
i
a
d
e
e
x
p
o
s
i
e
s
e
m
M
u
s
e
u
s
d
e
H
i
s
t
r
i
a
Dorinha, a outra ltima dele. A soluo que Rosalinda encontrou para provocar novas utilizaes no espao do
patrimnio tumular foi a seguinte:
Rosalinda se decidiu, pronta e toda. Dirigiu-se ao servio funerrio e solicitou que mudassem o lugar do
caixo, trocassem o aqui jaz.
A senhora pretende transladar os restos mortais?
E, logo, o funcionrio lhe mostrou os longos papis que a superavam. A viva insistiu: era s uma mudan-
azita, uns metritos. O empregado explicou, havia as competncias, os deferimentos. A viva desistiu. Mas
apenas se fngiu vencida. Pois ela se enchera de um novo pensamento. Voltou noitinha, trazendo Salomo,
o sobrinho. s vistas da inteno, o mido se assustou:
Mas, tia, para fazer o qu? Desenterrar o titio Jacinto?
No, sossegou ela. Era s para trocarem as inscries dos vizinhos tmulos. (...)
Jacinto, translapidado, devia de se admirar daquelas andanas. Agora, s eu sei qual sua verdadeira tabu-
leta, malandro. Rosalinda sacudiu as mortais poeiras, se administrou o devido perdo. Que esse gesto de
aldrabar a intrusa lhe fosse minimizado por Deus. A outra paraviva, que dedicasse seus ranhos ao vizinho,
o de morte anexa. Porque aqueles olhos de Jacinto, aqueles olhos que a terra se abstinha de comer, s a ela,
Rosa e Linda, estavam destinados.
47
Rosalinda voltou a se reconciliar com uma memria sustentvel. A ttica de Rosalinda se fez no aperto do
cotidiano, em nome do presente vivido. Ela manipulou a capacidade de ver da ligeirenta, que invadia o seu
museu particular de fantasias. Rosalinda fez a sua assepsia na calada da noite, porque os mecanismos mais
profundos de manipulao do passado no costumam se expor na luz do dia, no esto nos deferimentos da
burocracia.
Tmulos, monumentos, peas de museus, esttuas em praa pblica, tudo isso depende de placas informa-
tivas? Hoje, possvel pensar em patrimnios sem placas? Tudo indica que no. Tudo indica que h uma
dependncia da escrita para se chegar a certos sentidos do objeto.
No se defende, com isso, uma centralidade inevitvel e teleolgica da escrita, at porque imagens e objetos
possuem linguagens que so peculiares, com potncias especfcas. Trata-se de perceber que, entre palavra e
imagem, foram constitudas muitas articulaes e confitos em uma complexa rede de dependncias. E, nesse
sentido, a pequena placa de identifcao em um museu (ou qualquer outro lugar de memria) muito mais
do que uma informao. Trata-se de uma maneira de delimitar campos de sentido, que alm de direcionar
leituras, o indcio da prpria relao de dominao da letra diante do artefato.
Fala-se, atualmente, em discurso museolgico, textos feitos no com palavras e sim com objetos, luzes, msi-
cas, ambientaes, cenografas. Mas tudo sempre vem de mos dadas com as identifcaes emplacadas.
47
COUTO, Mia. Cada homem uma raa. Lisboa: Editorial Caminho, 1990. p. 53.
7
0
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
Nomes e mais nomes, a comear pelo nome do museu e da exposio. Isso no inocente. O ato de nomear
se faz em determinadas opes.
Por diversas razes vinculadas sempre a certos posicionamentos polticos e procedimentos interpretativos o
destino atual do patrimnio ser cada vez mais emplacado. Em lugares de memria, a imagem, com todo seu
poder monumental, continua carecendo do alfabeto. Est em jogo, ento, a imposio da palavra na exposio
de objetos, a proposio da escrita para posicionar restos e vestgios em espaos de lembrana.
Francis Ponge costumava dizer que sua poesia vinha do mutismo dos objetos. como se eles necessitassem
da palavra, assim como ele mesmo necessitava desse mutismo ambulante, essa falta de fala que seduz de
maneira completamente peculiar:
... o que me sustenta ou me empurra, me obriga a escrever, a emoo provocada pelo mutismo das coisas
que nos cercam. Talvez se trate de uma espcie de piedade, de solicitude, enfm, tenho o sentimento de
instncias mudas da parte das coisas, solicitando que fnalmente nos ocupemos delas, que as digamos...
48
Para Francis Ponge, o objeto um abismo. diante desse perigo de queda no vazio, dessa ameaa de descon-
trole, que a palavra vem para organizar, domesticar. Por outro lado, no se pode negar que, nos atos nomi-
nativos, h tambm uma abertura para o senso refexivo. E a abertura deve ser politicamente norteada. Entre
textos ditos informativos, por que no escrever palavras provocativas sobre o objeto? Por que no colocar
questionamentos acerca do que est exposto, levando o visitante refexo?
Tudo isso quer dizer que, diante da enorme complexidade que h nas relaes entre as coisas e as palavras, o
trabalho com objetos sugere vias que procuram contribuir para a reafrmao do signifcado insubstituvel do
ensino de histria na composio do juzo crtico diante do mundo em que vivemos e pelo qual somos respon-
sveis. Trata-se de um posicionamento diante do ato educativo que queremos construir. E, como lembra Paulo
Freire, to impossvel negar a natureza poltica do processo educativo quanto negar o carter educativo do
ato poltico.
49
48
PONGE, Francis. Mtodos. Rio de Janeiro: Imago Editora, 1997. p. 85.
49
Freire, Paulo. A importncia do ato de ler: Em trs artigos que se completam. So Paulo: Cortez, 1982, p. 23.
7
1
|
D
e
o
b
j
e
t
o
s
a
o
a
l
a
v
r
a
s
.
R
e
f
e
x
e
s
s
o
b
r
e
a
c
u
r
a
d
o
r
i
a
d
e
e
x
p
o
s
i
e
s
e
m
M
u
s
e
u
s
d
e
H
i
s
t
r
i
a
POR UMA TRANSLUCIDEZ CRTICA
Pensando a curadoria
de exposies de arte
Roberto Conduru
Se pensarmos a exposio como um discurso, logo iremos concluir que, assim como em um texto escrito (frase,
carta, livro etc.) todos os elementos letras, palavras, espaos, sinais grfcos, autores, leitores, meios; sons e
silncios, produtores e receptores, lugares da escrita so constituintes de seus sentidos. Em uma exposio
todos os seus elementos so integrantes do seu discurso: os objetos em exibio, os textos de apresentao
de seus realizadores (curadoria, dirigente institucional) e patrocinadores, bem como os explicativos (textos de
ncleos temticos, legendas das peas), as imagens complementares, a fcha tcnica, o aparato de segurana
das peas e do pblico (tanto os equipamentos quanto o pessoal), o mobilirio, o edifcio, os agentes envolvi-
dos (curadores, tcnicos e demais autores), as instituies que realizam, promovem e patrocinam a mostra.
ARTE COMO PARADIGMA
Assim, interessante lembrar a nomenclatura que vem se consolidando, distinguindo museografa e expogra-
fa, para diferenciar os modos de enunciar da instituio (museu, centro cultural, galeria de arte, escola ou
outro tipo) e os meios de enunciao da exposio, do evento. importante pensar que a arte um dos para-
digmas desses modos de escrever. Alm de durante certo perodo ter sido o modelo dos demais objetos e aes
humanas, a obra de arte tambm se confgurava como exemplo mximo dos modos de exibio, de dar a ver.
Obviamente, com as transformaes da modernidade, na medida em que a arte se alterou, e se transformou o
seu estatuto social, tambm foi mudando o discurso da exposio. Novas conjunturas sociais, novas idias e
prticas em arte propiciaram e exigiram novas instituies e novos modos de expor.
Um dos traos caractersticos da modernidade a substituio do modo artesanal de fabricar o ambiente
da vida humana pela tecnologia industrial. Passagem do artesanato indstria que implicou mudanas no
s no fazer artstico, nos modos de representar e no surgimento de outros tipos de obra artstica, como
tambm, sobretudo, na redefnio do estatuto da arte. A partir do campo artstico, depois de tantas re-
sistncias, projetos, tentativas, fracassos e desiluses relativas possibilidade de reverter ou de redirecionar
esse processo, mais do que a troca de um modo de fabricar por outro, o que se verifca a crise no mbito
da produo do real. Diante do declnio incontornvel do artesanato e da impossibilidade de a indstria
prover uma lgica minimamente aceitvel de gesto do ambiente para a vida, a arte passa a funcionar
no mais como exemplo para as demais aes, coisas e lugares, e sim como paradigma crtico dos modos
de agir e de pensar humanos. No pode, portanto, ser entendida como uma unidade formal que identifca
artefatos e culturas; em uma palavra, como um estilo. Ao contrrio, constitui-se como conjunto nada coeso
de respostas de vieses artsticos aos problemas postos socialmente. Longe de serem modelos de ideao e
fazer para outros objetos, espaos e aes, modernamente as obras de arte e o seu vir a ser so referncias
problemticas para os demais artefatos e prticas humanas. Aprofunda-se, portanto o signifcado crtico da
arte, radicalizando sua funo negativa no campo cultural.
7
3
|
P
o
r
u
m
a
t
r
a
n
s
l
u
c
i
d
e
z
c
r
t
i
c
a
.
P
e
n
s
a
n
d
o
a
c
u
r
a
d
o
r
i
a
d
e
e
x
p
o
s
i
e
s
d
e
a
r
t
e
7
4
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
Na modernidade, tempo de tantas mudanas, novidades e acmulos, no causa surpresa a nsia por docu-
mentar e arquivar, o contnuo proliferar de instituies de guarda, conservao, estudo e divulgao da arte.
Em perodo no qual as destruies no so menores, ganham fora as instituies produtoras de memria e
histria relativas ao patrimnio artstico-cultural, tanto o antigo quanto o moderno. Sendo os processos de
constituio em arte diversos e inusitados (obras efmeras e virtuais, por exemplo), novos desafos so postos
continuamente para as prticas de colecionar, arquivar, preservar, descartar. Frente ao volume do que gerado
e descartado e inexistncia de parmetros defnitivos, com os quais julgar o que proposto como arte,
multiplicam-se os meios tanto de registro e informao quanto de disputa, balizamento e valorao do que
produzido: jornais, revistas, catlogos e livros, impressos, meio eletrnico ou disponveis na rede mundial
de computadores, entre outros formatos. Verdadeiros oceanos de informao e juzo que, por vezes, parecem
mais confundir do que esclarecer.
Circulao intensa de dados e idias que fazem lembrar como no passado as obras de arte viviam circunscri-
tas, muitas vezes em segredo, no plenamente acessveis, presas que estavam a stios sagrados, a cmaras
morturias, altares em templos e recintos palacianos, enquanto na modernidade foram conquistando outros
lugares para sua ao. Na modernidade, liberando-se dos enquadramentos monrquicos e religiosos, a arte
passou a vislumbrar a possibilidade de experimentar uma condio efetivamente prpria e pblica no rede-
senho do circuito de arte, que foi se adaptando s demandas e particularidades da produo artstica.
MUSEUS E EXPOSIES
Entre os espaos desenvolvidos na modernidade especialmente para atender aos fns e meios da arte destaca-
se o museu. Ainda que suas referncias remontem Antigidade e no seja uma instituio exclusiva ao
campo artstico, o museu a instituio por excelncia da arte na modernidade. A princpio, no museu de arte
no estaria a arte mais a servio de instituies no artsticas (polticas, religiosas, econmicas). A instituio
deveria ser pensada em funo da arte, ou, melhor, do jogo da arte, da interao entre o pblico e as obras de
arte, sendo propriamente uma instituio artstica. A arte no abandonava sua condio ritualstica e espe-
tacular, mas as redirecionava para si: o espetculo e o ritual da arte. Nesse sentido, impossvel no perceber
os esforos do sistema de arte para se adaptar s demandas e particularidades da arte na modernidade. Se,
inicialmente, os museus dedicaram-se a colecionar e exibir as obras de arte do passado, consideradas ento
como os modelos que deveriam orientar a nova arte, logo foram criados museus dedicados especialmente
produo contempornea. Tendo como referncia o Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, surgiram mundo
afora museus de arte moderna e, depois, quando se sentiu a prpria modernidade recomeando, museus de
arte contempornea, ou com designaes semelhantes.
Em paralelo aos museus espaos de fxao da arte, de eleio e oferecimento de exemplos, paradigmas e
modelos, de cristalizao de narrativas espcio-temporais desenvolveram-se os Sales, especialmente os
7
5
|
P
o
r
u
m
a
t
r
a
n
s
l
u
c
i
d
e
z
c
r
t
i
c
a
.
P
e
n
s
a
n
d
o
a
c
u
r
a
d
o
r
i
a
d
e
e
x
p
o
s
i
e
s
d
e
a
r
t
e
da Frana, e as Bienais (primeiramente a de Veneza, na Itlia, criada em 1896). Se os valores da arte eram
consolidados nas colees e nas exposies permanentes (lgica e sintomaticamente hoje denominadas como
exposies de longa durao) dos museus e revistos nas exposies retrospectivas dos grandes mestres e
de escolas regionais ou nacionais, a emergncia crtica do novo acontecia nos Sales e Bienais. Entretanto,
a liberdade da arte foi breve, - se que, de fato, algum dia chegou realmente a existir-, pois logo, museus,
sales e bienais mostraram-se abrigos dbios, instituies prprias arte, mas, tambm, de enquadramento
e domesticao.
Basta pensar na barraca armada por Gustave Courbet, no Salo dos Independentes e nos eventos das van-
guardas artsticas do incio do sculo XX, que so referncias at hoje para os artistas, crticos e instituies
avessos ao conservadorismo, para concluir que as exposies temporrias se insurgiram como exerccios de
mobilidade, como tentativas de escape ao controle, como tticas contra as estratgias de dominao de mu-
seus, colees, sales, bienais, galerias, escolas. Nos museus, de acordo com a lgica de seus departamentos,
em consonncia com os vcios das teorias e da historiografa da arte, a produo artstica acabava (em muitos
casos, ainda assim persiste) enquadrada em sees tipolgicas, geopolticas e/ou cronolgicas. Nos sales,
essa produo artstica deve ser submetida aos parmetros previamente estabelecidos por jris e pela lgica
de competio, prticas no mnimo estranhas arte na modernidade. Nas bienais, seguindo o modelo das ex-
posies universais adotado pela Bienal de Veneza, difcil escapar das representaes nacionais, ou seja, da
viso da arte como construtora de identidades geopolticas. Mesmo que a partir do exemplo da Documenta de
Kassel, criada em 1955, tenham surgido outros tipos de eventos artsticos que procuram escapar dos antigos
e novos dispositivos de enquadramento do sistema de arte, a idia do efmero como instante crtico das ver-
dades estabelecidas se mostrou, ironicamente, tambm efmera. Tornada uma manobra rotineira, reiterativa,
a mobilidade contempornea transforma a exposio eventual em outro momento e lugar da domesticao
da obra de arte, sobretudo no formato das grandes exposies. Sucedneas atuais das pirmides, templos e
palcios, as grandes mostras de arte tm enfrentado situaes de grande questionamento dos seus modelos,
mas tambm de expanso, com a exploso das bienais desde meados do sculo XX (So Paulo, Sidney, Havana,
Istambul e Joannesburgo, entre muitas outras) e de outras sucedneas.
EXPOGRAFIA: DA TRANSPARNCIA OPACIDADE
Especifcao das prticas institucionais da arte que conduz questo da expografa. Se o aparato expositivo
inerente a muitas instituies, artsticas e no artsticas, existem diferenas nas intenes que determinam
modos distintos de expor. De uma transparncia inicial, quando pouco era visto e quase nada dito sobre as
prticas expositivas, pode-se falar na opacidade atual, quando as obras de arte pouco interessam diante do
que podem render como elementos de outra obra a exposio. Um meio especfco de enunciao crtica da
arte e da cultura, a exposio de arte deve ser pensada no como um simples dispositivo de amostragem de
obras, mas como uma obra em si, uma unidade construda com diferentes tipos de objetos, cujos signifcados
esto alm da mera soma dos mesmos e que deve ser analisada em suas particularidades discursivas e ritu-
alsticas. No limite, possvel falar em uma arte de expor.
No que tange linguagem, inicialmente a expografa era informada pelos princpios da arte anterior, pr e ps-
renascentista o objeto ntegro em um campo homogneo, a fgura em um fundo, ambos entendidos enquanto
totalidades independentes. Mas desde o modernismo, as diversas experincias artsticas criaram novos paradig-
mas de exposio. Seja na incorporao da moldura e do pedestal s obras, como nas telas de George Seurat
e nas esculturas de Constantin Brancusi, ou em sua eliminao, como nos relevos de Vladimir Tatlin, seja nas
apropriaes de objetos estranhos ao mundo da arte, como nas colagens de Picasso e nos readymades de Duch-
amp, iniciaram-se o questionamento e a renovao dos modos de expor. De Merzbau de Kurt Schwitterz aos seus
desdobramentos recentes, a instalao tornou-se um gnero caracterstico da arte contempornea e, tambm,
um novo princpio de exposio que permite a articulao ampliada de conceitos, objetos, lugares e sujeitos.
A polaridade atual de paradigmas expogrfcos mantm estreitas relaes com essas conquistas artsticas,
alm de explicitar o carter artifcial da exposio. O princpio do cubo branco baseia-se no ascetismo e
no purismo geomtrico da arquitetura e do desenho industrial racionalistas, apostando na fora das aes
redutoras frente saturao imagtica da modernidade. Valorizao do objeto e abstrao de suas relaes
com o mundo que tambm do tipo expogrfco oposto: a caixa preta, a indefnio do negrume espacial
no qual se destacam peas intensamente iluminadas. O que se convencionou denominar como cenografa e
que poderia ser qualifcado tambm como ambientao expositiva rompe com o purismo formalista e com os
gneros tradicionais da arte, baseando-se na heterogeneidade, procurando solues mais ou menos fgurati-
vas e literrias, excessivas ou no, evocando imagens e narrativas que sejam capazes de seduzir a audincia e
de gerar retorno na mdia. Contudo, a esse respeito, sempre vale citar Adorno:
A um bem intencionado que lhe recomendou escurecer o salo durante o concerto, para que se obtivesse
uma atmosfera adequada, Mahler respondeu com razo que uma apresentao diante da qual no se es-
quecesse o ambiente no teria nenhum valor.
1
Tantos os modos simtricos, claro e escuro, de confgurar uma neutralidade supostamente capaz de poten-
cializar os mais diferentes tipos de obra de arte, quanto as simulaes cenogrfcas, que tentam direcionar
a fruio da arte para os fuxos da vida, so indiferentes ao contexto fsico e institucional da exposio,
como se os recintos expositivos fossem neutros, isentos de memrias e histrias, e estivessem passivamente
disponveis s mais diversas manipulaes de curadores, cengrafos e designers. Assim, tentam apag-
lo, seja com a sua neutralizao, seja com o seu encobrimento. Contra isto, vale tomar como referncia a
proposta de arte para stios especfcos, bem como a diferenciao entre a noo abstrata de
espao e a especifcidade contida na confgurao do lugar, incorporando expografa uma visada crtica e
sensvel de cada ambiente fsico e institucional, uma inteligncia do lugar.
1
ADORNO, Theodor W. Museu Valry Proust. In: __. Prismas. So Paulo: tica, 1998, p. 173-174.
7
6
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
AGENTES E AGENCIAMENTOS
Com relao ao pblico, na sociedade de massas, a questo no propriamente a quantidade das pessoas que
podem interagir com as obras de arte, no a extenso sem precedentes do pblico, pois a arte sempre se
pensou universal, dirigida a todos, independente de escala. O problema qualitativo, est nas diferenas do
pblico em relao s misses que se tentam atribuir arte e s exposies de arte.
Mas as discrepncias entre segmentos eruditos e no eruditos do pblico no implicam necessariamente
formar contingentes massivos de especialistas, multides de connoisseurs. Ao contrrio, parece mais interes-
sante pensar como a nova arte vem sendo vista e lida com outros olhos, corpos e sentidos. Comparado com
a presena respeitosa de fis e sditos nos templos e palcios anteriormente, o comportamento dos novos
espectadores da arte pode parecer um indcio do terror que ronda e ameaa as instituies na modernidade.
necessrio, entretanto, pensar os fuxos das pessoas nos museus, centros culturais e galerias em relao aos
seus hbitos em centros comerciais, supermercados, estaes de trem, nibus e metr; vale a pena ouvir os
rumores do novo pblico da arte, observar seu bailado aparentemente errtico, ver a voracidade com que re-
processa o que por vezes nem enfrenta a olho nu ou sabe que incorporou sua cultura. As liberaes da arte
na modernidade constituem o argumento primeiro contra a defesa de modos de receber e experimentar im-
unes aos solavancos da modernidade, pois talvez estejam apenas comeando novas maneiras de interagir com
a obra de arte, as quais, a princpio, podem parecer mais brbaras, mas que so certamente menos elitistas.
No se pode, entretanto, em nome da ampliao da audincia da arte, esquecer o equilbrio que deve existir
entre conhecimento e prazer no jogo da arte.
Longe dos palcios e templos, a arte no visa mais confgurar aparatos fsicos e simblicos de governos e
religies e engendrar os rituais das instncias de poder. Essas no deixam de prever novas funes para a arte,
querendo domestic-la de modo a controlar as massas por meio da formao dirigida e do entretenimento,
cujas metas resvalam no raro para a alienao e o controle social. Em permanente confito com as instncias
de poder, a arte tem procurado diferenciar-se das manobras para institu-la como simples lio ou espetculo,
vem tentando escapar aos plos redutivos da pedagogia e do divertimento. Se a qualidade formativa da arte
pode participar do processo rumo sociedade ideal por meio da transformao dos indivduos em cidados
crticos e sensveis, tambm pode ser distorcida com a arte restringida a ser mera ferramenta educacional. Sua
excepcionalidade tanto pode funcionar como componente capaz de produzir refexes e mudanas individuais
e coletivas que levem a pensar o cotidiano, o dia-a-dia, quanto ser convertida em simples passatempo, que
faz da arte uma modalidade do lazer.
Se o jogo da arte comea com a relao do artista com sua obra, s prossegue com a interao entre o pblico,
a obra e, por meio dessa, o artista, com as intervenes dos demais membros do sistema de arte. Entre a obra,
o artista e o pblico sempre houve outros agentes: patronos, colecionadores, comerciantes, cronistas, crticos,
historiadores. Na modernidade no diferente. Esses e outros tipos de interventores continuam intermediando
as relaes entre as obras, os artistas e os pblicos.
7
7
|
P
o
r
u
m
a
t
r
a
n
s
l
u
c
i
d
e
z
c
r
t
i
c
a
.
P
e
n
s
a
n
d
o
a
c
u
r
a
d
o
r
i
a
d
e
e
x
p
o
s
i
e
s
d
e
a
r
t
e
Nessa estratifcao dos agentes do campo artstico, tm ganhado destaque as aes dos curadores. O sub-
stantivo curador e o verbo curar so designaes relativamente novas, associadas h pouco tempo nova
produo artstica e reala as especifcidades que se foram explicitando na prtica de expor obras de arte
e acompanhar seus caminhos. Inicialmente, os curadores cuidavam da preservao, do estudo e da exibio
das obras nos museus, sendo especializados por tipos de objetos, perodos temporais ouregies geopolticas,
conforme a lgica de estruturao dessas instituies por departamentos. Ultimamente, quando ganhou evi-
dncia o fato de a exposio de arte ser uma obra em si, com autorias, teorias, prticas e histrias, passou a
ser necessrio distinguir e valorizar a funo autoral na exposio de maneira a expor os mltiplos partici-
pantes do jogo da arte. Deve haver equilbrio entre a exposio como obra e as obras de arte exibidas, entre
o curador e os demais autores envolvidos artistas, colecionadores, indivduos, grupos, instituies j que
se a curadoria consiste, muitas vezes, em uma assinatura crtica fundamental (a esse respeito, cabe destacar
nomes relevantes no campo da curadoria de arte na modernidade: Willem Sandberg, Pontus Hulten, Harald
Szeemann, Catherine David, Okwui Enwezor
2
).
Contudo, em outras situaes, a mo excessivamente pesada pode atenuar a potncia de artistas e obras de arte
ao submet-los ao processo atual de absoro pela cultura, de reduo de toda e qualquer ao ou obra de arte
esfera da cultura, tomando essa esfera como essncia artstica em vez da arte como ruptura cultural, ou seja,
apostando mais nessa e menos naquela, o que enfraquece tanto o discurso da arte quanto a exposio de arte.
DESAFIOS NA ERA DAS EXPOSIES
Em 1975, E. H. Gombrich j falava na era das exposies e protestava contra as constantes transformaes
das exposies permanentes (ou de longa durao) dos museus.
3
Mais de trs dcadas depois, as exposies
tornaram-se um verdadeiro negcio que ganhou o mundo. Aps o efeito Beaubourg, sobretudo nos anos
1990, o meio de arte assistiu proliferao dos centros culturais e ao enquadramento de muitos museus como
centros culturais, onde, muitas vezes, so priorizados exposies e outros eventos temporrios em detrimento
da constituio, do aprimoramento e da dinamizao de acervos, que so mantidos nas reservas tcnicas ou
viajando, e de exposies de longa durao. Sejam museus ou centros culturais, em sua maior parte as insti-
tuies correm riscos ao se tornarem meras hospedeiras de exposies montadas por frmas ou produtores
independentes, muitas vezes alhures, sobre artistas e temas variados, desvinculados de suas colees ou
campos de ao. De tal modo que fca difcil defnir um carter prprio com a srie de exposies temporrias
que montam ou recebem.
2
Sobre curadoria de arte na modernidade, ver: SEROTA, Nicholas. Experience and Interpretation: The Dilemma of Museums of Modern Art. London:
Thames Hudson, 1996.
3
GOMBRICH, E. H. The museum: past, present and future. In: __. Ideals & Idols. Essays on Values in History and in Art. London: Phaidon Press Limited,
1994, p. 189-204.
7
8
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
A efccia das exposies no pode ser medida apenas pelas regras dominantes do marketing, onde o que
interessa o rendimento na mdia. Se correto afrmar que as exposies so muitas vezes lugares de sacra-
lizao, cabe perguntar: do qu? De obras de arte e artistas ou de si mesma, da instituio e seus curadores,
cengrafos e patrocinadores? O que importa discutir se a exposio cumpre o seu objetivo de propiciar a
experincia artstica renovada a uma audincia ampliada e irrestrita.
A opacidade facilmente perceptvel no campo das exposies de arte, atualmente, no deve gerar lamento
nem resignao, seja porque as exposies parecem ser o habitat da arte hoje, seja porque h muito tempo a
arte vive com a conscincia do cerco crtico e institucional. E pode-se acrescentar que, como os artistas muitas
vezes venceram com sucesso o peso do sistema de arte, podem tambm enfrentar a conjuntura, sobretudo
se pensarmos que a fgura do artista tem redefnido-se como a de um pensador da arte, de seu sistema e de
sua situao no quadro scio-cultural, cujo papel , sem abandonar a dimenso potica, questionar, criar
dvidas e polmicas, intervir, chegando a ser quase um ativista. Frente transparncia da irrefexo anterior
e opacidade discursiva contempornea, pode-se defender uma translucidez crtica a evidncia do aparato
expositivo que subsidia os jogos entre artistas, obras de arte e pblico. E pretender, assim, que as exposies
alcancem uma condio translcida, a mais cristalina possvel, a mais prxima do paradoxo da transparncia
opaca.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ADORNO, Theodor W. Museu Valry Proust. In: __. Prismas. So Paulo: tica, 1998, p. 173-174.
DAMISCH, Hubert. LAmour MExpose. Gand: Yves Gevaert diteur, 2000.
DEL CASTILLO, Sonia Salcedo. Cenrio da Arquitetura da Arte. Montagens e espaos de exposies. So Paulo: Martins Fontes, 2008.
DUNCAN, Carol. Art Museum as Ritual. In: PREZIOSI, Donald (editor). The Art of Art History: a Critical Anthology. Oxford; New York: Oxford
University Press, 1998, pp. 473-485.
KRAUSS, Rosalind. The Cultural Logic of lhe Late Capitalist Museum. In: KRAUSS, Rosalind et alii editors October, The Second decade
1886-1996. Cambridge: The MIT Press, 1996, pp. 222-255.
ODOHERTY, Brian. No Interior do Cubo Branco. A ideologia do espao da arte. So Paulo: Martins Fontes, 2002.
PREZIOSI, Donald. Evitando museucanibalismo. In: PEDROSA, Adriano (organizador). Ncleo Histrico: Antropofagia e Histrias de Caniba-
lismos. So Paulo Fundao Bienal de So Paulo, 1998, pp. 50-56.
SEROTA, Nicholas. Experience and Interpretation: The Dilemma of Museums of Modern Art. London: Thames Hudson, 1996.
7
9
|
P
o
r
u
m
a
t
r
a
n
s
l
u
c
i
d
e
z
c
r
t
i
c
a
.
P
e
n
s
a
n
d
o
a
c
u
r
a
d
o
r
i
a
d
e
e
x
p
o
s
i
e
s
d
e
a
r
t
e
AS DIVERSAS FACES DO CURADOR
DE EXPOSIES CIENTFICAS
E TECNOLGICAS
Ctia Rodrigues Barbosa
A REVOLUO E O CALEIDOSCPIO
Uma nova revoluo da cincia e da tcnica manifesta-se em nosso tempo. No futuro, possivelmente, o con-
junto de eventos que formam essa nova revoluo a tornaro to marcante (ou, quem sabe, mais...) quanto a
Revoluo Industrial do sculo XVIII. No uma idia exagerada: essa nova revoluo, centrada na produo
e disseminao de conhecimentos, guarda relao direta com a amplifcao das diversas atividades econmi-
cas, mas ao contrrio da outra revoluo a que nos referimos, toca tambm, e de forma diretamente rela-
cionada, as atividades do setor que costuma ser dado como da Cultura.
Um dos aspectos dessa nova revoluo da cincia e da tcnica que merece destaque uma mudana per-
ceptvel no comportamento de homens e mulheres, tanto em suas vidas profssionais quanto em suas vidas
privadas. A facilidade de acesso tanto formao quanto informao cria e modifca as possibilidades de
conhecimento do mundo, nos diversos modos em que se manifesta tal conhecimento: criao artstica, desco-
berta cientfca, condies de produo.
A disseminao de redes de comunicao de alcance mundial tambm tem que ser apontada. Em condies
capitalistas globais , essa disseminao tornada possvel a partir da vulgarizao das chamadas Tecnologias
de Informao e Comunicao (TIC) baseadas na Informtica e na Telemtica
1
. Produtores de conhecimento
cientfco, ou de qualquer outro carter, passam a ter acesso a um mercado de novo tipo: o mercado de infor-
maes. Esse mercado consubstancia-se nos grandes bancos de dados postos disposio de cada produtor,
individualmente ou em grupos, acesso que amplia exponencialmente as capacidades de cada um desses agen-
tes. Por outro lado, tal acesso, amplo e aberto, traz o risco de que a criatividade, fator indispensvel produo
de conhecimento e cultura, acabe subordinada s demandas desse mercado de dimenses globais.
Tomar conscincia dessa revoluo deve ser um dos maiores objetivos dos atores e autores da cultura cient-
fca, tcnica e industrial; difundir os resultados dessa tomada de conscincia, outro. Em funo desse objetivo,
instituies de sociabilidade, possveis lugares de aproximao de potenciais produtores, bem como dos con-
sumidores dessas informaes, assumem novo papel. Falamos de bi-bliotecas, de arquivos e, principalmente,
por ser o tema deste ensaio, de museus. E, particularmente, de museus cientfcos e tecnolgicos, em funo
da importncia que adquire no contexto dessa nova revoluo a educao em cincias.
2
As exposies cientfcas e de tecnologia devero desempenhar funo destacada nesse processo. Museu e
exposies cientfcas e de tecnologia passam a deter a responsabilidade de representar toda uma gama de
1
Telemtica o campo do conhecimento humano resultante da juno entre conceitos, mtodos e recursos das telecomunicaes (telefonia,
satlite, cabo, etc.) e da informtica (hardware, softwares e sistemas de redes). O aperfeioamento dessa rea, aps a Segunda Guerra Mundial,
possibilitou o processamento, compresso, armazenamento e circulao de grandes quantidades de texto, imagem e som, sob a forma de dados, em
velocidade muito alta, entre usurios localizados em qualquer ponto do planeta. Cf. BRETON, Philippe. Histria da informtica. So Paulo: Ed. da
UNESP, 1991. p. 148-149.
2
Cf. CAZELLI, Sibele et al. Tendncias pedaggicas das exposies de um museu de cincia. In: GUIMARES, Vanessa Fernandes; SILVA, Gilson Antunes
da (org.). Implantao de Centros e Museus de Cincia. Rio de Janeiro: UFRJ, Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Educao em Cincia, 2002.
p. 208-217..
8
1
|
A
s
d
i
v
e
r
s
a
s
f
a
c
e
s
d
o
c
u
r
a
d
o
r
d
e
e
x
p
o
s
i
e
s
c
i
e
n
t
f
c
a
s
e
t
e
c
n
o
l
g
i
c
a
s
8
2
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
conhecimentos. Decodifcam e, dessa forma revelam (literalmente, retiram o vu), do fazer cincia, most-
rando como o conhecimento cientfco
3
uma forma de conhecimento, e apontando para o fato de que
outra forma de conhecimento, mas no nica, e nem necessariamente a defnitiva.
Juntamente com bibliotecas e arquivos, os museus podem ser relacionados dentre as mais consistentes e rep-
resentativas instituies criadas pelo desenvolvimento do Ocidente. Essas instituies guardaram por sculos
a trajetria ocidental, poltica, intelectual e tcnica. Originados pela civilizao clssica
4
, museus, arquivos e
bibliotecas mostraram-se vigorosos o bastante para se expandir, junto com a Europa, pelo mundo. Guardam e
tornam visveis, ora com clareza, ora nem tanto, a construo e trajetria dos diversos conhecimentos da reali-
dade, a consolidao desses conhecimentos e sua superao.
Como a observao do presente e do passado, a valorizao do patrimnio cientfco, tcnico e industrial pode
esclarecer sobre a situao atual? Como distinguir, expor e explicar os objetos produzidos pela cultura cient-
fca, tecnolgica e industrial da nossa sociedade?
Nossa proposta neste artigo abordar a curadoria das exposies cientfcas e tecnolgicas como uma funo
caleidoscpica. Partindo do pressuposto que as exposies museais so, independente de seu carter, instru-
mentos de comunicao, tentaremos discutir as diversas fguras assumidas por essa funo caleidoscpica e
indispensvel s exposies cientfcas e de tecnologia. Tentaremos estabelecer esses papis, como organiza-
dores e animadores dessas exposies. Em nosso escopo, entretanto, no estaro as estratgias de conserva-
o das colees cientfcas e tecnolgicas, objetos nessas exposies; nem to pouco temos como proposta
descrever o perfl e os requisitos do especialista dessa rea. J existem publicaes, em nossa lngua, que
apresentam tanto essas estratgias quanto os perfs e requisitos necessrios aos profssionais dessa rea.
5
CURADOR-GUIA: ABRINDO CAMINHOS
Em resumo: o curador estabelece e desenvolve o tema da exposio, indicando as linhas gerais do que ser
exposto. O curador, em conjunto com a sua equipe de trabalho defne a exposio como um percurso: o qu
e porqu expor, e para qual pblico idealizada a exposio. Nesse sentido, o curador deve ser capaz de
orientar e esclarecer sua equipe de trabalho sobre as linhas gerais que foram estabelecidas, e, em combinao
3
Segundo Arajo e Oliveira, conhecimento cientfco um conjunto de conhecimentos metodicamente adquiridos, organizados e suscetveis de
serem transmitidos por um processo pedaggico de ensino. Trata-se por se constituir de um saber ordenado logicamente, formando um sistema de
idias (teorias). Pretende ser verifcvel, objetivo e comunicvel. Objetiva explicar racional e metodicamente a realidade.In: OLIVEIRA, Marlene de
(coord.). Cincia da Informao e Biblioteconomia: Novos contedos e espaos de atuao. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005. P. 28.
4
Para boa introduo problemtica da origem dos museus, cf. SUANO, Marlene. O que Museu? So Paulo: Brasiliense, 1986. p. 4-10 (Coleo
Primeiros Passos); para um aprofundamento do tema, cf. SCHEINER, Tereza C. Apolo e Dioniso no Templo das Musas: Museu: gnese, idia e represen-
taes nos sistemas de pensamento da sociedade ocidental. Dissertao de Mestrado. ECO/UFRJ, 1997.
5
O interessado poder consultar, por exemplo BITTENCOURT, Jos Neves; GRANATO, Marcus; BENCHETRIT, Sara Fassa (org.). Museus, cincia e tecnolo-
gia. Rio de Janeiro: Museu Histrico Nacional, 2007; BRASIL, Superintendncia de Museus de Minas Gerais. Cadernos de Diretrizes Museologicas-1.
Belo Horizonte: SUM-MG, 1. ed. 2001.
8
3
|
A
s
d
i
v
e
r
s
a
s
f
a
c
e
s
d
o
c
u
r
a
d
o
r
d
e
e
x
p
o
s
i
e
s
c
i
e
n
t
f
c
a
s
e
t
e
c
n
o
l
g
i
c
a
s
com tais linhas, sobre a seleo do acervo. Ou seja, ele uma espcie de guia, aquele que concebe, organiza e
supervisiona a montagem de uma exposio.
Mapear o espao compreendido pelos museus cientfcos e de tecnologia e pelas exposies de cincia e tecno-
logia, de modo a estabelecer um trajeto, seja de fatos cientfcos ou tecnolgicos, seja do passado da cincia e
da tecnologia, o papel do curador como guia. No mapa resultante dessa explorao estar marcada a valori-
zao do patrimnio cientfco, tcnico e industrial como ferramenta de esclarecimento sobre a situao atual
do conhecimento. O trajeto estabelecido assim podemos entender, em ltima anlise, uma exposio abre
caminho para a compreenso de como processos observveis na natureza e na vida cotidiana se desdobram e
refetem em conseqncias que, mesmo pouco perceptveis, afetam a vida
6
.
Os curadores que produzem exposies cientfcas e de tecnologia para um museu ou um centro de cultura
precisam assumir a preocupao tica de apresent-las como um campo de informao crtica, revelando, no
processo, uma relao entre termos de conhecimento: os artefatos, sejam eles representaes de fenmenos
ou elementos tecnolgicos, esto postos para serem conhecidos; o visitante os conhecer; a exposio favore-
cer a apropriao e reapropriao de uma cultura cientfca. O visitante, a partir de suas vivncias, poder
construir outras vivncias, apoiado em cada instrumento, equipamento ou experimento cientfco exposto e
da exposio como um todo, estabelecendo vnculos com o conhecimento cientfco, encontrando um lugar
prprio para ele na histria e na cultura cientfca.
CURADOR-ADMINISTRADOR: ESTABELECENDO INTERAES
A valorizao crescente do patrimnio cientfco e tecnolgico que se manifesta no aumento do nmero de
museus e exposies cientfcas e de tecnologia faz com que a fgura do curador seja, freqentemente, associada
imagem de um administrador. Nesse sentido, o papel do curador desliga-se da exposio e passa a ser o de
responsvel por determinados ncleos de acervos, pelo direcionamento do recolhimento, das linhas de pesquisa
e da temtica das exposies.
Helosa Barbuy, ao tratar dos museus universitrios, discute a questo da curadoria numa perspectiva histrica,
a partir de mudanas ocorridas no prprio conceito de museu. Segundo essa autora, Embora o termo [cura-
doria] varie de pas para pas, a idia de responsveis por determinados ncleos de acervo e, sobretudo, pelo
direcionamento de coletas, pesquisas e exposies envolvendo esses acervos, est totalmente em vigor. Resta
6
... o museu de cincia contemporneo abrigaria duas funes: a manuteno das colees como misso de garantir
a
herana do patrimnio da cul-
tura cientfca, acoplada misso de difuso do conhecimento cientfco. O desafo, ento, seria o de alcanar o equilbrio entre as duas, executando
cada uma das tarefas de forma efcaz, e buscando sua interligao na prtica cotidiana. GUIMARES, Vanessa Fernandes; SILVA, Gilson Antunes da
(org.). Implantao de Centros... Op. cit. p. 325.
compreender ento o que defne esta responsabilidade.
7
Barbuy associa essa responsabilidade a uma busca
de identidade dos museus e continua: E isto se associa, exatamente, s propostas cientfcas de cada museu,
mesmo nos museus no-universitrios. E as propostas cientfcas de um museu, por sua vez, so defnidas em
funo da disciplina ou das disciplinas bsicas s quais ele se dedica. Parece-me assim, que o curador , ou
deve ser, preferencialmente, um especialista na disciplina ou em uma das disciplinas de base do museu.
8
Embora a autora no estivesse pensando em nenhuma categoria de museu em particular, suas refexes do
interessantes pistas para a curadoria de exposies cientfcas e de tecnologia. A concepo dessas exposies
d-se no mbito de uma equipe de trabalho, cujo primeiro passo objetivo ser a pesquisa do acervo que se
pretende exibir, pesquisa essa que envolve anlise histrica e dos dados intrnsecos do objeto (sua estrutura
material), o que implica, da parte do curador, certo conhecimento especializado, mas sobretudo, capacidade
de estabelecer a quantidade de informaes a serem aproveitadas na exposio. Trata-se, pois, de uma ca-
pacidade administrativa. Essa capacidade torna-se indispensvel, visto que ser a ponte entre a pesquisa e os
responsveis pela expografa (a tcnica de expor). Nesse momento estabelecido o modo de interao objeto-
visitante, e tambm o modo de interao com os conservadores e com as estratgias de preservao do acervo.
Segundo essa linha de raciocnio, o curador aquele que administra todas essas interaes, mas tambm
estabelece o alcance e os limites dessas interaes. O curador assume, pois, o papel de um administrador de
especialidades, de modo que a segmentao profssional que na atualidade caracteriza os museus, no se
torne um problema, mas ajude a melhor cercar as necessrias passagens entre as funes, as recuperaes,
as praias comuns, s elas, permitindo o trabalho coletivo e, portanto, o sucesso da tarefa global.
9
Esse curador-administrador encontra-se em diversos tipos de museus e exposies museais. Nos museus
de empresas e centros de memria das indstrias e nas exposies cientfcas e tecnolgicas de indstrias
e empresas do ramo da cincia e tecnologia, so responsveis por acervos e exposies, em funo da alta
especializao que esses temas geralmente exigem do responsvel, mas tambm pela capacidade de entender
acervos que nem sempre esto totalmente disponveis, mas dispersos por sees e divises. Tambm so fgu-
ras comuns nas exposies cientfcas e tecnolgicas realizadas por laboratrios universitrios e instituies
de pesquisa cientfca
10
.
CURADOR-COMUNICADOR: ESTABELECENDO AFINIDADES
... nos dias de hoje, a capacidade profssional chave em uma galeria de um museu a habilidade de se comu-
nicar E boa comunicao implica uma afnidade com o receptor da mensagem. No sufciente dominar o as-
7
BARBUY, Heloisa. Curadoria e curadores. In: Brasil, Universidade de So Paulo: I semana dos museus da Universidade de So Paulo. Anais... So
Paulo: Universidade de So Paulo: 1999.p. 59.
8
Ibidem.
9
Elizabeth Caillet, apud BARBUY, Helosa. Curadoria Op. cit. p. 60.
10
Sobre esse assunto, cf. RIBEIRO, Heloisa e BLANCO, Enrique. Um espao para cincia e tecnologia no cotidiano do Rio de Janeiro. Anais do Museu
Histrico Nacional (Vol. 35, 2003). Rio de Janeiro: Museu Histrico Nacional, 2003. p. 165-174.
8
4
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
sunto tratado na exposio, deve-se tambm compreender os visitantes e saber envolv-los.
11
As observaes
indicam o caminho recomendvel para uma curadoria efciente das exposies cientfcas e tecnolgicas: uma
curadoria efciente deve sempre, a priori, buscar comunicar o acervo. E comunicar o acervo signifca, antes
de mais nada, interpret-lo, ou seja, construir cruzamentos que faam o pblico concentrar-se no tema e nos
seus desdobramentos,convencendo-o da importncia do tema.
Um bom curador no pode deixar o pblico sentir-se passivo, esperando que os objetos falem por si mesmos.
Assim, uma das funes do curador, a partir do entendimento de que a grande maioria do pblico constituda
por leigos no assunto, deve ser estabelecer quais so os objetivos da exposio, o que se pretende que a ex-
posio faa. O projeto da exposio deve ser claro para quem a exposio se dirige, visto que uma exposio,
recebe leigos de idades muito diferentes: adultos e crianas. E a comunicao pensada para se alcanarem
adultos e crianas bastante diferente.
Esses dados devero estar presentes no pr-projeto e amadurecidos no projeto, para que a exposio, depois
da abertura, funcione. Passa a existir um investimento tcnico para a constituio das colees. Assim, quando
falamos de ao curatorial, no se trata apenas de estudar as colees, mas de dar um sentido a elas; esta-
belecer uma identidade para o acervo. Quando essa identidade bem trabalhada, as exposies cientfcas e
tecnolgicas passam a ser agentes de informao para o pblico visitante. A identidade que faz o pblico se
reconhecer na exposio possibilita a criao de afnidades, ou seja, que o observador se sinta ligado ao objeto
que lhe ca sob o olhar.
A exposio intitulada SPEED: A arte da velocidade na Casa Fiat
12
, realizada entre 2006 e 2007, na Casa
FIAT de Cultura, instituio situada na cidade de Belo Horizonte, ilustra a inteno dos curadores de inserir os
visitantes em um lugar onde cincia, arte, tcnica, tecnologia no s esto presentes, mas so identifcados
pelos visitante como partes de sua vida. Essa exposio apresentou um dilogo entre obras de arte, projetos
de design, fotografas e outros suportes bidimensionais, bem como uma srie de objetos tridimensionais:
automveis de diferentes pocas, motores de avio, bicicletas, velocmetros. Tambm mobilizava outras m-
dias, como flmes apresentando linhas de montagens de automveis e avies. A idia do desenvolvimento da
tcnica era abordada na exposio por sua dimenso esttica, incorporou a idia da tecnologia como fonte
de beleza. Assim, o visitante era colocado diante de sentidos que, embora lhes fossem totalmente familiares,
surgiam a partir de pontos de vista inusitados. Os curadores dessa exposio foram bem sucedidos em impul-
sionar a reviso de signifcaes e, assim, arranc-las do contexto cotidiano.
Os objetos cientfcos e tecnolgicos tm capacidades comunicativas que devem ser descobertas e exploradas
pelo curador. Um exemplo bastante representativo dessa qualidade dos objetos a exposio Belo Horizonte:
11
CLARK, Giles. As exposies vistas pelos olhos dos visitantes a chave para o sucesso da comunicao em museus. In: GUIMARES, Vanessa Fer-
nandes; SILVA, Gilson Antunes da (org.). Implantao de Centros e Museus... Op. cit. p. 123.
12
Speed: A arte da velocidade na casa FIAT de cultura. Exposio temporria aberta de 13 de junho a 30 de setembro de 2007. Belo Horizonte. Ideali-
zao e organizao Contempornea Progetti S.r.l., Florena, Itlia. Possui catlogo.
8
5
|
A
s
d
i
v
e
r
s
a
s
f
a
c
e
s
d
o
c
u
r
a
d
o
r
d
e
e
x
p
o
s
i
e
s
c
i
e
n
t
f
c
a
s
e
t
e
c
n
o
l
g
i
c
a
s
tempo e movimentos da cidade capital, exposio de longa durao do Museu Histrico Ablio Barreto
13
, na
cidade de Belo Horizonte. Na parte externa do museu, os visitantes encontram-se com grandes objetos, os
quais buscam retratar diversas poca da cidade: um bonde eltrico, uma locomotiva a vapor, uma prensa, uma
cabine de elevador e um carro de boi desmontado. Todos esses objetos encontram-se instalados em expositores
de vidro que facilitam a aproximao, tanto fsica quanto afetiva. Essa concepo museogrfca chama aten-
o do observador para a importncia dos objetos tecnolgicos no cotidiano da cidade e de seus habitantes.
Essa coleo de objetos tecnolgicos aponta para o espao museal como espao de interaes. Um carro de
boi, artefato caracterstico da vida rural mineira, encontra-se desmontado, junto aos monstros de metal da
era industrial. A inteno de provocar estranhamento quase evidente; desmontar esse estranhamento uma
forma de mostrar aos visitantes que um artefato tem estruturas-entranhas. O curador-comunicador deve ter
em mente que acervos assim podem encantar e que, quando encantam, comunicam.
CURADOR-EDUCADOR: ATENDENDO DEMANDAS
Os educadores em cincias tm enfatizado, ao longo das duas ltimas dcadas, o papel dos museus de cincia
e tecnologia para a alfabetizao cientfca de populaes cada vez mais envolvidas com os produtos da era
industrial. Isso pode ser traduzido como demanda pelo estabelecimento de uma pedagogia museal, pela
qual se introduza no s a discusso sobre a cincia e a tecnologia, mas tambm a discusso das implicaes
sociais da cincia. curador.
O curador das exposies cientfcas e tecnolgicas deve ter sempre em seu foco que as exposies, indepen-
dente do tema, tm fns educativos e assim devem ser organizadas. pblico que lhe foi confada, por isso cabe
ao curador ter um conhecimento dos objetos das colees cientfcas, tecnolgicas e industriais, pelas quais
ele fcou responsvel.
Nessa direo, exposies podero ser citadas como muito bem sucedidas, caso apresentem de forma descompli-
cada e efciente os patrimnios cientfcos, tecnolgicos e industriais reunidos em suas colees. Exemplo disso
seria a apresentao das dimenses culturais, tecnolgicas, histricas e cientfcas da eletricidade, tema bastante
comum na atualidade. No que se refere curadoria de colees de objetos relativos eletricidade e s suas aplica-
es, em geral o programa cientfco e cultural desses museus temticos opta por colocar a coleo no centro da
proposta museolgica, e assim responder s demandas do pblico em torno desse elemento vital vida moderna.
Em museus de eletricidade o objeto desempenha dois papis importantes: primeiro, ele testemunha de um
patrimnio passado e presente ligado histria da eletricidade e de nossa sociedade. Nesse caso primeira-
mente um objeto de coleo; segundo, o objeto materializa o fuido invisvel e impalpvel que constitui a
eletricidade. Nesse caso, ele se aproxima do pblico, o meio privilegiado para a compreenso da histria das
13
Belo Horizonte: Tempo e movimentos da Cidade-Capital. Exposio de Longa Durao inaugurada em 12 de dezembro de 2005 no Museu Histrico
Ablio Barreto. Curadoria de Thas Velloso Cougo Pimentel. Possui catlogo.
8
6
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
cincias e das tcnicas. Aqui o objeto mediador. Ele apresenta, tambm, uma iconografa muito rica tirada
dos arquivos do museu e de sua coleo de cartazes relacionados eletricidade. Tomaremos como exemplo o
Museu da Eletricidade - Centro de Efcincia Energtica da Companhia de Energia Eltrica do Estado da Bahia
(COELBA)
14
, situado em Salvador, Bahia. A proposta do museu, ao reunir cerca de sessenta experimentos que
utilizam energia eltrica e eletromagnetismo, possibilitar aos visitantes conhecer, de forma ldica, os princ-
pios bsicos da eletricidade. Postos esses princpios, tambm foi instalado o Memorial da Energia Eltrica,
que aborda desde a descoberta do fogo at o ncleo atmico, alm de um panorama da evoluo da eletrifca-
o no Brasil e na Bahia, a histria da eletricidade e mtodos para economia de energia. Os visitantes contam
com o auxlio de monitores, que tambm informam sobre os princpios de gerao, transmisso, distribuio
e utilizao da eletricidade de forma efciente e segura.
O conceito do Museu da Eletricidade da COELBA aproxima-se do conceito de playground da cincia
15
, inven-
tado em 1982 na ndia, e consiste na reunio de experimentos ao ar livre, que proporcione a aprendizagem de
forma atraente para crianas e adultos. No caso do Museu da Eletricidade, foi adaptado um prdio histrico
para receber o circuito de exposio, mas o princpio o mesmo do aplicado um playground da cincia.
Apresentada da maneira certa, a cincia deixa de ter a aura que a faz misteriosa para os no-iniciados. Se-
gundo notas da poca
16
, um dos experimentos do Museu que chamou ateno do pblico infantil foi o Gerador
de Van Der Graaf uma esfera metlica que produz energia eletrosttica capaz de arrepiar os cabelos durante
o toque. O experimento foi testado por diversos estudantes de uma escola municipal, cujas idades variavam
de 7 a 10 anos. Achei muito legal porque fquei com o cabelo igual ao de um porco espinho, brincou uma
estudante. Esse tipo de museu tem por misso estimular o visitante a ensaiar o ato de fazer cincia, exer-
citando seu raciocnio lgico, sua capacidade de observar e levantar hipteses, , com uma preocupao em
sensibilizar para as cincias...
17
O CALEIDOSCPIO REVELADO
A RECEPO DAS EXPOSIES DE CINCIA E TECNOLGICA
Nas exposies, a experincia revela-se bem ou mal sucedida conforme a reao do pblico. A recepo do
pblico expe a comunicao entre o sujeito e o objeto. Nesse momento, a expografa a tcnica e a arte de
14
Cf. Museu da Eletricidade promover cincia com interatividade do pblico. Disponvel em: http://www.coelba.com.br/aplicacoes/menu_
secundario/sala_imprensa/prre_set.asp?cod=1979&c= Consultado em 2 de maio de 2008.
Teste de Nervos, Bicicleta Geradora, Anel Saltante, Casa Energizada, e computadores com jogos interativos so alguns dos equipamentos
que permitiro aos visitantes experimentar os princpios bsicos da eletricidade, segundo informaes da prpria instituio.
15
Cf. FRIEDMAN, Alan J.; MARSHALL, Eric. D. Playgrounds de cincia: ampliando a experincia dos centros de cincia para espaos abertos. In: In: GUI-
MARES, Vanessa Fernandes; SILVA, Gilson Antunes da (org.). Implantao de Centros e Museus... Op. cit. p. 151-152.
16
Inaugurado ontem, o Museu da Eletricidade da COELBA mostra da descoberta do fogo at o ncleo atmico.Correio da Bahia, 17 de agosto de
2007.
17
BONATTO, Maria Paula. Parque da Cincia da Fiocruz: construindo a multidisciplinaridade para alfabetizar em cincias da vida. In: GUIMARES,
Vanessa Fernandes; SILVA, Gilson Antunes da (org.). Implantao de Centros e Museus... Op. cit. p. 139.
8
7
|
A
s
d
i
v
e
r
s
a
s
f
a
c
e
s
d
o
c
u
r
a
d
o
r
d
e
e
x
p
o
s
i
e
s
c
i
e
n
t
f
c
a
s
e
t
e
c
n
o
l
g
i
c
a
s
criar ambientes expositivos pode ser considerada limite-elo: limite no que se refere a uma compreenso
de um discurso cientfco; elo por abrir possibilidades de apresentao do discurso buscado pelo curador.
Por meio da apresentao, o curador prope provoca cada visitante e cada curador. Na prpria concepo
museogrfca de uma exposio existe uma tenso da esttica como limite-elo entre a coleo de aparatos
tcnicos e tecnolgicos que esto sob a tutela de um curador e a musealizao desses aparatos em uma de-
terminada expografa, que tambm coordenada e muitas vezes decidida pelo curador.
O grande teste comea com a experincia do efeito da recepo do visitante: como a exposio o surpreende.
Inicia-se, portanto, na contemplao, na fruio, na experincia esttica. Interessa aqui destacar o circuito da
visita, situao em que o visitante engajado no percurso da inteno do curador. Nesse momento, o curador
guia, e a exposio, o mapa oferecido ao visitante.
Entrevistas realizadas com curadores de exposies cientfcas e tecnolgicas, em uma pesquisa realizada no
perodo de 2001 a 2005, na regio de Paris
18
, apontaram a preocupao desses profssionais em inserir o visi-
tante no percurso da exposio, imergindo-o no tema proposto por meio de expografas altamente teatrali-
zadas. Imaginavam assim levar aqueles curadores de exposies cientfcas e tecnolgicas a compreenderem
a inteno da exposio. A defnio do espao fsico e a preparao do trajeto e do circuito da exposio
subordinavam-se a propostas expogrfcas cada vez mais estetizadas, cuja primeira categoria comunicativa
parecia ser a beleza do conjunto. Nas entrevistas, os curadores foram unnimes em apontar a esttica atrativa
como critrio para a seleo de objetos tcnicos e tecnolgicos. Essa questo revela o curador como adminis-
trador, visto que o critrio atratividade esttica certamente no seria o nico a ser mobilizado. Entretanto,
o curador teria de administrar as indicaes de suas equipes, aplicando um critrio que, provavelmente, o
especialista-pesquisador no teria em mente. Nesse momento, ocorre uma curiosa inverso: o curador-admi-
nistrador torna-se visitante de sua exposio. Ele a visita durante a criao. Abertas as portas, os visitantes,
no momento em que compreendem a proposta, estabelecem com o curador uma espcie de cumplicidade. Se,
por um lado, este idealiza sua prpria obra, por outro os visitantes, ao reconhecerem os objetivos buscados,
aderem idealizao. Revelado pela exposio de cincia ou de tecnologia, o curador surge, fortemente, como
comunicador. E persiste nesse papel, na medida em que os visitantes imaginam, encantam e reconstroem o
percurso da exposio.
Um dos curadores da exposio temporria intitulada A bssola e a orqudea Humbold e Bonpland: uma
aventura na Amrica espanhola
19
realizada no Museu de Artes e Ofcios de Paris entre os anos de 2003 e 2004,
em sua entrevista ao falar da opo expogrfca, pontuou: Esses painis so iluminados para simular a al-
ternncia dia/noite e evocar a durao da viagem de cinco anos (...) Foi justamente esse aspecto que pareceu
18
Para os trechos de entrevista (aspeados), cf. BARBOSA,Ctia R. La mise en scne des muses scientifques et techniques lepreuve de la phenome-
nologie. Parias: Musum nacional DHishoire naturelle et Centre A. Koyr, Paris,2005. Th.Doc.Musologie. Traduo pela autora.
19
La boussole et la orchide: Une experience savant, Humboldt et Bonpland aux Amriques (1799-1804). Exposition ouverte du 2 dcembre 2003 au
31 mai 2004, du mardi au dimanche inclus, de 10h 18h au Muse des arts et mtiers. Disponvel em http://boussole-orchidee.arts-et-metiers.net/
info.html Consultado em 03 de maio de 2008.
8
8
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
tocar um dos visitantes. Perguntado sobre suas impresses sobre a exposio, responde: Na exposio, esses
grandes painis com o jogo de luzes que criaram uma impresso de movimento e vida. O curador continua
a falar sobre a idealizao dessa exposio: (...) tudo depende do tema a ser tratado. Para esta exposio,
ns achamos importante que o visitante apreenda claramente o percurso, o trajeto da exposio (...) antes da
viagem, a preparao, o encontro, depois o perodo da viagem, que verdadeiramente a parte central desta ex-
posio (...) e enfm aps a viagem, o que eles apreenderam, o que eles trouxeram, o que eles publicaram, etc.
O curador continuou a falar a respeito da concepo da exposio: (...) quando eu li pela primeira vez a apre-
sentao geral do projeto [da] exposio sobre Humboldt e Bonplant, eu tive a impresso que uma traduo
cenogrfca imersiva se impunha, algo no muito enquadrado, rgido para fazer surgir essa idia de viagem,
de trabalho em movimento, de descoberta (...). Foi essa noo de trabalho em movimento, de descoberta, que
um dos visitantes entrevistados apontou, depois de perguntado sobre o motivo de visitar a exposio: Por
acaso (...) eu vi bem todo esse trabalho de pesquisa que eles fzeram e ao mesmo tempo o que grandioso,
eles descobriram tudo. Para eles deve ter sido uma viagem extraordinria (...) formidvel agora para ns
aproveitar e viver um pouco esta aventura no tempo.
Aqui, o curador est entre a trama e o espao fsico, entre esse invisvel e esse outro de quem tem o desejo que
os visitantes possam ter surpresas. A trama-tema da exposio sempre a origem da intencionalidade, jamais
o seu objeto. E, nesse momento, quando o visitante se torna uma espcie de parceiro do curador, acrescenta-se
a fgura do educador, fxado no visitante que aproveita uma experincia ou seja, absorve as informaes e
se sente possuidor de algo que antes no detinha: o conhecimento.
CONSIDERAES FINAIS
Buscamos neste artigo abordar alguns aspectos quea curadoria das exposies cientfcas e tecnolgicas abarca,
partindo do pressuposto de que as exposies museais tcnico-cientfcas so instrumentos de comunicao.
Os objetos cientfcos, tecnolgicos e industriais, mesmo retirados do seu contexto e submetidos reclassi-
fcao pelo curador, segundo modernos critrios adequados, orientados pela cultura cientfca e tcnica em
museus, readquirem mistrios, para determinado pblico de museu. O projeto curatorial de uma exposio
cientfca e tecnolgica deve criar condies que visam uma nova contextualizao da coleo pela qual o
curador fcou responsvel.
Nesse sentido, o curador orienta, esclarece sua equipe de trabalho sobre as linhas gerais que foram tomadas
e sobre a seleo do acervo. Ou seja, ele o administrador, aquele que zela por uma coleo ou a concebe,
organiza e supervisiona a montagem de uma exposio.
8
9
|
A
s
d
i
v
e
r
s
a
s
f
a
c
e
s
d
o
c
u
r
a
d
o
r
d
e
e
x
p
o
s
i
e
s
c
i
e
n
t
f
c
a
s
e
t
e
c
n
o
l
g
i
c
a
s
O curador das exposies cientfcas e tecnolgicas deve ter a capacidade de organizar com fns comunicativos
uma apresentao das colees ou apresentaes a que o pblico tenha acesso. Cabe ao curador, pois, ser guia:
ter um conhecimento dos objetos, das colees cientfcas, tecnolgicas e industriais e da ambincia, ou co-
ordenar conhecimentos distribudos por sua equipe. Pode-se dizer que o curador no apenas guia do pblico,
mas de sua prpria equipe.
A recepo pelo pblico revela o curador como comunicador , criando elos entre sujeito e objeto. E, na medida
em que fxa no sujeito valores pertinentes e pertencentes a ele mesmo, pela via do objeto abordado, revela-se
como educador.
So, pois, as faces caleidoscpicas do curador de exposies de cincia e tecnologia. Faces mutantes de um
mesmo agente, participante, com incontveis outros, do processo de abrir conscincia a prpria e a de
milhes de outros da revoluo em que esto todos envolvidos.
E, afnal, o que um caleidoscpio? Possivelmente, objeto da exposio de memrias dos curadores e de seus
visitantes. Trata-se de um aparelho tico formado por um tubo que contm espelhos e pequenos fragmentos
multicoloridos, de vidro ou plstico. Os fragmentos soltos refetem-se nos espelhos, que so montados dentro do
tubo, com inclinao de 45 graus, de modo a formar um tringulo. Numa das extremidades, o tubo fechado;
na outra, um pequeno orifcio permite espiar o interior. Movimentos circulares fazem com que os fragmentos de
movimentem, criando combinaes variadas e agradveis. Ao olhar pelo orifcio, voltando a outra extremidade
para alguma fonte de luz, ser possvel ver belas imagens que nunca se repetem.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
BARBOSA,Ctia R. La mise en scne des muses scientifques et techniques lepreuve de la phenomenologie.
Parias: Musum nacional DHishoire naturelle et Centre A. Koyr, Paris,2005. Th.Doc.Musologie. Traduo pela
autora.
BITTENCOURT, Jos Neves; GRANATO, Marcus; BENCHETRIT, Sara Fassa (org.). Museus, Cincia e Tecnologia: Livro
do Seminrio Internacional, Rio de Janeiro, Museu Histrico Nacional, 2007.
BRASIL, Museu Histrico Ablio Barreto. Belo Horizonte: Tempo e movimentos da Cidade-Capital. Exposio de
Longa Durao inaugurada em 12 de dezembro de 2005 no Museu Histrico Ablio Barreto. Curadoria de Thas
Velloso Cougo Pimentel. Catlogo... Organizao de Jos Neves Bittencourt e Thiago Carlos Costa. Projeto Grfco
de Mrcia Larica.
BRASIL, Superintendncia de Museus de Minas Gerais. Cadernos de Diretrizes Museologicas-1. Belo Horizonte:
SUM-MG, 1. ed. 2001.
BRASIL, USP. I Semana dos Museus da Universidade de So Paulo (18 a 22 de maio de 1997). Anais... So Paulo:
Pr-Reitoria de Cultura e Extenso Universitria, 1999.
BRETON, Philippe. Histria da informtica. So Paulo: Ed. da UNESP, 1991.
CASA FIAT DE CULTURA. Speed: A arte da velocidade. Catlogo... Curadoria do catlogo: Eugenio Martera; Patri-
zia Pietrogrande. Produo Grfca: Benedetta Marchi. Traduo: Juliana Salvetti. Belo Horizonte: Casa Fiat de
9
0
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
Cultura, 2007.
GUIMARES, Vanessa Fernandes; SILVA, Gilson Antunes da (org.). Implantao de Centros e Museus de Cincia.
Rio de Janeiro: UFRJ, Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Educao em Cincia, 2002.
MUSE DES ARTS ET DES MTIERS. La boussole et la orchide: Une experience savant, Humboldt et Bonpland aux
Amriques (1799-1804). Exposition ouverte du 2 dcembre 2003 au 31 mai 2004. Disponvel em http://boussole-
orchidee.arts-et-metiers.net/info.html.
OLIVEIRA, Marlene de (coord.). Cincia da Informao e Biblioteconomia: Novos contedos e espaos de atuao.
Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005.
PIMENTEL, Thas Velloso Cougo (org.). Reinventando o MHAB: O Museu e seu novo lugar na cidade 1993-2003.
Belo Horizonte: Museu Histrico Ablio Barreto, 2004.
RIBEIRO, Heloisa e BLANCO, Enrique. Um espao para cincia e tecnologia no cotidiano do Rio de Janeiro. Anais do
Museu Histrico Nacional (Vol. 35, 2003). Rio de Janeiro: Museu Histrico Nacional, 2003
SCHEINER, Tereza C. Apolo e Dioniso no Templo das Musas: Museu: gnese, idia e representaes nos sistemas
de pensamento da sociedade ocidental. Dissertao de Mestrado. ECO/UFRJ, 1997.
SUANO, Marlene. O que Museu? So Paulo: Brasiliense, 1986.
9
1
|
A
s
d
i
v
e
r
s
a
s
f
a
c
e
s
d
o
c
u
r
a
d
o
r
d
e
e
x
p
o
s
i
e
s
c
i
e
n
t
f
c
a
s
e
t
e
c
n
o
l
g
i
c
a
s
PR-HISTRIA, ARQUEOLOGIA
E HISTRIA NO SCULO XXI:
A CURADORIA NA IMPLANTAO
DO MUSEU MUNICIPAL DE PAINS
Gilmar Henriques
Pablo Lus de Oliveira Lima
Mrcio Castro
O Municpio de Pains, no centro-oeste de Minas Gerais, est realizando aquilo que um sonho para
a maioria das cidades brasileiras com menos de 10 mil habitantes: constituir seu primeiro museu.
Este acontecimento que marca a histria da cidade resultado da confuncia e colaborao entre
diferentes setores da sociedade civil e rgos pblicos. Este artigo busca analisar a dimenso do
trabalho curatorial presente desde a concepo do Museu at o processo de implantao fsica e
institucional.
A poltica nacional de museus implementada no Brasil desde 2003 tem como um de seus objetivos
promover os museus como agentes de mudana social e desenvolvimento lema da 6
a
Semana Na-
cional de Museus
1
. Para alcanar essa meta estratgica, o Instituto do Patrimnio Histrico e Artstico
Nacional (IPHAN) tem empreendido aes voltadas para a descentralizao dos recursos pblicos,
focando esforos no incentivo implantao de museus em regies distantes dos grandes centros
urbanos. Tal a funo primordial do Programa Mais Museus, destinado implantao de museus em
cidades com at 50 mil habitantes
2
.
A Prefeitura Municipal de Pains contribuiu decisivamente para tornar vivel o espao fsico do mu-
seu, localmente conhecido como casa da Dona Ziza (Anexo I). Trata-se de uma pequena fazenda
que foi englobada pela malha urbana da cidade de Pains. Na condio de proponente deste projeto,
a prefeitura forneceu ainda toda a documentao necessria para a efetivao de um convnio com
o IPHAN. Assim, o Museu Municipal de Pains (MMP) uma instituio que nasce graas soma de
esforos por parte de cientistas que pesquisam a pr-histria e a histria regional, bem como dos
governos federal e municipal.
Na prtica, a construo concreta e simblica do Museu de Pains confrmou o pressuposto de que a
curadoria em um museu uma atividade que envolve todos os aspectos do desenvolvimento, estu-
do, preservao e interpretao de um acervo
3
. Muito alm, portanto, da maneira de se exporem
os artefatos nas exposies, a curadoria antecede e orienta a realizao do Museu e a reproduo
diria de suas funes. No caso de Pains, a curadoria liga-se desde a manuteno da edifcao at
a organizao de uma poltica de acervo.
O Museu Municipal de Pains parte de uma concepo curatorial que o compreende, acima de tudo,
como um museu de cincia e centro de pesquisa. a partir da pesquisa arqueolgica sobre o acervo
que a curadoria do Museu orienta sua articulao com a academia. Com esse dilogo, o projeto
museolgico e museogrfco articular uma equipe multidisciplinar, envolvendo museologia, ar-
queologia, histria e arquitetura, em um processo curatorial caracterizado por um ciclo de re-
1
Maiores informaes no endereo eletrnico: http://www.museus.gov.br/vi_snm_programa/index.htm
2
Maiores informaes no endereo eletrnico: http://www.cultura.gov.br/site/?p=9018
3
NICKS, John. Curatorship in the exhibition planning processIn: LORD, Barry; LORD, Gail (Eds.) The manual of museum exhibitions. New York:
Altamira Press, 2005, p.345.
9
3
|
P
r
-
h
i
s
t
r
i
a
,
a
r
q
u
e
o
l
o
g
i
a
e
h
i
s
t
r
i
a
n
o
s
c
u
l
o
X
X
I
:
a
c
u
r
a
d
o
r
i
a
n
a
i
m
p
l
a
n
t
a
o
d
o
M
u
s
e
u
M
u
n
i
c
i
p
a
l
d
e
P
a
i
n
s
9
4
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
sponsabilidades solidrias
4
, cujo resultado a prpria produo do Museu e de sua funo pblica
primordial: as exposies. No caso de Pains, a curadoria trabalha com trs ritmos de exposies:
de longa, mdia e curta durao. A implantao do Museu, por sua vez, engloba inicialmente ap-
enas o projeto museolgico e a montagem da primeira exposio de longa durao, prevista para o
quadrinio 2009-2012. O tema dessa primeira exposio a valorizao do patrimnio arqueolgico
de Pains e regio. Sua concepo e expografa fundamentam-se, portanto, em um trabalho focado
nos artefatos da cultura material de culturas pr-histricas que ocuparam a regio durante milhares
de anos. Essa opo tem motivos bastante precisos.
H mais de uma dcada, uma equipe de arquelogos vem pesquisando a regio em que o munic-
pio est inserido, denominada em seus trabalhos como Provncia Crstica do Alto So Francisco. A
composio mineral local caracterizada pelo predomnio do calcrio, fator que resulta em uma
paisagem com peculiares formaes rochosas e inmeras cavernas. O calcrio uma rocha alcalina,
o que contribui para a preservao dos vestgios arqueolgicos, em especial os materiais orgnicos.
Devido a esses fatores, muitos stios arqueolgicos vm sendo registrados no municpio, levando
formao de um acervo de objetos de cultura material de povos pr-histricos em contnuo
processo de ampliao. Esse o principal pilar do Projeto de Implantao do Museu Municipal de
Pains. Sua curadoria , nesse sentido, marcada por uma preocupao em difundir o conhecimento
produzido por pesquisadores da arquelogia que atuam h anos na regio de Pains e que coletaram
a maior parte do acervo do Museu.
necessrio explicitar que por artefatos da Pr-histria compreendemos objetos da cultura material
de povos nativos que no mais guardam uma ligao simblica ou funcional direta com a cultura
brasileira atual. So vestgios das aes humanas sobre o espao brasileiro datados entre 11.000
e 500 anos atrs. So, portanto, de culturas pr-cabralinas sem sistemas de linguagens grfcas
inteligveis e, nesse sentido, pr-histricas. Mas no so objetos de culturas sem histria. Enquanto
traos das atividades humanas, so objetos que, ao serem analisados por meio dos mtodos da
cincia arqueolgica, contribuem para que possamos conhecer as histrias; ou seja, dados sobre o
desenrolar da vida dessas sociedades distantes no tempo.
Obviamente, no a distncia cronolgica a causa da ruptura no mbito da memria entre tais
populaes pr-histricas e a sociedade moderna. Essa fssura devida prpria histria do pro-
cesso de conquista e colonizao das Amricas e suas conseqncias para os povos indgenas. Assim,
em sintonia com uma preocupao em tambm pesquisar a histria da regio, o Museu Municipal
de Pains busca ser um lugar de produo de conhecimento, onde a arqueologia possa constituir uma
ponte entre o universo da pr-histria e a histria.
4
SARIAN, Haiganuch. Curadoria sem Curadores?. In: Anais I Semana de Museus da Universidade de So Paulo. So Paulo: USP, 1999, p. 33.
9
5
|
P
r
-
h
i
s
t
r
i
a
,
a
r
q
u
e
o
l
o
g
i
a
e
h
i
s
t
r
i
a
n
o
s
c
u
l
o
X
X
I
:
a
c
u
r
a
d
o
r
i
a
n
a
i
m
p
l
a
n
t
a
o
d
o
M
u
s
e
u
M
u
n
i
c
i
p
a
l
d
e
P
a
i
n
s
AS PESQUISAS ARQUEOLGICAS NA REGIO DE PAINS
Desde o ano de 1999, o projeto Pr-histria da Provncia Crstica do Alto So Francisco empreende um levan-
tamento sistemtico de stios arqueolgicos no mbito de uma rea com cerca de 1.500 km
2
, que j resultou
em duas dissertaes de mestrado e em um projeto de doutorado
5
. A regio estudada engloba a totalidade dos
municpios de Pains e Dorespolis, alm de partes dos municpios de Arcos, Crrego Fundo, Formiga, Iguatama,
Pimenta e Piumh (Mapa 1). Essa regio caracterizada por um relevo crstico, com suas feies respectivas: for-
mao de cavidades como abrigos e cavernas, ocorrncia de dolinas, lagoas, vales cegos e macios rochosos
6
.
O levantamento arqueolgico tem centrado esforos em trs dos principais tributrios da margem direita do alto
curso do Rio So Francisco: a sub-bacia do Rio So Miguel, a do Ribeiro dos Patos e a do Crrego Mineiro e
Atalho. Nessas trs sub-bacias encontra-se uma mirade de macios calcrios geologicamente pertencentes ao
Supergrupo Bambu
7
. O endocarste regional muito desenvolvido, apresentando inmeras cavernas, condutos
e corredores de diclase que, muitas vezes, formam verdadeiros labirintos no interior dos macios calcrios.
Esses so freqentemente atravessados de uma extremidade a outra. Em 2001, Pizarro, Frigo e Campello j
haviam compilado 437 cavernas. Seu inventrio preliminar das principais cavidades listava: 2 cavidades com
desenvolvimentos lineares superiores a 1.000 metros, 2 cavidades com desenvolvimentos lineares superiores a
500 metros, 110 cavidades com desenvolvimentos lineares superiores a 100 metros
8
. O restante composto por
cavidades com desenvolvimento linear menor que 100 metros.
A peculiaridade do relevo regional o fato de ser marcado por intensa drenagem fuvial na superfcie. Isso o
diferencia do relevo de outras regies crsticas que tambm fazem parte da Bacia do Rio So Francisco, como
a de Lagoa Santa, no centro do Estado de Minas Gerais, ou a do vale do rio Peruau, no Mdio So Francisco.
O mapa 1 mostra um traado da hidrografa, bem como da delimitao dos principais conjuntos de macios
calcrios que dominam a rea estudada, nele est assinalada a localizao de alguns stios arqueolgicos com
presena de material cermico pr-histrico presente na sub-bacia do Rio So Miguel.
A curadoria do processo de implantao do Museu Municipal de Pains leva em considerao, portanto, o fato
de a Provncia Crstica do Alto So Francisco possuir centenas de locais que guardam vestgios arqueolgicos
de culturas pr-histricas. Esses vestgios, quando analisados a partir de uma escala regional, possuem uma
srie de aspectos comuns, representada no material ltico, na pintura rupestre e, sobretudo, na cermica. At
5
Estes projetos de pesquisa vm se desenvolvendo no Programa de Ps-graduao do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de So
Paulo (MAE-USP).
6
BIGARELLA, J. J.; BECKER, R. D. & SANTOS, G. F. Estrutura e origem das paisagens tropicais e subtropicais: fundamentos geolgicos-geogrfcos,
alterao qumica e fsica das rochas, relevo crstico e dmico. v. I. Florianpolis: Ed. UFSC, 1994, 425 p.
7
ALKMIM, F. F. & MARTINS-NETO, M. A. A bacia intracratnica do So Francisco: arcabouo estrutural e cenrios evolutivosIn: PINTO, C. P. &
MARTINS-NETO, M. A. Bacia do So Francisco: geologia e recursos naturais. Cap. II. Belo Horizonte: SBG/MG, 2001, p. 9-30.
8
PIZARRO, A. P.; FRIGO, F. J. G. & CAMPELLO, M. S. Updating the caves distribution of Arcos-Pains-Dorespolis speleologic-carbonatic province. In: The
13
th
International Congress of Speleology Speleo Brazil. XXVI CBE/XIII ICS. Vol. I. Braslia: SBE, 2001.
o momento j foram levantados 188 stios arqueolgicos, sendo que cerca de 118 deles foram identifcados
por nosso projeto de pesquisa
9
. Quando o projeto teve incio, o Cadastro Nacional de Stios Arqueolgicos do
IPHAN continha cerca de 70 registros de stios arqueolgicos, resultado das pesquisas realizadas pelo IAB-RJ
e pelo Setor de Arqueologia da UFMG nas dcadas anteriores.
Os tipos de locais em que ocorrem os stios arqueolgicos foram inicialmente divididos em trs categorias,
segundo sua exposio ao ambiente externo; so elas: cavernas, abrigos e stios a cu aberto.
H grande ocorrncia de stios arqueolgicos a cu aberto, em vertentes suaves beira de crregos, com
centenas de fragmentos cermicos e artefatos lticos, fabricados tanto pela tcnica do polimento quanto pela
do lascamento. A regio constitui, assim, um repositrio de material arqueolgico que, com a implantao do
Museu, poder ser analisado e contribuir para a produo de conhecimento a ser difundido a partir da prpria
regio. Repositrio instvel - deve-se ressaltar- por estar sujeito atividade agrcola. O Museu objetiva ser,
assim, uma entidade que contribua para a valorizao e preservao do patrimnio arqueolgico regional.
9
KOOLE, Edward. Pr-Histria da provncia crstica do Alto So Francisco, Minas Gerais: a indstria ltica dos caadores-coletores arcaicos. Disserta-
o de Mestrado. So Paulo: MAE-USP, 2007, p.65.
9
6
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
Mapa 1. Mapa da Provncia Crstica do Alto So Francisco, com distribuio hidrogrfca, limite entre as bacias e sub-bacias, localizao
das sedes municipais, traado das estradas, delimitao dos macios calcrios e distribuio de stios arqueolgicos na sub-bacia do rio
So Miguel.
importante destacar que dois teros do conjunto total de stios arqueolgicos so compostos por aqueles
que ocupam cavidades naturais em macios rochosos de calcrio, alguns de difcil acesso. Os vestgios arque-
olgicos so encontrados em abrigos, diclases e at mesmo em zonas afticas de cavernas
10
. Algumas tm
todo o piso coberto por fragmentos cermicos, como nos casos da Gruta do Capoeiro e do stio arqueolgico
Man do Juquinha.
A proporo entre tais categorias foi equilibrada (Graf. 1), o que se deve ao alto nvel de interveno humana
na regio, decorrente da alta fertilidade dos solos e de uma agricultura de pequenas e mdias propriedades
rurais que exploram intensivamente a suave topografa dos montes locais, que so praticamente destitudos
de vegetao de porte. Sazonalmente estruturas arqueolgicas so expostas pela ao do arado e sero, gra-
dativamente, fragmentadas e carreadas com o passar dos anos, caso nada seja feito para seu resgate.
Os dados apontam para uma correlao espao-temporal entre as categorias de materiais arqueolgicos en-
contrados nos stios. Stios arqueolgicos que ocupam abrigos e apresentam a presena nica ou majoritria
de material ltico lascado ou de grafsmos rupestres estariam vinculados a ocupaes de grupos de caadores-
coletores, que povoaram a regio a partir de 11.000 anos AP at cerca de 3.000 anos AP.
11
No entanto, stios ar-
queolgicos que ocupam cavernas e terrenos a cu aberto, com presena exclusiva ou majoritria de cermica,
conjunta com artefatos lticos polidos ou lascados, estariam vinculados a ocupaes de grupos de horticultores-
ceramistas, que teriam ocupado a regio a partir de 2.000 anos AP at cerca de 500 anos AP.
Essa generalizao tem se confrmado naqueles stios arqueolgicos estudados e datados por nosso projeto.
O material ltico lascado coletado no abrigo Lagoa do Peixe, no municpio de Dorespolis, apresentou indcios
10
KOOLE, E.; HENRIQUES, G. & COSTA, F. Archaeology and Caves in the Carstic Province of ArcosPainsDorespolis, Minas Gerais Brazil. In: The 13
th
International Congress of Speleology Speleo Brazil. XXVI CBE/XIII ICS. Vol. I. Braslia: SBE, 2001.
11
AP uma siga utilizada de forma corrente em arqueologia, representa a exp
resso antes do presente, sendo que o presente indexado no ano de 1950.
9
7
|
P
r
-
h
i
s
t
r
i
a
,
a
r
q
u
e
o
l
o
g
i
a
e
h
i
s
t
r
i
a
n
o
s
c
u
l
o
X
X
I
:
a
c
u
r
a
d
o
r
i
a
n
a
i
m
p
l
a
n
t
a
o
d
o
M
u
s
e
u
M
u
n
i
c
i
p
a
l
d
e
P
a
i
n
s
Grfco 1.
Tipos de locais dos stios arquelgicos identifcados
Grfco 2.
Materiais presentes nos stios arqueologicos levantados
de produo de artefatos bifaciais, alm de uma tcnica de lascamento unipolar desenvolvida, semelhante
em alguns aspectos a materiais lticos do Mdio So Francisco, cujas dataes esto entre as mais antigas da
bacia. No entanto, no estudo do Stio Lagoa do Peixe no foram obtidas amostras para datao
12
.
Foi Koole quem esclareceu o recorte temporal das ocupaes de caadores-coletores na Provncia Crstica.
Seu estudo dos Stios Arqueolgicos Loca do Suim, no municpio de Pains, e Gruta do Marinheiro, no munic-
pio de Pimenta, estabeleceu os primeiros marcos cronolgicos para a ocupao humana regional no perodo
Arcaico
13
. Na Loca do Suim foram datados fragmentos de ossos humanos provenientes de um sepultamento.
As datas recuaram as ocupaes para mais de 7.000 anos AP. Na Gruta do Marinheiro, pacotes arqueolgicos
com um grande nmero de pontas de projtil, lticas, foram datados em mais de 9.000 anos AP, nivelando
cronologicamente esse stio com os mais antigos da bacia do Rio So Francisco.
Cerca de 85% dos stios arqueolgicos levantados possuem fragmentos de vasilhames ou utenslios cermicos
ainda inteiros, tais como: vasilhas, urnas, cachimbos e fusos (Graf. 2). A dissertao de Henriques foi impor-
tante no sentido de detalhar os marcos temporais para as ocupaes de horticultores ceramistas
14
. Os estudos
anteriores haviam obtido duas dataes radiocarbnicas, ambas provenientes de um nico stio, com um
desvio padro muito amplo
15
.
Foi registrada uma alta taxa de variao nas formas de vasilhames, tendo sido reconstitudos pequenos potes
globulares de formas fechadas, muitos com gargalo, at grandes vasilhames piriformes, tambm de forma
fechada, com paredes espessas e dimetro de bojo oscilando em torno de 1 metro. Existem ainda aqueles de
forma aberta, grandes potes com bases semi-cnicas esfricas, bacias com bases globulares, e tigelas.
Foi comprovada tambm a existncia de stios de ocupao temporria na zona aftica de cavernas, pelo
estudo do Stio Arqueolgico Man do Juquinha. Nele foram encontrados pacotes de fragmentos cermicos
que poderiam ser vinculados s tradies Una e Sapuca, o que levantou dvidas sobre os signifcados sobre a
separao entre essas duas tradies.
No Stio Arqueolgico Engenho de Serra, no municpio de Pains, foi comprovada a relao entre a tradio Sa-
puca e estruturas arqueolgicas denominadas casas-subterrneas, fossos circulares que foram escavados por
indgenas pr-histricos. A escavao de uma dessas estruturas encontrou fragmentos de vasilhames cermicos
e carves que foram queimados no sculo XIII DC.
12
HENRIQUES, G.; COSTA, F. & KOOLE, E. Anlise tecnolgica do material ltico de um stio de caadores-coletores localizado na Provncia Crstica
de Arcos-Pains-Dorespolis, Minas Gerais. Comunicao apresentada no XI Congresso da Sociedade de Arqueologia Brasileira. Rio de Janeiro: SAB,
Set./2001. 17 p. [manuscrito]
13
KOOLE, Edward, Op. cit., 2007.
14
HENRIQUES, Gilmar, Op. cit., 2006.
15
DIAS JR., O. & CARVALHO, E. A fase Piumhy: seu reconhecimento arqueolgico e suas relaes culturais. Revista Clio. n. 5. Recife:UFPE, 1982, p.
05-43.
9
8
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
DA COLEO ARQUEOLGICA AO ACERVO DO MUSEU
Os materiais coletados nesses stios arqueolgicos, bem como todos os dados que foram levantados durante
seu estudo, constituem o ncleo principal do Museu. Os objetos pr-histricos escavados na regio de Pains
vm sendo guardados e analisados no Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de So Paulo (MAE-
USP). O primeiro desafo curatorial do Museu de Pains constituir seu prprio acervo a partir dessa coleo de
objetos no MAE. A sua implantao marcar o incio de uma nova fase na pesquisa da pr-histria regional,
pois todo o acervo arqueolgico que vinha sendo remetido para a reserva tcnica do MAE poder agora retor-
nar e permanecer em sua regio original.
Pretende-se ainda criar a infra-estrutura necessria para o desenvolvimento de pesquisas cientfcas que utilizem
o acervo arqueolgico para a produo de conhecimento. Sero adquiridos equipamentos e constitudos os espa-
os necessrios para realizao de exposies, atividades de curadoria e anlise de artefatos sero organizados de
acordo com suas caractersticas formais e fsicas.
O projeto curatorial do Museu orienta que o seu acervo seja organizado em uma Coleo Arqueolgica que,
por sua vez, seja subdividida em cinco categorias de objetos: 1) artefatos lticos polidos; 2) artefatos lticos
lascados; 3) artefatos de cermica; 4) restos humanos; e 5) artefatos fabricados sobre material orgnico.
9
9
|
P
r
-
h
i
s
t
r
i
a
,
a
r
q
u
e
o
l
o
g
i
a
e
h
i
s
t
r
i
a
n
o
s
c
u
l
o
X
X
I
:
a
c
u
r
a
d
o
r
i
a
n
a
i
m
p
l
a
n
t
a
o
d
o
M
u
s
e
u
M
u
n
i
c
i
p
a
l
d
e
P
a
i
n
s
T
a
b
e
l
a
1
.
S
e
q
n
c
i
a
d
e
d
a
t
a
e
s
r
a
d
i
o
c
a
r
b
n
i
c
a
s
d
e
s
t
i
o
s
a
r
q
u
e
o
l
g
i
c
o
s
d
a
P
r
o
v
n
c
i
a
C
r
s
t
i
c
a
Amostra Data radiocarbnica Anos Calndricos Stio Arqueolgico Municpio Instituio
Beta 193754
450 60 1.420 a 1.470 DC
Man do Juquinha Pains MAE-USP
Beta 193755
600 50 1.300 a 1.410 DC
Man do Juquinha Pains MAE-USP
Beta 210727
830 40 1.230 a 1.280 DC
Engenho de Serra Pains MC Consultoria Ltda
SI 2.368
1.000 90 -
Buraco dos Bichos Piumh IAB-RJ
Beta 210726
1270 40 690 a 780 DC
Loca do Suim Pimenta MC Consultoria Ltda
SI 2.369
1.840 120 -
Buraco dos Bichos Piumh IAB-RJ
Beta 230979
3.080 50 1.440 a 1.250 AC
Loca do Marinheiro Pimenta MAE-USP
Beta 210400
7.440 50 6.410 a 6.220 AC
Loca do Suim Pains IB-USP
Beta 210401
7.530 50 6.450 a 6.250 AC
Loca do Suim Pains IB-USP
Beta 230980
9.620 60 9.240 a 8.790 AC
Loca do Marinheiro Pimenta MAE-USP
Datas Radiocarbnicas da Provncia Crstica do Alto So Francisco
1. Artefatos lticos polidos
Os artefatos lticos polidos esto ligados a populaes indgenas que habitaram a regio entre os sculos I
e XVI DC, e so achados com muita freqncia, seja nas reas de lavoura, seja nas cavidades naturais. Ao
longo de quase dez anos de existncia, o projeto conseguiu reunir uma quantidade considervel de lminas
de machado polido.
Tais artefatos possuem um grande apelo visual e didtico, caracterstica que justifca sua exibio com mais
destaque. Sabemos que uma gama variada de matrias-primas, geralmente rochas bsicas, foi utilizada para
confeco dessas ferramentas. As jazidas naturais de algumas delas podem ser rastreadas, reconstituindo as
rotas de circulao de objetos nessas sociedades passadas. Essas informaes devero ser colocadas dis-
posio dos usurios do Museu por meio das narrativas expositivas.
Nesse sentido, a concepo curatorial do Museu tem a misso de divulgar o rico conhecimento em per-
manente processo de construo, acmulo e consolidao, pelas pesquisas arqueolgicas sobre a regio de
Pains. A idia difundir a discusso sobre hipteses, como a de que algumas lminas eram produzidas pela
alternncia de atividades de lascamento, picoteamento e polimento. Pela ao de seixos ou blocos de rochas
eram reduzidos a um objeto de formato retangular, com um gume extremamente polido, lustroso em alguns
casos. Um nmero considervel desses artefatos foi encontrado no interior de cavernas e ser incorporado
pelo Museu. No Stio Arqueolgico Gruta do Capoeiro foi encontrada uma lmina de machado parcialmente
coberta por uma capa estalagmtica de cor esbranquiada (foto 1).
1
0
0
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
C
o
n
j
u
n
t
o
d
e
1
8
l
m
i
n
a
s
d
e
m
a
c
h
a
d
o
p
r
o
v
e
n
i
e
n
t
e
s
d
e
d
i
f
e
r
e
n
t
e
s
s
t
i
o
s
d
a
r
e
g
i
o
.
Esse tipo de artefato aparece no registro arqueolgico vinculado cermica que, por sua vez, tem seu
aparecimento ligado ao aumento quantitativo dos stios arqueolgicos e ao adensamento material do reg-
istro arqueolgico. Uma hiptese levantada por essas pesquisas e que contribui para o processo curatorial
do Museu a de que a grande ocorrncia desse tipo de artefato arqueolgico refete o aumento de atividades
ligadas ao processamento de madeira entre os sculos IX e XVI DC. Essas atividades podem ter se material-
izado na derrubada de forestas para o estabelecimento de aldeias e roas de plantio, bem como na fabricao
de estruturas habitacionais e mobilirio. Tal dado ser abordado na primeira exposio de longa durao do
Museu, de acordo com o seu projeto curatorial.
interessante notar que a maior parte dos machados denota grande esmero por parte dos arteses que os
fabricaram. Via de regra, so perfeitamente simtricos, apresentando ambas extremidades - talo e gume -
perfeitamente formatadas para suas respectivas funes, a de gerar um encaixe perfeito do machado com o
cabo de madeira e a de cortar por meio de percusso.
2. Artefatos lticos lascados
O acervo de artefatos lticos lascados em grande parte proveniente de stios arqueolgicos formados por popu-
laes de caadores-coletores que habitaram a regio h mais de 9.000 anos AP.
Existe uma grande quantidade de pontas de fecha, fato pouco documentado em stios arqueolgicos do Estado
de Minas Gerais. Os trabalhos no Stio Arqueolgico Gruta do Marinheiro revelaram mais de 60 pontas de fe-
cha, coletadas mediante cuidadosas medidas de registro e armazenamento
16
.
A coleo formada ainda por milhares de lascas, fragmentos, instrumentos retocados das mais variadas for-
mas e tcnicas de execuo, coletados nos trabalhos de coleta e escavao do abrigo Lagoa do Peixe, Loca do
Suim e Gruta do Marinheiro. Esses conjuntos trazem consigo informaes sobre as tcnicas de fabricao de
ferramentas de rocha lascada, que vigoraram na regio ao longo do incio e metade do holoceno.
3. Artefatos de cermica
As datas obtidas at o momento permitem situar as ocupaes pr-histricas de grupos horticultores-cera-
mistas no incio da era crist, h dois mil anos. O pice da produo de artefatos cermicos, no entanto, se
daria entre os sculos X e XVI.
O acervo cermico rene uma quantidade enorme de fragmentos cermicos, o tipo de vestgio mais comum na
regio, seja nas reas a cu aberto, seja nas cavidades naturais, como abrigos e cavernas.
Nesse conjunto destacam-se as bordas de vasilhames cermicos. Sua importncia enorme, pois funcionam
como balizadores do processo de reconstituio da forma e volume dos vasilhames pr-histricos. As bordas
16
KOOLE, Edward. Op. cit., 2007.
1
0
1
|
P
r
-
h
i
s
t
r
i
a
,
a
r
q
u
e
o
l
o
g
i
a
e
h
i
s
t
r
i
a
n
o
s
c
u
l
o
X
X
I
:
a
c
u
r
a
d
o
r
i
a
n
a
i
m
p
l
a
n
t
a
o
d
o
M
u
s
e
u
M
u
n
i
c
i
p
a
l
d
e
P
a
i
n
s
encontradas no Stio Arqueolgico Man do Juquinha apresentam-se em timo estado de conservao, pois
estavam protegidas no interior de uma ampla caverna.
Os fragmentos de paredes e bases trazem ainda informaes sobre as tcnicas de fabricao dos vasilhames,
bem como ajudam a delimitar as fronteiras tecno-estilsticas que separam os conjuntos cermicos do Alto So
Francisco de conjuntos cermicos de outras regies.
1
0
2
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
C
o
n
j
u
n
t
o
d
e
1
8
l
m
i
n
a
s
d
e
m
a
c
h
a
d
o
p
r
o
v
e
n
i
e
n
t
e
s
d
e
d
i
f
e
r
e
n
t
e
s
s
t
i
o
s
d
a
r
e
g
i
o
.
1
0
3
|
P
r
-
h
i
s
t
r
i
a
,
a
r
q
u
e
o
l
o
g
i
a
e
h
i
s
t
r
i
a
n
o
s
c
u
l
o
X
X
I
:
a
c
u
r
a
d
o
r
i
a
n
a
i
m
p
l
a
n
t
a
o
d
o
M
u
s
e
u
M
u
n
i
c
i
p
a
l
d
e
P
a
i
n
s
Montagem com fotos de Cyro Soares e desenhos de Marcos Britto. Extrado de Koole (2007:110)
A curadoria do MMP prev que essas peas sero trazidas para o Museu, para serem guardadas, pesquisadas,
exibidas e utilizadas em estudos futuros. Sero ainda utilizadas em exposies e para estudos de reconstitu-
io de vasilhames cermicos pr-histricos. Tais estudos podem contribuir para a formao de ofcinas de
cermica que devero ser ministradas no Museu, voltadas, principalmente, para o pblico estudantil.
Existem ainda artefatos cermicos inteiros que resistiram ao passar dos sculos e das intempries. Em toda
regio foram encontrados urnas funerrias, pequenos vasilhames, fusos cermicos, alm de outros artefatos
de funo ainda desconhecida.
Uma preocupao central da curadoria relaciona-se seleo de objetos da coleo acumulada de material
arqueolgico para serem incorporados pelo Museu de Pains, passando defnitivamente a constituir seu acervo
tombado, organizado na Coleo Arqueolgica. Alguns artefatos cermicos inteiros, que possam constituir tes-
temunhos dos parmetros de forma e volume que norteavam as tcnicas de fabricao de cermica na regio ao
longo dos dois ltimos milnios, atendem aos interesses do MMP devido ao potencial de pesquisa e exibio. Es-
sas peas ainda balizam as reconstituies formais e volumtricas realizadas a partir de fragmentos de bordas.
V
a
s
i
l
h
a
m
e
c
e
r
m
i
c
o
e
n
c
o
n
t
r
a
d
o
n
o
i
n
t
e
r
i
o
r
d
e
u
m
a
c
a
v
e
r
n
a
d
o
m
u
n
i
c
p
i
o
d
e
P
a
i
n
s
.
4. Restos humanos
Os ossos humanos reunidos pelo projeto provm de cinco stios arqueolgicos. Na Loca do Suim foram escava-
dos vrios sepultamentos, sendo que um deles foi diretamente datado em mais de 7.000 anos AP. Na Gruta do
Marinheiro tambm foi escavado em sepultamento. No Abrigo da Luclia e no Abrigo do Luclio foram encon-
trados sepultamentos no enterrados. Na Loca dos Ossos foram coletados vrios ossos humanos fragmentos,
resultantes de um sepultamento que fora desagregado, no sabemos ainda se por alguma pessoa ou animal.
Fato extremamente raro, no s na regio do Alto So Francisco, como tambm no mbito da Arqueologia
Brasileira, um sepultamento exposto localizado no Stio Arqueolgico Luclio. O stio ocupa um abrigo
rochoso situado no fundo de uma dolina. Os ossos de um indivduo adulto do sexo masculino foram deposi-
tados em um nicho natural do abrigo que, com a insero do sepultamento, assumiu a feio de uma cripta
morturia.
O sepultamento do tipo secundrio, ou seja, o cadver foi enterrado e, depois de decomposto, foi desenter-
rado, os membros desarticulados sendo que as partes moles foram separadas dos ossos.
O conjunto de ossos separados dessa exumao foi ento depositado na gruta, provavelmente com a rea-
lizao de outra cerimnia funerria. Uma estrutura semelhante jaz no Abrigo da Luclia, onde os ossos
de um indivduo foram depositados nos nichos naturais formados por um paleo-piso, que se encontra na
entrada de uma pequena gruta. O crnio do indivduo, que parece ser do sexo feminino, foi depositado em
um nicho separado dos outros ossos. Novamente v-se que o enterramento foi feito de forma secundria:
o cadver foi enterrado e assim foi mantido at que os tecidos mole apodrecessem, depois foi exumado
sendo que os ossos foram reagrupados e depositados na gruta.
Dada sua raridade e fragilidade, tais estruturas funerrias ainda se encontram in situ. Planeja-se equipar o Museu
Municipal de Pains com as condies necessrias para receber esse tipo de vestgio. Caso venham a ser coletados,
1
0
4
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
Os ossos foram depositados em um nicho natural do abrigo
e no foram enterrados.
Detalhe do crnio do esqueleto. O crnio foi previamente cate-
gorizado como mongolide, o indivduo era do sexo masculino.
tais vestgios sero estudados e guardados em segurana, visto que h certo risco dessas estruturas serem impac-
tadas por pessoas que desconheam seu valor cientfco.
A curadoria do Museu pretende abordar e difundir os dados destes sepultamentos por meio da exposio dos
ossos, assim como por estratgias expositivas que vo alm da reconstituio do sepultamento, apresentando
dados de maneira didtica e com apelo visual para serem interpretados pelos prprios usurios.
5. Artefatos fabricadas sobre material orgnico
Uma das grandes vantagens de ambientes crsticos, do ponto de vista do arquelogo, a capacidade de con-
servar vestgios orgnicos de ocupaes antigas. Tal fato praticamente impossvel em terrenos de sedimento
cido ou que estejam expostos s intempries.
Foram encontrados mais de 60 exemplares dessa pequena conta de colar de formato circular feita de osso. O
pingente, com dois orifcios, foi fabricado sobre a concha de um molusco bivalve de gua doce.
O projeto curatorial do Museu conseguiu reunir um conjunto considervel de artefatos fabricados sobre mate-
riais orgnicos, ainda que a maioria deles esteja vinculada s ocupaes mais recentes, vinculadas aos grupos
de horticultores-ceramistas. Foram encontrados vestgios variados, tais como: pontas de fecha de osso, con-
tas de colar, instrumentos fabricados sobre valvas de moluscos, esptulas e agulhas de osso.
No Stio Arqueolgico Cermica Pintada, recentemente trabalhado, foi encontrada uma espcie de pingente,
feito a partir de uma concha de molusco bivalve de gua doce, comum nos rios e crregos da regio. A matria
prima tem um aspecto de madre-prola, brilhante e liso. Foram feitas duas perfuraes em uma de suas
extremidades para ser pendurado no colar. Suspeitamos que esse pingente compunha um colar com mais de
seis dezenas de contas de osso, pois foram achados na mesma caverna.
1
0
5
|
P
r
-
h
i
s
t
r
i
a
,
a
r
q
u
e
o
l
o
g
i
a
e
h
i
s
t
r
i
a
n
o
s
c
u
l
o
X
X
I
:
a
c
u
r
a
d
o
r
i
a
n
a
i
m
p
l
a
n
t
a
o
d
o
M
u
s
e
u
M
u
n
i
c
i
p
a
l
d
e
P
a
i
n
s
POLTICA DE ACERVO E CURADORIA
Como dito anteriormente, o primeiro passo da poltica de acervo do museu ser a formao de um acervo
museolgico, a partir do acervo arqueolgico reunido ao longo de quase dez anos de pesquisas. Esse processo
requer estudos tcnicos e cientfcos que embasem a seleo de objetos arqueolgicos para a composio
do acervo arqueolgico. A principal caracterstica dessa coleo arqueolgica o fato de estar em contnua
expanso por meio da coleta de campo. Os desafos apresentados, nesse sentido, so: 1) o gerenciamento
apropriado e efciente do material e dos dados que se avolumam; 2) a organizao de um arquivo que garanta
a guarda da documentao produzida pelo prprio Museu (Fundo MMP) a longo-prazo; 3) e a existncia e
manuteno de instalaes de reserva tcnica adequadas
17
.
Organizado, catalogado e adequadamente acondicionado, o acervo arqueolgico passar por uma segunda
etapa de seleo, propriamente curatorial, voltada para a elaborao da primeira exposio. No caso da ex-
posio de longa durao, a curadoria compreende o conjunto de atividades terico-conceituais, metodolgi-
cas e tcnicas que permitam a explorao cientfca, pedaggica e cultural do acervo arqueolgico.
O grande desafo elaborar e montar uma exposio de longa durao que consiga proporcionar aos usurios
do Museu uma experincia dinmica, interativa e construtiva, permitindo a realizao do potencial comu-
nicativo de um acervo que conta muito sobre a histria dos povos que nos antecederam. Essa preocupao
liga-se questo, tambm crucial, relacionada ao pblico do Museu. Por pblico entende-se o o conjunto de
usurios de um servio. No caso especfco dos museus, os usurios so todos aqueles que utilizam um servio
posto disposio pela instituio museu. Assim, o pblico dos museus corresponde no s aos seus visi-
tantes (pessoas que entram ou entraram no museu), mas tambm aos indivduos que, mesmo indiretamente,
sem uma relao presencial no museu, usufruram dos servios ou bens por ele postos disposio, como
exposies itinerantes e aes pedaggicas realizadas em escolas
18
.
interessante, portanto, pensar em dois tipos de pblico: o pblico real e o pblico potencial. No caso do
MMP, o pblico real imediato a populao de Pains e regio, especialmente os alunos de nvel fundamental
e Mdio. Seu pblico potencial, devido particularidade de seu acervo principal, pode ser considerado como
composto por pesquisadores da cultura material, principalmente os arquelogos e estudantes de graduao e
ps-graduao interessados na pr-histria do Alto So Francisco.
O MMP tem o objetivo de conectar a comunidade aos resultados das pesquisas arqueolgicas. Por isso, sua
curadoria e atuao devem mirar projetos de exposio interativa, aes educativas e de extenso, com uma
17
GALLOWAY, P.; PEEBLES, C.S.; Notes from underground: archaeological data management from excavation to curation. In: Curator 24/4, 1981,
p.226 apud MORAIS, Jos; AFONSO, Marisa. Arqueologia brasileira no MAE/USP: pesquisa, ensino, extenso e curadoriaIn: Anais I Semana de
Museus da Universidade de So Paulo. So Paulo: USP, 1999, p.37-42.
18
MOREIRA, Fernando. A questo do pblico em museus locais. In: Musas revista Brasileira de Museus e Museologia. Ano 3. N
o.
3. Rio de Janeiro:
IPHAN, 2007, p.101.
1
0
6
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
abordagem de recreao cultural, mas sempre luz da cincia. O objetivo do Museu transcender o modelo
expositivo inerte de colees, mirando em uma funo social de devoluo populao do conhecimento gerado
por projetos de pesquisa cientfca. Um museu de portas abertas, inserido na comunidade e ativo no registro e
divulgao de sua cultura e memria.
Um dos instrumentos ser a criao de uma exposio de longa durao pela qual o visitante possa conhecer a pr-
histria do Alto So Francisco e a atividade arqueolgica, com destaque para as pontas de fecha com 11 mil anos
AP. O museu buscar ser um espao estimulante para a cultura local.
Como todo museu, o MMP buscar criar sua prpria espetacularizao
19
, ou seja, a utilizao de recursos
visuais em busca de exposies-espetculo, como forma de realar o acervo exposto. Design criativo, ambien-
taes, banners com fotos, padronizao da logomarca, cartazes, so meios de captar a ateno do visitante
para o museu e seu acervo.
Para alcanar esses objetivos, ser fundamental criar parcerias com as ONGs da regio que atuem em setores
scio-ambientais, buscando a contribuio de entidades no desenvolvimento do museu, principalmente aes
de educao e extenso. Crucial tambm ser a interao do pblico com o material exposto. O contato direto
com as peas lticas e cermicas permite ao pblico ampliar as possibilidades de levantamento de informa-
es, na medida em que pode tocar e sentir, aproximando-o do museu e seu acervo.
Outra vertente ser a realizao de ofcinas de lavagem e triagem de material arqueolgico. Nessas atividades,
coordenadas pelo corpo tcnico do Museu, alunos voluntrios aprendero os mtodos de limpeza e triagem
dos artefatos arqueolgicos. Dessa maneira seriam formados estagirios para futuras etapas de escavao e
anlise de material no laboratrio do Museu.
Essas metas podem ser alcanadas por meio das visitas regulares de alunos das escolas pblicas do ensino
fundamental e mdio quando atividades especfcas forem realizadas, utilizando o museu como um ambiente
culturalmente instigante. Atividades direcionadas com a terceira idade devem ser desenvolvidas tambm
como forma de atrair a comunidade aos museus.
Devido a seu potencial para pesquisas, o MMP buscar tambm parcerias com pesquisadores convidados. O
desafo de implantar um Museu atuante na comunidade e cientifcamente estimulante s pode ser vencido com
uma equipe multidisciplinar que esteja envolvida em aes efetivas. Por isso, pesquisadores atuantes na regio
devem ser convidados para palestras e ofcinas.
19
SCHEINER, Tereza C. T. P. Formao de Profssionais de Museus: Desafos para o prximo milnio. In: Anais da II semana dos museus da Universidade
de So Paulo. So Paulo: USP, 1999, p. 87-100.
1
0
7
|
P
r
-
h
i
s
t
r
i
a
,
a
r
q
u
e
o
l
o
g
i
a
e
h
i
s
t
r
i
a
n
o
s
c
u
l
o
X
X
I
:
a
c
u
r
a
d
o
r
i
a
n
a
i
m
p
l
a
n
t
a
o
d
o
M
u
s
e
u
M
u
n
i
c
i
p
a
l
d
e
P
a
i
n
s
Para conduzir essas aes e principalmente a poltica de acervo, sugerimos que, nesse caso, o conceito cura-
dor-professor
20
utilizado para museus em universidades onde a educao deve preponderar, deve ser substi-
tudo pelo conceito de curador-pesquisador ou curador-arquelogo. Esse profssional tem o importante papel
de aproximar as exposies, temporrias ou no, dos ltimos resultados das pesquisas em andamento. A ar-
queologia uma disciplina acumulativa de conhecimentos e esse processo dinmico. Ou seja, a velocidade
com que surgem novas hipteses ou se descartam outras nas pesquisas arqueolgicas deve estar representada
nas exposies do museu, o que nem sempre acontece.
Em suma, o Museu Municipal de Pains tem como objetivo maior difundir as pesquisas e os vestgios ar-
queolgicos que nos remetem a uma histria de longa durao, com rupturas e hiatos: desde os primeiros
caadores-coletores com datas do pleistoceno tardio (11.000 anos AP) at os grupos de ceramistas presentes
edo incio da era crist (sc. II DC) at o contato com o processo colonial, no sculo XVI DC. Obviamente, todo
este esforo deve levar em considerao o dfcit na educao formal da populao brasileira como um todo,
multiplicado, quando observamos a ausncia do tema arqueologia brasileira na grade curricular. Assim, trans-
formar essa realidade, tornando a arqueologia mais difundida entre a sociedade brasileira, um dos grandes
desafos do Museu.
A implantao do Museu Municipal de Pains, processo que est previsto para ser concludo no segundo semes-
tre de 2008, inaugura uma nova etapa dos estudos da pr-histria da Provncia Crstica do Alto So Francisco.
Alm de se confgurar como uma instituio de pesquisa, atuando diretamente na coleta de dados, o MMP
tambm atuar na divulgao e educao dos cidados sobre a importncia de sua regio, que apresenta
alguns dos mais antigos registros arqueolgicos da ocupao humana no Brasil.
ANEXO I - ESTADO DA FUTURA SEDE DO MUSEU MUNICIPAL DE PAINS
A casa destinada a ser a sede do museu uma antiga sede de fazenda, cuja construo data de meados do
sculo XX. A edifcao da casa ocupa uma rea de 132 m, o terreno em torno da casa possui cerca de 4
hectares de rea, contando com aforamentos rochosos, amplo espao gramado, reas de bosque, alm da
nascente de um pequeno regato. A edifcao est em bom estado de conservao, como pode ser visto nas
fotos abaixo, necessitando de reformas centradas no acabamento, a fm de eliminarem pequenas rachaduras
e fssuras no reboco (foto 3). Ser feita ainda toda a pintura do imvel.
A base da edifcao possui um poro em timo estado com 63 m (foto 7) que ser destinado reserva
tcnica do museu, onde sero mantidos os materiais arqueolgicos que no estiverem em exposio. O poro
sofrer uma reforma para que agentes de infltrao e umidade sejam afastados. Aps essa reforma, equipa-
20 SARIAN, Op. cit., 1999.
1
0
8
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
1
0
9
|
P
r
-
h
i
s
t
r
i
a
,
a
r
q
u
e
o
l
o
g
i
a
e
h
i
s
t
r
i
a
n
o
s
c
u
l
o
X
X
I
:
a
c
u
r
a
d
o
r
i
a
n
a
i
m
p
l
a
n
t
a
o
d
o
M
u
s
e
u
M
u
n
i
c
i
p
a
l
d
e
P
a
i
n
s
mentos para leitura da temperatura e umidade relativa do ar, alm de aparelhos de ar condicionado e desu-
midifcadores sero naquele local instalados .
A parte superior da edifcao ocupa uma rea de 132 m, com as seguintes divises: Um alpendre (fotos
1 e 3), duas salas de estar, uma copa, uma cozinha, dois banheiros e sete quartos. Esses compartimentos,
exceo do alpendre, sero utilizados para abrigar espaos para exposio do acervo arqueolgico e adminis-
trao do museu. Sero providenciados uma sala de reunies, uma sala de projeo de material audiovisual,
duas salas administrativas, um almoxarifado, despensa e copa. Grande parte do mobilirio e do equipamento
a ser adquirido fcar neste nvel superior da edifcao: mapotecas, armrios, computadores, equipamentos
de exposio e ensino, ar condicionado, mesas e cadeiras.
AGRADECIMENTOS
As fotos deste texto foram produzidas pelo fotgrafo Cyro Jos Soares. A foto 5 foi feita por Jader Caetano de
Oliveira. Os desenhos de pontas de fecha foram feitos por Marcos Eugnio Britto.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ALKMIM, F. F. & MARTINS-NETO, M. A. A bacia intracratnica do So Francisco: arcabouo estrutural e cenrios evolutivos. In: PINTO, C. P. &
MARTINS-NETO, M. A. Bacia do So Francisco: geologia e recursos naturais. Cap. II. Belo Horizonte: SBG/MG, 2001, p. 9-30.
BIGARELLA, J. J.; BECKER, R. D. & SANTOS, G. F. Estrutura e origem das paisagens tropicais e subtropicais: fundamentos geolgicos-geogrf-
cos, alterao qumica e fsica das rochas, relevo crstico e dmico. v. I. Florianpolis: Ed. UFSC, 1994, 425 p.
DIAS JR., O. & CARVALHO, E. A fase Piumhy: seu reconhecimento arqueolgico e suas relaes culturais. Revista Clio. n. 5. Recife:UFPE,
1982. p. 05-43.
HENRIQUES, Gilmar. Arqueologia regional do Alto So Francisco: um estudo das tradies ceramistas Una e Sapuca. Dissertao de Mestrado.
So Paulo: MAE-USP, 2006. 82 p.
HENRIQUES, G.; COSTA, F. & KOOLE, E. O Alto So Francisco e o Mito dos Catagu: contribuies para a histria indgena em Minas Gerais.
In: Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia. n. 14. So Paulo: MAE-USP, 2004. p. 195-208.
_______. Anlise tecnolgica do material ltico de um stio de caadores-coletores localizado na Provncia Crstica de Arcos-Pains-Doresp-
olis, Minas Gerais. Comunicao apresentada no XI Congresso da Sociedade de Arqueologia Brasileira. Rio de Janeiro: SAB, Set./2001. 17 p.
[manuscrito]
KOOLE, Edward. Pr-Histria da provncia crstica do Alto So Francisco, Minas Gerais: a indstria ltica dos caadores-coletores arcaicos.
Dissertao de Mestrado. So Paulo: MAE-USP, 2007, 156 p.
KOOLE, E.; HENRIQUES, G. & COSTA, F. Archaeology and Caves in the Carstic Province of ArcosPainsDorespolis, Minas Gerais Brazil. In:
The 13
th
International Congress of Speleology Speleo Brazil. XXVI CBE/XIII ICS. Vol. I. Braslia: SBE, 2001.
MARQUES, Denise C. P. C. Museu e Educao: refexes acerca de uma metodologia. In: Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia.
n. 4. MAE/USP, 1994. p. 203-8.
MORAIS, Jos; AFONSO, Marisa. Arqueologia brasileira no MAE/USP: pesquisa, ensino, extenso e curadoriaIn: Anais I Semana de Museus
da Universidade de So Paulo. So Paulo: USP, 1999, p.37-42.
MOREIRA, Fernando. A questo do pblico em museus locais. In: Musas revista Brasileira de Museus e Museologia. Ano 3. N
o.
3. Rio de
1
1
0
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
Janeiro: IPHAN, 2007. p. 101-9.
PIZARRO, Alexandre. Compartimentao geolgica-geomorfolgica da provncia carbontica-espeleolgica de Arcos-Pains-Dorespolis-
MG. In: Anais XL Congresso Brasileiro de Geologia. Belo Horizonte: SBG, 1998.
PIZARRO, A. P.; FRIGO, F. J. G. & CAMPELLO, M. S. Updating the caves distribution of Arcos-Pains-Dorespolis speleologic-carbonatic prov-
ince. In: The 13
th
International Congress of Speleology Speleo Brazil. XXVI CBE/XIII ICS. Vol. I. Braslia: SBE, 2001.
SARIAN, Haiganuch. Curadoria sem Curadores?. In: Anais I Semana de Museus da Universidade de So Paulo. So Paulo: USP, 2001, p.
33-7.
SCHEINER, Tereza C. T. P. Formao de Profssionais de Museus: Desafos para o prximo milnio. In: Anais da II semana dos museus da
Universidade de So Paulo. So Paulo: USP, 1999. p. 87-100.
1
1
1
|
P
r
-
h
i
s
t
r
i
a
,
a
r
q
u
e
o
l
o
g
i
a
e
h
i
s
t
r
i
a
n
o
s
c
u
l
o
X
X
I
:
a
c
u
r
a
d
o
r
i
a
n
a
i
m
p
l
a
n
t
a
o
d
o
M
u
s
e
u
M
u
n
i
c
i
p
a
l
d
e
P
a
i
n
s
EM TORNO DA CURADORIA
DEACERVOS MUSEOLGICOS,
POUCAS (MAS TEIS) CONSIDERAES
Marcus Granato
Cludia Penha dos Santos
Nosso objetivo nesse texto apresentar algumas consideraes sobre o tema curadoria de acervos museolgicos,
aproveitando para discutir questes que consideramos pertinentes. A primeira das questes refere-se ao prprio
ttulo do texto: o que entendemos por curadoria de acervos? Conceituar curadoria de acervos no tarefa trivial,
pois a prpria expresso traz em si palavras com signifcados no muito precisos, a despeito de serem ampla-
mente utilizadas. Alm da prpria palavra curadoria, estamos nos referindo ao termo acervo, que na literatura
inglesa aparece como coleo. Apesar de no ser nosso objetivo abordar a noo de curadoria ou de curador,
temas que devero ser abordados em outro texto nesta mesma publicao, citaremos algumas defnies, de
forma a situar o leitor em relao perspectiva sobre a qual discorreremos. Procuraremos dar ao leitor uma
viso ampla sobre o tema e, para tanto, utilizaremos referncias bibliogrfcas disponveis tanto em lngua es-
trangeira, como textos de autores nacionais, no sendo nosso objetivo fazer uma reviso bibliogrfca.
importante ressaltar tambm que no objetivo do presente trabalho a discusso sobre curadoria de acervos
no mbito dos museus de arte, nem discutir sobre curadorias de colees cientfcas no museolgicas, mas sim
problematizar o que denominamos de curadoria de acervos museolgicos.Relacionada primeira questo j
colocada para nortear nossas refexes, surge uma pergunta correlata: o conceito de curadoria de acervos
museolgicos refere-se apenas ao gerenciamento de colees ou existem outros sentidos para o conceito?
CONCEITUANDO CURADOR E CURADORIA
Nos textos pesquisados, buscamos quase sempre o conceito de curador, pois julgamos que essa defnio est
diretamente relacionada com a conceituao de curadoria. Nos dicionrios e enciclopdias, muitos disponveis
na Internet, a quase maioria das defnies refere-se a curador como o profssional que lida diretamente com
colees museolgicas, com acervos musealizados. Na quase totalidade dos textos pesquisados, persiste uma
viso tradicional de museu, na qual os objetos so o ponto central, a partir do qual o campo dos museus
defnido, assim como suas respectivas atividades.
Na conceituao encontrada na The National Trust
1
, curadores so profssionais que cuidam de colees,
estando envolvidos com as aes de apresentao e de exposio, pesquisa, catalogao, aquisio e ma-
nuteno, alm da coordenao da equipe de voluntrios. importante que o curador tenha qualifcao,
podendo ser um ttulo de Doutor em Filosofa (na abreviatura em ingls, Ph.D.), em reas como estudos mu-
seolgicos, arqueologia, histria ou arte. Alguns tipos de curadoria, em especial a das colees cientfcas,
exigem conhecimento em reas especfcas, como por exemplo, Botnica, Zoologia ou Geologia. Nessa con-
cepo, as carreiras relacionadas de curador seriam a de conservador, a de arquivista e a de arquelogo.
1
Fundada em 1895, na Inglaterra vitoriana, The National Trust uma instituio de caridade, no governamental, que vive de doaes e recur-
sos de seus associados e que tem por objetivo proteger as construes, o litoral e a rea rural da Inglaterra, Irlanda e Pas de Gales. Contando
com 3,5 milhes de membros e 43 mil voluntrios, a instituio protege cerca de 300 casas e jardins histricos, alm de 49 monumentos
industriais e moinhos. Disponvel em: http://www.nationaltrust.org.uk/main/w-chl/w-places_collections/w-collections-main/w-collections-
recent_work/w-collections-curatorship.htm. Acesso em: 21 de Mar. 2008.
1
1
3
|
E
m
t
o
r
n
o
d
a
c
u
r
a
d
o
r
i
a
d
e
a
c
e
r
v
o
s
m
u
s
e
o
l
g
i
c
o
s
,
p
o
u
c
a
s
(
m
a
s
t
e
i
s
)
c
o
n
s
i
d
e
r
a
e
s
Para BURCAW
2
, o termo curador refere-se ao profssional que responsvel pelas colees museolgicas e
que, em grandes museus, deve existir um profssional para cada uma das suas princiais divises, por exemplo:
curador de histria, de arte, de exposies, de educao.
Em alguns dos textos
3
pesquisados, verifca-se que h uma semelhana na defnio de curador, como o
profssional responsvel pelas colees institucionais, com elevado ttulo acadmico e responsabilidade de
produo de conhecimento em sua rea de atuao. Contudo, percebemos a existncia de uma mudana de
foco no papel de curador, cuja nfase est se movendo de uma funo puramente de pesquisa acadmica em
direo a reas de enfoque mais amplo, como apresentado no trecho a seguir:
Recentemente, a complexidade crescente de muitos museus e organizaes culturais e o correspondente
surgimento de programas profssionais em reas como Estudos Museolgicos, Artes, Administrao, e
Histria Pblica, encorajaram o desenvolvimento de curadores com treinamento em reas no acadmicas
como a administrao sem fns lucrativos, o levantamento de recursos fnanceiros e a educao pblica.
4
Para traar esse breve panorama foram consultadas tambm publicaes do Conselho Internacional de Mu-
seus ICOM, mais especifcamente textos produzidos no mbito do Comit Internacional para o Treinamento
de Pessoal - ICTOP. Um documentos editado por esse comit em 2008
5
, espcie de guia que tem entre seus
objetivos promover o reconhecimento nacional e internacional dos profssionais de museus e a refexo crtica
sobre a natureza especial do museu como instituio. Nesse guia so defnidas trs reas principais nas
quais as atividades dos museus so delineadas: colees e pesquisa; servios para visitantes; e administrao,
gerenciamento e logstica. As profsses que nos interessam mais diretamente so as relacionadas rea de
Colees e Pesquisa, pois entre elas aparecem as fguras do curador e do assistente de curadoria.
6
Cabe ao
curador, que por esse documento deve ter um ttulo de mestre em cincias, a responsabilidade pelas colees,
incluindo as atividades de planejamento e implementao do programa de guarda e catalogao; a superviso
dos procedimentos de conservao; o estudo da coleo, defnindo e conduzindo projetos de pesquisa; o aten-
dimento circulao da informao nos sistemas de documentao das colees e exposies; a contribuio
para o planejamento e organizao de exposies permanentes ou temporrias, publicaes e atividades para
o pblico; o gerenciamento dos recursos e da equipe do museu, sob a superviso do diretor. Notamos que as
funes do curador propostas pelo guia no diferem muito das demais noes j apresentadas, exceto pelo
fato do curador ser o responsvel pelas colees na ausncia do diretor do museu, explicitando, assim, o seu
papel de responsvel legal.
2
BURCAW, Ellis G.. Introduction to Museum Work. Nashville (EUA): American Association for State and Local History,1983. p. 39
3
Disponvel em: http://www.prospects.ac.uk/cms/ShowPage/Home_page/Explore_types_of_jobs/Types_of_Job/p!eipaL?state=showocc&pageno=1&id
no=363. Acesso em: 22 de Mar. 2008.
4
Disponvel em: http://www.answers.com/curator . Acesso em: 28 de Mar. 2008.
5
RUGE, Angelika (ed.). Museum Professions: A European frame of reference. ICTOP. Paris: ICOM, 2008. Disponvel em: http://ictop.f2.fhtw-berlin.de/
content/blogcategory/35/62/. Acesso em: 28 de Mar. 2008.
6
As demais profsses listadas nessa rea so: coordenador de inventrio, registrador, conservador, gerente do centro de documentao, curador de
exposies, designer de exposies.
1
1
4
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
Em outra publicao do ICOM
7
encontramos uma recomendao sobre a necessidade do trabalho em museus
ser desenvolvido de forma cooperativa, aspecto que consideramos fundamental para pensar a questo da cura-
doria de acervos. Nas palavras de seu editor e coordenador Patrick J. Boylan existe a necessidade (...) de que
a equipe de cada museu coopere entre si e trabalhe de forma articulada e de rapidamente desenvolver uma
compreenso sobre o trabalho e sobre as responsabilidades de cada pessoa que trabalhe no museu traduo
dos autores).
8
Desse manual, destacamos tambm o captulo Gerenciamento de Colees (Collections Man-
agement), de Nicola Ladkin, no qual encontramos a seguinte defnio para gerenciamento de colees:
(...) termo aplicado aos diversos mtodos legais, ticos, tcnicos e prticos, pelos quais as colees muse-
olgicas so agrupadas, organizadas, pesquisadas, interpretadas e preservadas. (...) Tem relao com aspec-
tos da preservao, do uso das colees, e manuteno dos registros, assim como com a forma pela qual as
colees embasam a misso e o propsito do museu.
9
Os destaques revelam aspectos que precisam ser considerados ao pensarmos em curadoria de acervos: o
carter cooperativo das atividades de qualquer museu, as questes ticas relacionadas aquisio e utilizao
das colees e necessidade constante de refexo sobre a relao entre coleo e a misso e os propsitos
da instituio museu.
Um ltimo aspecto que merece ser destacado o carter social da prtica curatorial. Diferente da maioria das
noes encontradas, Christina Kreps aponta, em seu artigo, para a questo social, alm de propor que o debate
acerca da orientao dos museus e da curadoria, focado nas pessoas ou nos objetos, seja superado.
Museus e o trabalho museolgico no existem no vcuo, mas so partes de sistemas scio-culturais que in-
fuenciam como e porqu o trabalho curatorial realizado. Como a curadoria no pode ser separada desses
contextos, parece apropriado que pesquisadores e profssionais de museus estejam redefnindo a curadoria de
forma a reconhecer as dimenses cultural e social, tanto para os objetos como para o trabalho curatorial. (...)
Objetos em museus somente tm signifcado e valor quando relacionados a pessoas. O que precisamos uma
abordagem do trabalho curatorial que reconhea o inter-relacionamento dos objetos, pessoas e sociedade, e
expressem essa relao em contextos sociais e culturais.
10
)
Encontramos poucos textos brasileiros referentes ao tema, com exceo daqueles dedicados questo da cura-
doria em museus de arte, que no o nosso foco. Nas recentes publicaes do Departamento de Museus e
Centros Culturais (Instituto do Patrimnio Histrico e Artstico Nacional/Ministrio da Cultura - IPHAN/MINC),
11
7
Disponvel em: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001410/141067e.pdf. Acesso em: 25 de Mar. 2008.
8
BOYLAN, Patrick (org.) Running a Museum: A practical handbook. Frana: ICOM, 2004, 235p. p. vii. Disponvel em: http://unesdoc.unesco.org/
images/0014/001410/141067e.pdf. Acesso em: 25 de Mar. 2008 (traduo pelos autores).
9
NICOLA, Ladkin. Collections Management. In: BOYLAN, Patrick (org.) Running a Museum: a Practical Handbook. Paris: ICOM, 2004. Disponvel em:
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001410/141067e.pdf. Acesso em: 25 de Mar. 2008. Traduo e grifo dos autores.
10
KREPS, Christina. Curatorship as a social practice. Curator, 46/3, July, p. 311-323, 2003 p. 312 (traduo dos autores).
11
Os documentos consultados foram: Poltica Nacional de Museus (Memria e Cidadania), Poltica Nacional de Museus (Relatrio de gesto
1
1
5
|
E
m
t
o
r
n
o
d
a
c
u
r
a
d
o
r
i
a
d
e
a
c
e
r
v
o
s
m
u
s
e
o
l
g
i
c
o
s
,
p
o
u
c
a
s
(
m
a
s
t
e
i
s
)
c
o
n
s
i
d
e
r
a
e
s
no encontramos referncia ao termo curador, curadoria ou curadoria de acervos. Uma possvel explicao talvez
se deva ao fato de, no Brasil, algumas das funes tradicionalmente exercidas pelo curador serem normalmente
atribuies do muselogo.
O curso mais antigo de formao profssional na rea de museus data de 1932, tendo sido criado como um
curso tcnico para atender s demandas do Museu Histrico Nacional, do Arquivo Nacional e da Biblioteca
Nacional e, ao longo de sua trajetria, o profssional por ele formado recebeu diferentes denominaes: con-
servador, museologista ou muselogo.
12
Apesar das vrias mudanas na grade curricular do curso de formao
de Bacharel em Museologia,
13
podemos perceber que as diversas disciplinas ministradas nesse curso guardam
um carter que as aproxima muito do trabalho com a curadoria de acervos museolgicos.
A partir das refexes de Peter van Mensch, podemos entender as mudanas ocorridas no campo dos museus e
da Museologia, assim como a alterao no perfl do profssional denominado curador. No perodo que o autor
denomina de primeira revoluo dos museus (1880-1920), surgem as primeiras organizaes profssionais
nacionais, o primeiro cdigo de tica e estabelecido o primeiro programa de treinamento profssional. Para
o autor Dentro desse contexto o termo museologia foi introduzido para identifcar essa perspectiva profs-
sional emergente
14
No incio, a Museologia estava dominada pelas disciplinas especializadas e esse conceito
refetia-se na estrutura organizacional tradicional dos museus, estando na base dessa estrutura o conceito de
curadoria. O curador arquetpico treinado como um especialista e, assim, responsvel pela totalidade das
atividades museolgicas dentro de um museu (pesquisa, documentao, conservao, exposio, educao).
15
A partir de 1960, no perodo denominado segunda revoluo dos museus, a organizao dos grandes mu-
seus mostra uma subdiviso baseada em reas funcionais, como educao, comunicao e gerenciamento das
colees. As estruturas organizacionais baseadas nas especializaes diminuem e a fgura do curador desa-
parece. Est claro que nesse novo modelo o curador no mais o centro do universo. Em realidade, nesse novo
modelo, estritamente falando, no h mais curador.
16
Para o autor, testemunhamos, no momento, a terceira
revoluo dos museus, resultado da introduo de uma nova forma de compreender e dirigir a instituio
museu, que sintetizada pelo termo gerenciamento (management). Compreendemos que o autor referiu-se
necessidade cada vez maior do profssional de museus se debruar sobre reas como a captao de recursos
e o gerenciamento fnanceiro, tornando-se a administrao efcaz dessas instituies um ponto central para
sua sobrevivncia.
2003/2004), Programa de Formao e capacitao em Museologia Projeto, 1 Frum Nacional de Museus, Observatrio de Museus e Centros Cultu-
rais, Poltica Nacional de Museus (Relatrio de Gesto 2003/2006) e Poltica Nacional de Museus. Disponvel em: http://www.museus.org.br. Acesso
em: 20 de Mar. 2008.
12
S, Ivan Coelho de; SIQUEIRA, Graciele Karine. Curso de Museus MHN, 1932-1978: Alunos, graduandos e atuao profssional. Rio de Janeiro:
Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2007. p. 15
13
Estamos utilizando como referncia o curso de Bacharel em Museologia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro- UNIRIO.
14
MENSCH, Peter van. Museology and management: enemies or friends? Current tendencies in theoretical museology management in Europe. Dispo-
nvel em: http://.www.icom-portugal.org/multimedia/File/Y%20jornadas/rwa_publi_pvm_2004_1.pdf. Acesso em: 28 de Mar. 2008 (Traduo dos
autores).
15
Ibid. p.4.
16
Ibid. p.5.
1
1
6
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
O COLECIONISMO, AS COLEES, OS ACERVOS MUSEOLGICOS
As colees e os acervos museolgicos advm, obviamente, do fenmeno do colecionismo. Contemporneo
da necessidade dos homens primitivos de agrupar objetos utilitrios, o colecionismo pode ser defnido como
a prtica de selecionar, agrupar, organizar e guardar objetos e, a partir desses conjuntos, passar troca e
exibio dos mesmos, ou de parte deles.
A partir dos objetos utilitrios, o homem estendeu seu movimento de colecionismo para objetos de uso religioso
e, aos poucos, aos evocativos. Na maioria das vezes, so os interesses pessoais que movem as pessoas dentro
desse universo, seguindo necessidades ou refetindo moes muitas vezes inconscientes. No entanto, sempre
do espao simblico que estamos tratando, de apropriao do invisvel
17
, pois essas aes humanas tm um
signifcado, e o simbolismo que as reveste transferido para coisas, objetos palpveis, agora no domnio do real.
Francisco Marshall vai mais alm, em seu estudo epistemolgico sobre o colecionismo, como vemos no trecho
a seguir: Considerado em sua dimenso ordenadora, o colecionismo desponta como um dos fundamentos cul-
turais de mais profundo enraizamento e de mais amplas conseqncias em toda a trajetria humana.
18
O mesmo autor traa uma relao profunda entre o coletar e o comunicar, que embasa as afrmaes anteriores.
Colecionar, do latim collectio, possui em seu ncleo semntico a raiz leg, de alta relevncia em todos os
falares indo-europeus - e mesmo antes, pois esta raiz est entre as poucas que conhecemos do proto-indo-
europeu, h mais de 4 mil anos atrs, com sentidos ordenadores. (...) Nesta famlia lingstica, aparece o
ncleo semntico e signifcativo do colecionismo: uma relao entre por em ordem - raciocinar (logen) e
discursar (legen), onde o sentido de falar derivado do de coletar: a razo se faz como discurso. O discurso
morada da razo. Ordenar, colecionar, narrar.
19
O colecionismo ligou-se, desde a origem, idia de posse, e a posse tornou-se manifestao de poder. Pouco
a pouco, as grandes colees vo se formando e se relacionam aos donos do poder, suzeranos, reis e im-
peradores, mas, em paralelo, relacionam-se ao desejo genuno de conservar, para repassar o patrimnio s
geraes futuras.
So as colees que muitas vezes vo dar origem a museus e, por outro lado, s vezes, colees inteiras so
incorporadas a essas instituies. Passam ento a ser reconhecidas como parte do acervo museolgico, aquele
pertencente ou sob a guarda dos museus e, por isso, condicionado a uma srie de procedimentos e valoraes
especfcos a esse espao simblico. No entanto, o colecionismo continua como movimento que se desen-
volve at os dias de hoje, tanto nos museus, como colecionismo institucional, como entre as pessoas, como
17
SEPLVEDA, Luciana, Colees que foram museus, museus sem colees, afnal que relaes possveis? In: GRANATO, Marcus; SANTOS, Claudia
Penha dos. Museu Instituio de Pesquisa. MAST Colloquia, v. 7, Rio de Janeiro: Museu de Astronomia e Cincias Afns, p.65-79, 2005.
18
MARSHALL, Francisco. Epistemologias histricas do colecionismo. Episteme, n. 20, p. 13-23, jan./jun., 2005. p. 13
19
Ibid. p.15.
1
1
7
|
E
m
t
o
r
n
o
d
a
c
u
r
a
d
o
r
i
a
d
e
a
c
e
r
v
o
s
m
u
s
e
o
l
g
i
c
o
s
,
p
o
u
c
a
s
(
m
a
s
t
e
i
s
)
c
o
n
s
i
d
e
r
a
e
s
colecionismo pessoal ou particular, ainda refexo dos sentimentos originais j mencionados. Segundo Krysztof
Pomian, em sua clssica defnio, a coleo :
(...) um conjunto de objetos artifciais ou naturais reunidos, coletados, mantidos, temporria ou perma-
nentemente, fora do circuito de atividades econmicas, submetidos a uma proteo especial em local
fechado,destinado a esta fnalidade (...).
20
Para esse autor, os objetos pertencentes s colees possuem uma natureza similar, todos fariam pontes entre
dimenses diferentes, seriam objetos portadores de sentidos, smbolos; portanto, vias de acesso entre tempos
e realidades diversas, semiforos.
Nos museus, os acervos museolgicos, objeto de nosso interesse nessa refexo, podem ser abordados de
diversas formas. Recentemente, Suzanne Keene
21
apresentou quatro perspectivas diferentes para anlise dos
acervos museolgicos: relacionados s artes, aos objetos funcionais, os chamados pela autora de arquivos de
pesquisas e os acervos relacionados s pessoas e a lugares. Entre eles existem diferenas especfcas relacio-
nadas ao seu propsito, ao nmero de objetos colecionados, proporo deles que exposta, a quem utiliza
essas colees e a seus usos potenciais ou reais.
Um dos propsitos principais de alguns acervos seu apelo esttico. Nesses acervos, os objetos em geral
so em nmero mais reduzido, mas de alto valor embutido, especialmente pela concorrncia existente com
colecionadores e instituies privadas no mercado internacional da arte. A grande maioria dos objetos est
em exposio, seja permanentemente, seja em exposies ou exibies temporrias, ou por emprstimo a
outras instituies. Um modelo para isso pode ser representado pelo acervo do Museu Nacional de Belas Artes
(MNBA), no Rio de Janeiro,
22
que conta com cerca de 20.000 peas, entre obras de pintura, escultura, desenho
e gravura brasileira e estrangeira dos sculos anteriores at a contemporaneidade, alm de reunir um segmen-
to signifcativo de Arte Decorativa, Mobilirio, Glptica, Medalhstica, Arte Popular e um conjunto de peas de
Arte Africana. Nesse caso especfco, em condies normais de funcionamento, cerca de 10%
23
das obras est
em exposio permanente, em vista da escassez de espao necessrio para ampliar esse percentual.
Objetos funcionais nos acervos so aqueles que causam uma expectativa no pblico do modo que foram
feitos para funcionar, assim demonstrando sua funo original. As colees cientfcas e tecnolgicas so
representativas desse tipo de perspectiva, incluindo veculos, instrumentos musicais, instrumentos cientfcos,
utenslios e equipamentos agrcolas, etc. No Brasil, um exemplo pode ser encontrado no Museu de Astronomia
e Cincias Afns (MAST)
24
, onde o acervo museolgico conta com vrias colees, sendo a de instrumentos
cientfcos a principal, com mais de 2.000 objetos, incluindo instrumentos de astronomia, engenharia nuclear,
20
POMIAN, Krysztof. Collectionneurs, amateurs et curieux, Paris, Venize: XVI
o
-XVIII
o
sicle. Paris: Galimard. 1987 (traduo dos autores).
21
Cf. KEENE, Suzanne. Fragments of the world: Uses of Museum collections. Elsevier Butterworth-Heinemann: Oxford (UK), 2005.
22
Disponvel em: http://www.mnba.gov.br. Acesso em: 21 de Mar. 2008.
23
Informao obtida em entrevista com a diretora do MNBA, museloga Mnica Xexu, em 02 de abril de 2008.
24
Disponvel em: http://www.mast.br. Acesso em: 21 de Mar. 2008.
1
1
8
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
tecnologia mineral, qumica, topografa, dentre outras tipologias. Alguns objetos desse tipo de coleo pos-
suem valor de mercado elevado, por sua raridade ou simbolismo histrico, mas a maioria dos objetos apresenta
valor muitas vezes relacionado apenas ao custo de sua remoo de seus locais de origem. Como j discutido
por um dos autores desse texto
25
, colocar esses objetos para funcionar, mesmo que para isso seja necessria
uma restaurao intervencionista em grande escala, um tema com duas claras vertentes, uma a favor e outra
contra, mas ainda hoje uma discusso no fnalizada. Especialmente na Inglaterra, onde, em 1989, Peter Mann
defendia que os museus de cincia apresentariam uma tica diferenciada dos demais museus, onde o objetivo
primordial seria a explorao do artefato para benefcio do pblico, em detrimento da preservao de evidn-
cias materiais. E, mais recentemente, podemos ver o mesmo debate retomado por Suzanne Keene.
26
Numa terceira grande classe esto os acervos museolgicos que se constituem, fundamentalmente, em fontes
primrias de pesquisa. O nmero de objetos freqentemente muito elevado, como as cerca de 20 milhes
de peas do Museu Nacional
27
, pertencente Universidade Federal do Rio de Janeiro, envolvendo itens das
colees cientfcas conservadas e estudadas pelos Departamentos de Antropologia, Botnica, Entomologia,
Invertebrados, Vertebrados, Geologia e Paleontologia. No funo, em geral, dessas colees serem expostas
ao pblico. Talvez uma pequena parte dos objetos, consistindo de espcimes ilustrativos ou de carter extico,
seja apresentada ao pblico, mas o destino da grande maioria permanecer na reserva tcnica, preservada
para possveis estudos futuros. As colees arqueolgicas e de histria natural so tpicas desse grupo.
A quarta tipologia de acervos mais difcil de delimitar. De certa forma, inclui itens das trs anteriores.
Os acervos relacionados a lugares e a pessoas compreendem a maioria dos objetos dos museus (colees
histricas, etnogrfcas, militares, de objetos domsticos, de arte decorativa, etc) e, em sua maior parte, os
objetos esto guardados nas reservas tcnicas. So desses acervos os objetos que se relacionam memria
coletiva ou social, s comemoraes de fatos e eventos histricos, ou que representam as razes culturais
de indivduos e grupos sociais. Com freqncia, esses acervos esto organizados e documentados de forma
inadequada e, portanto, pouco acessveis. Isso ocorre, especialmente, nos casos onde os acervos se ampliam
rapidamente em nmero de objetos e onde os recursos, sejam fnanceiros ou de pessoal, so escassos. Muitas
das vezes, os recursos existentes ou captados so priorizados ou esto disponveis apenas para as exposies
e no para os objetos acondicionados em reservas tcnicas.
Como brevemente discutido, os acervos apresentam particularidades, muitos so homogneos, enquanto out-
ros tm uma grande diversidade de tipologias de objetos, tudo isso interferindo no trabalho de curadoria. Por
outro lado, as instituies que os detm so tambm diversas e com problemas variados, que tambm refetem
na atuao da curadoria desses acervos. Esses fatos determinam uma grande diversidade da forma de atuao
do curador.
25
GRANATO, Marcus. Restaurao de instrumentos cientfcos histricos. In: GRANATO, Marcus; SANTOS, Claudia Penha dos; ROCHA, Claudia Regina
Alves da. Conservao de Acervos. MAST Colloquia, v. 9, Rio de Janeiro: Museu de Astronomia e Cincias Afns, p.121-144, 2007. p. 133.
26
KEENE, Suzanne. Fragments of the world... Op. cit. p.28.
27
Disponvel em: http://www.museunacional.ufrj.br. Acesso em: 21 de Mar. 2008.
1
1
9
|
E
m
t
o
r
n
o
d
a
c
u
r
a
d
o
r
i
a
d
e
a
c
e
r
v
o
s
m
u
s
e
o
l
g
i
c
o
s
,
p
o
u
c
a
s
(
m
a
s
t
e
i
s
)
c
o
n
s
i
d
e
r
a
e
s
CURADORIA DE ACERVOS NO BRASIL
No Brasil, as questes referentes curadoria de acervos so objeto principalmente dos trabalhos publicados
pelos profssionais dos museus universitrios da Universidade de So Paulo (USP). Nessas instituies, um tema
unifcador das pesquisas a cultura material, como destacado por Brando e Costa.
28
Ressaltamos, a seguir,
alguns textos relacionados que consideramos relevantes para pensar a questo da curadoria de acervos.
Em artigo que tem como foco os acervos txteis que hoje integram as colees da USP, Teresa Cristina Toledo
de Paula
29
apresenta algumas caractersticas das prticas curatoriais do sculo XIX para esses acervos. As seis
caractersticas apresentadas em seu artigo so pontos importantes de refexo para a curadoria de acervos na
atualidade: a instabilidade na formao e na movimentao das colees, provocando a ruptura e a perda de
sentido; a superfcialidade na documentao das colees; a impermanncia, referente m conservao dos
acervos; a indiferena, que diz respeito aos diferentes graus de importncia dos objetos componentes de um
acervo; o exagero, referente ausncia de critrios de coleta; e a inquietao, talvez a nica das caractersticas
que pode ser considerada positiva, pois carrega em si um potencial de transformao.
Compreendemos que essas caractersticas se aplicam a muitos acervos museolgicos, mas uma das mais in-
teressantes apontadas pela autora refere-se instabilidade na formao e na movimentao das colees. E
alguns acontecimentos recentes, relacionados diretamente gesto poltica e administrativa das instituies,
nos fazem acreditar que esse aspecto ainda recorrente no universo dos museus brasileiros. guisa de ex-
emplo, relatamos a difcil situao poltica pela qual passou o Museu de Astronomia e Cincias Afns (MAST/
MCT), cuja existncia foi ameaada h alguns anos, no mbito de um processo coordenado pelo Ministrio
da Cincia e Tecnologia, para juno do museu a um outro instituto de pesquisa, o Observatrio Nacional.
Felizmente, a juno no foi consolidada, mas durante um bom tempo as atividades relacionadas pesquisa
e documentao do acervo museolgico, assim como as atividades de coleta, foram interrompidas. Outro
exemplo que merece ser citado o do patrimnio ferrovirio proveniente da antiga Rede Ferroviria Federal
S.A. (RFFSA) que, com a privatizao, pulverizou-se, com srio risco de perda. Esperamos que a incorporao
do acervo da Rede pelo IPHAN amenize, pelo menos em parte, os danos j produzidos.
Na Semana de Museus realizada em 2004 na Universidade de So Paulo (USP), a questo da curadoria foi de-
batida em uma mesa-redonda intitulada Processo Curatorial: Metodologias de Trabalho. Entre os trabalhos
apresentados, destacamos os de Fabola Andra Silva do Museu de Arqueologia e Etnologia - MAE/USP, ref-
erente curadoria da coleo etnogrfca Kayap-Xikrin, e o de Solange Lima, sobre a noo de curadoria no
Museu Paulista - MP/USP. No primeiro texto, a autora relata a experincia de curadoria a partir da viso das
diversas pessoas envolvidas no processo:
28
BRANDO, Carlos Roberto Ferreira; COSTA, Cleide. Uma crnica da integrao dos museus estatutrios USP. Anais do Museu Paulista, janeiro-
junho, v. 15, n. 1, p.207-311, 2007.
29
Cf. PAULA, Teresa Cristina Toledo de. Tecidos no museu: argumentos para uma histria das prticas curatoriais no Brasil. Anais do Museu Paulista
(Vol.14, n.2 jul-dez, 2006). p. 253-298.
1
2
0
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
(...) Nosso maior desejo era que esse trabalho de curadoria fosse uma tentativa de estabelecer um dilogo
interdisciplinar em termos de curadoria, onde se pudesse ver o ponto de vista do coletor, dos pesquisadores,
dos produtores desses objetos e dos curadores do museu.
30
No segundo texto, Solange Lima discute sobre os desafos enfrentados na poltica de acervo, com destaque
para a relao do Museu Paulista com seus doadores. Apresenta tambm a noo de curadoria estabelecida
no momento de transformao do museu em um museu exclusivamente histrico, em 1989, na gesto do
professor Ulpiano de Meneses.
(...) entender a curadoria como um ciclo, conjunto de atividades solidrias que abarca desde a documenta-
o, organizao, estudo cientfco das colees, formaes e sua ampliao, at a comunicao e difuso
desse conhecimento, produzidos sobre as colees, fundos, enfm o acervo em geral.
31
A noo de curadoria no Museu Paulista abordada tambm por outros autores
32
, que ressaltam a importncia
do acervo ser o ponto central, ao redor do qual as aes curatoriais so articuladas e desenvolvidas. Para os
autores, as funes curatoriais so o estudo e a documentao dos acervos; a formao, ampliao, conserva-
o e restaurao das colees; a difuso dos acervos e dos conhecimentos produzidos.
Os mesmos autores destacam ainda que (...) seus curadores no so apenas animadores culturais e sim pesqui-
sadores universitrios, com responsabilidades na produo de conhecimentos novos.
33
Ao tentarmos defnir curadoria de acervos, focando as atividades curatoriais em acervos institucionalmente
constitudos, no estamos em absoluto defendendo a reproduo de prticas que sacralizem ou fetichizem
os objetos de museu. Entendemos esses objetos como suportes de informao e que os museus constituem-
se no locus ideal para o debate e refexo sobre a relao homem-cultura material. Como afrma Peter van
Mensch:
Basicamente, museologia e o trabalho em museus tratam da interao entre ns (como pessoas, como
comunidade, como sociedade) e nosso ambiente material. Nessa inter-reao, damos forma ao nosso am-
biente de acordo com as nossas necessidades. Assim, nosso ambiente se torna cultura material.
34
30
SILVA, Fabola Andra. Processo curatorial: metodologias de trabalho. In: BRUNO, Maria Cristina (org.). V Semana dos Museus da Universidade de
So Paulo. So Paulo: USP, 2007, p. 1-9. p. 9
31
LIMA, Solange. Processo curatorial: metodologias de trabalho. In: BRUNO, Maria Cristina (org.). V Semana dos Museus da Universidade de So
Paulo. So Paulo: USP, 2007, p. 1- 13. p. 2
32
BARBUY, Heloisa; LIMA, Solange Ferraz de; CARVALHO, Vnia Carneiro de; ALMEIDA, Adilson Jos de; RIBEIRO, Angela Maria Gianeze; MAKINO, Mio-
ko; BERALDO, Luciano Antonio. O Sistema documental do Museu Paulista: a construo de um banco de dados e imagens num museu universitrio
em transformao. In: OLIVEIRA, Cecilia Helena de Salles; BARBUY, Heloisa (orgs.); Imagem e produo do conhecimento. traduo Jean Briant. So
Paulo: Museu Paulista USP, 2002. p. 15
33
Ibid. p.16.
34
MENSCH, Peter van. Museology and management Op. cit. p. 5.
1
2
1
|
E
m
t
o
r
n
o
d
a
c
u
r
a
d
o
r
i
a
d
e
a
c
e
r
v
o
s
m
u
s
e
o
l
g
i
c
o
s
,
p
o
u
c
a
s
(
m
a
s
t
e
i
s
)
c
o
n
s
i
d
e
r
a
e
s
Portanto, entendemos por curadoria de acervos museolgicos o processo que se inicia com a coleta, at a divul-
gao e disseminao dos acervos, por meio de exposies ou de outros meios, englobando as aes de pesquisa,
coleta, documentao, conservao e exposio. Acreditamos, ainda, que a riqueza desse processo reside na ca-
pacidade de problematizao de cada uma dessas aes.
Com relao ao processo de coleta, alm dos critrios tradicionalmente utilizados, como raridade, estado
de conservao, risco de perda, procedncia, perodo, entre outros, devemos refetir sobre o porqu de tal
procedimento. Assim, toda coleta deveria estar embasada num projeto de pesquisa do museu, considerando
tambm a misso, fnalidade e objetivos da instituio e a possibilidade de utilizao dos objetos em progra-
mas educativos. Como os museus no podem coletar todos os objetos existentes, importante assumir o seu
carter seletivo, assim como considerar a importncia social dessa atividade. A curadoria deve considerar a
possibilidade de democratizao das decises, pela participao de membros da comunidade e de especialistas
convidados, tendo como base de refexo uma poltica de aquisio de acervos.
35
Um dos problemas especfcos no Brasil, que se manifesta faz anos, a falta de polticas claras de aquisio de
acervos e de uma ao organizada nesse sentido pela maioria dos museus, o que acaba gerando a formao de
colees museolgicas sem continuidade e, s vezes, certa incoerncia, constituindo-se num primeiro desafo
a ser enfrentado. Jos Neves Bittencourt
36
j mencionava esse fato, em palestra proferida em evento realizado
pelo MAST em 2004, abrindo apenas um parntese para os museus de arte, os de valores e os museus de
cincias. Por outro lado, existe tambm a necessidade de avaliao das colees existentes e a necessidade de
decises estratgicas, no que concerne ao descarte de objetos ou sua melhor alocao em outras instituies
museolgicas. Essa iniciativa poderia propiciar a formao de colees mais coerentes e a abrir espao para a
aquisio e a guarda, em melhor situao, de novos objetos.
Por outro lado, preciso abordar um problema que provavelmente ser, ou j est sendo, enfrentado nos
grandes museus nacionais. Como continuar o processo de coleta na atualidade e suas perspectivas futuras
frente avalanche de objetos que produzimos? Como prever a continuidade desse processo, frente a uma civi-
lizao, cuja produo de objetos crescente e em espiral, e de produtos cada vez mais descartveis? E ainda,
em diversidade cada vez maior de materiais, cuja conservao torna-se um mega-desafo?
Outra ao da curadoria de acervos a documentao museolgica, que se inicia no momento da coleta e vai
fundamentar as demais aes do museu. Esse carter da documentao dos acervos implica na necessidade
de elaborao e manuteno de sistemas documentais efcientes. Nessa rea, destacamos alguns autores
35
No MAST, no mbito da Comisso de Aquisio e Descarte de Acervo, est sendo elaborada uma poltica com a participao de especialistas das
diversas reas do museu.
36
Cf. BITTENCOURT, Jos Neves. A pesquisa como cultura institucional: objetos, poltica de aquisio e identidades nos museus Brasileiros. In: GRANA-
TO, Marcus; SANTOS, Claudia Penha dos. Museu Instituio de Pesquisa. MAST Colloquia, v. 7, Rio de Janeiro: Museu de Astronomia e Cincias Afns,
p.37-51, 2005.
1
2
2
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
que desenvolveram trabalhos que so referncias no Brasil e apresentam vises diferentes da documentao
museolgica. Para Fernanda Camargo-Moro, autora de um livro muito utilizado no Brasil, a documentao
do museu o 1) Processo de organizao dos diversos elementos de identifcao do acervo; 2) Conjunto de
conhecimentos e tcnicas que tm por fm a pesquisa, reunio, descrio, produo e utilizao dos docu-
mentos sobre as colees.
37
J para Helena Ferrez,
38
alm de um sistema de recuperao da informao, a
documentao museolgica (...) o conjunto de informaes sobre cada um de seus itens e, por conseguinte,
a representao destes por meio da palavra e da imagem (fotografa).
Rosana Nascimento apresenta um elemento novo de refexo, ao propor que a documentao museolgica
no seja entendida como um produto acabado, mas como:
(...) ao que vai fundamentar o fazer museolgico das outras aes no interior do museu, no deve ser enten-
dida como a principal, ou a mais importante, mas concebida como um processo educativo que estar engajado
a uma concepo de Educao da instituio museu, no sendo assim, continuar como um banco de dados de
itens que nada comunicam a no ser o que menos se necessita para a compreenso do objeto museal.
39
Temos tambm o trabalho de Suely Cervolo
40
, que aponta duas tendncias para a documentao de museus:
uma tecnicista e outra refexiva. Na primeira tendncia, os procedimentos seriam eminentemente tcnicos e
voltados para a prpria instituio, enquanto a segunda est embasada na idia do museu como um centro
de documentao, mais voltado para o usurio externo. Acreditamos tratar-se de um tema interessante para
uma linha de investigao.
Ainda no caso da documentao museolgica, precisamos considerar tambm o seu carter interdisciplinar,
pois as contribuies de diversos profssionais enriquecem a qualidade das informaes processadas. Um l-
timo aspecto refere-se necessidade de ouvir as pessoas que sempre trabalharam com os conjuntos de objetos
antes da institucionalizao dos mesmos. No MAST, a experincia de documentao de parte de seu acervo
museolgico contou, desde o incio das atividades, com a colaborao de um ex-funcionrio do Observatrio
Nacional, que durante seus depoimentos, alm das informaes de natureza tcnica, relatava suas experin-
cias sobre a natureza do trabalho tcnico, em contraposio s atividades de pesquisa, e a sua prpria viso
da histria da instituio, diferente em muitos momentos da histria institucionalizada.
A conservao de acervos museolgicos outra atividade curatorial que vem sendo motivo de refexes e
debates ao longo das ltimas dcadas. Ainda, no fundo, inspiradas pelas correntes flosfcas antagnicas
37
CAMARGO-MORO, Fernanda. Museus: aquisio/documentao. Rio de Janeiro: Ea, 1986. p. 239
38
FERREZ, Helena Dodd. Documentao museolgica: teoria para uma boa prtica. Cadernos de Ensaio (n. 2, Estudos de Museologia), Rio de
Janeiro:MINC:IPHAN, p. 64-74, 1994. p. 65
39
NASCIMENTO, Rosana. O objeto museal, sua historicidade: implicaes na ao documental e na dimenso pedaggica do museu. In: Cadernos
de Sociomuseologia, n 11, 1998. p. 94. Disponvel em: http://cadernosociomuseologia.ulusofona.pt/Arquivo/sociomuseologia_1_22/Cadernos%20
11%20-1998.pdf. Acesso em: 10 de Mar. 2008.
40
CERAVOLO, Suely. Os museus e a representao do conhecimento: uma retrospectiva sobre a documentao em museus no processo da informa-
o. In: VIII Encontro Nacional de Pesqusia em Cincia da Informao, 2007, Salvador. Anais eleltrnicos do VIII Encontro Nacional de Pesquisa em
Cincia da Informao. Salvador : ANCIB, 2007. v. 1.
1
2
3
|
E
m
t
o
r
n
o
d
a
c
u
r
a
d
o
r
i
a
d
e
a
c
e
r
v
o
s
m
u
s
e
o
l
g
i
c
o
s
,
p
o
u
c
a
s
(
m
a
s
t
e
i
s
)
c
o
n
s
i
d
e
r
a
e
s
de Ruskin
41
e Viollet-le-Duc
42
e, a partir delas, por muitas variaes, a conservao tem discutido interven-
cionismos e metodologias mais e menos invasivos e modifcadores e, no entanto, uma outra questo vem se
mostrando cada vez mais imediata. preciso refetir seriamente e com certa rapidez sobre o que devemos e
queremos guardar, pois em futuro breve teremos uma situao em que no poderemos mais garantir a pre-
servao desses acervos, pois os investimentos e os custos de manuteno sero demasiadamente elevados.
Como resultante desse processo, poderemos ter colees abandonadas, com mais srio risco em pases com
menos recursos e menor tradio de preservao.
Nesse panorama de acmulo de bens a serem conservados e enormes gastos relacionados sua conservao,
uma estratgia tem se destacado como forma mais sustentvel de conservao a conservao preventiva.
A conservao preventiva reduz os riscos e diminui a deteriorao de colees inteiras e, por essa razo, a
pedra fundamental de qualquer estratgia de preservao, um meio mais econmico e efcaz para preservar a
integridade do patrimnio, minimizando a necessidade de intervenes mais profundas em objetos especf-
cos, de risco muito elevado, alm de mais caras e complexas. Por outro lado, mesmo utilizando essa estratgia,
ainda nos deparamos com um futuro difcil, a perspectiva de incremento continuado dos acervos. A postura do
curador, nesse caso, deve ser pr-ativa, procurando a discusso intra e extramuros, como meio de obter uma
direo clara quanto ao que deve ser conservado.
Escolhemos a pesquisa para encerrar essa parte do artigo, destacando o seu papel no processo curatorial,
uma vez que basilar em qualquer instituio museolgica.
43
Consideramos a pesquisa imprescindvel para
todas as etapas do processo curatorial, devendo orientar e embasar desde a coleta at a exposio, alm de
alimentar o sistema documental da instituio. Existem diversas modalidades de pesquisa, desde a pesquisa de
contedo voltada para um objetivo especfco, como uma exposio, uma publicao ou mesmo o preenchi-
mento de fchas de registro ou catalogao, at a pesquisa de cunho acadmico sobre temas pertinentes ao
campo museolgico, como a musealidade dos objetos, a natureza dos acervos, as linguagens expositivas, a
educao em espaos no formais, dentre outros. A pesquisa que se refere constituio do prprio acervo
institucional tambm fundamental para entender a prpria instituio, pois compreender as caractersticas
e especifcidades desse processo signifca repensar o prprio papel social da instituio.
A ttulo de exemplo, a Coordenao de Museologia do MAST desenvolve h algum tempo o projeto de pes-
quisa interdisciplinar Objetos de Cincia & Tecnologia como Fonte Documental para a Histria da Cincia
44
,
41
John Ruskin. Biographical Materials. The Victorian Web: literature, history, culture in the age of Victoria. National University of Singapore. Disponvel
em http://www.victorianweb.org/authors/ruskin/ruskinov.html. Acesso em: 19 de Mar. 2008.
42
VIOLLET-LE-DUC, Eugne Emmanuel. Restaurao. Coleo Artes & Ofcios. Cotia (SP): Ateli Editorial, 2000.
43
Sobre pesquisa em museus ver: GRANATO, Marcus; SANTOS, Cludia Penha dos (org.). Museu Instituio de Pesquisa. Rio de Janeiro: Museu de
Astronomia e Cincias Afns MAST/MCT, 2005.
44
Esse projeto desenvolvido no mbito do Grupo de pesquisas Preservao de Acervos Culturais, cadastrado pelo MAST no sistema de Grupos de
Pesquisas brasileiros (CNPq) e coordenado por Marcus Granato. Para os primeiros resultados ver: GRANATO, Marcus; SANTOS, Claudia Penha dos;
FURTADO, Janana Lacerda; GOMES, Luis Paulo. Objetos de Cincia e Tecnologia como fontes documentais para a Histria das Cincias: Resultados
parciais. In: VIII Encontro Nacional de Pesqusia em Cincia da Informao, 2007, Salvador. Anais eleltrnicos do VIII Encontro Nacional de Pesquisa
em Cincia da Informao. Salvador : ANCIB, 2007. v. 1.
1
2
4
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
que tem como objetivo principal pesquisar a natureza e o valor histrico dos objetos de cincia e tecnologia,
utilizando como referencial os diversos tipos de objetos provenientes de alguns institutos de pesquisa do
Ministrio da Cincia e Tecnologia. Os resultados obtidos com o desenvolvimento desse projeto apresentaram
uma srie de possibilidades metodolgicas e de abordagens para os objetos de C&T serem trabalhados como
fonte documental, alm de ampliar o conhecimento sobre o patrimnio cientfco brasileiro e terem sido
utilizados como subsdios para a montagem de uma exposio temporria no MAST, denominada Objetos de
C&T: trajetrias em museus, inaugurada em dezembro de 2005.
DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA CURADORIA DE COLEES MUSEOLGICAS
Uma mudana nas perspectivas dos futuros profssionais de museus respalda-se na ampliao da oferta de
cursos de graduao em Museologia no Brasil.
45
Verifca-se claramente um movimento recente e intenso de
ampliao da oferta de possibilidades de formao em Museologia no pas, inclusive com um melhor quadro
de regionalizao desses cursos. Alm dos j criados, outros
46
esto em avanada discusso para organizao,
constituindo um panorama renovado para a formao do muselogo e um amplo potencial de alterao no
desenvolvimento das atividades nos museus, em especial a de curadoria de acervos museolgicos. Ainda nesse
contexto, foram criados os primeiros cursos de graduao em conservao de acervos culturais no pas.
47
Esse movimento parece se relacionar estreitamente com as novas polticas estabelecidas para a rea, a partir
da atuao do Departamento de Museus e Centros Culturais do IPHAN/MINC. Alm do estmulo criao
de novos cursos de formao, percebe-se tambm um grande movimento de qualifcao e treinamento dos
profssionais de museus, a partir de um programa amplo de ofcinas que vem trazendo resultados alentadores
para a rea. Nesse panorama, propcio ao desenvolvimento e refexo das atividades e do papel das institu-
ies museolgicas, sejam elas de qualquer tipo, inserem-se as questes relacionadas curadoria de acervos
museolgicos. O advento de um Programa de Ps-Graduao em Museologia e Patrimnio, realizado em par-
ceria entre a UNIRIO e o MAST, constitui um espao adequado para essas refexes.
Questes relacionadas funo social e forma de utilizao dos acervos museolgicos devem ser motivo
de refexo para os profssionais de museus e, em especial, devem constituir temas para desenvolvimento de
pesquisas nos cursos de ps-graduao da rea, de forma que novas vises e solues possam ser vislumbra-
das para o futuro.
45
Atualmente, esto formalmente criados cursos nas seguintes instituies: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO (Rio de
Janeiro, mandato universitrio em 1951); Universidade Federal da Bahia - UFBA (Salvador, Bahia, criado em 1969); Fundao Educacional Barriga
Verde - UNIBAVE (Orleans, Santa Catarina, criado em 2004); Universidade Federal do Recncavo Bahiano - UFRB (Cachoeira, Bahia, criado em 2006);
Universidade Federal de Pelotas - UFPel (Pelotas, Rio Grande do Sul, criado em 2006); Universidade Federal de Sergipe - UFSE (Laranjeiras, Sergipe,
criado em 2006); Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP (Ouro Preto, Minas Gerais, criado em 2007); Universidade Federal do Rio Grande do Sul
UFRGS (Porto Alegre, criado em 2008).
46
Por exemplo: na Universidade Federal de Minas Gerais e na Universidade Federal do Par.
47
No Rio de Janeiro, a Universidade Estcio de S criou um curso de graduao tecnolgica em conservao e restaurao de bens culturais; em Belo
Horizonte, a Universidade Federal de Minas gerais criou um curso de graduao em Conservao e Restaurao de Bens Culturais Mveis.
1
2
5
|
E
m
t
o
r
n
o
d
a
c
u
r
a
d
o
r
i
a
d
e
a
c
e
r
v
o
s
m
u
s
e
o
l
g
i
c
o
s
,
p
o
u
c
a
s
(
m
a
s
t
e
i
s
)
c
o
n
s
i
d
e
r
a
e
s
Quanto ao crescimento continuado dos acervos museolgicos, alm de uma poltica efetiva de descarte de
objetos sem real interesse para preservao, uma possibilidade seria criar centros de guarda regionais para
objetos. Por outro lado, isso poderia deix-los ainda mais no esquecimento, perdidos em regies afastadas,
sujeitos ao corte dos recursos para sua permanncia. Contudo, ainda assim, possvel pensar em solues, e
uma possibilidade seria a utilizao do potencial educativo dos objetos, tornando esses centros regionais atra-
tivos para excurses escolares e familiares, que poderiam at motivar o turismo em regies pouco conhecidas.
Obviamente, as colees locais devem permanecer em seus locais originais, especialmente se constiturem
smbolos culturais e identitrios para a comunidade.
Uma alternativa para socializar melhor os acervos museolgicos abrir as reservas tcnicas visitao pblica.
Essa iniciativa pode ser otimizada em reservas novas ou renovadas, que podem ser projetadas especialmente
para permitir o fuxo de pblico sem prejudicar as colees ou a atividade dos profssionais que ali atuam.
Acervos que, a princpio, no tm muito apelo junto ao pblico, como instrumentos cirrgicos ou cepas de
bactrias ou fungos, seriam alvo de montagens expogrfcas mais elaboradas baseadas em pesquisas sobre
os acervos.
A pesquisa tem o potencial de ampliar o conhecimento sobre os objetos, a partir de questionamentos e an-
lises, alm de possibilitar uma ampliao de seu uso nos processos educativos, mesmo no ensino formal, o que
pouqussimo explorado at o momento. Ampliar o nmero de usurios dos acervos museolgicos seria um
alvo interessante para uma poltica museolgica nacional. Para isso, preciso que os profssionais de museus
mostrem como os objetos podem ser explorados em infnitos vieses e procurem se articular mais freqente-
mente com profssionais de outras reas.
Uma coisa certa, preciso um compromisso dos responsveis pelos acervos e de todos os outros profssionais
de museus para um uso mais intensivo e mais til dessas colees, de forma a justifcar os recursos cada vez
maiores para sua preservao, em tempos em que esses sero cada vez mais restritos.
CONSIDERAES FINAIS
Ao longo do artigo apresentamos opinies formuladas por diversos autores sobre o papel do curador e da cura-
doria de acervos. Agora, embasados por todas essas refexes, retornamos questo colocada no incio deste
artigo: o conceito de curadoria de acervos museolgicos refere-se apenas ao gerenciamento de colees ou
existem outros sentidos para o conceito? Como constatamos, o tema est longe de ser esgotado e co-existem
desde vises que focam a curadoria de acervos no gerenciamento de colees, at propostas mais inovadoras
que entendem essa curadoria como um processo que perpassa todas as atividades do museu. Contudo, fugindo
das vises que ora focam o processo curatorial nos objetos, ora no pblico, acreditamos que os acervos muse-
olgicos so a base sobre a qual os museus constroem e reforam o seu papel social. Permitem redescobrir os
1
2
6
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
povos, as migraes, os movimentos e as idias que criaram e deram forma s diferentes sociedades humanas.
Registram e preservam as suas criaes estticas e cientfcas e fornecem bases para novos desenvolvimentos.
Inspiram um sentimento de pertencimento e compreenso mtuos entre todos os habitantes de um grupo ou
pas, fornecendo instrumentos para o entendimento das transformaes sociais. Para ns, a noo de curado-
ria de acervos, portanto, no se restringe apenas ao gerenciamento de colees.
O papel dos muselogos e dos demais profssionais de museus crucial para todo esse processo e sua compre-
enso. Formar profssionais, que possam atuar de forma competente e efcaz em todas as frentes a que a ao
curatorial est relacionada, um passo importante, e tambm necessrio que essa formao esteja muito
ligada realidade do pas e mesmo da regio onde se encontra o curso. Por outro lado, importante tomar
posio frente a outros desafos que se apresentam para o futuro. A criao de um frum de discusso que
realmente funcione e que possa servir para a troca de idias e experincias sobre o tema seria extremamente
salutar. O intuito seria de, pragmaticamente, discutir a funo social dos acervos museolgicos e a sua conse-
qente preservao e servir como orientao para a maioria dos museus brasileiros.
Percebemos que no Brasil o papel de curador confunde-se muitas vezes com o de muselogo, j que suas
atribuies so muito semelhantes. medida que novos cursos de graduao em museologia so criados e
de forma mais bem distribuda regionalmente, uma nova situao poder ocorrer, e o papel do curador, onde
ainda est presente, poder, pouco a pouco, ir dando lugar ao de muselogo. Esse movimento poder determi-
nar outra modifcao, agora no panorama da formao profssional, exigindo a disponibilidade de cursos de
especializao nas diversas reas cobertas pela ao de curadoria,
48
de forma a permitir o aprofundamento dos
conhecimentos necessrios para o desenvolvimento das atividades necessrias prtica curatorial.
48
Um exemplo o curso de ps-graduao lato sensu em Preservao de Acervos de Cincia e Tecnologia, criado pelo MAST e recentemente aprova-
do pelo Ministrio da Educao. O edital de seleo da primeira turma ser lanado ainda nesse semestre e o incio das aulas ser em maro de 2009.
1
2
7
|
E
m
t
o
r
n
o
d
a
c
u
r
a
d
o
r
i
a
d
e
a
c
e
r
v
o
s
m
u
s
e
o
l
g
i
c
o
s
,
p
o
u
c
a
s
(
m
a
s
t
e
i
s
)
c
o
n
s
i
d
e
r
a
e
s
MONOGRAFIAS TRIDIMENSIONAIS:
A EXPERINCIA CURATORIAL NAS
EXPOSIES DE MDIA E CURTA
DO MUSEU HISTRICO ABLIO BARRETO
Thas Velloso Cougo Pimentel
Thiago Carlos Costa
Afnal, o museu um dos locais que nos proporcionam a mais elevada idia do homem.
Mas, os nossos conhecimentos so mais extensos do que os nossos museus [...]
Andr Malraux O museu imaginrio (1952, ed. 2000).
OBJETOS EM EXPOSIO EQUVOCOS E POTENCIALIDADES
Prtica central da vida dos museus, as exposies so atividades que renem e consolidam todos os trabalhos
que caracterizam a vida dessas instituies. Por meio das exposies, os museus se do a conhecer pelo
pblico em geral e se tornam por esse pblico conhecidos.
O tipo de museu que estamos acostumados a visitar, hoje em dia, descende diretamente da instituio que
se consolidou nos meados do sculo XIX e expandiu-se no sculo XX. Esse perodo de uns 90 anos, mais ou
menos, costuma a ser chamado a grande era dos museus pblicos
1
. Essas instituies tiveram, durante esse
tempo, papel fundamental no surgimento, consolidao e expanso de uma nova sociabilidade pblica, com
seus sistemas de hierarquia e excluso.
O modelo de exposio museal ainda hoje praticado originou-se e desenvolveu-se nesse espao de tempo, ao
longo do qual arte e cultura foram apartadas da funo de surpreender o pblico e, ao invs, colocadas como
elementos de controle da populao, provendo-a com recursos e contextos nos quais se tornou possvel que ela
se auto-educasse e auto-regulasse.
2
Exposies nas quais o pblico visitante era colocado diante de objetos
exemplarmente didticos, ligados a personagens igualmente exemplares. A funo didtica desses personagens
signifcava que o museu pblico atribua aos objetos que lhes haviam pertencido um status totalmente distinto,
por exemplar
3
. Essa exemplaridade tinha, entretanto, um efeito curioso, ainda hoje observvel nas exposies
museais: a criao, pelo pblico, de laos afetivos com os objetos expostos nas galerias.
Esse aspecto cria uma caracterstica basilar das instituies museais: serem sedes de uma dupla gama de
usos e funes. Parte desses programtica (ou seja, estabelecida de forma racional e sistemtica, por es-
pecialistas); outra parte criada pelas expectativas e prticas dos usurios.
4
Essa criao de expectativas
se faz sobre os objetos, que se tornam para os visitantes suportes de representaes subjetivas abrangentes.
Esse jogo de sentido, que ainda hoje se d intensamente no interior da exposio, pode ser de identidade, de
trajetos, de experincias, e faz o visitante situar os artefatos expostos em sua prpria vida, alm de considerar
que eles, como referncias, devem permanecer para sempre onde esto. Isso explica porque comum que os
visitantes retornem ao museu na expectativa de rever, no mesmo lugar, um objeto do acervo que, em especial,
tivesse capturado sua ateno e afeto
5
.
1
Cf. RIPLEY, Dilon. The sacred grove: Essays on museums. Washington: Smithsonian Institution Press, 1978. Cap. 1.
2
BENNETT, Tony. The birth of the museum: history, theory, politics. New York: London: Routledge, 1995. p. 40.
3
Anthony VIDLER, The writing of the walls... p. 165. Apud BENNETT, Tony. Op. cit. p. 28
4
MENESES, Ulpiano Toledo Bezerra de. O museu e o problema do conhecimento. In: BRASIL, Fundao Casa de Rui Barbosa. Anais do IV Seminrio
sobre Museus-Casas: Pesquisa e Documentao. Rio de Janeiro: Fundao Casa de Rui Barbosa, 2002. p. 18.
5
Para um relato desse fenmeno, cf. BITTENCOURT, Jos Neves. Uma exposio e suas teses. Anais do Museu Histrico Nacional (vol. 35, tomo espe-
cial, 2004 Memria compartilhada). p. 14-19.
1
2
9
|
M
o
n
o
g
r
a
f
a
s
t
r
i
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
i
s
:
a
e
x
p
e
r
i
n
c
i
a
c
u
r
a
t
o
r
i
a
l
n
a
s
e
x
p
o
s
i
e
s
d
e
m
d
i
a
e
c
u
r
t
a
d
u
r
a
o
d
o
M
u
s
e
u
H
i
s
t
r
i
c
o
A
b
l
i
o
B
a
r
r
e
t
o
1
3
0
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
Essa caracterstica surge muito fortemente, quando consideramos uma exposio, e merece ser destacada. A
exposio, tanto quanto o museu, representao: a cada momento, constri e reconstri o mundo, ajudando a
torn-lo compreensvel. Isso no o mesmo que dizer que os museus reproduzam a vida ou o tempo. No museu, a
vida no se torna refm dos artefatos l reunidos. Perder essa dimenso incorrer na fetichizao do objeto.
Trata-se de uma expresso utilizada por Ulpiano Meneses em artigo bastante difundido. Segundo esse autor,
a fetichizao [est] inserida numa dimenso de fenmenos histricos ou sociais [...] tem de ser entendida
como deslocamento de atributos do nvel das relaes entre os homens, apresentando-os como derivados dos
objetos, autonomamente, portanto naturalmente.
6
Naturalmente porque, retirado do ritmo da histria, resta ao objeto ser naturalizado, tornado uma espcie
de continuao da natureza por ser portador de uma humanidade imanente
7
. Essa caracterstica equivo-
cadamente atribuda por aqueles que tentam entender o artefato no a partir de um processo histrico que o
gera e lhe confere sentido, mas a partir de caractersticas que o tornam uma espcie de continuao fsica de
seu produtor, dos talentos, das habilidades fsicas, das qualidades morais ou intelectuais daquele. Assim natu-
ralizado, o artefato torna-se fonte de sentido de um museu-fetiche, equipamento de uma alta cultura que
pode ser usada para regular o campo do comportamento social dotando os indivduos com novas capacidades
de auto-monitoramento e auto-regulao, que o campo da cultura e as formas liberais de governo, muito
caracteristicamente, inter-relacionam.
8
Essa utilizao dos museus e da cultura, que, ao longo de muito
tempo, determinou tanto o contedo quanto fnalidades das exposies museais, foi agudamente observada
pelo terico norte-americano Marshall Berman. Segundo ele, para avanar na compreenso da sociedade
moderna preciso uma viso aberta e abrangente da cultura; muito diferente a abordagem museolgica
que subdivide a atividade humana em fragmentos e os enquadra em casos separados, rotulados em termos de
tempo, lugar, idioma, gnero e disciplina acadmica.
9
Para os museus da atualidade, superar essa caracterstica tem sido um desafo constante. Uma das facetas
desse desafo a reviso das exposies, encarando-as como espaos para alm da simples contemplao,
seja cientfca (como nas exposies dos museus de carter enciclopdico), ou meramente cultural (epteto
aplicado aos museus de histria e de arte). Uma das formas de enfrentar essa reviso aprofundar o exame do
processo dialtico da concepo e origem dos objetos recolhidos s colees e da formulao das exposies
como produtos intelectuais. Esse duplo exame busca problematizar a criao, funo, uso e procedncia dos
objetos musealizados, cruzando seu valor de uso com seu valor de representao
10
. Ampliando o contedo
6
MENESES, Ulpiano Toledo Bezerra de. A exposio museolgica e o conhecimento histrico. In: FIGUEIREDO, Betnia Gonalves; VIDAL, Diana
Gonalves (orgs.). Museus: dos gabinetes de curiosidades museologia moderna. Belo Horizonte: Argvmentvm, 2005. p. 34.
7
A expresso tomada a Meneses, op. cit. p.35. Por imanenteentende-se algo pertencente interioridade ou estrutura essencial de outra coisa, e,
portanto, sem nenhuma autonomia.
8
BENNETT, Tony. The birth... Op. cit. p. 20.
9
BERMAN, Marshall. Tudo que slido desmancha no ar: a aventura da modernidade. So Paulo: Companhia das Letras, 2007. p.11
10
Sobre esses conceitos, cf. POMIAN, Kryztof. Coleo. In ROMANO, Ruggiero (dir.). Enciclopdia Einaudi (Vol. 1. Memria-Histria). Lisboa: Imprensa
Nacional/Casa da Moeda, 1a ed. 1983. p. 51-86.
1
3
1
|
M
o
n
o
g
r
a
f
a
s
t
r
i
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
i
s
:
a
e
x
p
e
r
i
n
c
i
a
c
u
r
a
t
o
r
i
a
l
n
a
s
e
x
p
o
s
i
e
s
d
e
m
d
i
a
e
c
u
r
t
a
d
u
r
a
o
d
o
M
u
s
e
u
H
i
s
t
r
i
c
o
A
b
l
i
o
B
a
r
r
e
t
o
de informao do artefato museal, recolocando-os em um circuito do qual foram retirados, essa abordagem
acrescenta-lhes sentido e, dessa forma, rompe o crculo do objeto-fetiche. Rompido o crculo, existe a pos-
sibilidade que o objeto aparea aos olhos do visitante como portador de sentido, criando questes para esse
usurio sobre os museus. Ou, como sugere Ulpiano Meneses...
Relquias, semiforos, objetos histricos: seus compromissos so essencialmente com o presente, pois no
presente que eles so produzidos ou reproduzidos como categoria de objeto e s necessidades do presente
que eles respondem.
11
no presente que acontece a exposio museal. Mas qual a funo de uma exposio?
Comecemos dizendo, claramente, qual no sua funo: aparecer como o produto fnal ou a fnalidade dos
museus. Mas, como afrmou um autor, poucos anos atrs e com boa dose de perspiccia , [as] pessoas
vo aos museus para ver exposies no importa que essas sejam mostras de colees permanentes ou
exposies temporrias reunindo os trabalhos de um artista, os artefatos de uma civilizao, os espcimes de
um continente ou o aparato interativo de uma cincia. Exposies parecem ser para os museus o que so as
peas para os teatros. Elas so o que essas instituies culturais apresentam ao pblico como sua principal
atrao e seu principal benefcio.
12
Entretanto, ainda no perspicaz entendimento desse mesmo autor, em
anos recentes, as exposies tm dominado a percepo do pblico dos museus quase ao ponto de excluir
qualquer outra forma de vida museal.
13
preciso frisar que os museus tm, como afrma Ulpiano Meneses,
uma multiplicidade de funes, que devem ser articuladas solidariamente, de forma que umas fertilizem as
outras
14
. A exposio, apesar de ter uma dessas funes, atravessa todas as outras, tornando evidente a ar-
ticulao solidria de que nos fala Meneses. Acredito que a solidariedade, no museu, pode ser referenciada
por um trip de funes: as de natureza cientfco-documentais, as educacionais e as culturais. As primeiras
tm alvos cognitivos, as segundas respondem pela formao e equipamento intelectual e afetivo, as ltimas
se referem ao universo de signifcaes e valores.
15
Nesse sentido, uma resposta possvel pergunta que nos colocamos que a funo de uma exposio museal
seja chamar a ateno dos visitantes do museu para o estado das outras funes matriciais cumpridas por
essas instituies e, dessa forma, colocar o museu dentro de uma dinmica histrica.
As exposies museais so como se fossem o resultado de um relatrio de atividades. A atividade uma
construo, que se inicia com um corte contido na temtica do museu e, a partir desse, mobiliza todas as
11
MENESES, Ulpiano Toledo Bezerra de. Memria e cultura material: documentos pessoais no espao pblico. Estudos Histricos ( vol 11, n. 21, 1998)
Rio de Janeiro: Ed. FGV, 1998.
12
LORD, Barry. The purpose of museum exhibitions. In: LORD, Barry; LORD, Gail Dexter (eds.). The manual of museum exhibitions. Walnut Creek (CA):
AltaMira Press/Rowan & Littlefeld, 2002. p. 13.
13
Ibid.
14
Cf. Meneses, Ulpiano Toledo Bezerra de. O museu e o problema... Op. cit. p. 22.
15
Ibidem.
funes institucionais. Deve buscar, pela via da fruio, despertar no visitante a questo de que o museu no
envolve uma nica atividade e nem um percurso natural. O visitante deve perceber que o acervo, disposto
ao longo do espao e articulado a textos, legendas e outros recursos comunicativos, no est l para legitimar
um discurso do qual tanto museu quanto visitante participam como sujeitos passivos. A exposio deve, as-
sim, ser planejada levando em conta que o visitante inscrever nela suas vivncias, tendo o tempo ordenado
pelo presente como mediador. Essa mediao trar cena as questes da vida cotidiana, da sociedade e da
memria que, necessariamente, esto presentes no acervo do museu.
Assim, possvel focalizar uma perspectiva oposta quela que naturaliza e, portanto, fetichiza o objeto:
partir do artefato para o visitante (ou seja, para a sociedade), sem colocar artefatos como relquias
16
, mas os
trazendo para o cotidiano do indivduo. A exposio poder, nessa perspectiva, tornar-se o laboratrio da
histria, fazendo a mediao entre o contexto do objeto e o do indivduo. Ao invs de fazer a histria das
armas, por exemplo, dar a ver a histria nas armas: expor as relaes do corpo com a arma, como mediaes
para defnir o lugar do indivduo (armas brancas), do grupo (armas de fogo, padronizadas, disciplina)[...].
17
DECISES CURATORIAIS: DURAO E PESQUISA
Assim, as exposies se tornam, por excelncia, os suportes pelos quais os acervos museais podem ser coloca-
dos em perspectiva como portadores de sentido. Sejam esses acervos de museus histricos, sejam de museus
de cidade, de arte, cientfcos, ou de qualquer outra temtica, so eles, acervos, constantemente reconstrudos,
conforme as equipes curatoriais e de pesquisadores os abordam, no sentido de fazer-lhes perguntas e us-los
como respostas. Atualmente as instituies museais procuram dinamizar suas atividades, e isso signifca mo-
bilizar os acervos para fns de pesquisa, de educao e de fruio. Deve-se, entretanto, observar que, quando
se fala em acervo, no se deve imaginar que esse esteja restrito ao conjunto de artefatos recolhidos ao con-
forto das reservas tcnicas. Os museus tm, na atualidade, a responsabilidade de se expandir, abrangendo o
universo material que pulsa fora de suas instalaes: as ruas, as cidades, os territrios.
Abordar tal variedade de objetos implica em um planejamento, que nem sempre de execuo simples, e em
certa quantidade de questes que devero ser formuladas e respondidas, e que geralmente se cruzam. nesse
ponto que se coloca a questo da curadoria.
Esse no um conceito novo. J no sculo XIX, o terico William Henry Flower, diretor do Museu Britnico
a partir de 1884, esclarecia o que entendia por curador: ... voc deve ter seu curador. Ele considerar,
16
... o conceito de relquia, no campo religioso [...] [ressalta] a necessidade de contigidade, contato com um transcendente, para que o objeto pro-
longue esse transcendente, seja, entre ns, o que dele fcou (relicta). Todos funcionam como fetiches, signifcantes cujo signifcado lhes imanente,
dispensando demonstrao: as relquias do Santo Lenho, por exemplo, impunham credibilidade, no pela autenticidade de suas origens, mas pelo
poder manifestado. (MENESES, Ulpiano Toledo Bezerra de. Memria e cultura material ... Op. cit. p. 32.)
17
CARVALHO, Vnia Carneiro de. A histria das armas ou a histria nas armas? In: BRASIL, Museu Paulista USP. Como explorar um museu histrico.
So Paulo: Museu Paulista/USP, 1992. (11-14) p. 11.
1
3
2
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
cuidadosamente, o objeto do museu, a classe e as capacidades das pessoas que devero ser l instrudas e o
espao disponvel para o cumprimento de suas funes.
18
Como se pode observar, curadoria de museus
um conceito amplo, relacionado com todos os aspectos do desenvolvimento, pesquisa, preservao e inter-
pretao dos acervos sob guarda de um museu
19
. O curador , geralmente, um profssional capaz de formular
e responder questes que tenham os acervos como objeto. No que um profssional de museus, para ser
curador, tenha que saber tudo, cada mnimo detalhe sobre os artefatos postos sob sua responsabilidade. O que
ele deve ser capaz de apontar as potencialidades que esto contidas no acervo.
Ou seja: o curador aquele capaz de formular, a partir dos ajuntamentos de objetos preservados, o conceito,
a idia central ou a tese de uma exposio. essa sua responsabilidade bsica, embora seja cada vez mais
freqente a diviso dessa responsabilidade com outros profssionais do museu, e at mesmo com profssionais
no integrados equipe. Tendncias mais recentes indicam que, em certos casos, at mesmo o pblico pode
ser convocado a opinar sobre que exposio gostaria de ver montada. Iniciativas tornam-se indispensveis em
casos nos quais o tema da exposio envolva sujeitos que sejam de difcil representao pelo curador, como
por exemplo, exposies sobre povos indgenas ou sobre prticas religiosas muito especfcas
20
.
A deciso sobre qual ser a exposio implica em outras decises que estaro na origem do sucesso
ou do fracasso do processo. Podemos adiantar duas dessas decises: o tempo de durao do pro-
cesso e a pesquisa curatorial.
A primeira deciso estabelecer, em ltima anlise, o tempo em que a exposio fcar montada. Atualmente,
as exposies dividem-se em de longa durao, de mdia durao e de curta durao, terminologias que
substituram, nos anos 1990, as designaes permanente e temporria. No fcil estabelecer exatamente
o que signifca cada uma dessas categorias. A mais complicada , sem dvida, a exposio de longa durao.
A mesma exposio de longa durao, em um museu de grande porte, envolvendo quatro ou cinco grandes
galerias e vrias centenas de documentos museolgicos, talvez venha a ocupar um perodo de tempo maior
que um museu de menor porte. Entretanto, por uma srie de razes, seja em um grande museu, seja em um
pequeno, as exposies precisam ser mudadas de tempos em tempos: os objetos em exposio so submetidos a
um desgaste maior do que quando em reserva tcnica; o meio da exposio se degrada: vitrinas envelhecem, re-
cursos auxiliares se desgastam e o prprio prdio tem que passar por manuteno, periodicamente. Assim, no
aceitvel que exposies fquem montadas durante dcadas, como se observava at poucos anos atrs
21
.
J as exposies de mdia durao e curta durao nos parecem mais fceis de serem estabelecidas: so
exposies que podem estender-se entre 30 e 120 dias, no caso das primeiras, e entre 12 e 24 meses, no
18
William Henry Flower, 1898. Apud BENNETT, Tony. The birth.. Op. cit. p. 42.
19
A curadoria de museu relaciona-se com todos os aspectos do desenvolvimento, estudo, preservao e interpretao das colees de um museu.
(NICKS, John. Curatorship in the exhibition planning process. In: LORD, Barry; LORD, Gail Dexter (eds.). The manual... Op. cit. p. 345).
20
Cf. NICKS, John. Curatorship... Op. cit. p. 346.
21
No existe bibliografa em nossa lngua que aprofunde esse tema. As sugestes relacionadas foram levantadas em SERRELL, Beverly. Paying atten-
tion: Visitors and museum exhibitions. Washington DC: American Association of Museums, 1998.
1
3
3
|
M
o
n
o
g
r
a
f
a
s
t
r
i
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
i
s
:
a
e
x
p
e
r
i
n
c
i
a
c
u
r
a
t
o
r
i
a
l
n
a
s
e
x
p
o
s
i
e
s
d
e
m
d
i
a
e
c
u
r
t
a
d
u
r
a
o
d
o
M
u
s
e
u
H
i
s
t
r
i
c
o
A
b
l
i
o
B
a
r
r
e
t
o
ltimo caso. claro, podem ser considerados esses espaos de tempo aleatrios, mas, como veremos mais
adiante, existem motivos para que os citemos.
A segunda deciso curatorial, que podemos adiantar como crucial a pesquisa. Um autor ao qual temos recor-
rido com certa freqncia faz, sobre o tema, essa afrmao: Uma exposio poderosa e signifcativa comea
com uma idia poderosa e signifcativa. Entretanto, a possibilidade de sua realizao depende, em grande
medida, da qualidade da pesquisa curatorial que desenvolve e apia a tese, e das colees e outros materiais
que formaro a exposio.
22
A pesquisa parte integrante das responsabilidades do curador do museu, e de modo algum deve ser pensada
como afeita apenas s iniciativas de exposio. De fato, pressupe-se que as autoridades da instituio (dire-
tor, supervisor, ou qualquer outra forma administrativa adotada) e o curador ou curadores devero gastar
parte de seu tempo para formular uma poltica de pesquisa. Esta deve estabelecer o compromisso do museu
com a pesquisa, determinando a quantidade de tempo, recursos fnanceiros, pessoal e equipamentos sero
dedicados a essa atividade, de modo a adequ-la misso institucional.
23
Fica clara a importncia da pesquisa para o desenvolvimento do ambiente museal. Podemos entender pes-
quisa como um processo que consiste na investigao de alguma coisa.
24
Pesquisar , pois, fazer perguntas
minuciosas e estabelecer respostas as mais precisas possveis em torno de um recorte da realidade. Consider-
emos, ento, que um desses recortes pode ser defnido como o acervo de um museu. No tentaremos aprofun-
dar a defnio porque essa nos perfeitamente adequada.
A exposio, seja ela de curta, mdia ou longa durao, surge da pesquisa curatorial, ou seja, da investigao
voltada para o adensamento do tema ou do conceito. Esse adensamento faz com que a exposio deixe de
ser apenas idia, e tome forma na realidade institucional do museu. Podemos dividir as aes dessa pesquisa
em duas categorias que so interligadas. A pesquisa temtica (tambm chamada, por alguns autores, de
conceitual) cria a base de informaes que tero utilidade para o desenvolvimento da estrutura e da sub-
stncia do roteiro da exposio; a pesquisa do acervo estabelece trabalhos de arte, artefatos, espcimes, bem
como materiais grfcos e audiovisuais, com os quais a exposio ser criada
25
.
Nossa meta neste texto apresentar um museu como centro e suporte de experincias curatoriais voltadas
para o acervo e para exposies. o momento de esclarecer o leitor que a refexo apresentada nas pginas
anteriores foi elaborada com base em vivncias concretas: aquelas que tm acontecido ao longo de nossa per-
manncia como tcnicos e diretora do Museu Histrico Ablio Barreto, o museu da cidade de Belo Horizonte.
22
NICKS, John. Curatorship... Op. cit. p. 346.
23
LORD, Barry. Planning for exhibition research. In: LORD, Barry; LORD, Gail Dexter (eds.). The manual... Op. cit. p. 29.
24
Mrio Bunge, Cincia e desenvolvimento, ed. 1980. Apud BITTENCOURT, Jos. O caminho da pesquisa em um museu. Anais do Museu Histrico
Nacional (vol. 33, 2001).155-159. Rio de Janeiro: Museu Histrico Nacional, 2001. p. 156.
25
Cf. NICKS, John. Curatorship... Op. cit. p. 347.
1
3
4
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
UM MUSEU E SUA TRAJETRIA: O MHAB NA CAPITAL DE MINAS
Desfetichizar os objetos, recolocando-os na perspectiva da temporalidade, ou seja, da histria, um dos
objetivos dentre outros que tm sido buscados desde que o Museu Histrico Ablio Barreto foi reformulado, a
partir de 1993.
Fundado em 1941 pelo jornalista e historiador Ablio Barreto e aberto ao pblico em 18 de fevereiro de 1943
como Museu Histrico de Belo Horizonte, o objetivo principal do MHAB era perpetuar e dar a conhecer a
histria da cidade de Belo Horizonte. Pelo que era entendido na poca, guardar a histria signifcava re-
alizar, cotidianamente, duas ordens de aes: a primeira, praticar o recolhimento sistemtico de objetos que
remetessem histria da nova capital de Minas levando-se em considerao que a histria de Belo Hori-
zonte era uma continuao da trajetria do extinto Arraial do Curral Del Rei
26
. A segunda seria expor essas
colees de objetos no novo museu, cujas salas tinham sido pensadas para compreender a temtica do museu;
ou seja, as referncias, expressas no acervo, cidade de Ouro Preto, antiga capital do estado, ao extinto Ar-
raial, e ao planejamento e construo da nova capital, Belo Horizonte.
As salas utilizadas para as exposies foram nomeadas como salas Curral Del Rei, Ouro Preto e Belo
Horizonte. Cada uma delas expunha objetos museolgicos que remetiam s temticas propostas pela de-
nominao. Essa primeira exposio foi instalada no Casaro da Fazenda Velha do Leito
27
. Vale lembrar que,
em diversos momentos, a exposio sofreu modifcaes ou esteve fechada paratrabalhos de restauraoda
edifcao.
Barreto foi diretor do MHAB at 1946, ano em que, destacado para uma Secretaria de Governo, deixou o cargo.
Foi substitudo por Mrio Lcio Brando
28
, que empreendeu mudanas signifcativas na museografa elaborada
por Barreto. Em 1957, Brando optou por sublinhar a funo original da edifcao como sede de fazenda. Trs
novas salas foram inauguradas, respectivamente denominadas Quarto de moa na Fazenda Velha e duas,
Quarto de casal na Fazenda Velha. possvel que o diretor pretendesse dividir a ateno do pblico entre a
grande histria visada por Barreto e uma histria comum dos habitantes do Curral Del Rei. O fato que o
pblico criou laos afetivos com essa exposio, e durante anos e anos visitou uma representao de residn-
cia rural, que mais remetia a um imaginrio idealizado que vida rstica da antiga povoao.
26
Fundado em 1711 pelo bandeirante Joo Leite da Silva Ortiz, o Arraial do Curral Del Rei existiu, como rea perifrica da regio mineradora, desde o
incio do sculo XVIII, tendo testemunhado o apogeu e a decadncia das Minas. Em 1893, a pequena sede de uma das freguesias da comarca de Sa-
bar foi escolhida pela Comisso Construtora da Nova Capital (CCNC) como stio para a implantao da nova sede administrativa estadual. Em 1896,
sob superviso dos engenheiros e arquitetos da CCNC, rgo que gerenciou a edifcao da nova cidade, o pequeno arraial foi totalmente demolido.
A nova capital do estado foi inaugurada em 1897.
27
Essa edifcao abrigou o Museu Histrico de Belo Horizonte, e sua escolha consolidava o papel simblico do novo museu, de guardar a histria da
cidade. Construdo em 1883 por Jos Cndido da Silveira, em estilo colonial-rural, a pequena sede de fazenda resistiu construo da nova capital e
se tornou um cone, ltimo remanescente arquitetnico do antigo Arraial do Curral Del Rei.
28
Para maiores informaes sobre a gesto de Mrio Lcio Brando, cf. ALVES, Clia Regina Araujo. Entre a inveno e as descobertas: 60 anos do
MHAB. In: BRASIL, Museu Histrico Ablio Barreto. MHAB: 60 anos de histria (Caderno 2). Belo Horizonte: Museu Histrico Ablio Barreto, 2003.
1
3
5
|
M
o
n
o
g
r
a
f
a
s
t
r
i
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
i
s
:
a
e
x
p
e
r
i
n
c
i
a
c
u
r
a
t
o
r
i
a
l
n
a
s
e
x
p
o
s
i
e
s
d
e
m
d
i
a
e
c
u
r
t
a
d
u
r
a
o
d
o
M
u
s
e
u
H
i
s
t
r
i
c
o
A
b
l
i
o
B
a
r
r
e
t
o
Simultaneamente, comearam a ser empreendidas por Brando exposies temporrias e itinerantes. A
histria em fotografas, entre dezembro de 1957 e fevereiro de 1958, comemorou os 60 anos de fundao de
Belo Horizonte; A imprensa em Belo Horizonte durou de maro a abril de 1958, expondo jornais e revistas
publicadas desde a poca do antigo Arraial at a Belo Horizonte daquele momento, e objetos e fotografas
sobre a imprensa na capital; Bueno Brando, Senador da Repblica, celebrou o centenrio de nascimento
desse poltico e fcou montada de julho a agosto de 1958. Essa ltima exposio, composta por fotografas,
cartazes, charges, documentos e objetos referentes ao personagem, foi aberta em Ouro Fino, cidade natal
de Brando, onde permaneceu por quatro dias. curioso que, apesar da boa repercusso dessas iniciativas,
elas no tiveram continuidade, possivelmente devido sistemtica falta de recursos e apoio das autoridades
municipais.
Mesmo enfrentando problemas crnicos, o MHAB realizou, ao longo de 60 anos, vinte e seis exposies ditas
temporrias. At o incio dos anos de 1990, a curadoria e museografa eram, em geral, atribuies do prprio
diretor da instituio. As temticas do Museu e das exposies quase sempre coincidiam, girando em torno
das origens e do desenvolvimento da capital de Minas Gerais. As exposies buscavam referendar teses da
decorrentes
29
.
O Museu cativou o pblico ao longo de dcadas, entendido por trs geraes de visitantes como lugar de uma
memria afetiva da cidade. A instituio fez o que pde para sustentar esse lugar no imaginrio coletivo,
e teve certo sucesso. O pblico que visitava as exposies do MHAB sempre deu mostras de seu apreo pelo
que a instituio guardava e no tinha por hbito questionar a maneira como eram realizados os trabalhos de
conservao e exposio do acervo do Museu.
No de se estranhar, portanto, que at a dcada de 90 do sculo passado, o MHAB lidasse com seu nico
e valorizado espao de exposies o Casaro oitocentista como a sede de uma casa de fazenda sobre a
qual quase nada se sabia. A falta de informaes no chegava a atrapalhar a exposio dos objetos, reunidos
no acervo sobre o qual fora criado o Museu. A idia de que os objetos eram exemplares e mereciam ser vistos
justifcava-se pelo fato de estarem nas dependncias de um museu, e isso parecia bastar tanto para o pblico
quanto para os poucos servidores que geriam o museu. Dessa forma, por muitos anos, caminharam juntas a
precariedade do espao, das informaes sobre ele e a singeleza das exposies, sugerindo que rusticidade
do espao tornado museu na cidade de Belo Horizonte associavam-se o precrio, o tmido, o incipiente.
29
As teses do museu eram, em linhas gerais, as de Ablio Barreto, que era, desde 1936, o historiador ofcial de Belo Horizonte. O MHBH (cujo nome
foi mudado, em 1969, para o atual) estruturou-se em torno da tese que colocava o Arraial do Curral Del Rei como antecedente de Belo Horizonte.
Essa tese, exaustivamente documentada, foi publicada pela primeira vez em 1936. Embora hoje em dia seja alvo de fortes crticas, formuladas prin-
cipalmente em torno do amadorismo da prtica historiogrfca de Barreto, a obra, em dois volumes, ainda o mais completo levantamento factual
tanto sobre o antigo arraial quanto sobre a nova capital. Uma edio recente facilmente encontrada. (BARRETO, Ablio. Belo Horizonte: Memria
histrica e descritiva - histria antiga e histria mdia. Belo Horizonte: Fundao Joo Pinheiro. Centro de Estudos Histricos e Culturais, 1995.
2 - 1
a
ed. 1936).
1
3
6
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
PLANEJAMENTO E ESTRUTURAO DO NOVO ESPAO MUSEAL
No que tange a Minas Gerais, o processo de reestruturao do MHAB, que comeou a ser executado a partir de
um grande e ambicioso projeto, conhecido pelos agentes institucionais como processo de revitalizao, guar-
dou, conduzido da maneira como foi, certo ineditismo
30
. A implantao da cincia dos museus, a Museologia,
e o aprofundamento da compreenso do espao e da linguagem museolgicos so relativamente recentes, no
Brasil, datando da segunda metade dos anos 1970. Seguiu-se, na dcada posterior, a reestruturao de alguns
museus, em diversos nveis, no Rio de Janeiro e em So Paulo, em museus de grande porte, geralmente da
esfera federal ou universitrios. A partir principalmente da Constituio de 1988 que a histria das comu-
nidades, o poder local, o patrimnio das pequenas cidades e de seus habitantes ganharam algum destaque e
passaram a merecer a ateno e a curiosidade tanto dos gestores pblicos como das prprias comunidades.
O processo de revitalizao teve, desde o incio, dois grandes objetivos: primeiro, tirar do Casaro, de
estrutura construtiva bastante frgil e rea de cerca de 420m
2
, o conjunto das atividades museais que nele
disputava espao fsico, sem possibilidades de expanso: este objetivo implicava na construo de um novo
prdio; segundo, dar nova confgurao s atividades museais como um todo, o que implicava na reestrutura-
o de processos, tanto tcnicos como administrativos.
Concebido e projetado a partir de um plano diretor cuja elaborao data de 1993, o novo prdio foi idealizado
em torno de uma grande sala de exposies, base de um programa permanente de exposies de mdia dura-
o. Esse conceito foi gradativamente ajustado, pois no havia experincia anterior, mesmo considerando as
ento quase seis dcadas de funcionamento do Museu.
A construo do novo prdio, com rea total de 1.812,83m, possibilitou a expanso dos servios prestados ao
pblico pela instituio. De incio, duas grandes reas de exposio foram redefnidas: O Casaro, esvaziado
de praticamente todos os servios incompatveis com sua estrutura fsica, tornou-se espao de exposies,
apenas permanecendo, em duas salas de seu andar trreo, o servio educativo. No novo prdio outra rea de
exposies, uma sala com 240,74 m, de soluo arquitetnica arrojada, em forma de L invertido e p-direito
equivalente a trs andares (quase 11 metros de altura). Separada do corpo principal do edifcio por um pano
de vidro em arco, essa sala pode ser vista do mezanino e do segundo piso, onde se encontram instalaes
tcnicas e de convivncia. Entre 1998 e 2008, nesse local, o MHAB apresentou ao pblico treze exposies de
mdia durao.
O uso da nova sede levou defnio de duas outras reas de exposio: no piso trreo, um espao de 40,55
m, situado no foyer (ante-sala) do auditrio; no hall do mezanino, entre os espaos onde se encontram insta-
lados um caf e a biblioteca institucional. A defnio desses dois espaos como reas de exposio aconteceu
30
Uma memria bastante detalhada do processo de revitalizao pode ser conferida em PIMENTEL, Thas Velloso Cougo (org.). Reinventado o MHAB:
O museu e seu novo lugar na cidade: 1993-2003. Belo Horizonte: Museu Histrico Ablio Barreto, 2004.
1
3
7
|
M
o
n
o
g
r
a
f
a
s
t
r
i
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
i
s
:
a
e
x
p
e
r
i
n
c
i
a
c
u
r
a
t
o
r
i
a
l
n
a
s
e
x
p
o
s
i
e
s
d
e
m
d
i
a
e
c
u
r
t
a
d
u
r
a
o
d
o
M
u
s
e
u
H
i
s
t
r
i
c
o
A
b
l
i
o
B
a
r
r
e
t
o
em funo do entendimento de que a instituio deveria combinar suas atividades museolgicas com as ativi-
dades oferecidas pela nova confgurao do Museu, como os programas culturais implementados no auditrio,
e o novo espao de convivncia situado no mezanino, onde foi instalado um bar-caf.
A reestruturao institucional e as atividades expositivas
A expanso dos servios prestados pelo MHAB teve ento, como centro, a reestruturao do espao fsico.
Tal expanso implicou em outras aes, que visavam reestruturar tambm as atividades museolgicas. Al-
gumas dessas aes iniciaram-se antes mesmo da construo do novo prdio e se estenderam at depois de
sua inaugurao. As principais delas podem ser relacionadas pesquisa curatorial. Embora a instituio no
tivesse designado um curador geral, profssionais altamente qualifcados e experientes treinaram e coorden-
aram equipes de pesquisadores que promoveram um completo inventrio do acervo preservado, realizado em
paralelo a um processo de aperfeioamento da catalogao dos objetos e documentos. Atualmente, a equipe
institucional tem clareza de que esse trabalho, cuja realizao, inicialmente, tomou cerca de sete anos, foi a
base para as atividades museolgicas desenvolvidas desde ento.
31
A importncia do processo de pesquisa, realizado entre 1993 e 2000, hoje bastante clara. As atividades mu-
seais no poderiam ter se expandido sem sua realizao, e a prpria equipe tcnica que hoje em dia povoa o
Museu comeou a se estruturar a partir dos trabalhos de processamento tcnico. Foi tambm o processamento
tcnico que [confrmou] a necessidade urgente de se promover uma ampla reformulao nas polticas de ao
do MHAB, inclusive em sua Linha de Acervo, elegendo reas prioritrias de produo de conhecimento dentro
da Instituio, de modo a permitir uma abordagem mais dinmica e abrangente s suas prticas culturais.
32
Novos desafos curatoriais: exposies de mdia durao
Feitas todas as consideraes anteriores, falaremos aqui principalmente das experincias vivenciadas pela
equipe do MHAB no tocante s exposies a partir de 2001. Nesse perodo, o Museu adquiriu notvel expertise
curatorial, que decorre, em primeiro lugar, da existncia de uma equipe capacitada e treinada nos processos
de elaborao e acompanhamento do projeto museolgico.
A reestruturao do espao fsico, por um lado, e a pesquisa curatorial e o aperfeioamento dos processos e da
equipe tcnica, que dela resultaram, por outro, tornaram possvel o incio da elaborao de exposies, cujos
conceitos foram se tornando cada vez mais refnados. Deve-se dizer, entretanto, que durante certo tempo,
por falta de experincias mais slidas, a atribuio curatorial era um tanto vaga. A equipe envolvida tinha,
de fato, uma coordenao, que podia ser da Direo ou de um profssional por ela designado. Cada exposio
planejada no MHAB se valia da experincia anterior para se tornar, de fato, uma nova experincia. Na medida
31
Existe uma descrio bastante detalhada dessa ao. Cf. BRASIL, Museu Histrico Ablio Barreto. Memria descritiva do processamento tcnico do
MHAB; 1993-2000. Belo Horizonte, [2000?] (MHAB, Arquivo Administrativo.). 44 p. ms; para um resumo crtico, cf. CNDIDO, Maria Inez, TRINDADE,
Silvana Canado. O acervo de objetos do MHAB. Formao, caracterizao e perspectivas. In: PIMENTEL, Thas Velloso Cougo (org.). Reinventado o
MHAB... Op. cit. p. 146-162.
32
BRASIL, Museu Histrico Ablio Barreto. Memria descritiva... Op. cit. p. 1.
1
3
8
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
em que o novo tema a ser abordado exigia pesquisa especfca, a coordenao ou curadoria estabelecia as
diretrizes que a equipe tcnica iria seguir para a construo do projeto museolgico, a partir do qual outros
atores muitos dos quais vm, desde ento, se especializando em tarefas especfcas devido oportunidade
criada pela demanda do museu somaram sua competncia intelectual, sua capacidade tcnica e sua cria-
tividade para garantir a qualidade do resultado fnal.
A escolha do musegrafo uma questo que deve ser considerada separadamente. Vale dizer que at o incio
dos anos 2000, ao dar incio aos trabalhos para uma nova exposio, eram poucas as opes para o desenvol-
vimento da etapa museogrfca. Essa disciplina pode ser defnida como a tcnica de apresentao do material
expositivo, objetos e documentao, que permite que o contedo museolgico seja comunicado, de forma
racional e emotiva, articulada com o edifcio que aloja o museu e assegurando a preservao dos bens patri-
moniais expostos.
33
Basicamente, espera-se do musegrafo que organize o espao existente como lugar de
uma exposio museal: suas potencialidades, as melhores formas de expor acervos, levando em considerao
a comunicao, conservao e segurana.
A museografa , ento, a resposta, no espao, da proposta formulada no projeto museolgico [...] Se no existe
projeto, a museografa difcilmente poder dar resposta coerente a uma proposta de exposio.
34
No MHAB, o
projeto museolgico responsabilidade, sempre, da equipe tcnica da instituio, que trabalha sob coordena-
o do diretor, ou de um curador designado por ele. A questo da curadoria, tem se desenvolvido a partir dessa
designao. Entretanto, no perodo inicial desse processo, eram poucos, na cidade, os profssionais com forma-
o que possibilitasse assumir tal responsabilidade. A essa limitao somavam-se as difculdades administra-
tivas caractersticas do servio pblico, que criavam entraves para a soluo de problemas caractersticos do
processo de montagem de exposies (por exemplo, a contratao de profssionais com habilidades especfcas,
de empresas, processos de licitao para contratao de servios com melhores preos, etc.)
35
.
O Museu tem buscado diversifcar o elenco de profssionais com que trabalha. Partindo de um universo
bastante restrito, onde eram poucos os profssionais existentes em Belo Horizonte, visto a ausncia tanto de
cursos de formao especfca, como de demanda real, em funo, na cidade, do que se poderia chamar uma
cultura insipiente de museus. Nesse perodo, a instituio mobilizou, para atender as exposies realizadas
na Sala Usiminas, quatro profssionais diferentes, trs deles com formao em Arquitetura e o quarto em
Desenho Industrial.
33
PERICHI, Ciro Carabalo. O que a museografa? In: ARNAUT, Jurema Kopke Eis, ALMEIDA, Ccero Antnio Fonseca de (orgs.). Museografa: A lingua-
gem dos museus a servio da sociedade e de seu patrimnio cultural. Rio de Janeiro: IPHAN/OEA, 1995. p. 22.
34
Idem. p. 29.
35
Fato importante neste processo a presena efetiva da Associao dos Amigos do Museu Histrico Ablio Barreto AAMHAB entidade do tercei-
ro setor, sem fns lucrativos, criada para apoiar e incentivar as aes do Museu. A Associao, por meio de seus scios e das empresas interessadas
no marketing cultural, viabilizou a efetiva participao da sociedade civil no Museu. A AAMHAB tornou-se parceira no cotidiano da Instituio, em
especial quando so propostas novas exposies. Dada especifcidade deste tipo de ao, o Museu e a AAMHAB propuseram ento Secretaria
de Cultura (atualmente Fundao Municipal de Cultura) da Prefeitura de Belo Horizonte, no incio dos anos 2000, a elaborao de um convnio que
permitisse o repasse de verbas j anteriormente previstas em oramento. A AAMHAB, por meio da apresentao de um plano de trabalho, fcaria
responsvel pelo detalhamento administrativo e fnanceiro da exposio a ser realizada no Museu. Para maiores informaes sobre a AAMHAB, cf.
CARNEIRO, Edilane Maria de Almeida. Amigos do museu, amigos da cidade. In:PIMENTEL, Thas Velloso Cougo (org.). Reinventado... Op. cit. p. 59-69.
1
3
9
|
M
o
n
o
g
r
a
f
a
s
t
r
i
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
i
s
:
a
e
x
p
e
r
i
n
c
i
a
c
u
r
a
t
o
r
i
a
l
n
a
s
e
x
p
o
s
i
e
s
d
e
m
d
i
a
e
c
u
r
t
a
d
u
r
a
o
d
o
M
u
s
e
u
H
i
s
t
r
i
c
o
A
b
l
i
o
B
a
r
r
e
t
o
Para a equipe institucional, a convivncia com profssionais de formao variada tem se constitudo espao
de troca e aprendizado. Ao olhar do historiador, do educador, do conservador, atentos ao acervo e a seus sen-
tidos, somam-se o olhar do arquiteto e do designer, que melhor compreendem o espao, a luz e a imagem.
Entrecruzam-se impresses, conhecimento especfco, sensibilidades, e as exposies podem ser entendidas
como fruto desses entrecruzamentos.
Na perspectiva museogrfca, o projeto das novas exposies do MHAB passa pelas seguintes etapas: primeira,
apresentao do tema da exposio; segunda: estudo do espao fsico e proposta de circulao; terceira:
defnio do cronograma de montagem da exposio; quarta: levantamento e pesquisa em torno do acervo
a ser envolvido; quinta: posicionamento do acervo e detalhamento expogrfco; sexta: preparao da sala de
exposio; stima: preparao e produo de textos e materiais grfcos; oitava: inaugurao da exposio.
O MHAB realizou entre 2001 e 2008 sete exposies de mdia durao na Sala Usiminas, com durao m-
dia de nove meses, depois de, em mdia, quatro a seis meses de preparao. Esse prazo pode variar em funo
da temtica escolhida, das difculdades encontradas pela pesquisa que ir subsidiar o projeto museolgico, da
existncia ou disponibilidade de acervo, dos cuidados exigidos pelo setor de conservao, das exigncias do
musegrafo, entre outros motivos.
As exposies dos ltimos anos refetiram ao mesmo tempo a capacidade de trabalho crescente da instituio
e o aperfeioamento de seu dilogo com o pblico. O acervo institucional alvo maior da ateno da equipe
quase sempre a riqueza patrimonial a ser exibida. Ao revelar para o pblico o acervo preservado, algumas
exposies mostraram-se aes importantes no que concerne ao recolhimento de acervo pela instituio. o
caso, por exemplo, de duas exposies exibidas no MHAB na ltima dcada: Juscelino Prefeito e De outras
terras, de outro mar... Experincias de imigrantes estrangeiros em Belo Horizonte. Nesses dois casos a deciso
de realizar as exposies foi motivada principalmente por situaes outras que no a existncia de acervo
signifcativo sobre o assunto nas reservas tcnicas do MHAB.
Pode-se afrmar que, alm da prpria construo das exposies, os dois eventos foram importantes ex-
perincias de identifcao e recolhimento de acervo pela instituio. No primeiro, foram convidados para a
curadoria especialistas das reas de histria, museologia e museografa. A construo do problema, base para
a elaborao do projeto museolgico, possibilitou intensa troca intelectual e tcnica entre o conjunto dos
envolvidos no processo. O catlogo
36
dessa exposio, expresso do intenso trabalho de pesquisa curatorial,
tornou-se publicao de referncia sobre os anos 1940 e o perodo de Juscelino Kubitschek na prefeitura de
Belo Horizonte.
36
Para maiores informaes sobre processo, cf. BRASIL, Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Museu Histrico Ablio Barreto. Juscelino Prefeito:
1940-1945. Catlogo da exposio de mdia durao realizada no Museu Histrico Ablio Barreto em 2002. Curadoria de Eneida Maria de Souza,
Helosa Maria Murgel Starling, Paulo Rossi e Thas Velloso Cougo Pimentel.
1
4
0
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
No segundo caso, no foram recrutados curadores externos, assumindo a Direo do MHAB o papel de co-
ordenao do processo. A equipe de pesquisa do Museu acabou sendo responsvel pela elaborao da pro-
posta conceitual, que, visto sua complexidade e a ausncia notvel de acervo sob guarda da instituio, en-
volveu problemas variados. Apesar de todas as difculdades, a exposio De outras terras de outro mar... teve
repercusso muito positiva: muito bem aceita pelo pblico, emocionou, criou polmica, possibilitou doaes e
gerou um catlogo
37
de excelente qualidade.
Nos anos 2005, 2006 e 2007, a Sala Usiminas recebeu as exposies Como se fosse slido... Pensando o
patrimnio cultural em Belo Horizonte, Ver e lembrar Monumentos em Belo Horizonte e Novos acervos
MHAB 2003-2008. Em seu conjunto elas ressaltam o trao que, nos ltimos anos, caracteriza as aes
institucionais: tomar a cidade de Belo Horizonte como construo permanente dos diversos agentes sociais,
econmicos e polticos que a formam. O Museu, por muitos anos, abordou a cidade principalmente por meio
de registros ofciais, exemplares, preciosos. A reestruturao institucional dos ltimos anos possibilitou uma
compreenso mais abrangente, democrtica e plural da cidade, em sua diversidade e complexidade. Temas
variados tm sido trabalhados nas exposies de modo a refetir as preocupaes que norteiam a refexo
sobre a histria e a memria, o passado e o presente, a dinmica atual e o futuro de nossa cidade.
Essa diversifcao de refexes tem infuenciado fortemente o recolhimento de acervos. Essa ao, at 2003
totalmente passiva, agora fortemente infuenciada pela pesquisa curatorial, seja ela voltada para exposies
ou para o processamento tcnico.
Outra importante deciso tomada nos ltimos anos pelo Museu foi a de ganhar as ruas da cidade. Partindo-
se do pressuposto de que so poucas as chances de expanso em seu prprio stio depois das obras do pro-
cesso de revitalizao, e ciente, ao mesmo tempo, do intenso crescimento da cidade e de sua populao,
a instituio resolveu ampliar seu raio de ao em Belo Horizonte, com a realizao de projetos e aes
extramuros. Alguns deles se do em torno da elaborao de exposies de mdia durao, periodicamente
instaladas em mobilirio urbano especialmente projetado. Esses projetos exigem cuidadosa articulao com
o poder pblico, visto que os suportes das exposies exigem interveno no espao urbano. Essa articulao
determinou os diferentes locais escolhidos para receber os equipamentos. A pesquisa curatorial estabeleceu
os temas e contedo que falam da cidade para uma parcela da populao, que nem sempre encontra tempo
ou tem oportunidade para visitar o Museu.
Desafos curatoriais exposies de curta durao
O projeto de revitalizao do MHAB tambm buscou conceituar outras formas de difuso do acervo. Chama-
remos a ateno para duas aes que, por suas caractersticas curatoriais, parecem interessantes para a dis-
cusso que desenvolvemos neste texto: so, por excelncia, exposies de curta durao.
37
BRASIL, Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Museu Histrico Ablio Barreto. De outras terras, de outro mar... Experincias de imigrantes
estrangeiros em Belo Horizonte. Catlogo da exposio de mdia durao realizada no Museu Histrico Ablio Barreto no segundo semestre de 2004.
Curadoria de Luiz Henrique Assis Garcia, Nico Rocha e Thas Velloso Cougo Pimentel.
1
4
1
|
M
o
n
o
g
r
a
f
a
s
t
r
i
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
i
s
:
a
e
x
p
e
r
i
n
c
i
a
c
u
r
a
t
o
r
i
a
l
n
a
s
e
x
p
o
s
i
e
s
d
e
m
d
i
a
e
c
u
r
t
a
d
u
r
a
o
d
o
M
u
s
e
u
H
i
s
t
r
i
c
o
A
b
l
i
o
B
a
r
r
e
t
o
O projeto Pea do Ms iniciado em meados do ano de 2002 visa divulgar, de forma diferenciada, um objeto
ou conjunto de objetos do acervo do museu, em um espao que no foi, inicialmente, projetado como espao
expositivo. Foi escolhido um espao cuja principal caracterstica o grande trnsito de pblico eventual: um
corredor do mezanino do Edifcio-Sede do Museu, situado entre a Biblioteca e um caf operado por terceiros.
No se trata de uma exposio formal. Um objeto mostrado de forma individualizada, juntamente com as
informaes tcnicas levantadas pela pesquisa curatorial. O texto-legenda da exposio de curta durao
Pea do Ms, curto e objetivo, apresenta dados estruturais e histricos do objeto exposto.
Essa instalao acontece no corredor de um dos andares mais movimentados do Edifcio-sede do MHAB, rea
de passagem utilizada pelos usurios da biblioteca do Museu que, para acessarem a mesma so forosamente
obrigados a passar pela Pea do Ms. O mesmo acesso utilizado pelo pblico freqentador do caf insta-
lado nas dependncias do Museu, chamando a ateno dos freqentadores desse espao de convivncia para
a instituio e suas atividades.
O projeto Pea do Ms foi iniciado em maio de 2002, e j exps, aproximadamente, oitenta objetos do acervo
museolgico, sempre mobilizado itens armazenados nas reservas tcnicas do Museu. So objetos que, de outra
forma, talvez no fossem acessados pelo pblico, por no terem sido listados em exposies recentes: escultu-
ras, rdios, placas, insgnias, objetos de uso pessoal, de trabalho, fragmentos de construo, entre outros. Um
exemplo dessa linha curatorial foi o objeto denominado Monumento s Mes, maquete de uma esttua insta-
lada em Belo Horizonte. Esse objeto, no acervo do Museu desde 1959, s havia entrado em duas exposies
at ento: uma em 1998 e outra em 2003.
Outra experincia a ser ressaltada o espao do foyer do auditrio, situado no andar trreo do Edifcio-sede
do MHAB. Esse local foi tornado espao para exposies de curta durao pela Direo do Museu em 2001.
Desde ento, ali montadas nove mostras, com base em acervos do MHAB e de terceiros. Nesse ltimo caso, a
disponibilizao do espao pela instituio obedece a uma avaliao da pertinncia, do tema e das dimenses
da proposta, j que se trata de rea de trnsito.
As exposies montadas no foyer do auditrio do museu geralmente retratam algum trabalho que esteja
sendo desenvolvido por pesquisadores do corpo tcnico. Em 2001, por exemplo, acabava de ser restaurada a
Maquete do largo da Matriz no Arraial do Curral Del Rei, realizada nos laboratrios do Centro de Conserva-
o e Restauro (CECOR) da UFMG. Dois anos antes, o Museu havia concludo um projeto de exposio externa
de longa durao na Catedral de Nossa Senhora da Boa Viagem
38
, na qual foram relacionados o Lavabo e o
Retbulo, ambos provenientes da antiga edifcao religiosa, demolida em 1922. A temtica pareceu uma
38
O Projeto de Extenso do MHAB Catedral de Nossa Senhora da Boa Viagem, inaugurado em 1999, instalou, na referida edifcao, dois impor-
tantes objetos do acervo, que, de outra forma, difcilmente sairiam das reservas tcnicas da instituio. Para maiores detalhes, cf. LACERDA, Daniela,
et al. Ao cultural do Museu Histrico Ablio Barreto. In: In: PIMENTEL, Thas Velloso Cougo (org.). Reinventado o MHAB... Op. cit. p. 108.
1
4
2
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
boa oportunidade de chamar a ateno do pblico usurio do Museu no apenas para um dos mais signif-
cativos itens do acervo, como tambm inteirar esse pblico sobre certa categoria de atividades museolgicas
que difcilmente chega ao conhecimento dele.
Outro projeto situado nessa linha de atuao foi a montagem, em 2004, de mostra de cartazes utilizados em
campanha de divulgao do museu, em abrigos de nibus na Praa Sete de Setembro. Essa campanha, en-
campada pela Prefeitura de Belo Horizonte, baseava-se em exposio de fotos da Praa, todas pertencentes
ao acervo do Museu. Essa mostra realizou-se a partir da concluso das obras que reestruturaram, urbanistica-
mente, a regio, concludas, em setembro de 2003. Do ponto de vista curatorial, o objetivo do projeto era con-
trastar formas diferenciadas de apresentao do acervo, disseminando a nova proposta de atuao do Museu
na cidade. Aps permanecerem durante alguns meses no espao pblico, os cartazes foram novamente insta-
lados no foyer, de forma que permitia a manipulao dos objetos pelos visitantes que quisessem faz-lo.
Outras exposies de curta durao foram realizadas no foyer do auditrio, nenhuma delas tendo durao
maior do que 120 dias. Os temas sempre abordavam questes ligadas cidade, procurando-se ver como o
acervo respondia a tais questes. A primeira delas teve como tema as comemoraes do Cinqentenrio de
Belo Horizonte em 1947. Em seguida privilegiou-se o tema higiene e sade na cidade, na primeira metade
do sculo XX. A exposio seguinte abordou as representaes do negro no acervo do museu.
Para observarmos um exemplo, mais de perto, tomemos a exposio Higiene e sade em Belo Horizonte,
1897-1950. Os objetos que compuseram essa mostra eram todo do acervo preservado pelo MHAB. Inclusive
possvel foi percorrer subtemas como a construo da cidade higinica, a sade pblica, a higiene pessoal e
consolidao da higiene como um hbito pessoal cotidiano a partir da segunda metade do sculo XX. Foram
mobilizados itens pertencentes s quatro categorias de acervo da instituio: objetos tridimensionais, fotogr-
fcos, textuais-iconogrfcos e bibliogrfcos. Causou excelente impacto uma srie de reclames extrados de
revistas populares, publicadas entre as dcadas de 1920 e 1950, que ajudaram a amarrar a idia da construo
da relao entre higiene e sade. O cruzamento de imagens e objetos tridimensionais, de uso individual no
ambiente privado, ampliou a leitura da questo da sade pblica, saneamento de cidades e higiene pessoal. A
linha de pesquisa permitiu que alguns objetos h muito no expostos se juntassem a novos acervos, adquiridos
recentemente pela instituio.
A exposio de curta durao seguinte, inaugurada em setembro de 2007, teve por ttulo Uma questo de
raa: representaes do negro no museu da cidade. Com curadoria da prpria equipe tcnica do MHAB, o pro-
jeto lanou um olhar aguado sobre o acervo do museu ao buscar perceber o tratamento da questo do negro
e das relaes raciais ao longo dos 65 anos de existncia da instituio. O resultado mostrou como a pesquisa
curatorial, articulando o tema com o acervo, pde recuperar objetos tradicionais e dar-lhes um novo sentido.
1
4
3
|
M
o
n
o
g
r
a
f
a
s
t
r
i
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
i
s
:
a
e
x
p
e
r
i
n
c
i
a
c
u
r
a
t
o
r
i
a
l
n
a
s
e
x
p
o
s
i
e
s
d
e
m
d
i
a
e
c
u
r
t
a
d
u
r
a
o
d
o
M
u
s
e
u
H
i
s
t
r
i
c
o
A
b
l
i
o
B
a
r
r
e
t
o
CONSIDERAES FINAIS: A CURADORIA COMO FERRAMENTA INSTITUCIONAL
Ao refetir sobre o Museu Histrico Ablio Barreto ao longo de seus 65 anos de existncia, criado quando Belo
Horizonte ainda no completara 50 anos, a experincia de trabalho acumulada proporcional visibilidade
conquistada nos ltimos anos. A cada dia possvel perceber a ampliao do reconhecimento da comunidade
pelo trabalho desenvolvido, seja por meio de manifestaes avulsas, seja por meio de mecanismos que buscam
aferir a aceitao do pblico em relao ao esforo empreendido pela instituio. Pois, como afrma Mrio
Chagas, nesse encontro entre logia (museologia) e a grafa (museografa) nos museus que nos permite
compreend-los como centros interpretativos, campos discursivos e arenas polticas.
39
Ao compreender a cidade e no apenas a sua histria como fato museal e como alvo da ao curatorial, o
MHAB ampliou sua ao expositiva tanto em seu stio histrico e sua nova sede, como nas praas, ruas e
escolas de Belo Horizonte. A maior presena do museu na cidade, garantida pelo dinamismo institucional, por
uma linha curatorial que se consolida a cada projeto de exposio proposto pelo museu, bem como pela busca
de parceiros, acaba por resultar na crescente importncia atribuda pela populao ao seu museu histrico e,
por extenso, aos espaos de memria em que se constitui a cidade em que todos vivemos.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ABREU, Regina. A fabricao do imortal: memria, histrias e estratgias de consagrao no Brasil. Rio de Janeiro: LAPA/Rocco, 1996.
___. Memria, histria e coleo. Anais do Museu Histrico Nacional, vol. 28, 1996. Rio de Janeiro: Museu Histrico Nacional, 1996.
BANN, Stephen. Invenes da histria. Ensaios sobre a representao do passado. So Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista -
UNESP, 1994.
BARRETO, Ablio. Belo Horizonte: Memria histrica e descritiva - histria antiga e histria mdia. Belo Horizonte: Fundao Joo Pinheiro.
Centro de Estudos Histricos e Culturais, 1995. 2 v.
BENNETT, Tony. The birth of the museum: history, theory, politics. New York: London: Routledge, 1995.
BERMAN, Marshall. Tudo que slido desmancha no ar: a aventura da modernidade. So Paulo: Companhia das Letras, 2007.
BITTENCOURT, Jos Neves. Cada coisa em seu lugar. Ensaio de interpretao do discurso de um museu de histria. In: Anais do Museu Paulista:
Histria e Cultura Material. Vol. 8/9. So Paulo: o Museu paulista, 2000-2001. p.151-174.
___. Gabinetes de curiosidades e museus: sobre a tradio e rompimento. In: Anais do Museu Histrico Nacional. Rio de Janeiro, v.28, 1996.
p.07-20.
___. Inveno do passado: ascensos e descensos da poltica de preservao do patrimnio cultural (1935-1990). In: MENEZES, Len Medeiros
de., ROLLEMBERG, Denise. e MUNTEAL FILHO, Oswaldo. Olhares sobre o poltico: novos ngulos, novas perspectivas. Rio de Janeiro: Ed UERJ,
2002. p. 191-209.
___. Uma exposio e suas teses. Anais do Museu Histrico Nacional (vol. 35, tomo especial, 2004 Memria compartilhada). Rio de Janeiro:
Museu Histrico Nacional, 2004. p. 14-19.
BRASIL, Fundao Casa de Rui Barbosa. Anais do IV Seminrio sobre Museus-Casas: Pesquisa e Documentao. Rio de Janeiro: Fundao Casa
de Rui Barbosa, 2002.
BURKE, Peter. A histria dos acontecimentos e o renascimento da narrativa. In: BURKE, Peter (org.). A escrita da Histria. So Paulo: UNESP,
1992.
39
CHAGAS, Mrio. Entre a Museologia e a Museografai: propostas, problemas e tenses. In: BITTENCOURT, Jos Neves; BENCHITRIT, Sarah
Fassa;TOSTES, Vera Lcia Bottrel. Histria representada: o dilema dos museus. Rio de Janeiro: Museu Histrico Nacional, 2003. p.245
1
4
4
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
CARVALHO, Vnia Carneiro de. A histria das armas ou a histria nas armas? In: MENENSES, Ulpiano Toledo Bezerra de (org.). Como explorar
um museu histrico. So Paulo: Museu Paulista/ USP, 1992. p.11-14.
CHAGAS, Mrio. Campo em metamorfose ou ainda bem que os museus so incompletos. In: BITTENCOURT, Jos Neves; BENCHITRIT, Sarah
Fassa;TOSTES, Vera Lcia Bottrel. Histria representada: o dilema dos museus. Rio de Janeiro: Museu Histrico Nacional, 2003.
FIGUEIREDO, Betnia Gonalves; VIDAL, Diana Gonalves (orgs.). Museus: dos gabinetes de curiosidades museologia moderna. Belo Hori-
zonte: Argvmentvm, 2005.
LORD, Barry; LORD, Gail Dexter (eds.). The manual of curatorship.
MALRAUX, Andr. O museu imaginrio. Lisboa, Edies 70, 2000.
MENESES, Ulpiano Toledo Bezerra de. Memria e cultura material: documentos pessoais no espao pblico. Estudos Histricos (vol 11, n. 21,
1998) Rio de Janeiro: Ed. FGV, 1998.
BRASIL, Museu Histrico Ablio Barreto. MHAB: 60 anos de histria. (Caderno 1). Belo Horizonte: Museu Histrico Ablio Barreto, 2003.
___. MHAB: 60 anos de histria. (Caderno 2). Belo Horizonte: Museu Histrico Ablio Barreto, 2003.
PERICHI, Ciro Carabalo. O que a museografa? In: ARNAUT, Jurema Kopke Eis, ALMEIDA, Ccero Antnio Fonseca de (orgs.). Museografa: A
linguagem dos museus a servio da sociedade e de seu patrimnio cultural. Rio de Janeiro: IPHAN/OEA, 1995.
PIMENTEL, Thas Velloso Cougo (Org.). Reinventando o MHAB: O museu e o seu novo lugar na cidade: 1993-2003. Belo Horizonte: Museu
Histrico Ablio Barreto, 2004.
___ (org.). Pampulha mltipla: Uma regio da cidade na leitura do Museu Histrico Ablio Barreto. Belo Horizonte: Museu Histrico Ablio
Barreto, 2007.
POMIAN, Kryztof. Coleo. In ROMANO, Ruggiero (dir.). Enciclopdia Einaudi (Vol. 1. Memria-Histria). Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da
Moeda, 1a ed. 1983. p. 51-86.
POULOT, Dominique. Museu, nao, acervo. In: BITTENCOURT, Jos Neves; BENCHITRIT, Sarah Fassa; TOSTES, Vera Lcia Bottrel. Histria repre-
sentada: O dilema dos museus. Rio de Janeiro: Museu Histrico Nacional, 2003.
RIPLEY, Dilon. The sacred grove: Essays on museums. Washington: Smithsonian Institution Press, 1978.
SERRELL, Beverly. Paying attention: Visitors and museum exhibitions. Washington DC: American Association of Museums, 1998.
1
4
5
|
M
o
n
o
g
r
a
f
a
s
t
r
i
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
i
s
:
a
e
x
p
e
r
i
n
c
i
a
c
u
r
a
t
o
r
i
a
l
n
a
s
e
x
p
o
s
i
e
s
d
e
m
d
i
a
e
c
u
r
t
a
d
u
r
a
o
d
o
M
u
s
e
u
H
i
s
t
r
i
c
o
A
b
l
i
o
B
a
r
r
e
t
o
UMA EXPERINCIA SEMPRE EM PROCESSO
A curadoria de acervos documentais
Clia Regina Araujo Alves
Nila Rodrigues Barbosa
As questes que discutimos nesse texto tm origem nas atividades prticas de avaliao, organizao e trata-
mento tcnico das informaes de acervos formados por documentos cujo suporte o papel, observando, tam-
bm, a conservao fsica dos mesmos. Esse trabalho vem sendo desenvolvido no mbito do Museu Histrico
Ablio Barreto, MHAB, unidade integrante da Fundao Municipal da Cultura da Prefeitura de Belo Horizonte,
instituio na qual temos exercido a curadoria dessas fontes primrias. , antes de tudo, uma oportunidade
para que possamos refetir sobre a prtica profssional de organizao de acervos pblicos e privados, em
espao museal, contribuindo para a sistematizao da memria do belo-horizontino, bem como da memria
social do prprio documento.
A metodologia utilizada no MHAB para a curadoria de documentos textuais e iconogrfcos envolve o proces-
samento tcnico das colees que se traduz, no mnimo, em trs aspectos bsicos: compreender o processo
de formao da coleo em si; retirar as informaes das unidades documentais e gerar a documentao
museolgica.
A curadoria no somente o processamento tcnico dos acervos documentais, mas uma atividade que pos-
sibilita um dilogo interdisciplinar entre a Histria que, desde a revista Annales dhistoire conomique et
sociale (1929), instalou a ampliao da noo de documento, o que tem permitido uma seleo inusitada
de documentao no MHAB, haja vista a valorizao de fontes que exprimem tudo o que, pertencendo ao
homem, depende do homem, serve o homem, exprime o homem, demonstra a presena, a atividade, os gostos
e as maneiras de ser do homem
1
e a Arquivologia que fornece o referencial terico-metodolgico para a
organizao dos conjuntos documentais e o tratamento das informaes neles contidos.
A presena de documento nas vrias modalidades de papel comum aos museus, muito embora no repre-
sente a maioria dos acervos constitudos por objetos bidimensionais e tridimensionais. Durante longo perodo
foram entendidos como manuscritos, papis oriundos de instituies pblicas, ou papis pessoais de indivdu-
os com relevncia social. Os arquivos pessoais ou manuscritos privados tiveram difculdades de recolhimento
por parte dos arquivos pblicos voltados para uma documentao de cunho administrativo e, por isso, foram
aceitos em bibliotecas ou mostraram-se signifcativos aos olhos de organizadores de museus. Em geral, eram
valorizados como documentos antigos, cuja caracterstica fundamental seria portar a autenticidade e, por
isso, defnitivamente separados para preservao, tacitamente julgados dignos de serem conservados por seu
criador ou legtimo sucessor como testemunhos escritos de suas atividades no passado
2
, o que garantiria a
comprovao de um determinado passado, selecionado para fgurar em instituies museais. A autenticidade
era atribuda, sobretudo, aos documentos originais, provenientes do mundo ofcial.
1
LE GOFF, Jacques. Histria e memria. Campinas: UNICAMP, 1992, p. 540.
2
Para maior detalhamento sobre as propriedades dos documentos contemporneos (autenticidade, imparcialidade, naturalidade, inter-relacio-
namento e unicidade), cf.: DURANTI, Luciana. Registros documentais contemporneos como prova de ao. Estudos Histricos, (v. 7, n. 13, 1994,
p.46-64). Rio de Janeiro: Ed. FGV, 1994.
1
4
7
|
U
m
a
e
x
p
e
r
i
n
c
i
a
s
e
m
p
r
e
e
m
p
r
o
c
e
s
s
o
.
A
c
u
r
a
d
o
r
i
a
d
e
a
c
e
r
v
o
s
d
o
c
u
m
e
n
t
a
i
s
A partir do sculo XIX, alguns museus brasileiros foram organizados em uma perspectiva etnogrfca e enciclo-
pdica
3
, como o Museu Nacional, o Museu Paulista e o Museu Paraense Emlio Goeldi. Em fase mais madura,
na ltima dcada do mesmo sculo, esses museus destacaram-se pela presena de profssionais no tratamento
de suas colees. Na primeira metade do sculo XX, houve expanso dos museus histricos. As elites polticas
perceberam a importncia desses museus para a elaborao de um passado homogneo, no qual as elites
brancas e aristocrticas tiveram um papel de destaque
4
. Nesses museus, os documentos em papel foram co-
lecionados junto a outros acervos museais e designados como relquias do passado e antigidades.
Em 1922, o paradigma de histrico foi traado com a criao do Museu Histrico Nacional. A categoria tradio
passou a ser o contraponto necessrio ao conceito de moderno, proposto pelos intelectuais do movimento
modernista. Da em diante, o passado do pas passou a ser pensado como uma possibilidade de patrimnio
histrico e artstico, entendido sob o prisma da identidade nacional. Esse ideal marcou a poltica do Estado, por
meio do SPHAN, criado em 1937. Dessa forma, a concepo museolgica etnogrfca do sculo XIX, ancorada
em uma orientao enciclopdica, exaltadora das vrias riquezas de uma nao ou de determinado Estado
nacional, foi superada pela criao das tradies e pela exaltao moral e patritica do passado.
No mbito de Minas Gerais, essas observaes podem ser constatadas nos artigos da Lei n 528 de 20 de set-
embro de 1910, que organizava o Museu Mineiro
5
. Inicialmente, estavam previstas sees contendo tipologias
diversas de acervo fundamentadas na histria natural, na etnografa e nas antigidades histricas, em uma
perspectiva enciclopdica. Na tentativa de se efetivar tal dispositivo legal e j passados dezessete anos de sua
decretao, Gustavo Penna, na sesso do dia 27 de novembro de 1927 do Instituto Histrico e Geogrfco de
Minas Gerais, enfatizou a necessidade de um museu em Minas Gerais de carter histrico, para guardar as
relquias histricas do passado. Essa proposta no se efetivou, ainda, naqueles anos.
Outra iniciativa de preservao histrica se deu com a criao do Museu Histrico de Belo Horizonte, por meio
do decreto n 91, de 20 em maio de 1941, com a instalao da Seo de Histria da Cidade, ligada, naquela
poca, ao Arquivo da Prefeitura de Belo Horizonte.
Nos museus histricos, os manuscritos eram entendidos como antigidades, portadoras do valor de poca:
um valor atribudo aos signos visveis de era e decadncia
6
. Ao apresentar essas qualidades, a documentao
tambm expressava a autenticidade. Sobre esse atributo recaa a concepo da raridade, difcil de ser encon-
trado, o que demandava enorme pacincia por parte dos organizadores dos museus ou dos pesquisadores para
defront-la e comprov-la. O valor da antigidade estava em sua ancianidade, posta nas perdas materiais e
3
Sobre os museus etnogrfcos ver: SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetculo das raas: Cientistas, instituies e questo racial no Brasil, 1870-1930.
So Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 67-98.
4
BITTENCOURT, Jos Neves. Sobre uma poltica de aquisio para o futuro. Cadernos Museolgicos., (n. 3, 1990). Rio de Janeiro: Fundao Nacional
pr-Memria - Instituto Brasileiro do Patrimnio Cultural, 1990. p. 31.
5
JULIO, Letcia. Colecionismo mineiro. Belo Horizonte: Secretaria de Estado da Cultura - Superintendncia de Museus, 2002. p. 19- 39.
6
RIEGL apud BANN, Stephen. As invenes da histria: Ensaios sobre a representao do passado. So Paulo: Editora da Universidade Estadual
Paulista, 1994,
p. 157-159.
1
4
8
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
na decomposio da forma e na mudana da cor, tanto do papel como da tinta, embora aceitas como algo
natural. Ou seja, a efccia esttica da antigidade trazia em seus traos a sensao do tempo transcorrido e
podia ser entendida tanto pelos especialistas, como pelos leigos que imediatamente a associavam ao passado.
Mas essas antigidades, acervos de museus, destacavam-se pelo valor testemunhal: fonte histrica autntica
e, por isso, verdadeira. Eram testemunhos que valorizavam os feitos das elites polticas, importantes para uma
nica verso ofcial da histria a ser contada pelos museus.
A manuteno dos documentos escritos nos museus histricos era fundamental para a metodologia cientfca,
verso historiogrfca do sculo XIX, que vigorou no Brasil at o sculo passado. Ela valorizava a documenta-
o escrita de cunho ofcial, base para o estudo da histria. Acreditava-se que a verdade do passado estaria
nos prprios documentos. Uma vez encontrados em instituies como os arquivos e museus era possvel re-
constituir o passado. Aceitava-se, dessa forma, que a histria permitia conhecimento objetivo, constitudo por
meio de provas localizadas nos documentos manuscritos, portadores de dados naturais e verdadeiros.
Atualmente, entendemos que os acervos documentais so, antes de tudo, artefatos de registros, pessoais ou
pblicos, sempre derivados de uma atividade. Terry Cook
7
chama ateno para a dualidade que se criou entre
acervos pblicos como acumulaes naturais e necessrias, orgnicas, arbitrrias, inocentes e transparentes,
versus os acervos pessoais, artifciais, arbitrrios, parciais. Esse autor no s critica a diferena muitas vezes
aplicada para o tratamento desses acervos, como enfatiza que tal diviso falsa: ambos acervos nunca foram
completamente verdadeiros. So produtos de seu prprio tempo e necessrio entend-los no contexto em
que foram criados. Da a necessidade de se analisarem os processos da criao documental, uma das atividades
da curadoria, para se entender as propriedades de evidncia confvel que possuem os documentos.
Entendemos, ainda com Cook, que, ao lidar com o arranjo dos documentos, o curador insere os seus sentidos
de valor, dados por sua formao e fliao terica. O documentalista neutro, objetivo e passivo sucumbiu
aos novos conhecimentos elaborados pela histria junto ao carter da memria, o que exige ao oposta
idia tradicional de iseno, na avaliao, organizao e descrio documental
8
.
Em nossa anlise, um dos entendimentos possveis sobre a curadoria de acervos documentais fundamenta-se
justamente na possibilidade de pesquisa para que se compreenda o processo de criao dos documentos e, da,
organiz-los fsicamente e deles extrair dados informacionais. Em outras palavras, do texto registrado em seu
suporte, um artefato de registro com suas caractersticas, ao contexto de sua produo, fundamentado nos
atos e nas aes relacionados ao mundo ofcial, como tambm, ao cotidiano de todos os sujeitos da sociedade.
Dessa forma, o museu no visto como uma simples reunio de objetos ou de papis, transformados em ob-
jetos museolgicos, retirados de sua funo original, isolados e descontextualizados. Nos museus, os artefatos
colecionados, fragmentos da cultura material, permitem a indagao e o estudo do passado, desde que haja
7
COOK, Terry. Arquivos pessoais e arquivos institucionais: para um entendimento arquivstico comum da formao da memria em um mundo ps-
moderno. Estudos Histricos. Rio de Janeiro, v. 11, n. 21, 1998. p. 129-149.
8
Ibidem. p. 132.
1
4
9
|
U
m
a
e
x
p
e
r
i
n
c
i
a
s
e
m
p
r
e
e
m
p
r
o
c
e
s
s
o
.
A
c
u
r
a
d
o
r
i
a
d
e
a
c
e
r
v
o
s
d
o
c
u
m
e
n
t
a
i
s
uma organizao de seus conjuntos. As colees so formadas pela procedncia, categoria ou funo do ob-
jeto. No MHAB, os acervos documentais so organizados pela procedncia e no somente pelo seu suporte.
De acordo com Bittencourt, os museus no devem somente expor os objetos, funo em geral associada a
tais instituies, mas criar mtodos e mecanismos que permitam o levantamento e acesso s informaes das
quais os objetos so suportes
9
. necessrio que os museus organizem as informaes que possuem sobre os
objetos e conjuntos documentais. A curadoria de acervos documentais requer uma seleo compatvel com a
noo ampliada de documento, uma organizao e um tratamento das informaes afxadas nesses suportes
documentais. As caractersticas dos registros documentais revelam o cotidiano e o dispositivo de hierarquiza-
o social inscritos nas unidades documentais.
Uma vez tratadas as informaes, o acesso, por meio de consulta a instrumentos de pesquisa e de catlogos
disponibilizados em formato manual ou virtual, possibilita obter as informaes sobre a coleo. A pesquisa
poder ser realizada pelos tcnicos das instituies e pelos consulentes externos. No MHAB, os acervos docu-
mentais so tratados por meio de arranjo em sries que recuperam as tipologias ou as funes exercidas por
instituies ou pessoas.
O MUSEU HISTRICO DE BELO HORIZONTE,
O MUSEU HISTRICO ABLIO BARRETO E A NOVA GESTO DOS ANOS 90
Ablio Barreto havia completado, em 1928, a redao de uma histria da nova capital, que intitulou Belo
Horizonte: memria histrica e descritiva: Histria Antiga. Ao organizar e dirigir o Museu Histrico de Belo
Horizonte (MHBH), entre 1941 e 1946, passou a selecionar, alm dos objetos oriundos das elites belo-horizon-
tinas e mineiras, os documentos escritos e produzidos por autoridades, para que esse acervo servisse de tes-
temunho da histria contada por aquele Museu. A exposio inaugural, implantada no casaro da Fazenda do
Leito, sede do MHBH, explicitava, em uma verso cronolgica e em uma viso teleolgica, a erradicao do
rstico arraial do Curral del Rei dos tempos coloniais, construo da nova capital de Minas Gerais, marca
da modernidade e sinnimo do progresso contemporneo, erguida em espao urbano, planejado e construdo
de forma cientfca. A exposio inaugural tinha como prioridade instruir o cidado para valores cvicos, do
progresso e da civilizao, interesse que se traduzia, tambm, nas visitas realizadas pelos estabelecimentos
de ensino
10
.
Em 18 de fevereiro de 1943, na administrao do ento prefeito Juscelino Kubitscheck, foi inaugurado o
MHBH. Uma parte de seu acervo foi constituda por objetos transferidos da Prefeitura para o museu. A esse
ncleo inicial, formado por itens de tipologias, suportes e contedos diferenciados, acresceu-se uma gama
variada de doaes de terceiros e aquisies feitas pela prpria instituio, graas ao trabalho de pesquisa
9
BITTENCOURT. Op. cit. n. 4, p.30.
10
Sobre a organizao do Museu, ver: CNDIDO, Inez. MHAB: 60 anos de histria. Belo Horizonte: Museu Histrico Ablio Barreto, 2003, p. 9-30.
1
5
0
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
realizado por funcionrios do Museu. Esses, alm de visitarem as reparties administrativas do Estado, pro-
curavam conhecer as colees particulares de terceiros, com possibilidade de doao.
Ablio Barreto adquiriu, durante os anos em que esteve como organizador do Museu, uma srie de objetos
e documentos para os quais foi dada uma ordenao temtica e cronolgica. Assim, o acervo da instituio
conformou as sees referentes ao antigo Arraial do Curral del Rei, ao Arraial de Belo Horizonte, Comisso
Construtora da Nova Capital, Cidade de Belo Horizonte. Essa diviso constitua o prprio percurso da ex-
posio inicial, formada por todos os objetos selecionados.
Todavia, essa ordenao inicial do acervo no foi preservada em sua integridade. Pode-se perceber que, nas
subseqentes administraes, a disposio das sees que conformavam as colees foi sendo, gradualmente,
desfeita. Ainda assim, possvel afrmar que a obra, iniciada por Ablio Barreto, marcou signifcativamente a
trajetria do Museu. A forma de registrar, inventariar e descrever o acervo permaneceu sendo feita segundo
as concepes de histria, memria e patrimnio que orientavam o seu fundador. A fgura marcante de Ablio
Barreto, na conformao do MHBH e na escrita da histria da cidade, foi decisiva para a criao da Lei 1391
de 1 de agosto de 1967 que alterou o nome do MHBH, para Museu Histrico Ablio Barreto, em homenagem
ao seu organizador.
Em 1993, o MHAB assumido por uma nova gesto preocupada em revitaliz-lo e dinamiz-lo como um novo
espao cultural para a cidade. Tratava-se de imprimir ao Museu uma concepo museolgica contempornea
que enfatizasse seu papel como meio de informao, pesquisa, educao;em suma, portador de uma ao
cultural em dilogo com a cidade. Conforme salienta Thas Pimentel...
De um lugar que sacralizava uma nica memria da cidade, o Museu passaria a ser visto como um desafo:
precisava urgentemente ser transformado em referncias para todos, o que signifca que seu objeto a
memria da cidade teria que ser buscado na multiplicidade das experincias dos cidados.
(...) O Museu passaria a ser visto como uma instituio sintonizada com uma multiplicidade de abordagens
e interpretaes. Isso numa perspectiva onde tanto o objeto do trabalho da Instituio a memria como
a forma de difuso desse trabalho a exposio deveriam ser revistos em seus conceitos, de modo que o
Museu pudesse representar no uma, mas vrias memrias contidas na experincia da cidade
11
.
A iniciativa de revitalizao do Museu partia de um conceito da histria e da memria para alm das aes
fundadoras e celebrativas de cunho ofcial. Um entendimento da histria, como interpretao e explicitao
de confitos e do patrimnio em suas dimenses de materialidade e de sociabilidade, permitindo relaes entre
o sujeito do presente e as interpretaes sobre os elementos patrimoniais da cidade. Pretendia-se estabelecer
um dilogo com a populao de Belo Horizonte que permitisse ao Museu se constituir como museu de cidade,
com um signifcado amplo e com a representao de identidades das pessoas que habitam o espao da capital
11
Sobre o processo de revitalizao do MHAB, ver Crnica da revitalizao de um museu pblico. IN: Reinventando o MHAB: o museu e seu novo
lugar na cidade: 1993-2003 (Org). Belo Horizonte: Museu Histrico Ablio Barreto, 2004, p. 13-33.
1
5
1
|
U
m
a
e
x
p
e
r
i
n
c
i
a
s
e
m
p
r
e
e
m
p
r
o
c
e
s
s
o
.
A
c
u
r
a
d
o
r
i
a
d
e
a
c
e
r
v
o
s
d
o
c
u
m
e
n
t
a
i
s
mineira. Essa nova compreenso possibilita ao MHAB a entrada de novos acervos provenientes de segmentos
sociais amplos. Um dilogo entre museu e cidade que se faz tambm, mediante o processamento tcnico,
entendido como um dos aspectos da curadoria.
A curadoria desses acervos consiste na anlise do conjunto documental e de cada uma de suas unidades e na
elaborao de uma documentao que contm as informaes fornecidas pelo estudo anterior sobre os docu-
mentos do conjunto. preciso que se considere, nessa curadoria, a infuncia de vertentes historiogrfcas s
quais estejam ligadas a instituio e o responsvel tcnico, em sintonia com os procedimentos de organizao
documental. Enfatizamos que na atualidade o museu no um mero conservador de objetos, na medida em
que dialoga com doadores, pesquisadores e, principalmente, com os titulares que acumularam a documenta-
o. Busca-se compreender as escolhas que esses ltimos realizaram e que so, muitas vezes, instigantes, ora
incmodas para aqueles que, no presente, reorganizam e reinterpretam o acervo de documentos.
A curadoria de acervos documentais em museus histricos, um trabalho constante com objetos vivos, uma
anlise constante de papis. Essa atividade gera arranjos seriais e instrumentos de pesquisa. Esses expem,
em uma descrio objetiva, dados informativos que auxiliam o pesquisador a selecionar os documentos que se
abriro s inmeras leituras interpretativas e nas narrativas histricas.
Quando se trata de organizar um conjunto documental lidamos com a pergunta inicial: arquivo ou coleo?
Para o tratamento das unidades documentais, orientamo-nos por alguns conceitos arquivsticos, de acordo
com o Dicionrio de Terminologia Arquivstica
12
. Entendemos por arquivos toda documentao que possui uma
relao orgnica entre si, produzida, acumulada e utilizada por um indivduo, famlia ou instituio no decurso
de suas funes. As colees so compreendidas como uma formao progressiva, uma reunio no orgnica
de documentos, mas que apresentam alguma caracterstica comum. Percebemos que a procedncia sustenta a
organizao dos acervos documentais. Em outras palavras, a sua provenincia deve ser mantida. Dessa forma,
a primeira constatao observamos se os documentos so originrios de uma instituio ou de uma pessoa
fsica. Os conjuntos documentais no so misturados a outros de origens diversas.
As informaes contidas nas unidades documentais so tratadas mediante a leitura individual dos docu-
mentos. O registro feito em fchas elaboradas com campos especfcos que distinguem alguns dados sobre
os documentos textuais e outros relativos aos documentos iconogrfcos. Dessa forma, para os documentos
textuais consideram-se, entre outros, os campos: tipo de documento, autoria, data, contedo e, no caso da
correspondncia, o destinatrio. Em se tratando da documentao de cunho iconogrfco, como projetos
tcnicos, arquitetnicos e mapas, a leitura passa pela autoria, data, escala, dimenso, tcnica de elaborao e
outros. O campo de notas explicita a bibliografa consultada para o entendimento do contedo a ser descrito.
H, ainda, campos para a notao: o nmero do documento na seriao, bem como o local em que se encontra
o documento nas caixas guardadas nas reservas tcnicas.
12
CAMARGO, Ana Maria de Almeida. BELLOTTO, Helosa Liberalli. (Coord.) Dicionrio de Terminologia Arquivstica. So Paulo. Associao dos Arquivis-
tas do Brasil Ncleo regional de So Paulo. Secretaria de Estado da Cultura Departamento de Museus e Arquivos. 1996.
1
5
2
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
Como exemplo da prtica exercida no tratamento dos acervos documentais, textuais e iconogrfcos, com
base em uma ao de curadoria, passaremos a analisar dois conjuntos documentais: a Coleo Comisso
Construtora e o Arquivo Privado Ablio Barreto, acervos do MHAB. Mencionamos que, embora o Fundo MHAB,
formado por documentos permanentes, no faa parte da discusso tratada nesse texto, mantido na prpria
instituio. Possui arranjo documental que abriga documentos produzidos a partir de 1941.
O TRATAMENTO DE UM ACERVO: A COLEO COMISSO CONSTRUTORA
13
A Comisso Construtora da Nova Capital, CCNC foi criada em 1893 pelo Art. 2
o
da Lei N
o
3, adicional Con-
stituio do Estado de 17 de dezembro do mesmo ano. rgo vinculado administrao estadual, a Comisso
Construtora gozava de autonomia para construir a capital, entre 1894 a 1897.
A Coleo Comisso Construtora foi organizada com base em um tratamento no qual se privilegiou a pro-
cedncia desse conjunto documental, o que signifcou no mistur-lo a outros papis em respeito a sua
provenincia. Os documentos foram arranjados em sries e a essas se incorporaram os tipos documentais
levantados nesse mesmo conjunto. A denominao Coleo Comisso Construtora, apresentou-se como a
mais apropriada, uma vez que o MHAB possua apenas uma pequena parcela (1.174 itens) dos documentos
produzidos por aquela Comisso e selecionados, na maior parte, por Ablio Barreto e alguns doados por ter-
ceiros, ainda na formao original do acervo do MHBH.
No MHAB, at 1993, o acervo documental da Comisso Construtora
14
apresentava-se misturado a diversos
documentos, sobretudo documentao iconogrfca (cartogrfca e projetos arquitetnicos), e confundia-se
com papis de procedncias diversas. Eram guardadas em uma mapoteca de ao bastante danifcada, com
presena de ferrugem e vedao comprometida.
A maior parte dos documentos da CCNC composta por papis administrativos, os documentos textuais. Out-
ra parcela, as cadernetas de campo contm as anotaes e estudos sobre a demarcao de terras. Em nmero
muito expressivo, aproximadamente de 750 cadernetas, estavam em vrias caixas de papelo, sem condies
de manuseio. O restante da documentao textual era formado pela correspondncia de algumas Divises da
CCNC, encadernada em 8oito volumes: os cdices da Comisso Construtora, como eram chamados, em uma
compilao artifcial. Essa encadernao foi realizada em uma das administraes posteriores a Ablio Bar-
reto, visando agrupar e preservar os documentos. Entretanto, no havia uma seqncia lgica e sequer uma
ordem cronolgica. Sua conservao estava comprometida devida presena de cola inadequada, dobraduras,
13
Parte da refexo sobre a Coleo Comisso Construtora foi apresentada, em forma de comunicao, no XI Congresso Brasileiro de Arquivologia/
Rio de Janeiro, entre 21 a 25 de outubro de 1996, com o ttulo Arranjo e Descrio dos Documentos da Comisso Construtora da Nova Capital, por
Clia Regina Araujo Alves e Silvana Gomes Resende.
14
Na cidade de Belo Horizonte, os documentos da CCNC esto localizados em trs instituies: Arquivo Pblico Mineiro, Arquivo Pblico da Cidade
de Belo Horizonte e Museu Histrico Ablio Barreto. Atualmente, graas a um projeto fnanciado pela FAPEMIG, essa disperso foi superada por um
acesso digital que possibilita acessar encontrar todos os documentos em qualquer uma dessas instituies. Portanto, possvel recuperar na ntegra
esse importante conjunto documental.
1
5
3
|
U
m
a
e
x
p
e
r
i
n
c
i
a
s
e
m
p
r
e
e
m
p
r
o
c
e
s
s
o
.
A
c
u
r
a
d
o
r
i
a
d
e
a
c
e
r
v
o
s
d
o
c
u
m
e
n
t
a
i
s
sujidades e rasgos. Aps algumas consultas tcnicas com profssionais ligados rea de conservao de papel,
foi proposta uma operao de desmonte para os volumes encadernados.
Paralelo a esses trabalhos de reconhecimento da documentao, iniciou-se uma pesquisa sobre a estrutura
organizacional da Comisso Construtora. O engenheiro Aaro Reis, que chefou inicialmente a Comisso,
organizou-a em seis Divises
15
. Mais tarde, em 1895, quando a chefa da Comisso foi assumida por Francisco
Bicalho, sua estrutura foi modifcada e reorganizada em dez Divises. Algumas funes que estariam a cargo,
em especial, da 6 Diviso foram desmembradas em outras, alm de terem sido criados os Servios Municipais,
estabelecidos na 3 Diviso
16
.
As Instrues Regulamentares para o Funcionamento das Divises da CCNC, documento descrito no livro de
Barreto
17
, foram elaboradas por Aaro Reis e postas em vigor em 8 de outubro de 1894. No nos foi possvel
localizar outra que a tenha substitudo, na ocasio em que Francisco Bicalho assumiu a chefa da CCNC. As
Instrues se subdividiam em outras relativas a cada uma das Divises. As Instrues Regulamentares demon-
stram, ainda, a ateno especial dada pela Comisso Construtora execuo da documentao, o seu trmite
e a organizao de seus arquivos
18
.
Organizar essa documentao passou a ser um desafo devido preocupao da CCNC em preservar para o fu-
turo, em detalhes, as suas atividades, como registro ofcial da construo da cidade. No pretendamos evidenciar
na organizao apenas os caracteres externos, classifcando somente quanto classe textual ou grfca, suporte,
formato e forma. Nem to pouco seria possvel recuperar a organizao inicial, pois se tratava de uma pequena
parcela daqueles papis produzidos pela CCNC. Assim sendo, um arranjo para os documentos da Comisso Con-
strutora com base na tipologia documental apresentava-se como a melhor forma de organizao.
15
1
a
Diviso: Administrao Central; 2
a
Diviso: Contabilidade; 3
a
Diviso: Escritrio Tcnico; 4
a
Diviso: Estudo e Preparo do Solo; 5
a
Diviso: Estudo
e Preparo do Subsolo; 6
a
Diviso: Estudo e Preparo da Viao, das Edifcaes, das Instalaes Eltricas e mais Trabalhos Acessrios.
16
1 Diviso: Administrao Geral; 2 Diviso: Contabilidade; 3 Diviso: Servios Municipais; 4 Diviso: Escritrio Tcnico; 5 Diviso: Viao Frrea
e Eletricidade; 6 Diviso: Arruamento, Calamentos, Parques e Jardins; 7 Diviso: Edifcaes Pblicas; 8 Diviso: Abastecimento de gua; 9 Divi-
so: Esgotos; 10 Diviso: Edifcaes Municipais, Casas para Funcionrios e Empregados.
17
BARRETO, Ablio. Belo Horizonte: memria histrica e descritiva: Histria Antiga. Belo Horizonte: Fundao Joo Pinheiro - Centro de Estudos
Histricos e Culturais, 1995, 122-163.
18
Nos diversos Captulos das Instrues Regulamentares para a Execuo dos Servios a cargo desde 1 6 Divises v-se a meno quanto
organizao de arquivos nos vrios segmentos da CCNC. Nas Instrues da 1 Diviso, Captulo III, Da Secretaria, enfatizava-se que essa teria a
responsabilidade de todo o trmite documental interno e externo, bem como fcou expressado no seu Artigo 8, a presena do arquivo geral dos
papis. O Artigo 16 do mesmo Captulo afrmava que o arquivo ser organizado em colees correspondentes s diversas divises por que se acham
distribudos os servios da Comisso, tendo alm dessas, uma para os papis diversos, e mais uma destinada guarda dos documentos.
Nas Instrues da 2 Diviso, em seu Captulo VI, Disposies Gerais, o Artigo 37 determinava que o arquivamento dos papis ser feito por colees
mensais ou anuais, distintas, consoante a natureza daqueles, em ordem de datas, recebendo cada um, no dorso, um nmero de ordem igual ao que
tiver recebido na respectiva coluna do protocolo de entrada e o assunto abreviado em uma ou mui poucas palavras.
Nas Instrues referentes s 3, 4, 5 e 6 Divises elaboradas em conjunto para essas Divises, fcou determinado no Captulo I, Atribuies Gerais
das Divises, no Artigo 11 que a 3 Diviso teria um arquivo tcnico encarregado da guarda dos originais. O Captulo IV, Atribuies Especiais dos
Funcionrios de Cada Diviso, em seu Artigo 33, determinava que aos escriturrios das divises competir, pargrafo 2: o arquivo metdico
da correspondncia. Nesse mesmo Captulo, o Artigo 39 impunha que ao arquivista tcnico competir: 1) organizar o arquivo metodicamente,
registrando em protocolo especial todos os papis que receber, de modo que se tornem fceis as pesquisas; 2) manter o arquivo sempre na melhor
ordem, no deixando sair nenhum documento sem o competente recibo e ordem superior; 3) requisitar do primeiro engenheiro as providncias
que forem mister para a regularidade do servio a seu cargo; 4) apresentar ao primeiro engenheiro relatrios mensais, trimestrais e anuais de
movimento e estado do arquivo.
1
5
4
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
Partiu-se, portanto, do entendimento de que a tipologia documental capta a espcie de documento (sua forma
e sua fnalidade) e a funo que o gerou. Os estudos dos distintos tipos documentais, a anlise de suas carac-
tersticas permite (...) dar informao sobre a origem, contedo, importncia quantitativa e qualitativa dos
fundos
19
. Por meio da organizao, com base na tipologia documental, foi possvel recuperar as duas reas
bsicas da Comisso Construtora: administrativa e tcnica.
O arranjo contemplou duas sries: documentos administrativos e documentos tcnicos. A organizao dos
documentos nas sries se deu pela da tipologia dos documentos, em ordem cronolgica. Foram levantados
alguns tipos documentais produzidos pela CCNC
20
.
Finalmente, salientamos que o acondicionamento dos documentos considerou os seus gneros documentais,
iconogrfco ou textual, e suas dimenses. Os documentos da Coleo Comisso foram higienizados, alguns
restaurados e acondicionados de acordo com normas tcnicas de conservao desses suportes.
UMA COLEO ESPECIAL: O ARQUIVO PRIVADO ABLIO BARRETO
O acervo particular de Ablio Barreto seguiu um percurso especfco, foi doado por familiares ao Arquivo
Pblico da Cidade de Belo Horizonte, APCBH e depois transferido para o MHAB, em 25 de janeiro de 1995.
Trata-se de um conjunto de documentos com 12.644 itens, formado, em grande parte, pelos manuscritos de
Barreto: textos sobre a histria de Belo Horizonte, conferncias, discursos, inmeras pesquisas e anotaes
sobre a cidade. Alm desses papis, em seu acervo existem fotografas, correspondncia, vrios recortes de
jornais com assuntos relacionados a Belo Horizonte e s suas publicaes, uma pequena parcela de sua bib-
lioteca e uma coleo de jornais encadernados.
Foi denominado Arquivo Privado Ablio Barreto porque os papis produzidos, utilizados e guardados por Barreto
entre 1910 a 1958, um ano antes de sua morte, apresentavam uma organicidade, evidenciando as estratgias
e as prticas de suas relaes sociais como historiador de Belo Horizonte. Assim, demarcvamos tambm uma
diferena de esferas de produo, privada e pblica. O MHAB congrega um relevante nmero de documentos
produzidos institucionalmente por Ablio Barreto como organizador do Museu Histrico de Belo Horizonte.
Barreto pode ser entendido como um historiador voltado para a histria no sentido da memorabilia: vale
histria enaltecer os grandes feitos do poder poltico. Tambm pode ser lido como um memorialista porque,
se de um lado sua obra se esfora para escrever o passado segundo a historiografa metdica, na qual as
provas documentais so a base da escrita da histria, de outro lado o seu arquivo pessoal guarda no s os
seus escritos sobre aquele passado, como enfatiza as suas memrias como valor de depoimento. Ele procurou
articul-las aos fatos ofciais relacionados construo de Belo Horizonte.
19
BARRETO, Ablio. Belo Horizonte: memria histrica e descritiva: Histria Mdia. Belo Horizonte: Fundao Joo Pinheiro - Centro de Estudos
Histricos e Culturais, 1995, p. 6.
20
Ver ANEXO para consultar a seriao a partir das tipologias documentais da CCNC.
1
5
5
|
U
m
a
e
x
p
e
r
i
n
c
i
a
s
e
m
p
r
e
e
m
p
r
o
c
e
s
s
o
.
A
c
u
r
a
d
o
r
i
a
d
e
a
c
e
r
v
o
s
d
o
c
u
m
e
n
t
a
i
s
De acordo com Maria Auxiliadora Faria, Barreto foi um historiador autodidata preocupado, atravs de sua
escrita, em descrever as caractersticas do antigo arraial e do processo de edifcao da nova capital
21
. Seu ar-
quivo expressa esse interesse. As inmeras anotaes sobre a cidade por meio de um banco de dados temtico
e os textos redigidos, alguns manuscritos e outros datilografados, espelham o compromisso em escrever sobre
o passado de Belo Horizonte articulado ao bandeirantismo paulista, como tambm sobre os fatos que lhe
foram contemporneos: as efemrides. Verifca-se sua inteno em completar a obra que havia escrito Belo
Horizonte: memria histrica e descritiva, Histria Antiga e Histria Mdia.
A historiografa metdica qual Barreto foi adepto oriunda da Europa do sculo XIX. Esse mtodo de escrita
vigorou no Brasil at o sculo passado. De acordo com essa metodologia, a histria deveria se ancorar em uma
comprovada documentao para que a verdade relativa ao passado, demonstrada e exposta nos prprios docu-
mentos, fosse conhecida. Por esse motivo, Barreto colecionava muitos dados sobre o passado por meio de ano-
taes, recortes de jornais e revistas, documentos antigos e fotografas. Mantinha uma atividade memorialstica,
entendida na manuteno da qualidade da memria, no sentido de recordar os grandes feitos polticos. Uma
seleo de documentos com o intuito de promover um registro histrico, privilegiando o poder ofcial.
Por outro lado, o arquivo privado e pessoal de Ablio Barreto encerra uma coleo de si, conceito cunhado
por Renato Janine Ribeiro, no sentido de guardar a melhor recordao de si prprio
22
. Tal atitude signifcou,
no s para Barreto, mas para todos os colecionadores que passaram a arquivar a sua vida, uma seleo e
guarda de documentos, como tambm o esquecimento de alguns papis que no estivessem de acordo com
a identidade a ser preservada. Um reconhecimento de suas vidas expresso no desejo de prestgio vinculado
produo de seus trabalhos.
A curadoria optou por um arranjo documental do Arquivo Privado Ablio Barreto
23
, organizando as sries de
acordo com a acumulao do titular: desde a produo intelectual, passando pelas atividades funcionais do
escritor e pesquisador da histria da cidade. A tipologia do documental espcie aliada sua funo - foi
contemplada na srie Correspondncia. A seriao possibilitou, ainda, a classifcao dos itens nas outras
sries: Documentao Funcional; Documentao Pessoal; Produo Intelectual. Ablio Barreto organizou suas
fotografas, jornais e revistas. Uma parcela de sua biblioteca compe o seu acervo. Essa organizao foi man-
tida. O seu acervo inclui, ainda, alguns itens reunidos por sua famlia aps a sua morte, originando uma srie
complementar post-mortem.
A subsrie Memrias, relativa srie Produo Intelectual, revela suas memrias como valor de depoimento.
Barreto conta como foi a mudana de sua famlia da cidade natal Diamantina, para o Arraial do Bello Horison-
te, antigo Arraial do Curral del Rei, na poca em que este desaparecia nos canteiros de obra da CCNC. Apesar
21
FARIA. Belo Horizonte memria histrica e descritiva: guisa de uma anlise crtica, IN. BARRETO, Ablio. Belo Horizonte: memria histrica e
descritiva: Histria Antiga. Belo Horizonte: Fundao Joo Pinheiro - Centro de Estudos Histricos e Culturais, 1995 p. 27-28.
22
RIBEIRO, Renato Janine. Memrias de si ou... . Estudos Histricos, Rio de Janeiro, v. 11, n. 21, 1998, p. 38.
23
Ver ANEXO para verifcar o Quadro de Arranjo do Arquivo Privado Ablio Barreto.
1
5
6
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
de expor muitas difculdades vivenciadas, deu sua narrativa o cunho de fdedignidade: lembrava com detal-
hes no s de seu passado, como o articulava aos fatos polticos notrios relativos construo da cidade
A srie Correspondncia permite observar o cuidado de Barreto com a produo de suas obras, sobretudo na
poca dos lanamentos. A imprensa de Belo Horizonte noticiava e Barreto recortava e guardava. Em 1928,
quando lanou Belo Horizonte: memria histrica e descritiva colecionou vrios recortes de jornais e revistas.
Ablio Barreto selecionou, tambm, as cartas de agradecimento pelo envio de sua obra a fguras de renomado re-
conhecimento na rea dos estudos histricos e a ilustres personalidades polticas. Aqueles elogiaram a sua obra,
justamente pela pesquisa e comprovao documental. Trocou cerca de onze cartas com Afonso de Taunay, nas
quais procurou confrmar algumas questes sobre o bandeirante Joo Leite da Silva Ortiz. Segundo Ablio Bar-
reto, esse bandeirante teria sido o responsvel pelo incio do povoamento do antigo Arraial do Curral del Rei.
O mesmo procedimento adotou com o lanamento de obras literrias como Lys, Chromos e A Noiva do
tropeiro, lanadas e relanadas entre as dcadas de 1910 a 1940. As cartas e os recortes de jornais e revistas
foram colados em lbuns, compondo um dossi informativo.
O Arquivo Privado Ablio Barreto demonstra um colecionismo voltado para a produo histrica, haja vista o
grande nmero de anotaes sobre o passado, e denota, ainda, uma preocupao em preservar para o futuro
no s o reconhecimento de seu trabalho como historiador, como uma seleo de alguns acontecimentos
contemporneos de ordem ofcial para no serem esquecidos. O passado foi anotado e informaes retiradas
de documentos pesquisados foram transcritas, em um procedimento metdico de valorizao das fontes.
Essas, conforme o seu pensamento proporcionava um conhecimento objetivo: naturalmente, a verdade dos
acontecimentos estaria nos prprios documentos. O cuidado em selecionar e guardar os discursos e palestras
proferidos em diversas instituies proporciona entender uma das atividades do historiador.
CONSIDERAES FINAIS
No MHAB, a curadoria de colees pressupe a anlise da documentao em seu conjunto, para que se
compreendam o processo da formao da coleo e o seu signifcado no mbito do acervo do prprio Museu.
Sabemos que tanto as aes pblicas como as vivncias privadas de sujeitos sociais esto expressas nos pa-
pis e em seus conjuntos documentais. Nas colees so igualmente visveis as condies de sua formao
no decurso do tempo. As aes - pblicas e privadas - devem ser compreendidas no mbito das vertentes
historiogrfcas de Belo Horizonte e na totalidade do acervo do MHAB.
Em termos gerais, curadoria uma prtica que diz respeito a uma forma de lidar com o patrimnio. Est li-
gada atuao cotidiana de instituies que tendem a trabalh-las por meio de um recolhimento constante,
tratamento tcnico e acesso. O curador certamente no ser somente o guardio de colees, mas aquele
1
5
7
|
U
m
a
e
x
p
e
r
i
n
c
i
a
s
e
m
p
r
e
e
m
p
r
o
c
e
s
s
o
.
A
c
u
r
a
d
o
r
i
a
d
e
a
c
e
r
v
o
s
d
o
c
u
m
e
n
t
a
i
s
que mobiliza acervos e aciona o seu contedo para o olhar do espectador (visitante e pesquisador) para uma
nova percepo que pode, inclusive, contrapor-se sua expectativa inicial, quanto ao museu e exposio
daqueles objetos.
Por esses motivos, a curadoria pode promover um fuxo contnuo e dinmico de circulao de conhecimentos.
No caso do MHAB, a curadoria de acervos documentais segue essa lgica e trabalha com a perspectiva de
circulao de novos conhecimentos e novas formas de abordagem de sujeitos da histria da cidade.
Na trajetria do MHAB possvel notarem-se formas diferenciadas de curadoria quanto aos documentos cujo
suporte o papel. Ablio Barreto, organizador do museu, recolhia e processava os documentos que tivessem o
valor de testemunho fdedigno da histria ofcial. Essa abordagem perdurou aps a sua sada, por longo tempo.
A partir de 1993, com o perodo de revitalizao, houve uma ruptura na instituio e passou-se a recolher e
processar tecnicamente acervos, cujos contedos dissessem de outros sujeitos sociais, para alm das person-
alidades polticas e intelectuais.
Atualmente, o recolhimento formalmente efetivado a partir de uma entrevista com o doador, na qual se as
condies de formao da coleo e os dados pessoais do titular so averiguados. Isso permite que a ligao
entre o ambiente social, onde a coleo foi formada, no se dilua no ambiente museal, no qual ser tratada
tecnicamente. Aps esse procedimento, tanto a entrevista como os pareceres tcnicos a respeito dos itens a
serem doados so submetidos Comisso Permanente de Poltica de Acervo. Assim, realiza-se uma curadoria
dos acervos documentais que aborde, pelo menos, parte das caractersticas do ambiente social anterior, em
sintonia com outros atores e colees do MHAB.
A curadoria do acervo documental no fnda com a organizao da documentao e a acessibilidade s in-
formaes. Ela contnua e envolve avaliaes dos processos, permitindo novas perguntas determinadas pela
interpelao dos problemas histricos analisados pela instituio.
Quadro de Arranjo da Coleo Comisso
Construtora
1. Srie Documentos Administrativos:
1.1 Subsrie Abaixo-assinado
1.2 Subsrie Boletim dirio
1.3 Subsrie Carta
1.4 Subsrie Circular
1.5 Subsrie Contrato
1.6 Subsrie Dossis
1.7 Subsrie Listagem
1.8 Subsrie Livro-caixa
1.9.Subsrie Livro de Pedidos ao Almoxarifado
1.10 Subsrie Memorando
1.11 Subsrie Ofcio
1.12 Subsrie Ordem de Pagamento
1.13 Subsrie Ordem de Servio
1.14 Subsrie Petio
1.15 Subsrie Processo
1.16 Subsrie Recibo
1.17 Subsrie Regulamento
1.18 Subsrie Relatrio
1.19 Subsrie Requerimento
1.20 Subsrie Tabela
1.21 Subsrie Termo
2. Srie Documentos Tcnicos:
2.1 Subsrie lbum
2.2 Subsrie Caderneta de Campo
2.3 Subsrie Demonstrativo
2.4 Subsrie Instrues
2.5 Subsrie Listagem
2.6 Subsrie Mapa
2.7 Subsrie Parecer
2.8 Subsrie Projeto
2.9 Subsrie Projeto Arquitetnico
2.10 Subsrie Regulamento
2.11 Subsrie Relatrio
2.12 Subsrie Revista Geral dos Trabalhos
2.13. Subsrie Tabela
Quadro de Arranjo do Arquivo Privado Ablio
Barreto
1) Srie Correspondncia
1.1 Subsrie Correspondncia Expedida
1.2 Subsrie Correspondncia Recebida
2) Srie documento funcionais
2.1 Subsrie Diretor do Arquivo
2.2 Subsrie Organizador do Museu Histrico de
Belo Horizonte
2.3 Subsrie Secretrio da Prefeitura
3) Srie Documentos Pessoais
4) Srie Produo Intelectual
4.1 Subsrie Conferncias, Discursos e Palestras
4.2 Subsrie Dicionrio Temtico
4.3 Subsrie Efemrides
4.4 Subsrie Histria contempornea
4.5 Subsrie Memrias
4.6 Subsrie Memria Histrica e Descritiva
4.7 Subsrie Notas Histricas
4.8 Subsrie Pesquisa Temtica
4.9 Subsrie Resumo Histrico
4.10 Subsrie Textos Literrios
5) Srie Complementar Ps-Mortem
6) Colees Complementares: fotografa, jornais
e livros
1
5
8
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
BARRETO, Ablio. Bello Horizonte: memria histrica e descriptiva: tomo Primeiro. Mdia. Belo Horizonte: Imprensa Ofcial, 1928.
BARRETO, Ablio. Belo Horizonte: memria histrica e descritiva: Histria Antiga. Belo Horizonte: Fundao Joo Pinheiro - Centro de Estudos
Histricos e Culturais, 1995.
BARRETO, Ablio. Belo Horizonte: memria histrica e descritiva: Histria Mdia. Belo Horizonte: Fundao Joo Pinheiro - Centro de Estudos
Histricos e Culturais, 1995.
BANN, Stephen. As invenes da histria: ensaios sobre a representao do passado. So Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista,
1994.
BITTENCOURT, Jos Neves. Sobre uma poltica de aquisio para o futuro. Cadernos Museolgicos. Fundao Nacional pr-Memria - Insti-
tuto Brasileiro do Patrimnio Cultural. Rio de Janeiro, n. 3, 1990.
COOK, Terry. Arquivos pessoais e arquivos institucionais: para um entendimento arquivstico comum da formao da memria em um mundo
ps-moderno. Estudos Histricos. Rio de Janeiro, v. 11, n. 21, 1998.
DURANTI, Luciana. Registros documentais contemporneos como prova de ao. Estudos Histricos, Rio de Janeiro, v. 7, n. 13, 1994.
FARIA, Maria Auxiliadora. Belo Horizonte memria histrica e descritiva: guisa de uma anlise crtica IN: BARRETO, Ablio. Belo Horizonte:
memria histrica e descritiva. Belo Horizonte: Fundao Joo Pinheiro, Centro de Estudos Histricos e Culturais, 1995.
JULIO, Letcia. Colecionismo mineiro. Belo Horizonte: Secretaria de Estado da Cultura - Superintendncia de Museus, 2002.
CAMARGO, Ana Maria de Almeida. BELLOTTO, Helosa Liberalli. (Coord.) Dicionrio de Terminologia Arquivstica. So Paulo: Associao dos
Arquivistas do Brasil Ncleo regional de So Paulo. Secretaria de Estado da Cultura Departamento de Museus e Arquivos. 1996.
CNDIDO, Inez. MHAB: 60 anos de histria. Belo Horizonte: Museu Histrico Ablio Barreto, 2003
Grupo de Archiveros de Madrid. 1990. p. 08
LE GOFF, Jacques. Histria e memria. Campinas: UNICAMP, 1992.
PIMENTEL, Thas Velloso Cougo. Crnica da revitalizao de um museu pblico. IN: Reinventando o MHAB: o museu e seu novo lugar na
cidade: 1993-2003 (Org). Belo Horizonte: Museu Histrico Ablio Barreto, 2004.
RIBEIRO, Renato Janine. Memrias de si ou... . Estudos Histricos, Rio de Janeiro, v. 11, n. 21, 1998.
RODRIGUEZ, Julia Maria. Memria informe 1990. Ayuntamiento de Alcobendas, 1990.
SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetculo das raas: cientistas, instituies e questo racial no Brasil, 1870-1930. So Paulo: Companhia das
Letras, 2000.
1
5
9
|
U
m
a
e
x
p
e
r
i
n
c
i
a
s
e
m
p
r
e
e
m
p
r
o
c
e
s
s
o
.
A
c
u
r
a
d
o
r
i
a
d
e
a
c
e
r
v
o
s
d
o
c
u
m
e
n
t
a
i
s
A CURADORIA DE PROCESSOS
EDUCATIVOS DE AES ESPARSAS
CURADORIA
Magaly Cabral
Aparecida Rangel
ANTECEDENTES
As aes educativas nos museus so consideradas importantes h muitos anos. Ao analisarmos a histria do de-
senvolvimento da instituio museu perceberemos que a preocupao com a educao sempre esteve presente.
Embora, etimologicamente, os termos museu e educao sejam os mesmos, ambos foram se modifcando ao
longo do tempo, assumindo caractersticas compatveis com a poca vigente. Assim, desde a sua origem cls-
sica que remonta Grcia antiga, o Mouseion, templo voltado para o saber flosfco que objetivava inspirar
o pensamento humano permitindo a contemplao e a potencializao da criatividade e da sabedoria para
o campo das artes e das cincias, possua uma preocupao com a educao. O mouseion de Alexandria, no
sculo II a C., pretendia dar conta, por meio da presena dos objetos mais diversos, de um saber enciclopdico.
Em alguns momentos os centros de ensino e os museus pareciam estar envolvidos na mesma questo, ou seja,
educar o povo dando-lhe um pouco de refnamento. Por outro lado, a falta de educao tambm permeou a
problemtica dos museus. Segundo alguns estudiosos, a restrio de visitao aos museus, permitida apenas a
alguns segmentos da sociedade, entre os sculos XVII e XIX, tinha como um dos motivos o pssimo comporta-
mento das pessoas. Em 1773, um jornal em lngua inglesa publica uma nota onde retrata este fato:
Isto para informar o Pblico que, tendo-me cansado da insolncia do Povo comum, a quem benefciei com
visitas ao meu museu, cheguei resoluo de recusar acesso classe baixa, exceto quando seus membros
vierem acompanhados com um bilhete de um Gentleman ou Lady do meu crculo de amizades. E, por meio
deste eu autorizo cada um de meus amigos a fornecer um bilhete a qualquer homem ordeiro para que ele
traga onze pessoas, alm dele prprio e, por cujo comportamento ele seja responsvel, de acordo com as
instrues que ele receber na entrada. Eles no sero admitidos quando Gentleman e Ladies estiverem no
museu. Se eles vierem em momento considerado imprprio para sua entrada, devero voltar em outro dia
1
.
Se entendermos que as aes educativas propostas nas instituies museolgicas visam, em ltima anlise,
potencializar a comunicao com o pblico, podemos perceber na nota acima, guardadas as devidas propor-
es, uma ao educativa em curso. Para Sir Ashton de Alkrington Hall, autor da mesma, cabia a ele oferecer
aos seus visitantes instrues sobre o comportamento adequado naquele recinto.
Muitos pensadores, na Antigidade, percebiam o potencial educativo do museu e sonhavam com espaos difer-
entes daqueles existentes. Exemplo disto o frei dominicano e flsofo Tommaso Campanella que, no sculo
XVII, escreveu a obra A cidade do sol. Nessa cidade fctcia haveria um mouseion, sede do pensamento cientfco,
sem paredes, onde as crianas aprenderiam brincando todas as cincias e artes
2
. Em 1857, John Ruskin, crtico
de arte ingls, apresentou um projeto comisso parlamentar para que se desse uma funo mais educativa ao
museu, sugerindo que os objetos fossem apresentados com uma viso crtica e no apenas expositiva.
1
Citado por SUANO, MARLENE. O que museu. So Paulo: Editora Brasiliense, 1986. p. 27.
2
SUANO, MARLENE. O que museu. So Paulo: Editora Brasiliense, 1986. p. 25.
1
6
1
|
A
c
u
r
a
d
o
r
i
a
d
e
p
r
o
c
e
s
s
o
s
e
d
u
c
a
t
i
v
o
s
d
e
a
e
s
e
s
s
p
a
r
s
a
s
c
u
r
a
d
o
r
i
a
Tanto o Museu Nacional quanto o Museu Histrico Nacional, ambos na cidade do Rio de Janeiro, na d-
cada de 20 do sculo passado, j apresentavam seu interesse pelo desenvolvimento de aes educativas. Em
1926, Roquete Pinto, ento diretor do Museu Nacional, descreveu em sua publicao A Histria Natural dos
Pequeninos sua impresso sobre uma visita escolar instituio:
... andando, olhando, passando... como um fo dgua passa numa lmina de vidro engordurada, uma tristeza
de se ver
3
.
Em 1930, com a criao do Ministrio da Educao e Sade e a atuao de educadores como o acima citado
Roquette Pinto e Ansio Teixeira, houve uma boa contribuio para valorizar o papel educativo dos museus.
Na dcada de 50, dois importantes encontros redimensionaram a relao museu e educao: o I Congresso
Nacional de Museus e o Seminrio Internacional sobre o Papel Pedaggico dos Museus. O primeiro foi rea-
lizado em 1956, na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, sob a regncia de Rodrigo Melo Franco de Andrade.
O segundo encontro, o Seminrio Internacional sobre o Papel Pedaggico do Museu, foi realizado em 1958,
no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, promovido pelo Conselho Internacional de Museus (ICOM), e
coordenado por Georges Henri Rivire, primeiro diretor do ICOM (1946 a 1962). Com a presena de educadores
de, aproximadamente, vinte pases latino-americanos, e especialistas de outras partes do mundo, esse encon-
tro pode ser considerado um marco nos avanos conquistados pela rea da educao em museus. Como em
uma das recomendaes encaminhadas pelos presentes consta a indicao de que o trabalho educativo fosse
confado ao pedagogo do museu, ou ao servio pedaggico e, onde no existisse o pedagogo, que coubesse
ao conservador desempenhar suas funes
Mas foi somente nas duas ltimas dcadas que os responsveis por aes educativas em museus comearam
a apresentar uma maior refexo sobre sua atuao. Nesse perodo, ofcinas, encontros, seminrios e con-
ferncias sobre educao em museus vm sendo realizados e diversos profssionais concluram mestrado e
doutorado na rea, conferindo a esse campo do conhecimento um carter mais cientfco. No podemos pre-
scindir da cincia, nem da tecnologia, com as quais instrumentalizamos melhor nossa luta
4
; no basta que
tenhamos boa vontade, fundamental que tenhamos conhecimento acerca dos nossos objetos de estudo.
assim, portanto, a partir de uma concepo de que a ao educativa em museus requer que seja pensada com
rigor no que tange a perguntas do tipo como? por qu? para quem? que chegamos a essa proposta: pensar
a ao educativa em museus em forma de curadoria.
Mas antes de irmos adiante, necessrio apontar que o papel educacional do museu, qualquer que seja seu
tamanho, localizao ou tipologia, no somente importante, mas sim detentor de uma ampla responsabili-
dade social, pois devemos reconhecer que o museu uma organizao cultural situada numa estrutura con-
traditria e socialmente desigual. E o Setor Educativo de um museu que faz a ponte entre ele e o pblico.
3
Idem, p. 47.
4
FREIRE, Paulo. Educao e Mudana. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. p.22.
1
6
2
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
PROCESSOS EDUCATIVOS
Denise Grinspum, em sua tese de doutorado
5
, prope o conceito de Educao para o Patrimnio, que con-
templa as prticas educacionais de museus de qualquer natureza, e que pode ser entendido como:
formas de mediao que propiciam aos diversos pblicos a possibilidade de interpretar objetos de colees
dos museus, do ambiente natural ou edifcado, atribuindo-lhes os mais diversos sentidos, estimulando-os
a exercer a cidadania e a responsabilidade social de compartilhar, preservar e valorizar patrimnios com
excelncia e igualdade.
Somos constantemente lembrados que a trade - preservao, investigao e comunicao (aqui includa a
ao educativa) - forma o pilar de sustentao do Museu. Nossas aes so desenvolvidas com vistas a preser-
var o bem-cultural, no sentido de retardar o processo natural de sua destruio fsica que, por outro lado,
por meio da investigao, ter sua vida informacional preservada. Essas duas aes so complementadas pelo
processo de comunicao com o pblico, fundamental para que a ao museolgica cumpra sua funo de
valorizao e revitalizao do patrimnio cultural, participando, assim, de uma construo conjunta que nos
leva, enquanto cidados, ao nosso desenvolvimento sociocultural.
So diversas as aes ou prticas educativas que podem ser desenvolvidas num museu, as quais se traduzem
em formas de mediao que possibilitaro a interpretao dos bens culturais. Elas vo desde a tradicional
6
visita orientada, guiada, monitorada, passando por encontros com professores, projetos especfcos a
serem desenvolvidos com escolas, atelis, programas para famlias, ofcinas de frias, salas ou espaos de
descoberta, reas ou mdulos de animao, jogos, publicaes, maletas pedaggicas, exposies itinerantes,
flmes, vdeos, audioguia (audioguide), cd-roms, site etc. As mesmas podem acontecer isoladamente, como
aes, ou estar inseridas em projetos e programas como, por exemplo, programas para portadores de defcin-
cias, programas para incluso sociocultural.
As formas de mediao estaro baseadas no tipo de bem cultural com que se trabalha a abordagem em
um museu de arte diferente num museu de histria, que diferente num museu de cincias e, esto, ainda,
vinculadas s correntes pedaggicas adotadas. Se trabalhamos com a Pedagogia Tradicional, a metodologia
decorrente de sua concepo tem como princpio a transmisso de conhecimentos por meio da aula do edu-
cador de museu. Se trabalhamos, por outro lado, com a Pedagogia Crtica, sabemos que o conhecimento
construdo a partir da ao do sujeito sobre o objeto de conhecimento, interagindo com ele, sendo as trocas
5
GRINSPUM, Denise. Educao para o patrimnio: Museu de arte e escola Responsabilidade compartilhada na formao de pblicos. 2000.
131 p. Tese (Doutorado). Faculdade de Educao, Universidade de So Paulo, So Paulo.
6
Tradicional no sentido de ser, talvez, a mais antiga prtica educacional nos museus ou, de acordo com o educador e pesquisador canadense
Michel Allard, a natureza de uma atividade pedaggica museal. (ALLARD, Michel; LAROUCHE, M.; MEUNIER, A.; THIBODEAU, P. Guide de plani-
fcation et dvaluation des programmes ducatifs: lieux historiques et autres institutions musales. Qubec: Les ditions Logiques, 1998, p. Mas
no no sentido de ser aquele tipo de visita em que o educador apenas informa sobre o acervo, sem dar voz ao visitante.
1
6
3
|
A
c
u
r
a
d
o
r
i
a
d
e
p
r
o
c
e
s
s
o
s
e
d
u
c
a
t
i
v
o
s
d
e
a
e
s
e
s
s
p
a
r
s
a
s
c
u
r
a
d
o
r
i
a
sociais condies necessrias para o desenvolvimento do pensamento. O educador de museu problematiza
o conhecimento, utiliza o dilogo crtico e afrmativo, argumenta em prol de um mundo qualitativamente
melhor para todas as pessoas.
Ao afrmar que as ... formas de mediao que propiciam aos diversos pblicos a possibilidade de interpretar
objetos de colees dos museus, do ambiente natural ou edifcado, atribuindo-lhes os mais diversos senti-
dos..., Grinspum nos aponta que sua proposta no est baseada na Pedagogia Tradicional, na qual, em geral,
se interpreta o bem cultural para o pblico. Devemos oferecer possibilidades de interpretao ao indivduo
em contato com o bem cultural, porque, queiramos ou no, ele interpreta o bem cultural, ou seja, ele constri
signifcados usando uma srie de estratgias interpretativas. Isso porque ele ativo: a partir das suas ha-
bilidades, conhecimento e agenda (seus sistemas de inteligibilidade, suas estratgias interpretativas), constri
signifcado e atribui sentidos ao bem cultural.
A interpretao o processo de construir signifcado, o processo de fazer sentido da experincia, de explicar
o mundo para ns mesmos e para os outros. Contudo, essa construo depende:
de conhecimento prvio
de crenas e valores
de como relacionamos passado/presente
E, por isso, toda interpretao, necessariamente, historicamente situada, uma vez que o signifcado cons-
trudo na e atravs da cultura. Seguindo a mesma linha de raciocnio, o signifcado que construmos est
permeado de valores, podendo ser:
Pessoal relacionado a construes mentais existentes e ao modelo de idias nas quais baseamos nossas
interpretaes de experincia de mundo.
Social infuenciado pelos outros signifcantes (famlia, grupos, amigos) comunidade a que pertence.
Poltico signifcados pessoais e sociais surgem como resultado das chances na vida, experincia social, co-
nhecimento e idias, atitudes e valores.
Alm de compreendermos que o signifcado que construmos pessoal, social e poltico, ns, educadores,
devemos estar cientes de que os efeitos de classe, gnero e etnicidade atravessam esses signifcados. A inter-
pretao , entretanto, um processo contnuo de modifcao, adaptao e extenso que permanece aberto
s possibilidades de mudana. Da, conclumos que o indivduo, em contato com o bem cultural, vai construir
signifcado relevante a partir das oportunidades oferecidas, e no das interpretaes que ns educadores
faamos para ele.
A mediao entre o indivduo e o bem cultural se d por meio de um mecanismo de comunicao que chama-
mos de interpessoal, face a face, direta, que permite a interpretao por meio de experincia compartilhada,
1
6
4
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
modifcao ou desenvolvimento da mensagem luz das respostas no momento e envolve muitos suportes
de comunicao (movimentos corporais, repeties, mmicas, etc). Quando mencionamos a experincia com-
partilhada, estamos nos referindo a uma comunicao diferente, portanto, da forma conhecida como aproxi-
mao por transmisso, em que o educador fala e o indivduo ouve. Falamos de uma comunicao conhecida
como aproximao cultural, uma comunicao compreendida como um processo de diviso, participao e
associao, em que o signifcado adquirido por processos ativos mtuos: todas as partes trabalham juntas
para produzir uma interpretao compartilhada; crenas e valores so compartilhados. No h anlise de
poder nesse modelo, no existe o comportamento de pensar que eu, educador, sei mais do que voc, indivduo,
e, portanto, eu comunico e eu interpreto, e voc, indivduo, ouve e aprende.
Vale a pena lembrar que o indivduo sempre ativo, mesmo quando no o ouvimos ou quando ele no se
expressa. Esse ativo pode se manifestar por meio de atitudes de desinteresse que resultaro em frases nega-
tivas, tais como no entendi, no gostei do museu, evitarei o museu. Na pesquisa piloto realizada, em 2006,
pelo Observatrio de Museus e Centros Culturais, com onze instituies museolgicas do estado do Rio de
Janeiro, foi constatado que a principal fonte de divulgao destes espaos a recomendao de outras pes-
soas, ou como denominados vulgarmente, o boca-a-boca. Assim, quando um visitante tem uma experincia
negativa em relao instituio ele infuenciar todo seu capital de relaes.
Se, como sinaliza Paulo Freire, na palavra que o homem se faz; ento o dilogo o caminho que se impe
para a Educao, para o Patrimnio Cultural e para a Educao em Museus, sobretudo porque dialogar faz
parte da natureza histrica do ser humano. Este campo do conhecimento que se fundamenta na educao
dialgica, parte da compreenso de que os indivduos tm suas experincias dirias. Oferece a possibilidade de
se comear do concreto, do senso comum, para se chegar a uma compreenso rigorosa da realidade. ouvir
os indivduos falarem sobre como compreendem seu mundo e caminhar junto com eles no sentido de uma
compreenso crtica e cientfca dele.
Freire afrma, ainda, que o professor conhece o objeto de estudo melhor do que os alunos, pelo menos quando
o curso comea; mas re-aprende o material por meio do processo de estud-lo com os alunos. A capacidade
do professor em conhecer o objeto de estudo refaz-se, a cada vez, pela prpria capacidade de conhecer dos
alunos, do desenvolvimento de sua compreenso crtica. O dilogo, diz ele, a confrmao conjunta do pro-
fessor e dos alunos no ato de conhecer e re-conhecer o objeto de estudo. O mesmo se aplica na relao entre
educador e indivduo nas aes educativas desenvolvidas no museu.
A noo de educao bancria
7
, criticada pelo educador, no deve permear nossas aes. Nossos esforos
precisam se direcionar para a educao libertadora, que se orienta no sentido da humanizao de educando
e educador, com uma ao infundida da prpria crena nos homens, no seu poder criador, com um pensar
7
Denominao dada quela prtica onde educar o ato de depositar, de transferir, de transferir valores e conhecimentos dos que sabem aos que
no sabem... onde a nica margem de ao que se oferece aos educandos a de receberem os depsitos, guard-los e arquiv-los.(Freire, 1987: 58)
1
6
5
|
A
c
u
r
a
d
o
r
i
a
d
e
p
r
o
c
e
s
s
o
s
e
d
u
c
a
t
i
v
o
s
d
e
a
e
s
e
s
s
p
a
r
s
a
s
c
u
r
a
d
o
r
i
a
autntico. A questo, entretanto, chama ele a ateno, que pensar autenticamente perigoso. Por outro
lado, afrma que existir, humanamente, pronunciar o mundo, modifc-lo. O mundo pronunciado, por sua
vez, se volta problematizado aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar. No no silncio que
os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ao-refexo.
Fazendo um paralelo do pressuposto acima com o pensamento de Grinspum, a Educao para o Patrimnio
e para a Educao em Museus, quando desenvolvida com compromisso e seriedade, caminhar junto com os
membros de uma sociedade
... estimulando-os a exercer a cidadania e a responsabilidade social de compartilhar, preservar e valorizar
patrimnios com excelncia e igualdade.
Interessante notar que a autora no fala em formar cidados, mas sim em exercer a cidadania. Isso porque
tem cincia de que somos todos cidados desde que nascemos. O que a educao e, nesse caso, a educao
para o patrimnio ou educao em museus deve ter por objetivo ser uma prtica para o exerccio pleno
da cidadania, que por sua vez implica em exercer a responsabilidade social. Mais uma vez nos utilizamos de
Paulo Freire para lembrar que quanto mais nos capacitamos como profssional, quanto mais sistematizamos
nossas experincias, quanto mais nos utilizamos do patrimnio cultural, que pertence a todos, mais aumenta
nossa responsabilidade com os homens. E esse um pressuposto que precisamos ter sempre em mente no mo-
mento de defnirmos nossas aes e desenvolvermos nossos projetos. Nossa responsabilidade com o outro,
com o pblico que nos visita e merece nosso respeito. No podemos nos descuidar do nosso compromisso de
preservar e comunicar este patrimnio cultural, que temporariamente nosso instrumento de trabalho, da
melhor forma possvel. A experincia recente da criao do Museu da Mar, no Rio de Janeiro, enche-nos de
nimo, pois materializa esse ideal. Esse museu de muitos donos surgiu do desejo de um grupo de moradores
em recuperar a histria local numa tentativa de elevar a auto-estima de uma comunidade degradada pela
violncia imposta pelo trfco de drogas. Hoje o Museu um ponto de agregao e vem realizando com as
escolas e outros grupos aes educativas de grande valor, fato que tem dado instituio prmios importantes
e, principalmente, muito orgulho.
CURADORIA DE PROCESSOS EDUCATIVOS
Cur o antepositivo do latim cura, ae e signifca cuidado, preocupao, administrao, direo. A curadoria
defne-se como a funo de conceber, desenvolver e supervisionar um processo, em todos os seus aspectos.
Entretanto, podemos e devemos, ainda, acrescentar uma funo curadoria: avaliar.
Podemos pensar, na rea da Educao em Museus, a presena da Curadoria em dois nveis: o primeiro, de
abrangncia mais geral, pois compreender o Programa Educativo e Cultural da instituio. O segundo nvel
1
6
6
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
refere-se curadoria dos Processos Educativos defnidos no Programa e contemplar os projetos, as ex-
posies, as aes, enfm, todas as estratgias propostas para atingir as metas e os objetivos institucionais.
CURADORIA DO PROGRAMA EDUCATIVO E CULTURAL
Conceber, desenvolver, supervisionar e avaliar o Programa Educativo e Cultural
8
do museu a primeira e
necessria curadoria de qualquer Setor Educativo de uma instituio museolgica. tambm uma curadoria
que deve fazer parte, igualmente como as demais curadorias presentes nessa publicao, do Plano Diretor ou
Plano Museolgico
9
, ou, ainda, se quisermos adotar o tema geral do Caderno de Diretrizes Museolgicas, da
Curadoria do Museu. necessrio que a direo do museu reconhea a funo educativa como fundamental
e fornea os subsdios necessrios ao desenvolvimento desse trabalho.
Trata-se, na verdade, de uma curadoria que possui um responsvel integrante da instncia diretiva do
museu, preferencialmente um especialista em educao em museus (na impossibilidade, buscar treinamento
especfco ou contar com consultoria profssional) pela concepo, desenvolvimento, superviso e avaliao
do Programa Educativo e Cultural e do plano de trabalho, mas que inclui tambm outros curadores, pois
todos os integrantes do Setor Educativo devem participar da construo dessa ferramenta um documento
estratgico que vai nortear as aes a serem desenvolvidas, que vai orientar o desenvolvimento de um plano
de trabalho detalhado. Uma curadoria que no dispensa, ainda, a participao dos demais profssionais do
quadro institucional, pois devemos buscar saber de que maneira as demais atividades do museu podem con-
tribuir para o papel educacional da instituio.
O primeiro passo nessa tarefa a realizao de um diagnstico da situao atual, defnindo os pontos posi-
tivos e negativos. Ter clareza e estabelecer com que conceito de educao, corrente pedaggica e teoria(s)
educacional(ais) se deseja trabalhar fundamental na construo de um programa mais slido. Partindo-se
do princpio que esse Programa parte integrante do Plano Diretor e Museolgico da instituio, as metas e
os objetivos a serem propostos devem ser compatveis entre si.
A seguir, pensar no pblico do museu em suas diversas vertentes e identifcar quais pblicos se pretende
atingir
10
, buscando saber suas necessidades e expectativas fazer consultas freqentes aos pblicos im-
portante. Devemos ser realistas quanto a recursos humanos e fnanceiros, mas podemos pensar em atingir os
variados pblicos a curto, mdio e longo prazos e perseguir essas metas. Articulaes com outras instituies
podem favorecer esse processo. As estratgias de ao programas, projetos, aes, etc. agora podem ser
defnidas, de acordo com os pblicos identifcados.
8
Denominao adotada na Portaria Normativa n 1, de 5 de julho de 2006, publicada no DOU de 11/07/2006, que dispe sobre a elaborao do Plano
Museolgico dos museus do IPHAN.
9
Idem.
10
De preferncia, todos os tipos de pblico, inclusive o que poderamos chamar de no-pblico, aquele que no nos visita quem ? Por que no
visita? e de pblico invisvel, aquele formado por funcionrios terceirizados, como os da limpeza, segurana, etc e seus familiares.
1
6
7
|
A
c
u
r
a
d
o
r
i
a
d
e
p
r
o
c
e
s
s
o
s
e
d
u
c
a
t
i
v
o
s
d
e
a
e
s
e
s
s
p
a
r
s
a
s
c
u
r
a
d
o
r
i
a
Com o Programa Educativo e Cultural pronto, hora, ento, de convert-lo num plano de trabalho, esta-
belecendo as metas, um cronograma, os recursos humanos e fnanceiros para as aes a curto, mdio e longo
prazos. A avaliao uma etapa que no pode ser esquecida, pois ela permitir mensurar os resultados, anal-
isar as estratgias utilizadas e reestruturar o trabalho, se necessrio.
Um outro ponto fundamental a ser considerado a preparao da equipe que compe o Setor Educativo para
cumprir suas responsabilidades educacionais, pois sabemos que nem sempre ela composta de profssionais
com formao especfca para as atividades educativas. Assim, treinamentos, leituras de textos e sua dis-
cusso, anlise de materiais educativos em equipe so meios que colaboram na preparao.
Um Setor Educativo com plano de trabalho bem formulado, bem estruturado, bem preparado, e equipe bem
formada, tem condies e competncia para demonstrar que a contribuio da rea educativa necessria
em todas as atividades do museu e, principalmente, na concepo e montagem de exposies, tema abordado
mais adiante.
CURADORIA DE PROCESSOS EDUCATIVOS
Sero vrios os curadores dos processos educativos, dependendo das estratgias de ao propostas pela equipe
na formulao do Plano Educacional, dos Programas Educativo e Cultural e da Curadoria da Ao Educativa. Cada
profssional da equipe do Setor Educativo que tenha proposto ou se responsabilizado por um programa, projeto,
ao a ser desenvolvido vai seguir a mesma regra: concepo, desenvolvimento, superviso e avaliao.
Novamente, o curador dessas aes educativas deve ter presente, na concepo, o conceito de educao, a
corrente pedaggica e teoria(s) educacional(ais) que o Setor Educativo assumiu como norteadores de sua
atuao, pois a partir deles que os objetivos de determinada ao sero traados e, mais ainda, no seu de-
senvolvimento, a metodologia a ser desenvolvida.
Fazemos um parntese aqui para afrmar que no existe uma nica metodologia a ser adotada. Elas sero
diversas, de acordo com o tipo de ao. Mas elas so pautadas a partir exatamente do conceito de educao,
da corrente pedaggica e da(s) teoria(s) educacional(ais) adotados.
Se a ao, o programa e o projeto so desenvolvidos por pessoas contratadas, o curador tem a responsabili-
dade de supervisionar o trabalho, alm, e principalmente, de avali-lo. Se for desenvolvido diretamente por um
profssional da equipe, o Coordenador do Setor Educativo o Curador da Ao Educativa tem a obrigao
da superviso e de participar da avaliao mais diretamente.
1
6
8
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
CURADORIA DE PROCESSOS EDUCATIVOS (NA) EXPOSIO MUSEOLGICA
Conforme afrmado anteriormente, a participao da rea educativa necessria em todas as atividades do
museu e, principalmente, na concepo e montagem de exposies. Tradicionalmente, o Setor Educativo era
chamado aps a inaugurao, de certa forma com o se vira embutido na chamada, pois a ao educativa no
era problema do curador de exposio se vira com os textos, com o espao, etc, pois a partir da exposio
montada cabe ao Setor Educativo fazer a ponte entre ela e o pblico. A esse setor era designado o papel de
contactar as escolas e trazer os estudantes para as mostras com o claro objetivo de aumentar o quantitativo
de visitantes.
No se pode mais compreender o Setor Educativo assim atuando, desde que efetivamente estruturado con-
forme j sugerido com exausto. Dessa forma, para que os processos educativos decorrentes da exposio
museolgica ocorram em alto nvel, com qualidade visitas orientadas, encontros com professores, cadernos
de apoio ao professor, cadernos dirigidos aos escolares, salas de animao, etc. fundamental a participao
do Setor Educativo desde o primeiro momento em que a exposio museolgica comea a ser concebida.
H algum tempo esta mentalidade vem se modifcando de forma muito positiva. Profssionais de educao
comeam a compor as equipes de planejamento das exposies, fato que trouxe uma nova dinmica s mes-
mas. No momento da concepo de uma dada mostra, o papel do curador da educao, ou seja, do respon-
svel pelas questes relacionadas educao, ser contribuir para que a exposio cumpra seu objetivo de
comunicao com o pblico. Nas palavras de Marcio Tavares DAmaral, linguagem e comunicao so uma
e a mesma coisa. Comunicar a essncia do homem. O homem social porque se comunica
11
. A exposio
atua como um emissor, um canal de comunicao da instituio com o seu pblico, e, portanto, pressupe um
receptor. A curadoria dos processos educativos a serem desenvolvidos na mesma deve garantir que esta comu-
nicao ocorra de forma legvel sem a necessidade de tradutores. Embora tenhamos clareza que o processo de
construo de signifcados individual e, como dissertamos anteriormente, depender de aspectos pessoais,
sociais e polticos, a curadoria educativa buscar minimizar os possveis rudos entre as partes interessadas e
avaliar como a mensagem est sendo imitida, transmitida e recebida.
A comunicao, como se sabe, s se efetiva quando o cdigo utilizado pelo emissor, passando pelo canal
e superando a contaminao e o rudo, descodifcado pelo receptor. Contudo, se a no-compreenso,
por parte do receptor, do discurso articulado pelo emissor pode ser para este uma maldio, ela pode ser
tambm para aquele uma espcie de bno, na medida em que abre a possibilidade do dilogo com o
imprevisvel
12
.
11
DAmaral, Mrcio Tavares. Filosofa da comunicao e da linguagem. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, MEC, 1977. p. 31.
12
CHAGAS, Mario. O museu-casa como problema: comunicao e educao em processo. In: Anais do Segundo Seminrio sobre Museus-Casas, Rio
de Janeiro: Fundao Casa de Rui Barbosa, 1998. p. 190.
1
6
9
|
A
c
u
r
a
d
o
r
i
a
d
e
p
r
o
c
e
s
s
o
s
e
d
u
c
a
t
i
v
o
s
d
e
a
e
s
e
s
s
p
a
r
s
a
s
c
u
r
a
d
o
r
i
a
Dessa forma, tambm atribuio da curadoria educativa da exposio estabelecer os critrios para avaliao
por meio da pesquisa de pblico. Essa servir como um termmetro e, por meio das respostas ser possvel
medir o nvel de satisfao e entendimento dessa ao. So nas exposies e nas aes educativas, de uma
forma geral, que o compartilhamento das experincias vivenciado. nesse momento, portanto, que colo-
camos em prtica toda a teoria museolgico-educacional
13
apreendida e desenvolvida ao longo do nosso
percurso. So nessas aes que demonstramos que o Museu caminhou muito no sentido de se aproximar de
seu pblico, estando distante daquelas instituies conhecidas como depsito de objetos velhos sem nenhuma
preocupao com o que est em torno dele e com o presente, como o senso comum identifcava. No podemos
mais continuar acreditando que a experincia dentro do museu se encerra no que pode ser visto pelo pblico,
mas ao contrrio, entender que o mais importante no o que vemos, mas que possamos construir um modo
de olhar em que razo e sensibilidade aliadas team uma maneira crtica e sensvel de ver as coisas e de com-
preender suas histrias
14
.
curadoria educativa, portanto, caber no somente o desenvolvimento de materiais complementares des-
tinados a segmentos especfcos de pblico, como tambm o processo de avaliao. A exposio deve ser um
ponto de partida e no de chegada, na forma de comunicao com o pblico.
Ao longo deste texto, por diversas vezes, reafrmamos a importncia do dilogo nas aes a serem desenvolvi-
das e, aqui, corroboramos essa linha de pensamento ao lembrar que a comunicao interna se faz primordial
no processo de curadoria. Os curadores envolvidos na construo de um mesmo trabalho, seja a elaborao de
uma exposio ou de um Plano, precisam dialogar para que o produto fnal tenha clareza e coerncia.
13
Na inexistncia de um termo semelhante, o neologismo foi a alternativa.
14
KRAMER, Snia. Produo cultural e educao: algumas refexes crticas sobre educar com museu. In: KRAMER, S. e LEITE, Maria Isabel F.
P.(orgs.). Infncia e Produo Cultural. Campinas, SP: Papirus, 1988. p. 210.
1
7
0
|
C
a
d
e
r
n
o
d
e
D
i
r
e
t
r
i
z
e
s
M
u
s
e
o
l
g
i
c
a
s
2
.
M
e
d
i
a
o
e
m
m
u
s
e
u
s
:
c
u
r
a
d
o
r
i
a
s
,
e
x
p
o
s
i
e
s
,
a
o
e
d
u
c
a
t
i
v
a
SOBRE OS AUTORES
Jos Neves Bittencourt | Graduado em Histria, Doutor em Histria pela Uni-
versidade Federal Fluminense-UFF. Tcnico do Instituto do Patrimnio Histri-
co e Artstico Nacional IPHAN desde 1986. Pesquisador do Museu Histrico
Nacional MHN, no Rio de Janeiro, entre 1986 e 2004. Coordenador tcnico
do Museu Histrico Ablio Barreto MHAB, em Belo Horizonte, Minas Gerais,
desde 2004. Membro do Conselho Internacional de Museus - ICOM.
Maria Cristina Oliveira Bruno | Licenciada em Histria, especialista em
Museologia pela FESP-SP, doutora em Arqueologia pela FFLCH-MAE-USP.
Livre-docente em Museologia pela Universidade de So Paulo. Desde 1979
Professora-Associada do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade
de So Paulo - MAE-USP, So Paulo, capital. Membro do Conselho Consultivo
do Comit Brasileiro do Conselho Internacional de Museus - ICOM.
Nelson Rodrigues Sanjad | Graduado em Comunicao Social. Doutor em
Histria das Cincias pela Casa de Oswaldo Cruz-FIOCRUZ. Tecnologista do
Museu Paraense Emlio Goeldi, em Belm, Par. Desde 2005Coordenador de
Comunicao e Extenso dessa instituio de pesquisa. Professor do curso de
Licenciatura em Biologia do Centro Universitrio do Par, onde ministra a dis-
ciplina Histria da Cincia.
Carlos Roberto Ferreira Brando | Graduado em Cincias Biolgicas, Doutor
em Cincias Biolgicas (Zoologia) e Livres-docente pelo Instituto de Biocin-
cias-USP. professor titular e curador da coleo de insetos Hymenoptera do
Museu de Zoologia da USP, em So Paulo, capital, do qual foi Diretor entre
2001 e 2005. Atualmente, presidente (2006-2009) do Comit Brasileiro do
Conselho Internacional de Museus - ICOM.
Tereza Cristina Scheiner | Bacharel em Museologia, Licenciada e Bacharel
em Geografa, Doutora em Comunicao pela Universidade Federal do Rio de
Janeiro-UFRJ. Professor Associado 1 da Universidade Federal do Estado do
Rio de Janeiro - UNIRIO. coordenadora do Programa de Ps-Graduao em
Museologia e Patrimnio - UNIRIO/MAST. Membro do Conselho Executivo do
Conselho Internacional de Museus - ICOM.
Aline Montenegro Magalhes | Graduada em Histria, Doutoranda em
Histria Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro-UFRJ. Pesquisadora
do Museu Histrico Nacional, no Rio de Janeiro, desde 1999. Editora da revista
Anais do Museu Histrico Nacional.
Francisco Rgis Lopes Ramos | Graduado em Histria, Doutor em Histria
Social pela Pontifcia Universidade Catlica de So Paulo - PUC-SP. Professor
adjunto da Universidade Federal do Cear. Diretor do Museu do Cear, em
Fortaleza, Cear, desde 2003.
Roberto Lus Torres Conduru | Graduado em Arquitetura e Urbanismo , Dou-
tor em Histria pela Universidade Federal Fluminense-UFF. Professor adjunto
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro UERJ. Atualmente diretor do
Instituto de Artes dessa universidade. Membro e atual presidente do Comit
Brasileiro de Histria da Arte CBHA e membro da Associao Nacional de
Pesquisadores em Artes Plsticas.
Ctia Rodrigues Barbosa | Licenciada em Matemtica, Doutora em Museo-
logia pelo Museum National dHisoire Naturelle (Paris, Frana). Professora
do Centro federal de Educao Tecnolgica de Minas Gerais - CEFET-MG. Co-
ordenadora do Grupo de Pesquisa e Estudos em Museologia Arte Esttica
na Tecnologia, Educao, e Cincia - MUSAETEC/CEFET-MG. Membro do Co-
mit Internacional para Educao e Ao Cultural CECA, do Conselho Inter-
nacional de Museus - ICOM.
Gilmar Henriques | Graduado em Histria, Doutorando do Programa de
Ps-Graduao do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de So
Paulo-MAE/USP. Diretor do Museu Municipal de Pains, Pains, Minas Gerais.
Pablo Lus de Oliveira Lima | Graduado em Histria, Doutor em Histria pela
Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG. Pesquisador do Museu Histrico
Ablio Barreto - MHAB, em Belo Horizonte, Minas Gerais, desde 2006. Membro
do Conselho Curador do Museu Municipal de Pains, Pains, Minas Gerais.
Mrcio Castro | Graduado em Histria, Mestrando do Programa de Ps-Gra-
duao do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de So Paulo
MAE/USP, Membro do Conselho Curador do Museu Municipal de Pains, Pais,
Minas Gerais.
Thas Velloso Cougo Pimentel | Graduada em Histria, Doutora em Histria
pela Universidade Federal de Minas Gerais UFMG. Professora adjunta do
Departamento de Histria da Faculdade de Filosofa e Cincias Humanas da
UFMG FAFICH-UFMG. Diretora do Museu Histrico Ablio Barreto - MHAB,
em Belo Horizonte, Minas Gerais, entre 1999 e 2008. Coordenadora executiva
do Centro UFMG-TIM do Conhecimento, em Belo Horizonte, Minas Gerais,
desde 2008.
Thiago Carlos Costa | Graduado em Histria pela Pontifcia Universidade
Catlica de Minas Gerais PUC-MG. Tcnico de Acervos do Museu Histrico
Ablio Barreto MHAB, em Belo Horizonte, Minas Gerais, desde 2004. Curador
do Acervo de Objetos Tridimensionais do MHAB desde 2005.
Marcus Granato | Graduado em Engenharia Metalrgica e de Materiais, Dou-
tor em Engenharia Metalrgica e de Materiais pela Universidade Federal do
Rio de Janeiro-UFRJ. Tecnologista snior do Museu de Astronomia e Cincias
Afns - MAST, no Rio de Janeiro, onde atualmente Coordenador de Museo-
logia e Coordenador do Curso de Especializao em Preservao de Acervos
de Cincia e Tecnologia da mesma Instituio. Professor do Mestrado em Mu-
seologia e Patrimnio UNIRIO/MAST. Consultor ad-hoc do CNPq, da FAPESP
e da FAPERJ.
Claudia Penha dos Santos | Bacharel em Museologia pela Universidade Fede-
ral da Cidade do Rio de Janeiro UNIRIO, especialista em Teoria da Arte (Facul-
dade de Educao/UERJ), Mestre em Histria das Cincias pela Casa de Osvaldo
Cruz/FIOCRUZ. Tecnologista pleno do Museu de Astronomia e Cincias Afns
MAST, no Rio de Janeiro, onde responsvel pelo Ncleo de Documentao e
Conservao do Acervo Museolgico/Coordenao de Museologia.
Clia Regina Araujo Alves | Graduada em Histria. Mestre em Histria pela
Universidade Federal de Minas Gerais. Tcnica de Acervos do Museu Histrico
Ablio Barreto MHAB, em Belo Horizonte, Minas Gerais, desde 1993. Curadora
de Acervos Textuais e Iconogrfcos do MHAB desde 1994.
Nila Rodrigues Barbosa | Graduada em Histria. Especialista em Organiza-
o de Arquivos pela Universidade Federal de Juiz de Fora e Especilista em
Estudos Africanos e Afro-Brasileiros pela Pontifcia Universidade Catlica de
Minas Gerais-PUC-MG. Tcnica de Acervos do Museu Histrico Ablio Barreto
MHAB, em Belo Horizonte, MG, desde 2003. Curadora assistente de Acervos
Textuais e Iconogrfcos do MHAB.
Magaly de Oliveira Cabral Santos | Graduada em Museologia, Mestre em
Educao pela Pontifcia Universidade Catlica do Rio de Janeiro PUC-RJ.
Diretora do Museu do Primeiro Reinado, no Rio de Janeiro, entre 1987 e 1991
e do Museu Casa de Rui Barbosa entre 1994 e 1997. Diretora do Museu da
Repblica, no Rio de Janeiro, desde 2006. Membro do Comit Internacional
para Educao e Ao Cultural -CECA, do Conselho Internacional de Museus
- ICOM. Membro da Rede de Educadores em Museus do Rio de Janeiro REM-
RJ desde 2003.
Aparecida Marina de Souza Rangel | Graduada em Museologia, Mestre em
Memria Social e Documento pela Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro UNIRIO. Museloga da Fundao Casa de Rui Barbosa, no Rio de
Janeiro, desde 2002. Membro da Associao Brasileira de Museologia ABM.
Membro da Rede de Educadores em Museus do Rio de Janeiro REM-RJ desde
2003.
1
7
1
|
A
c
u
r
a
d
o
r
i
a
d
e
p
r
o
c
e
s
s
o
s
e
d
u
c
a
t
i
v
o
s
d
e
a
e
s
e
s
s
p
a
r
s
a
s
c
u
r
a
d
o
r
i
a
Você também pode gostar
- Como Começa um Museu? Práticas Educativas e Reflexos da Interação entre Museu e PúblicoNo EverandComo Começa um Museu? Práticas Educativas e Reflexos da Interação entre Museu e PúblicoAinda não há avaliações
- STRANSKY, Zbynek Z - Sobre o Tema Museologia - Ciencia Ou Apenas Trabalho PraticoDocumento5 páginasSTRANSKY, Zbynek Z - Sobre o Tema Museologia - Ciencia Ou Apenas Trabalho PraticoMichel PlatiniAinda não há avaliações
- O Papel Da Musealidade Ivo MaroevicDocumento6 páginasO Papel Da Musealidade Ivo MaroevicPa OlaAinda não há avaliações
- Termos e Conceitos Da Museologia - O Museu Inclusivo, Interculturalidade e Patrimônio IntegralDocumento296 páginasTermos e Conceitos Da Museologia - O Museu Inclusivo, Interculturalidade e Patrimônio IntegralKarolyn Soledad100% (2)
- Conservacao Postura e ProcedimentosDocumento104 páginasConservacao Postura e Procedimentosligia_medeiros_15100% (3)
- 11.leon TeodorescuDocumento3 páginas11.leon TeodorescuHenrique Santos0% (1)
- O Museu e Seus Saberes Obra ColetDocumento74 páginasO Museu e Seus Saberes Obra ColetPaula GeorgiaAinda não há avaliações
- Museus de Cidade: Um Estudo Comparado entre o Museu de Belo Horizonte e o Museu de AmsterdãNo EverandMuseus de Cidade: Um Estudo Comparado entre o Museu de Belo Horizonte e o Museu de AmsterdãAinda não há avaliações
- Abordagens e experiências na preservação do patrimônio cultural nas Américas e Península IbéricaNo EverandAbordagens e experiências na preservação do patrimônio cultural nas Américas e Península IbéricaAinda não há avaliações
- Entre o Cais do Valongo de ontem e o Museu do Amanhã: memória, mídia e temporalidades na zona portuária do Rio de Janeiro contemporâneoNo EverandEntre o Cais do Valongo de ontem e o Museu do Amanhã: memória, mídia e temporalidades na zona portuária do Rio de Janeiro contemporâneoAinda não há avaliações
- Entre utopias e memórias: arte, museus e patrimônioNo EverandEntre utopias e memórias: arte, museus e patrimônioAinda não há avaliações
- O Museu de Arte Contemporânea de Niterói: Contextos e NarrativasNo EverandO Museu de Arte Contemporânea de Niterói: Contextos e NarrativasAinda não há avaliações
- Era Dos Museus de EtnografiaDocumento23 páginasEra Dos Museus de EtnografiaLsskllAinda não há avaliações
- Tratamento e Organização de Informações Documentárias em MuseusDocumento13 páginasTratamento e Organização de Informações Documentárias em MuseusSandra KroetzAinda não há avaliações
- Cadernos de Sociomuseologia 19Documento150 páginasCadernos de Sociomuseologia 19Daniel MouraAinda não há avaliações
- Museus VirtuaisDocumento17 páginasMuseus VirtuaisrosalihAinda não há avaliações
- VARINE BOHAN H Museus e Desenvolvimento Local Um Balanco Critico in Museus Como Agentes de Mudanca Social e Desenvolvimento Sao Cristovao Museu D PDFDocumento15 páginasVARINE BOHAN H Museus e Desenvolvimento Local Um Balanco Critico in Museus Como Agentes de Mudanca Social e Desenvolvimento Sao Cristovao Museu D PDFAndreyLeãoAinda não há avaliações
- O Objeto Da Museologia - Anaildo BaraçalDocumento134 páginasO Objeto Da Museologia - Anaildo BaraçalTatiana Aragão PereiraAinda não há avaliações
- Acervos DigitaisDocumento18 páginasAcervos DigitaisAnonymous psXcC1IAinda não há avaliações
- O Brasil e A Criação Do Conselho Internacional de Museus (ICOM)Documento15 páginasO Brasil e A Criação Do Conselho Internacional de Museus (ICOM)hvcrj100% (1)
- O Colecionismo de Objetos AfricanosDocumento13 páginasO Colecionismo de Objetos AfricanosJosé Renato TeixeiraAinda não há avaliações
- Bessa A Descoberta Dos Museus Pelos ÍndiosDocumento25 páginasBessa A Descoberta Dos Museus Pelos ÍndiosPedro Portella MacedoAinda não há avaliações
- BRUNO BRULON, O Museu Integral-IntegradoDocumento11 páginasBRUNO BRULON, O Museu Integral-Integradobrenda pedejeAinda não há avaliações
- Ulpiano Toledo Bezerra de MenesesDocumento5 páginasUlpiano Toledo Bezerra de MenesescamaralrsAinda não há avaliações
- Termos e Conceitos Da MuseologiaDocumento296 páginasTermos e Conceitos Da MuseologiaAlexandro JesusAinda não há avaliações
- A Educação em Museus e Os Materiais EducativosDocumento59 páginasA Educação em Museus e Os Materiais EducativosTúlio CostaAinda não há avaliações
- Informação em Arquivos, Bibliotecas e Museus - Lillian Alvares PDFDocumento48 páginasInformação em Arquivos, Bibliotecas e Museus - Lillian Alvares PDFaldairlucasAinda não há avaliações
- MAGALDI, Monique Batista SCHEINER, Tereza Cristina. Reflexões Sobre o Museu VirtualDocumento25 páginasMAGALDI, Monique Batista SCHEINER, Tereza Cristina. Reflexões Sobre o Museu VirtualzumbidomalAinda não há avaliações
- Mediação Cultural em MuseusDocumento7 páginasMediação Cultural em MuseusTúlio CostaAinda não há avaliações
- Inventário - Museu de Arte Da PampulhaDocumento243 páginasInventário - Museu de Arte Da PampulhaMárcio Otávio - MarscalitoAinda não há avaliações
- Maroevic - Museologia Como Campo de ConhecimentoDocumento10 páginasMaroevic - Museologia Como Campo de ConhecimentoinectAinda não há avaliações
- Metodologia No Ensino Da Arte (Não É de Fusari e Ferraz)Documento195 páginasMetodologia No Ensino Da Arte (Não É de Fusari e Ferraz)Rodrigo AguiarAinda não há avaliações
- Curadoria Compartilhada - Práticas de ExposiçãoDocumento25 páginasCuradoria Compartilhada - Práticas de Exposiçãosilvia_coelho87100% (1)
- Anita19,+9 +Intervenção+Urbana+corrigidoDocumento11 páginasAnita19,+9 +Intervenção+Urbana+corrigidoLucineide LopesAinda não há avaliações
- A Questao Do Nacional No IphanDocumento216 páginasA Questao Do Nacional No IphanAna Paula ClaudinoAinda não há avaliações
- Museologia - Marcos Referenciais (Marília Xavier Cury)Documento30 páginasMuseologia - Marcos Referenciais (Marília Xavier Cury)Jennifer MonteiroAinda não há avaliações
- ArtesVisuais 6 PeriodoDocumento14 páginasArtesVisuais 6 PeriodoMeissa RigueteAinda não há avaliações
- Paula PortaDocumento347 páginasPaula PortaRafael VidalAinda não há avaliações
- CHAGAS Mario - Introducao Ou O Enigma Do Chapeuzinho PretoDocumento19 páginasCHAGAS Mario - Introducao Ou O Enigma Do Chapeuzinho PretoMichel Platini100% (1)
- Arquivologia /biblioteconomia: Interfaces Das Ciências Da Informação - SMIT, Johanna W.Documento13 páginasArquivologia /biblioteconomia: Interfaces Das Ciências Da Informação - SMIT, Johanna W.Museologia UfgAinda não há avaliações
- Anuario Mnba - 2009 PDFDocumento161 páginasAnuario Mnba - 2009 PDFadriana_mcm100% (1)
- De VARINE, Hugues - O Ecomuseu - FichamentoDocumento1 páginaDe VARINE, Hugues - O Ecomuseu - Fichamentom.platiniAinda não há avaliações
- Arte Conceitual Na America LatinaDocumento12 páginasArte Conceitual Na America LatinaGabriela Bräscher BasílioAinda não há avaliações
- O Ecomuseu Hugues de VarineDocumento16 páginasO Ecomuseu Hugues de VarineItalo AraujoAinda não há avaliações
- A Natureza Política Do Patrimõnio Cultural PDFDocumento10 páginasA Natureza Política Do Patrimõnio Cultural PDFPaula RangelAinda não há avaliações
- Cadernos de Museologia Nº 03Documento113 páginasCadernos de Museologia Nº 03Aline AugustoAinda não há avaliações
- FunaiDocumento401 páginasFunaiVal NascimentoAinda não há avaliações
- Museus Como Zonas de Contato: Periódico Permanente. #6 Fev 2016Documento37 páginasMuseus Como Zonas de Contato: Periódico Permanente. #6 Fev 2016Vivian HortaAinda não há avaliações
- MUSAS - Revista Brasileira de Museus e MuseologiaDocumento184 páginasMUSAS - Revista Brasileira de Museus e MuseologiaMa Be100% (1)
- Arte e Museus No BrasilDocumento5 páginasArte e Museus No BrasilRômulo GonzalesAinda não há avaliações
- História Da Arte Como História Da CidadeDocumento15 páginasHistória Da Arte Como História Da CidadeAdélia SilvaAinda não há avaliações
- Arte Digital No Brasil e As (Re) Configurações No Sistema Da ArteDocumento288 páginasArte Digital No Brasil e As (Re) Configurações No Sistema Da ArteDébora Aita GasparettoAinda não há avaliações
- Scheiner T. Museu, Museologia e A Relacao EspecificaDocumento21 páginasScheiner T. Museu, Museologia e A Relacao EspecificaJair J. G. QuirozAinda não há avaliações
- Marandino, Pataca. Educação em MuseusDocumento32 páginasMarandino, Pataca. Educação em MuseusErmelindaPatacaAinda não há avaliações
- Dialogos Entre Arte e Público - Vol01 - 2008Documento79 páginasDialogos Entre Arte e Público - Vol01 - 2008Remic PernambucoAinda não há avaliações
- CNFCP Cultura Saber Do Povo Maria Laura CavalcantiDocumento11 páginasCNFCP Cultura Saber Do Povo Maria Laura CavalcantiCaio MeloAinda não há avaliações
- MarketingCultural LeiIncentivo ProducaoDocumento374 páginasMarketingCultural LeiIncentivo ProducaoRaíza CavalcantiAinda não há avaliações
- TCC - Carolina F LaurettiDocumento64 páginasTCC - Carolina F LaurettiPolly SantanaAinda não há avaliações
- OLIVEIRA PACHECO - João de - Cidadania, Racismo e Pluralismo Das SociedadesDocumento9 páginasOLIVEIRA PACHECO - João de - Cidadania, Racismo e Pluralismo Das SociedadesPolly SantanaAinda não há avaliações
- Costa Verde & Mar em Números. V IDocumento273 páginasCosta Verde & Mar em Números. V IPolly SantanaAinda não há avaliações
- Fomento Ao Turismo de Base Comunitária - A Experiência Do Ministério Do TurismoDocumento16 páginasFomento Ao Turismo de Base Comunitária - A Experiência Do Ministério Do TurismoPolly SantanaAinda não há avaliações
- Coletivo 28 de Maio - O Que É Uma Ação Estético-Política?Documento8 páginasColetivo 28 de Maio - O Que É Uma Ação Estético-Política?JoãoCamilloPennaAinda não há avaliações
- O Marxismo e o Construtivismo Nas Relações InternacionaisDocumento16 páginasO Marxismo e o Construtivismo Nas Relações InternacionaisBruna MoraesAinda não há avaliações
- Dissertação de Gerson Pietta PDFDocumento214 páginasDissertação de Gerson Pietta PDFDiegoAinda não há avaliações
- PEPETELA - MayombeDocumento165 páginasPEPETELA - MayombeBruno Behling0% (1)
- Texto Éthic@ PDF - Marina VelascoDocumento16 páginasTexto Éthic@ PDF - Marina VelascomarinavelAinda não há avaliações
- Sentido e Limites Da Pena Estatal - Claus RoxinDocumento18 páginasSentido e Limites Da Pena Estatal - Claus RoxinLeverger100% (1)
- CANESTRARO, Juliana Et Al - Principais Dificuldades Que o Professor de Educação Enfrenta No Processo Ensino...Documento10 páginasCANESTRARO, Juliana Et Al - Principais Dificuldades Que o Professor de Educação Enfrenta No Processo Ensino...OdraudeIttereipAinda não há avaliações
- Sobre o Consumo e A FelicidadeDocumento19 páginasSobre o Consumo e A FelicidadeEdson CruzAinda não há avaliações
- Cof Aula 197Documento18 páginasCof Aula 197WelderAinda não há avaliações
- Psicologia Social para Principiantes - Aroldo Rodrigues - Caps1 - 2 - 3 - PrefácilDocumento33 páginasPsicologia Social para Principiantes - Aroldo Rodrigues - Caps1 - 2 - 3 - PrefácilPaloma Braz54% (13)
- Perrenoud e A Teoria Das CompetênciasDocumento8 páginasPerrenoud e A Teoria Das CompetênciasBruna Costa100% (2)
- O Dizer e o DitoDocumento31 páginasO Dizer e o DitoMírian Leão100% (1)
- BÁSICO - Mód I - 1 AULA - O Processo de Criação Do Universo PDFDocumento4 páginasBÁSICO - Mód I - 1 AULA - O Processo de Criação Do Universo PDFRenan Ezra GP100% (1)
- Evolução Histórica Do Cuidado de Enfermag emDocumento20 páginasEvolução Histórica Do Cuidado de Enfermag emLaís Araújo100% (1)
- 2º Ciência MalucaDocumento9 páginas2º Ciência MalucaEliane Almas100% (1)
- Bernoulli - Plano Semanal - InglêsDocumento36 páginasBernoulli - Plano Semanal - InglêsInkheart2015Ainda não há avaliações
- Gestão Da Inovação TigreDocumento7 páginasGestão Da Inovação TigreMarco BrasilAinda não há avaliações
- André Gardel Unidade 2 - Funções Da LiteraturaDocumento7 páginasAndré Gardel Unidade 2 - Funções Da Literaturaadilsantos-1Ainda não há avaliações
- A Natureza Da Matematica - PonteDocumento29 páginasA Natureza Da Matematica - PonteSuelen FrancisAinda não há avaliações
- Teoria Queer. Políticas Bolleras, Maricas, Trans, MestizasDocumento5 páginasTeoria Queer. Políticas Bolleras, Maricas, Trans, MestizasDani KellerAinda não há avaliações
- RBEF Uma Introducao A Teoria Dos Taquions A06v34n3 PDFDocumento15 páginasRBEF Uma Introducao A Teoria Dos Taquions A06v34n3 PDFAnonymous j6r5KRtrH2Ainda não há avaliações
- Aula 14 - Operacionalizacao Das VariaveisDocumento2 páginasAula 14 - Operacionalizacao Das VariaveismadelinefrancihotmaiAinda não há avaliações
- A Escritura Nômade em Clarice Lispector. UFSCDocumento183 páginasA Escritura Nômade em Clarice Lispector. UFSCAnonymous 1MiO5ai100% (1)
- Texto 01 - Conceito de OrganizaçãoDocumento22 páginasTexto 01 - Conceito de OrganizaçãoLeonardo TononAinda não há avaliações
- Aps ModeloDocumento5 páginasAps ModeloLuana PatríciaAinda não há avaliações
- A Arte de Beber Taça Do AmorDocumento10 páginasA Arte de Beber Taça Do AmorOzagna Machado OlivatoAinda não há avaliações
- (SEBENTA) Termodinâmica Macroscópica - Princípios e Conceitos (2 Edição) (Delgado Domingos)Documento190 páginas(SEBENTA) Termodinâmica Macroscópica - Princípios e Conceitos (2 Edição) (Delgado Domingos)Ricardo AlmeidaAinda não há avaliações
- Zeichner - Uma Análise Crítica Sobre A ReflexãoDocumento20 páginasZeichner - Uma Análise Crítica Sobre A ReflexãoSandro RochaAinda não há avaliações
- Castilhos 2007 - Subindo o Morro...Documento205 páginasCastilhos 2007 - Subindo o Morro...Thiago SartiAinda não há avaliações