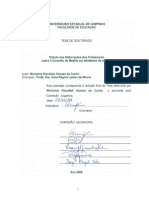Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Graus de Imperatividade
Graus de Imperatividade
Enviado por
SoutoAnderson0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
0 visualizações19 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
0 visualizações19 páginasGraus de Imperatividade
Graus de Imperatividade
Enviado por
SoutoAndersonDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 19
1
Cap. 20 GRAUS DE IMPERATIVIDADE EM CARTAS BRASILEIRAS
Maria Cli a Li ma-Hernandes (USP)
ngel a Cecli a de Souza Rodri gues (USP)
L di a Spazi ani (USP-PG)
Introduo
No Portugus brasil eiro, as formas verbais das oraes imperat ivas
est o em vari ao, na medi da em que o indi cat ivo e o subjuntivo no se
combinam obri gatoriament e com os pronomes subj eti vos, segundo
prescri o das gramticas normativas.
Esse quadro consti t udo de um l ado pelas normat ividades de uma
lngua padro e, de out ro, pelas variaes de uso causa probl emas em
aul as de l ngua port uguesa j desde o ensino fundament al, ainda que no
prejudique a comunicao efetiva ent re as pessoas. Na verdade, uma
infrao gramati cal pouco ntida, port ant o sem esti gma soci al .
H, contudo, out ras estrat gi as que carrei am o modo imperat ivo.
Uma del as a construo do i mperati vo por mei o de per frases verbai s
aspectuais de possi bilidade e de necessidade (dever, poder, precisar,
dentre outros), como em (1) e (2); outra, bast ante utilizada at ualment e em
diretivas instruci onais, t raduz o imperativo por meio de um verbo no
infi nitivo, como em (3) e (4):
(1) Voc deve cadast rar-se no Egroups [int ernet]
(2) Voc deve arej ar sua cabea e pensar em Deus [cart a
pessoal]
(3) Passar no denti st a t arde [bil het e]
(4) Levar t exto para Cludia hoje [bilhet e]
2
Tai s casos existem em nossa base de dados, mas em proporo muito
pequena, razo por que foram excludos dest a anli se. O fat o que
pret end amos buscar cami nhos de ent endimento para os const ant es
problemas advi ndos do emprego das formas i mperati vas clssi cas.
Estudos anteriores de ori ent ao semnti ca (Faraco, 1982) e
vari aci onista (Scherre, 1988 e 1998) focalizam o modo imperativo. Faraco
(1986), reflet indo sobre os usos imperati vos, apresent a cont ribuio
rel evante para o ent endimento da expresso do imperativo por estruturas
diversas. O autor afi rma que as formas de modo indi cativo carrei am uma
rel ao de int imidade, port anto permeada pela i nformalidade. O
subjuntivo, em contrapartida, correl aciona-se com a assimet ri a das
rel aes i nt eracionais, e, como forma marcada, evi denciaria um mai or
grau de formalidade. Dessa forma, o imperati vo expresso por meio de um
modo indi cativo denotari a maior grau impositi vo, port ant o enrgi co.
Como se pode not ar por meio das discusses de Faraco, t rat ar o
imperativo como uma pendncia puramente gramati cal si gni fica reduzir a
dimenso da problemti ca, uma vez que quest es discursi vas est ari am
sendo violadas nas rel aes entre os fal ant es da lngua. Em out ras
pal avras, segui r ri sca normas gramati cais muit as vezes equivaleri a ao
rompimento de regras soci oculturai s de mai or peso nos atos
comuni cativos.
Numa perspectiva vari acionist a, Scherre (1998) observa a vari ao
de uso do imperat ivo e const at a que o i ndi cati vo est ari a correl acionado
com a l ngua vernacular de al gumas regies ao passo que o subjunti vo
teria uso cat egri co com a lngua escrit a de advert nci a. A autora t ambm
observa que a formal idade desfavoreceri a o indicati vo e que a pol ari dade,
junt ament e com o paral elismo, expli cari am a vari ao de uso. Conclui ,
assim, que o tipo de texto e a formalidade seri am condici onadores
important es, que, somados pol aridade e ao paral elismo, dariam cont a de
confi gurar um processo de harmonizao das sl abas.
3
Com base nesses desencontros ent re norma e usos, sit uamos est e
estudo como um aprofundamento dos conhecimentos sobre o
comportamento do modo imperativo no Portugus do Brasi l, focalizando
inici almente a vari ao exist ent e nas cartas e post eriorment e uma anl ise
fora do arcabouo variaci onist a.
1. O corpus sob anlise
A amost ra anali sada nest a pesqui sa compost a de documentos
escri tos do in ci o do sculo XX at in ci o do XXI, cuj a sel eo suscitou
discusses sobre o possvel estabel ecimento de uma ti pologi a de cart as.
Oesterrei cher (1997: 90-1), retomando idias de t rabal hos ant eriores,
mostra-nos que os diferent es tipos discursivos formam uma escala e que
os modelos discursivos, entre os quai s esto as cart as privadas ou
pessoais, podem localizar-se em um campo cont nuo entre dois plos
extremos. El e usa, em sentido met afri co, os termos imediat ez
comuni cativa e distnci a comuni cat iva.
Swal es (1990), discuti ndo a quest o do gnero, afirma que
problemt ica a segment ao das cl asses de comuni cao. Essa di fi culdade
tambm t em se refl et ido como um grande problema para os est udiosos que
aspi ram visualizao de cat egori as discret as. Um dos casos exempl ares,
ainda segundo Swal es, o t ermo carta, que em si uma generalizao
multi genrica, uma vez que constitui um termo usual que faz refernci a a
uma espci e de guarda-chuva continente de muit as lacunas.
Assim como para Tannen (1985) hist ri as infantis so em muitos
aspectos prximas da conversao espont nea, podemos pressupor que
cart as podem compor um amplo gnero que pode ser subdi vi dido t ambm
segundo caract er sti cas partil hadas com o t exto fal ado espont neo. Tal
procedimento just ifi ca-se na gama de t extos que podem ser abarcados no
gnero cart a, t ais como bil hetes, cart as de cunho comerci al, cartas de
cunho pessoal e e-mails.
4
Fundados na noo de que os diferent es tipos discursi vos compem
uma escal a, propomos uma segmentao que, at certo ponto, basei a-se em
cri trios int uitivos pelo cont ato com os documentos e anlise cri teriosa do
mat eri al . O bilhet e, muito mais sucint o do que os demais, tende a t ornar
elpt ica t oda e qual quer i nformao que sej a conheciment o partil hado
ent re emi ssor e recept or, al m de no se prest ar a minimi zar di st ncia
temporal, mas tambm a di stncia i nt erpessoal, e esses el ementos seri am o
bast ante para supor que a rel ao empresa/ cli ent e reflita menor nmero de
el ementos impl citos no texto, que tambm ser mai s formal . A cart a de
cunho pessoal com distncia geogrfi ca do envolvidos remet e quel a
correspondncia que mini miza uma dist ncia geogrfica real e
considervel , de forma que soment e est e seri a o canal aproximador dos
envolvi dos. Por fim, os e-mails pessoais revel am-se os mai s prximos da
conciso int rnseca de um bi lhete e, ao mesmo t empo, podem est ar
minimizando a di stnci a geogrfi ca dos envolvidos.
Segui ndo um percurso regi do pel o grau de proximidade com o
discurso oral, hi pot etizamos o segui nte contnuo:
bilhete email carta pessoal carta comercial
----------------------------------------------------------------------
[+ proximidade] [+ distncia]
No se pode perder de vist a que cada um desses documentos escritos
pressupem a fi gura de um emi ssor que redi ge, uti lizando estratgias que
respeit em a mxima da rel evnci a. O que j pressuposto ou informao
vel ha no deve ser repeti do, a menos que al guma razo especfica obri gue.
As novi dades, informaes novas, at o momento da escrit a ainda
desconhecidas pel o recept or, devem, se assi m qui ser o emissor, ser
incl udas i nt egral mente ou com o mnimo de implcitos. H o pressuposto
tambm de que esse documento escrit o v ser lido por um al gum,
5
recept or, que t er todas as condi es de ler e compreender as informaes
ali contidas.
Consideramos aqui, port anto, que o estudo do imperati vo do
Portugus do Brasil vist o por meio de cart as mais ou menos distantes e
pessoais pode dar cont a de most rar usos efetivos filt rados pel a escrit a,
guardi da norma padro gramati cal.
2. Pri meiro momento do estudo: em busca da variao
Compusemos uma amostra de 68 dados ret irados de cart as pessoai s
proveni ent es do arquivo de correspondnci a passiva de Cl ari ce Lispector
1
e de cartas cedidas por al unos e fami liares dos mesmos para esta pesquisa.
Das cartas comerci ais, de ori gem diversa (bancos, escol as, edit oras,
livrarias dentre out ros), obtivemos 40 ocorrnci as de frases imperati vas.
Tanto os bi lhetes quant o os email s foram doados t ant o por alunos quanto
por col egas. Dos pri mei ros, somamos um total de 28 dados e do segundo,
30 dados.
Em busca de resposta para as quest es atinentes variao
ling sti ca, ini ci al ment e l evant adas nest e arti go, estabel ecemos a
correl ao ent re os modos subjuntivo e indi cat ivo e o ti po de documento
de que foram extra das as ocorrncias de imperati vo. O esperado dizi a
respeito a ndices bast ant e dist ant es ent re cart as comerciai s e os demai s
documentos, haj a vi sta que os bilhet es seri am mais assertivos e por isso
empregari am formas de indicati vo com maior preponderncia, ao contrrio
das cart as comerci ai s que visari am ao cont ato mais sugesti vo, port ant o
menos i nci sivo, o que remet eri a a formas de subj unti vo.
Subjunti vo Indi cati vo
cart a pessoal 64 (94%) 4 (6%)
bi l het e 25 (89%) 3 (11%)
emai l 28 (93%) 2 (8%)
1
O acervo de Clarice Lispector de propriedade da Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro.
6
cart a comer ci al 40 (100%) 0
Guardadas as di ferenas sut is entre document os, no h de fato
vari ao lingstica si gni fi cat iva quanto ao modo verbal e o t ipo de cart a
analisada. Dessa forma, em se t ratando de cart as, no se pode fal ar nem
em vari ao lingsti ca nem em uso cat egri co.
Em nova tentat iva de anli se, est abel ecemos graus de imperativo,
baseados na propost a de Bybee et al. (1994), a qual ser explici tada num
outro momento dest e trabal ho, e observamos que a vari ao se impunha
minimament e em al guns casos:
Subjunti vo i ndi cati vo
i mper at i vo pp. di t o 65 (94%) 4 (6%)
opt at i vo 13 (100%) 0
exort at i vo 29 (96, 5%) 1 (3, 5%)
proi bi t i vo 5 (100%) 0
premoni t i vo 3 (100%) 0
spl i ca afi rmat i va 18 (82%) 4 (18%)
spl i ca negat i va 8 (100%) 0
consel ho 16 (100%) 0
int eressant e observar que o subjunti vo, ao mesmo t empo que
compe o i mperativo propriament e di to, tambm categri co em muit as
outras nuanas encontradas. A splica afirmati va most ra-se num grau de
imperativi dade disti nto da spli ca negativa, j que, sendo spli ca, em
al guns casos presci nde de forma subjuntiva, por t razer uma expresso
polida que mi nimiza os efeit os do i ndi cati vo.
Esses result ados foram sufi cient es para que percebssemos que no
est vamos lidando com modos di ferent es de se dizer o mesmo, mas, si m,
graus dist intos de diretivi dade.
3. Em busca de nova perspecti va de observao
7
O estudo dos valores das formas verbais de imperativo sugeriu-nos
novos caminhos de investi gao na lngua port uguesa escrit a. Buscamos
embasament o terico em Tayl or (1989), que defende que termos
parcial mente sinni mos no comparti lham exat ament e as mesmas
propri edades, ainda que al gumas delas sej am compartilhadas por todos os
tipos de imperati vo, tornando-os membros peri fri cos de uma mesma
cadeia fami liar
2
. Seguindo esse racioc nio, quant o mai or o nmero de
traos ou propri edades compartilhadas em rel ao ao membro prot otpico,
mais cent ral a sua posio dent ro da cadei a famili ar: entiti es are
assigned membershi p in a cat egory in virt ue of thei r simil arit y to the
prototype; the closer na entit y t o the prot otype, the more cent ral its stat us
within the category. (Tayl or, 1989: 60). Port ant o, a noo de similari dade
subj acente cadei a famili ar.
Bybee et al . (1994), por sua vez, desenvolveram um grande estudo
sobre t empo, aspect o e modalidade em vri as lnguas e post ulou, a parti r
dos result ados apurados, que haveria graus de imperativi dade nas lnguas,
contudo todos estari am sendo rotul ados i ndisti ntamente de imperativo.
Com base nos trabal hos de Tayl or e de Bybee et al. , pergunt amo-nos
se o mesmo fenmeno no aconteceria ao modo imperativo no portugus
do Brasil e hipotet izamos que as construes imperativas divergi ri am
quanto a propri edades i ntrnsecas. Para checar a hipt ese, retomamos a
amostra de 166 frases imperati vas, buscando identifi car os di ferent es
graus de i mperati vidade (cf. Bybee et al . ): i mperati vo propri ament e dito,
proibitivo, opt ati vo, exortativo, premoniti vo, spli ca e conselho.
2
Entidades so categorizadas com base em seus atributos. Um nico atributo capaz de
diferenciar uma categoria de outra: Items on the same level of categorization all share
the features of the immediately dominating category, but each is distinguished from the
other categories on the same level by the presence of a unique feature (or set of
features) (Taylor, 1989:47). O ponto de partida para a categorizao a categoria
bsica, cujo construto mais saliente lingisticamente para cumprir a funo pretendida.
Em nosso caso, o imperativo propriamente dito.
8
O imperati vo propri ament e di to remet e a uma expresso zero do
modo imperativo, uma vez que expressa um comando diret o. Para que esse
grau de imperati vo sej a realizado, necessri a a existnci a de condi es
soci ai s ext ernas favorveis compl et ude da ao expressa na sent ena, tal
como a existnci a de uma segunda pessoa:
(5) Prepare-se, t emos muito trabalho pel a frent e
[bilhet e, Par, fem. ]
Como comando di ret o, tambm possvel expressar o grau
proibitivo, cuj a condi o sine qua non a presena de polari dade
negati va:
(6) Ge, nunca fique em dvi da do meu amor por voc.
[cart a pessoal, SP, masc. ]
O optat ivo refere-se ao grau de imperati vo que pressupe a
existnci a de condi es i nt ernas de voli o com relao ao expressa.
Logo, expressa o desejo ou expect ati va do fal ant e:
(7) Li vre-me Deus dos meus ami gos que dos meus
inimi gos me l ivro eu. [carta pessoal]
No grau exort ati vo, h a expresso de um encoraj ament o ao outro
realizar al guma ao. Pode ser mais apropri adament e defi nido como o
incit ament o a uma segunda pessoa agir:
(8) Venha queimar energi a no lugar certo [cart a
comerci al , Clube, SP]
O grau premoniti vo confi gurado com a emi sso de um aviso ou
al ert a:
(9) e t enha cuidado, seu ex-marido est a sua procura [carta
pessoal]
9
Para complet ar o quadro de modal idades ori ent adas para o fal ant e
na perspect iva de Bybee et al . , falt ou a apresent ao do grau permissi vo,
que remet e a uma situao em que o fal ante concede permisso. No
encontramos nos document os analisados nenhum caso desse tipo, razo
pel a qual o excl umos. Em cont raparti da, encont ramos al guns dados que
pudemos segmentar em trs out ros graus de imperati vidade: pedido
negati vo(DOIS EXEMPLOS COM NMERO 10), pedido afi rmati vo (TRS
EXEMPLOS COM NMERO 11) e consel ho (TRS EXEMPLOS COM
NMERO 12):
(10) por favor, no me abandone neste momento, pois
eu tambm adoro voc. [cart a pessoal, fem. , SP]
(11) me mande seu endereo que t e envio uma cpi a
[email , fem, RJ]
(12) pense bem [cart a pessoal, masc. , SP]
A fim de i dentificar al gumas propriedades que dessem cont a
de distingui r os vrios graus de i mperatividade nos di ferentes ti pos de
cart as, elencamos os segui nt es crit ri os: suj eit o sintt ico, pol aridade,
semnti ca verbal e co-ocorrncia lexi cal . (HANDOUT - TABELA 3)
Correl ao 1: graus de i mperatividade e sujeito sintti co/ explici tude
tu
implcito
Voc
explcito
Voc
implcito
Vocs
implcito
o senhor
explcito
o senhor
implcito
os
senhores
implcito
ns
imperat.
pp.dito
0 8
11,5%
50
73%
5
7,5%
1
1%
4
6%
1
1%
0
optativo 0 30
75%
10
25%
0 0 0 0 0
exortativo 0 1 28 0 0 0 0 1
10
3,5% 93% 3,5%
proibitivo 1
20%
0 3
60%
1
20%
0 0 0 0
premonitivo 0 1
33%
2
67%
0 0 0 0 0
splica neg. 0 5
62,5%
3
37,5%
0 0 0 0 0
splica (af.) 1
4,5%
3
14%
17
77%
0 0 1
4,5%
0 0
conselho 0 1
6%
15
94%
0 0 0 0 0
Podemos apurar a prototipi cidade pel a combinao da alt a
recorrncia ao mai or espect ro de usos. Com isso, chegamos ao imperati vo
propriamente dit o, que remet e a um comando di ret o. Esse seri a o elemento
cent ral da cadei a familiar e compartilharia com todos os demais tipos de
imperativo a propri edade de t er o suj eito sint ti co assim dist ribudo: voc
impl cito > voc explcit o > vocs expl cito. Os membros mai s peri fri cos
da cadei a fami liar revertem essa distri buio; so el es o optati vo e a
spli ca negati va, que soment e admit em dois usos, assim distribu dos:
voc expl cito > voc impl cit o. Tambm compori am um mesmo n na
cadeia o exortati vo e o consel ho, cuja di stribui o bastante simil ar.
Uma vez que a pol ari dade pode afet ar em muit o a realizao da
forma imperativa cl ssi ca, tendo em vista o paradi gma fl exional,
est abel ecemos a correl ao ent re os graus de imperat ividade e a
pol ari dade auferida:
Correlao 2: graus de imperativi dade e polari dade
Modo negativa dupla negativa
simples
afirmao dupla afirmao
simples
imperativo
pp.dito
S
I
0
0
0
0
1
0
64
4
11
Total 0 0 1 1,5% 68 98,5%
optativo S
I
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
0
13 100%
exortativo S
I
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
1
30 100%
proibitivo S
I
Total
1
0
1 20%
4
0
4 80%
0
0
0
0
0
0
premonitivo S
I
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
3 100%
splica neg. S
I
Total
0
0
0
8
0
8 100%
0
0
0
0
0
0
splica af. S
I
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
4
22 100%
conselho S
I
Total
0
0
0
1
0
1 6%
0
0
0
15
0
15 94%
Se a anlise l eva em conta soment e os graus de imperatividade e a
pol ari dade present e, no revelar conexes menos discret as agrupados
segundo um mesmo rtulo. Contudo, se adi cionamos a essa observao o
modo utilizado, veri ficamos que poss vel const rui r splicas afirmat ivas
e exortativos com i ndi cati vo, que remeteria a um grau de direti vidade
tpico do i mperativo propriamente dito. So, em cont rapartida, usos muito
comuns da lngua fal ada que comeam a aparecer na l ngua escrit a.
Esses casos dist anci am-se da cat egori a cent ral, que prev um modo
subjuntivo para que se expresse a spli ca e o i ncit amento.
12
A correlao i nicial, que visava apurao de variao lingstica,
agora retomada com o acrscimo dos tipos de texto:
(HANDOUT TABELA 5)
Correlao 3 : graus de imperativi dade e tipologi a textual
email bilhete carta pessoal carta comercial
imperat. pp.dito 17 25% 14 20% 26 38% 12 17%
Optativo 1 8% 3 23% 8 61% 1 8%
exortativo 5 17% 0 7 23% 18 - 60%
Proibitivo 2 40% 1 20% 1 20% 1 20%
Premonit. 1 33,5% 0 66,5% 0
splica (neg.) 0 1 12,5% 7 87,5 0
splica (af.) 3 13,5% 6 27,5% 13 59% 0
Conselho 1 6% 3 19% 4 25% 8 50%
O cont nuo emergido da correlao est abel ecida demonst rou que os
documentos at endem segui nt e distribui o: (HANDOUT
CONTINUUM 2)
email :
imperativo propriament o dito > exort at ati vo > spli ca afi rmati va > proibiti va >
opt ativo/ premonitivo / consel ho
bilhete:
imperati vo propri ament e dito > spl ica afirmati va > optativo/ consel ho
>proi bitivo / spli ca neg.
carta pessoal:
imperativo propriament e dito > spli ca afi rmativa > opt ati vo > exortativo / splica
negati va>conselho>proibitiva
Carta comercial:
13
exort ativo > imperati vo propri ament e dito > conselho>proibiti vo
Esses dados most ram que o cont nuo ini ci alment e hi pot etizado deve
ser reformul ado de modo a aproximar a cart a pessoal do bilhet e, com que
mant m simil aridade no comport amento:
email bilhete carta pessoal carta comercial
----------------------------------------------------------------------
[+ proximidade] [+ distncia]
Al guns estudos, a exempl o de Cezario et al. (1996) e Braga (1999),
evocam a semnti ca verbal como um dos cri trios para explicar fenmenos
ling sti cos de gramati calizao e i nt egrao de oraes. Visando a checar
se esse fat or semntico atua como el ement o denunci ador dos graus de
imperativi dade na l ngua port uguesa escrit a, apresentamos result ados
est atst icos da correl ao ent re esses aspectos.
Correlao 4 : graus de i mperativi dade x semntica verbal
3
perceptivo atividade
mental
dicendi ao
fsica
c/desloc.
ao
fsica
s/desloc.
atitude
psquica
cpula
imperativo
pp.dito
6
8,5%
3
4,5%
12
17%
3
4,5%
37
54%
8
11,5%
0
3
Verbos de ao fsica foram segmentados em duas categorias, segundo o movimento
envolvido, assim temos
ao fsica com deslocamento do espao fsico (correr, andar, ir)
e ao fsica sem deslocamento (comer, bater, fumar);
verbos dicendi so os de dizer (falar, contar, responder);
verbos de atitude psquica remetem noes do tipo acreditar, aceitar, perdoar;
verbos perceptivos incluem os cinco sentidos humanos (ver, sentir, cheirar);
verbos cpula equivalem ao verbo de ligao;
verbos de atividade mental remetem ao intelecto (ler, estudar, compreender).
14
Optativo 0 0 0 2
15,3%
2
15,3%
2
15,3%
7
54%
Exortativo 1
2,5%
2
7%
6
20%
4
13,5%
10
33,5%
7
23,5%
0
Proibitivo 0 1
20%
1
20%
0 0 3
60%
0
Premonitivo 1
33,5%
1
33,5%
0 0 0 1
33,5%
0
splica neg. 0 3
37,5%
0 1
12,5%
1
12,5%
3
37,5%
0
splica af. 0 1
4,5%
0 0 10
45,5%
10
45,5%
1
4,5%
Conselho 0 1
6,5%
2
12,5%
1
6,5%
5
31%
6
37,5%
1
6,5%
Os result ados expressos na tabela aci ma no apenas revel am a
ocorrncia numri ca de verbos correl acionados a graus de imperatividade.
Mais do que isso, remet em a quadros cont extuais em que rel aes
interpessoais est o l at ent es.
O imperati vo propriament o dit o tem seu sent ido mais central
construdo com verbo de ao fsi ca que no exija deslocamento espacial,
tal como ocorre com o exortati vo. Uma vez que o exort ativo teve alt a
recorrncia fixada em cartas comerci ais, as sel ees verbai s podem ser
explicadas no campo da mdi a moderna, que visa oferecer cada vez mai or
comodidade ao seu cli ent e, no sentido de que facili dades di st ncia
est ariam a seu dispor e verbos sem deslocamento espacial seri am
sel ecionados para essa finali dade.
O grau premoniti vo tem seu uso no marcado at rel ado a verbos de
atitude psqui ca, de ativi dade ment al e de percepo e a explicao para
isso buscada nas rel aes interpessoais a que remet em: evidenci am
15
intui es do fal ante em relao a fat os ou aes futuras rel acionadas ao
interlocutor, da os verbos seleci onados.
Tambm com o fim de at ender s rel aes interpessoais, aos graus
de imperati vidade consel ho e proibiti vo ali am-se verbos de atitude
psquica, splica com polari dade afirmativa ali am-se verbos de ao
fsi ca sem deslocament o espaci al e de at itude ps qui ca e ao optati vo ali a-
se a cpul a. J, spli ca com polaridade negati va al iam-se verbos de
ao ment al e de at itude psquica, o que o torna muito similar ao grau
premoniti vo.
A part ir da tabela anterior, podemos apreender o espectro de usos
segundo a semnti ca verbal e a alt a recorrnci a, como demonst ramos
abaixo:
Imperati vo propri amente di to:
ao s/ desloc. > di cendi > atit ude psquica > perceptivo > cpula / ao c/
desl ocam.
Exortati vo:
ao s/ desloc. > ati tude psqui ca > di cendi > ao c/ deslocam. > ativi dade
ment al > percepti vo
Conselho:
atitude psqui ca > ao s/desl oc. > di cendi > cpul a/ ati vidade ment al
Splica afirmativa:
ao s/ desloc. / ati tude psquica > cpul a/ ao ment al
Splica negativa:
ativi dade ment al/ atit ude ps qui ca > ao c/desl oc. / ao s/desloc.
Optativo:
cpul a > ao c/desl oc. / ao s/desl oc. / atitude psqui ca
Proibiti vo:
Atitude ps qui ca > at ividade ment al / dicendi
Premoni tivo:
Percepti vo / ativi dade ment al / atitude ps qui ca
16
Al guns senti dos co-ocorrem com o imperat ivo, a fim expressar no
soment e o abrandament o da assertividade produzida no comando (polidez)
e do t empo de realizao da ao do comando (protel ao) mais ainda, e
contrariamente, a necessidade de uma realizao imediat a (i medi at ez) ou
de consci nci a de poder de realizao (fora).
Bybee et al . (1994), ao conclu rem que o imperati vo o mais
recorrent e modo ori ent ado para o fal ant e, postul aram que fatores como
polidez, nfase e imedi atez seri am os responsveis pela disti no ent re os
graus de imperativo.
Com o fi m de identifi car sentidos co-ocorrent es que pudessem
interferi r no grau de diretividade do i mperat ivo, analisamos as ocorrnci as
de modo a i denti ficar nel as quaisquer vocbulos, expresses ou recursos
supra-segmentai s que pudessem funcionar como modi fi cadores do senti do
est rito de comando direto.
Encont ramos muit os casos em que a forma verbal indicava
at enuao do t empo de realizao da ao expressa no imperativo
(protelao). Encontramos tambm it ens l exicais que at enuavam o
comando em si (poli dez), ao l ado de al gumas estruturas em que el ement os
supra-segmentai s enfat izavam a fora do comando (nfase). Quando o
comando direto foi expresso sem el ementos at enuadores ou enfti cos de
qualquer tipo, rotul amos de imedi atez.
Correl ao 5: graus de i mperatividade x sentidos co-ocorrentes
protelao Imediatez polidez nfase
Imperativo pp.dito 3 5% 50 - 72% 8 - 11,5% 8 11,5%
Optativo 2 15,5% 10 77% 0 1 7,5%
Exortativo 5 16,5% 24 80% 0 1 3,5%
Proibitivo 0 5 100% 0 0
Premonitivo 0 2 67% 1 33% 0
splica neg. 0 5 62,5% 2 25% 1 12,5%
17
splica af. 0 11 50% 11 50% 0
conselho 1 6% 11 69% 0 4 25%
Direti vidade simil ar i mediat ez expressa nos imperat ivos
prot otpi cos foi observada na splica afirmati va, que t ambm est eve
fortemente marcada pel a poli dez, apurada na orao combinada por meio
de condi cionai s ou na prpri a sent ena i mperativa por mei o de expresses
de cordial idade.
Parece que o optativo e exort ati vo no so facilment e distinguveis,
j que ambos ocorrem em ndi ces simil ares com imediatez, prot elao -
marcadas pela presena de fut uro do pret ri to - e nfase, evi denci ada pelo
ponto de excl amao.
4. Concluses
Neste arti go, consideramos o modo imperati vo sob duas
perspecti vas diferenciadas. Num pri meiro momento, mostramos a
possi bilidade de se associarem formas de indicati vo e de subj unti vo aos
diferentes tipos de cartas, classificadas em funo de condies de
comunicao, com base nas noes de proximi dade comunicativa e
distncia comunicati va (Oesterreicher 1997). Estas formas foram tambm
associadas aos diferentes graus de imperativi dade sugeri dos por Bybee et
al. (1994) com o obj etivo de se verifi car poss vel correlao entre tal
parmetro e as formas sob anlise.
Num segundo momento, centramos nossa ateno na hiptese de
Bybee et al. (1994), buscando caracteri zar com mai or preciso os valores
nocionais carreados pelas formas de imperati vo. Segundo a autora, graus
de imperati vidade abarcariam subgrupos semanticamente distintos nas
lnguas. Buscamos verificar a validade dessa hiptese para a lngua
port uguesa. Os pressupostos tericos de Taylor, acerca da teoria dos
prot tipos, forneceram-nos elementos para a anlise desenvol vida.
18
Apuramos que no h efetivamente variao lingstica no que
tange aos document os investi gados, mas que podemos visl umbrar suti s
graus de imperati vi dade nos mesmos. Tais graus puderam ser distinguidos
segundo seu espectro de usos e sua produti vidade na l ngua port uguesa do
Brasil escrita em cartas.
Al guns dos critri os utili zados no foram suficientes para marcar a
diferena, como foi o caso da polaridade, entretanto houve alterao do
espectro e da produti vi dade com as segui ntes propriedades: suj eito
sinttico, semntica verbal e sentidos co-ocorrentes.
As correlaes estabelecidas foram relevantes para evi denciar,
dentre out ros fatos, que o contnuo de t ipos de documento com base na
proximidade/ distnci a deveria ser reformulado, de modo a representar um
maior grau de similaridade entre bilhete e carta.
Tambm os graus de imperati vidade puderam ser observados de
modo especialmente interessante na correlao com a semntica verbal,
pois evidenciaram a implicao das relaes interpessoais como fora
condicionadora da escolha verbal. Tambm como resultado dessa
correlao, vi slumbramos o seguinte contnuo de aproximao ou
distanciamento dos graus de imperati vidade: imperati vo propriamente dito
- splica afirmati va exortati vo proibiti vo/conselho premonit i vo -
splica negati va - optativo. Assim, pudemos notar que muito mais do que
a forma ou modo verbal exi gidos gramat icalmente, conta mesmo no uso
cotidiano a nuana de sentido que se pretende construi r, ou seja, regras
extra-gramaticais atuariam no domnio do imperati vo lato sensu.
Portant o, se tivermos em conta que normalmente distinguimos
subj unti vo e indicativo quant o oposio realis/irreal is, seramos levados
a concluir que o imperati vo, como um conj unto gl obal de t odos os graus
observados, irrealis
4
, o que sabemos que no funciona para todos os
casos. Contudo, podemos, como fizeram Bybee et al. , assentir que para o
4
Segundo Bybee et al. (1994), essa distino feita como divisor de eventos atuais e no atuais
(cf. Chung e Timberlake 1985) ou como indicao de tempo irreal (Bickerton 1978).
19
imperati vo do port ugus do Brasil tambm no relevante o domnio de
verdade, mas, sim, a escolha do fal ante entre deixar claro ao seu
interlocutor a expresso asserti va e os vrios graus de direti vi dade e, para
isso, a proximi dade entre os interl ocut ores busca relevnci a no tipo de
documento escrit o.
Referncias bibliogrficas
BRAGA, Maria Luiza. 1999. As oraes encaixadas no dialeto carioca. Conferncia
apresentada em concurso para professor titular junto ao Departamento de Lingstica e
Filologia, da Faculdade de Letras da UFRJ. Rio de Janeiro: UFRJ.
BYBEE, Joan; PERKINS, Revere; PAGLIUCA, William. 1994. The evolution of
grammar. Chicago: University Press.
CEZARIO, Maria Maura; GOMES, Rosa Lucia; PINTO, Deise Cristina de M. 1996.
Integrao entre clusulas e gramaticalizao. In: MARTELOTTA, M.E. et. al.
Gramaticalizao no Portugus do Brasil: uma abordagem funcional. Rio de Janeiro:
Tempo Brasileiro, (pp.77-113)
FARACO, Carlos Alberto. 1986. Consideraes sobre a sentena imperativa no
Portugus do Brasil. In: D.E.L.T.A , vol.2, n 1, (pp. 1-15)
OESTERREICHER, Wulf. 1997. Pragmtica del discurso oral. In: BERG, W.B. &
SCHFFAUER, M.K. Oralidad y Argentinidad: estudios sobre la funcin del lenguaje
hablado en la literatura argentina. Tbingen: Gunter Narr Verlag. (pp. 86-97).
SCHERRE, Maria Marta Pereira. 1998. Phonic parallelism: evidence from the imperative
form in Brazilian Portuguese. In: PARADIS, Claude et. al. Papers in Sociolinguistics:
NWAVE-26 lUniversit Laval. Qubec, Canad: ditions Nota Bene, (pp.63-72)
TAYLOR, John R. 1989. Linguistic categorization: prototypes in Linguistic Theory.
Oxford: Clarendon Press.
Você também pode gostar
- Relatório de Estágio Ciências ContábeisDocumento46 páginasRelatório de Estágio Ciências ContábeisDoris AlbuquerqueAinda não há avaliações
- Teoria Da IdentidadeDocumento14 páginasTeoria Da IdentidadejoshuaborgesAinda não há avaliações
- Manual Da Metodologia Da PesquisaDocumento2 páginasManual Da Metodologia Da Pesquisagpgbr50% (2)
- Prova SesiDocumento14 páginasProva SesiAdilson Paz0% (1)
- Poetas ContemporâneosDocumento40 páginasPoetas ContemporâneosSoutoAndersonAinda não há avaliações
- NBR 14152 - Dispositivos de Comando BimanuaisDocumento18 páginasNBR 14152 - Dispositivos de Comando BimanuaisRenata Guimarães Cardoso100% (1)
- Texto - A Escola Tem FuturoDocumento22 páginasTexto - A Escola Tem FuturoBruno De Oliveira Figueiredo100% (1)
- Identidade e Diáspora: A Redefinição Identitária de Estudantes Africanos No Brasil.Documento10 páginasIdentidade e Diáspora: A Redefinição Identitária de Estudantes Africanos No Brasil.AlineAinda não há avaliações
- Trovadorismo Exercícios PDFDocumento15 páginasTrovadorismo Exercícios PDFSoutoAnderson0% (1)
- Contribuicao para Uma Metodologia Pesquisa em ArtesDocumento17 páginasContribuicao para Uma Metodologia Pesquisa em ArtesAdilson SiqueiraAinda não há avaliações
- Resenha Figuras de RetóricaDocumento7 páginasResenha Figuras de RetóricaSoutoAndersonAinda não há avaliações
- Itinerários Teóricos Na Pós-Colonialidade PDFDocumento474 páginasItinerários Teóricos Na Pós-Colonialidade PDFPaula Figueiredo100% (1)
- Jornal Do Brasil - Massacre de Vigário GeralDocumento46 páginasJornal Do Brasil - Massacre de Vigário GeralSoutoAndersonAinda não há avaliações
- Jogos Vorazes e A IntermidialidadeDocumento263 páginasJogos Vorazes e A IntermidialidadeSoutoAndersonAinda não há avaliações
- 3771 16361 2 PBDocumento17 páginas3771 16361 2 PBSoutoAndersonAinda não há avaliações
- Homossexualidade Indígena No Brasil PDFDocumento25 páginasHomossexualidade Indígena No Brasil PDFSoutoAndersonAinda não há avaliações
- Dixon - Contos de MAchado de AssisDocumento22 páginasDixon - Contos de MAchado de AssisSoutoAndersonAinda não há avaliações
- Texto SermonísticoDocumento138 páginasTexto SermonísticoSoutoAndersonAinda não há avaliações
- 3771 16361 2 PBDocumento17 páginas3771 16361 2 PBSoutoAndersonAinda não há avaliações
- Engenho e Arte de CamõesDocumento3 páginasEngenho e Arte de CamõesSoutoAndersonAinda não há avaliações
- Antropofagia Trovadoresca PDFDocumento7 páginasAntropofagia Trovadoresca PDFSoutoAndersonAinda não há avaliações
- Cantigas de Escarnio e Maldizer PDFDocumento151 páginasCantigas de Escarnio e Maldizer PDFSoutoAnderson100% (1)
- Sérgio Sant'AnnaDocumento13 páginasSérgio Sant'AnnaSoutoAndersonAinda não há avaliações
- FISH, Stanley - Is There A Text in This Class (Comentário) PDFDocumento6 páginasFISH, Stanley - Is There A Text in This Class (Comentário) PDFGiuliano Lellis Ito SantosAinda não há avaliações
- v7 - Diretrizes para Estudo Teosofico Comparativo-1Documento12 páginasv7 - Diretrizes para Estudo Teosofico Comparativo-1Cemec CursosAinda não há avaliações
- TCHAYANOV - Teoria Dos Sistemas Economicos Não-CapitalistasDocumento26 páginasTCHAYANOV - Teoria Dos Sistemas Economicos Não-CapitalistasJoão BorgesAinda não há avaliações
- Indústria Cultural e Indústrias Culturais Alguns ApontamentosDocumento9 páginasIndústria Cultural e Indústrias Culturais Alguns ApontamentosRafael FlorêncioAinda não há avaliações
- Os Objetivos Do Ensino Da HistóriaDocumento7 páginasOs Objetivos Do Ensino Da HistóriaVinícius GalvinoAinda não há avaliações
- Beane Integração CurricularDocumento20 páginasBeane Integração Curricularlaisediniz4323Ainda não há avaliações
- Relatório de Leitura - Casertano. Definição, Dialética e Lógos. Apontamentos para Um Estudo Sobre A Dialética em PlatãoDocumento3 páginasRelatório de Leitura - Casertano. Definição, Dialética e Lógos. Apontamentos para Um Estudo Sobre A Dialética em PlatãoÀlis SandrAinda não há avaliações
- Resenha História e Evolução Do Direito Empresarial PDFDocumento6 páginasResenha História e Evolução Do Direito Empresarial PDFanasilva7Ainda não há avaliações
- Os Lugares Do Analista No Ensino de Lacan (Dissertação - Erly Alexandrino Da Silva Neto)Documento281 páginasOs Lugares Do Analista No Ensino de Lacan (Dissertação - Erly Alexandrino Da Silva Neto)Fabianne Olivera100% (1)
- Metodologia Cientifica - Resenha LAKATOSDocumento5 páginasMetodologia Cientifica - Resenha LAKATOSDanya Mishurato100% (1)
- Rosemary Ellen Guiley É Um Dos Principais Especialistas No ParanormalDocumento158 páginasRosemary Ellen Guiley É Um Dos Principais Especialistas No ParanormalKahel_Seraph100% (1)
- Sexualidade e Educação Infantil Texto 04Documento13 páginasSexualidade e Educação Infantil Texto 04Camila NogueiraAinda não há avaliações
- A Organização Como Um Sistema AbertoDocumento7 páginasA Organização Como Um Sistema AbertoSergio Alfredo MacoreAinda não há avaliações
- Conceito de Medida - LANNER de MOURADocumento135 páginasConceito de Medida - LANNER de MOURAThaís Gomes NovaesAinda não há avaliações
- DA PESQUISA À DINÂMICA DE GRUPOS Texto 2Documento24 páginasDA PESQUISA À DINÂMICA DE GRUPOS Texto 2Leandro MacielAinda não há avaliações
- Seminário Teoriado Estado Jacques SemelinDocumento18 páginasSeminário Teoriado Estado Jacques Semelinbfonseca_542431100% (1)
- Teorias Clássicas (Taylor, Webber, Fayol) - Tempos ModernosDocumento3 páginasTeorias Clássicas (Taylor, Webber, Fayol) - Tempos ModernosARaposoM94100% (1)
- Sociologia - Educação (Bernstein, Illich, Bourdieu e Willis)Documento4 páginasSociologia - Educação (Bernstein, Illich, Bourdieu e Willis)Eduardo Osti GraciaAinda não há avaliações
- O Ensino Do Gênero Resenha Pela Abordagem Sistêmico Funcional Vian e IkedaDocumento20 páginasO Ensino Do Gênero Resenha Pela Abordagem Sistêmico Funcional Vian e IkedaNaiane ReisAinda não há avaliações
- David Copperfield e O Apanhador No Campo de CenteioDocumento93 páginasDavid Copperfield e O Apanhador No Campo de CenteioMariana Barbieri MantoanelliAinda não há avaliações
- Motivação para Estudar: Como Melhorar?Documento10 páginasMotivação para Estudar: Como Melhorar?Emerson EliasAinda não há avaliações