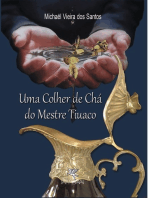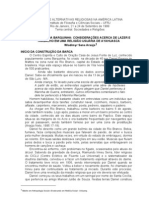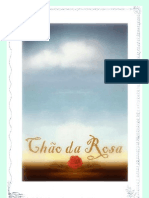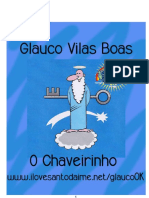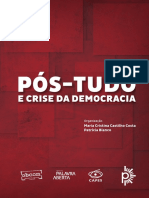Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Teseclodomir
Teseclodomir
Enviado por
Rafael CabralTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Teseclodomir
Teseclodomir
Enviado por
Rafael CabralDireitos autorais:
Formatos disponíveis
www.neip.
info
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
INSTITUTO DE CINCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE CINCIAS SOCIAIS
MESTRADO EM ANTROPOLOGIA CULTURAL
O PALCIO DE JURAMIDAM
SANTO DAIME: um ritual de transcendncia e despoluio
CLODOMIR MONTEIRO DA SILVA
DISSERTAO DO MESTRADO
Recife/Pernambuco
Maro/1983
www.neip.info
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
INSTITUTO DE CINCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE CINCIAS SOCIAIS
MESTRADO EM ANTROPOLOGIA CULTURAL
O PALCIO DE JURAMIDAN
SANTO DAIME: um ritual de transcendncia e despoluio
CLODOMIR MONTEIRO DA SILVA
DISSERTAO DO MESTRADO
Orientador: Roberto M. C. Motta
Apresentada ao programa de Ps-
Graduao de Mestrado em
Antropologia Cultural da UFPe
para obteno do grau de Mestre.
Recife/Pernambuco
Maro/1983
www.neip.info
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
INSTITUTO DE CINCIAS HUMANAS
Examinadores:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Recife, maro de 1983
www.neip.info
Ierec:
sempre cobrindo em casa
as ausncias do pai.
Eloise, Fbio e J ess:
o amanh chegando depressa.
www.neip.info
Homenagem Pstuma
Ao jornalista, socilogo, parente e amigo
GASTO THOMAZ DE ALMEIDA
Ofereceu-me seus ltimos instantes de
lucidez querendo ajudar-me.
www.neip.info
AGRADECIMENTOS
Agradeo a todos os que direta ou indiretamente colaboraram para a
realizao do presente trabalho. Sou especialmente grato:
Ao Professor Roberto M. C. Motta pela segura orientao e compreenso nos
momentos mais difceis;
Universidade Federal do Acre, pela oportunidade;
Ao Professor Moacir Fecury Ferreira da Silva, pelos constantes estmulos;
Ao Professor Amilcar dos Santos Pinheiro e Dr. Flvio Augusto Siqueira de
Oliveira: deram apoio, ateno e tolerncia;
Ao colega e amigo J os Gensio Fernandes: acompanhou-me na pesquisa
de campo e me deu abrigo fsico e moral;
Ao amigo Dr. Antonio Saadi Sobrinho, por ceder-me seu prprio ambiente de
trabalho;
Aos professores e colegas do curso de Mestrado: ouviram com pacincia,
discutiram e deram sugestes;
Srta. Regina Sales Souza Leo, secretrio do Curso de Mestrado: sempre
prestativa e amvel;
Ao J os Cludio da Silva Santos pela providencial ajuda, datilografando o
texto;
s irmandades visitadas e Ftima Almeida, sem a ajuda delas jamais
realizaria o trabalho.
www.neip.info
Eu estava num palcio
da soberania
Quando vi chegar meu Mestre
Com a sempre Virgem Maria
Tangido por uma fora
Suspendi o meu pensamento
Avistei um lindo palcio
Submerso no firmamento
Dentro daquele palcio
Eu vi uma grande luz
Prostrei-me diante dela
Era o meu Senhor J esus
Eu cheguei num palcio
Vi o palcio a brilhar
O meu Mestre na minha frente
Ele estava a me ensinar
www.neip.info
SINOPSE
O culto do Santo Daime responde a necessidades de grupos que se situam
entre populaes primitivo/rsticas e rstico/urbanizadas e que tambm sofrem
presses do contexto macrossocial amaznico, pertencendo, pois, a uma formao
sociocultural intermediria. Santo Daime identifica o ritual de consumo e a
hierofanizao da prpria bebida, produzida por decoco da Banisteriopsis Caapi
Spruce e Psychotria Spruce, duas plantas utilizadas por indgenas e caboclos
bolivianos, peruanos e brasileiros. Os dois grupos (modelos socioculturais) descritos
aqui funcionam na cidade e arredores de Rio Branco com razes histricas comuns
no grupo pioneiro surgido na segunda dcada deste sculo na cidade acreana de
Brasilia. Histrica e estruturalmente esto associados ao movimento migratrio
regional e inter-regional e progressiva expanso da sociedade global. Os
comportamentos (Cantos do Exlio e Vozes do xodo) caracterizam respectivamente
grupos antigos j fixados e os mais recentes expulsos dos seringais ou atrados pela
frente de ocupao capitalista. No se trata porm de oposio exclusiva entre os
dois comportamentos e sim de uma dialogia
(*)
social. Os Sistemas de J uramidan,
todavia, no se explicam apenas como resposta a crises, mas se constituem em
experincias de homogeneidade onde a imprevisibilidade gerou manifestaes
culturais hbridas atravs da repetio de ritos de renovao universais. O sonho e
as experincias extticas instituem estruturas de plausibilidade
(*)
e padronizao de
relaes sociais onde a metade noturna do homem no se divorcia da metade
diurna. A ponte entre o tempo onrico e o tempo da viglia ainda no se rompeu ou j
foi reconstituda.
(*)
Apud Mario Chamie, 1972 p.10ss,Texto Monolgico e Texto Dialgico
(*)
????????
www.neip.info
ABSTRACT
The Santo Daime worship meets the needs and pressures of the amazonian
macrossocial enviroment. It is located between the primitive/rural populations anda
the rual/urban ones, they are then groups who belongs to an intermediary
sociocultural background. There apperars as ritualization of consuntion of the
Banisteriopsis Caapi and Psychotria Spruce, two hallucionogenic plants used by
indians and caboclos (bolivian, peruan and brazilian). Both groups (sociocultural
patterns) described here work in the city and outskirts of Rio Branco with historical
origins usual among the pioneer group which appeared in the second decade of this
century, in the acrean city of Brasilia. They are historically and structurally
associated to the regional and interregional migratory mouvement and to the
progressive development of the global society. The behaviorus (Cantos do Exlio e
Vozes do xodo) characterize respectively old groups who are already settled and
the most recent ones who have been driven out of the seringais or attracted by the
capitalist occupation. It is not a matter of exclusive opposition between the two
behaviorus but a social dialogy.
The Sistemas de J uramidan, however, cannot be explained only as na
answer to crises but they are also experiences of homogeneity where the
imprevisibility gave birth to hibrid cultural manifestations by means of the repetition of
ritual of universal renewals. The dream and the hallucinatory experiences form
structures of credibility and standardization of social relationships where the nigently
half of man cannot be separated from his daily half. The bridge between the sleeping
time and that of the vigil has not been broken yet or has been reconstituted.
www.neip.info
SUMRIO
I - INTRODUO
O Culto do Santo Daime como Objeto de Estudo.
O Santo Daime: Aspectos Etnobotnicos e Titoqumicos.
II ESTRATGIA DE ABORDAGEM.......................................................
Um ritual de Passagem.........................................................................................
Expanso e Concentrao Demogrfica na Amaznia. ........................................
A penetrao Capitalista e Suas Conseqncias..................................................
Concentrao e Expanso Demogrfica ..............................................................
Penetrao Capitalista, Urbanizao, Desorganizao Social e Organizao
Cultural ..................................................................................................................
Experincias de Homogeneidade..........................................................................
Durao Real, Durao Mtica e Durao em Si ..................................................
Ecologia dos Atos e Ordenaes Corpreo-temporais ........................................
Vozes do xodo e Cantos do Exlio .....................................................................
Vozes do xodo ....................................................................................................
Cantos do Exlio ....................................................................................................
Os modelos Scio-Culturais .................................................................................
Centro Esprita e Culto de Orao Casa de J esus Fonte de Luz ......................
Centro Esprita F, Luz, Amor e Caridade ............................................................
Centro Esprita Beneficente Unio do Vegetal .....................................................
Os sistemas de J uramidan....................................................................................
Crculo Regenerao e F.....................................................................................
Centro de Iluminao Crist Universal ..................................................................
(Alto Santo)............................................................................................................
Centro de Iluminao Crist Universal Raimundo Irineu Serra
CEFLURIS Colnia 5000....................................................................................
www.neip.info
III O CULTO DO SANTO DAME ............................................................
Os sistemas de J uramidan....................................................................................
Primeiras experincias .........................................................................................
A Legitimao dos Mestres ..................................................................................
O Santo Daime .....................................................................................................
O Caminho para o Astral ......................................................................................
A Dana ................................................................................................................
O Ritual de Transferncia e Despoluio .............................................................
O Sonho e as Experincias Alucinatrias..............................................................
Vises de Iniciao ...............................................................................................
A Prece .................................................................................................................
O Hinrio ...............................................................................................................
As Santas Doutrinas..............................................................................................
Os Sacramentos....................................................................................................
A Linha do Daime..................................................................................................
IV O CULTO DO SANTO DAIME E O CONTEXTO MACROSSOCIAL.
O Projeto de Ordem...............................................................................................
O Palcio de J uramidan........................................................................................
Consideraes Finais ............................................................................................
V DEPOIMENTOS..................................................................................
VI HINRIO (Antologia).........................................................................
VII QUADROS .......................................................................................
VIII PLANTAS.........................................................................................
IX INDICE TERMINOLGICO................................................................
XX BIBLIOGRAFIA ...............................................................................
www.neip.info
1. O Culto do Santo Daime como objeto de estudo
O consumo ritualizado de uma beberagem considerada sagrada, o Santo
Daime, por dois centros de espiritismo popular, nos arredores de Rio Branco, Acre,
o assunto principal da presente monografia.
A pesquisa realizada em trs etapas, tentou reconstituir o processo histrico
formativo dos grupos, a estrutura simblica e social, bem como as partes centrais
dos rituais.
Na fase preliminar, de agosto a novembro de 1978, com objetivo de
apreenso simultnea da estrutura simblica e do intenso sistema de trocas, foi feito
o levantamento exploratrio dos grupos atravs de entrevistas abertas, observao
participante, fotos, registros dos cantos (hinos), danas e demais atividades
predominantemente religiosas.
A presena de traos da cultura indgena na forma de preparo da bebida, no
ritual de consumo, palavras nos hinos, bem como a mitificao (hierofania) do sol,
da lua, na interpretao e forte influncia do sonho (e das miraes ou vises
extticas), por um lado, e as tcnicas de concentrao, devoo dos santos e
prticas tradicionais do cristianismo, de outro, pareciam indicar um conjunto cultural
sincrtico, com elementos de formaes sociais rsticas e urbanizadas. Constatou-
se at a estreita relao dos rituais com o dia-a-dia dos devotos, envolvendo e
dinamizando esferas da vida de cada um e dos grupos. O consumo do Santo Daime
sugeria no poder ser descrito como simples manifestao patolgica de indivduos
ou delrio coletivo, de efeitos danosos sade fsica e mental. Referido culto e o
intenso sistema de trocas inter e intragrupos pareciam apontar para uma articulao
funcional e estrutural; estariam respondendo s necessidades e presses do
contexto onde concretamente existem.
Durante os primeiros quatro meses de maio de 1980 efetuamos nova
pesquisa de campo, procurando aprofundar variveis relacionadas com as hipteses
mencionadas no pargrafo anterior. Era preciso reconstituir a histria do culto a
partir dos dados preliminares colhidos junto a participantes do extinto centro
pioneiro, o Crculo Regenerao e F (CRF), Brasilia, Acre. Por ocasio da
www.neip.info
observao participante, dessa segunda etapa, iramos levantar informaes ligadas
tambm hiptese fundamental de que o culto do Santo Daime seria vasto ritual de
transcendncia e de despoluio.
A terceira etapa desdobrada em trs fases, realizada respectivamente, nos
quatro primeiros meses de 1981; de maio a dezembro do mesmo ano e, finalmente,
durante o primeiro semestre de 1982. Aps levantamento e anlise da bibliografia
disponvel sobre uso ritualizado da ayahuasca, outro nome para a bebida entre
indgenas, caboclos e populao urbana de Tarauaca, no Acre, voltamos a entrar
em contato com os Sistemas de J uramidan, designao que utilizamos para os
grupos pertencentes tradio do CRF. Pretendamos elucidar questes
relacionadas ao feitio, rito de preparo da beberagem, e como se verificava o
processo de legitimao dos novos hinos. Buscvamos estabelecer comparaes
entre o atual estgio do culto e as antigas manifestaes mgico-religiosas
associadas ao consumo desses alcalides. Os relatos fornecidos por antroplogos e
publicaes especializadas acusavam a presena de um continuum: medida que
nos afastvamos dos grupos urbanos a institucionalizao da funo social do
sonho e das experincias alucinatrias era mais acentuada. Os autores apontavam
a sobrevivncia do uso cerimonial como legitimao da organizao social entre
grupos praticantes de aldeias prximas s margens dos rios J urua e Purus (77), em
estgio de transfigurao tnica (113:454).
A primeira fase da ltima etapa caracterizou-se, portanto, pelo levantamento e
prtica participante junto aos dois mais importantes ritos ligados idia central da
investigao. A anlise dos novos dados levou-nos ampliao da investigao pela
qual elaboraramos as concluses. Assim, na segunda fase dessa ltima etapa,
tratamos de relacionar os ritos de transcendncia e de despoluio com um possvel
projeto de ordem que surgia como tentativa de explicao funcional/estrutural.
Queramos uma estratgia de interpretao que simultaneamente desse conta dos
aspectos simblicos do culto sem limitar tal interpretao a qualquer determinismo.
O projeto de ordem, contudo, apresentava contornos diferentes em ambos os grupos
pesquisados. Os dois, porm, poderiam ser interpretados como respostas s
presses e necessidades do contexto macrossocial, eram mais que simples
manifestao de protesto ou conformismo face s mudanas social e econmicas
www.neip.info
ocorridas na regio; poderiam tambm ser analisados como estruturas de
plausibilidade, cuja viso do mundo indicava uma mudana etolgica, com a
incorporao dos novos padres culturais amerndios, sem contudo abandonar
antigos valores e formas de percepo e construo da realidade. Ambicionvamos,
assim, responder perguntas de como os grupos surgiram e porque ainda
subsistiam. Os grupos pareciam estar relacionados aos comportamentos coletivos
de fixao s novas condies ambientais ou de resistncia. Classificamos os dois
estilos de comportamento ou atitude coletiva de Cantos do Exlio e Vozes do
xodo, adotando como estratgia de abordagem a formulao de um ritual de
passagem. As experincias alucinatrias poderiam tambm ser antepostas, no de
forma exclusiva ou definitiva s experincias de acomodao ou busca de uma
ordem voltada para a soluo de necessidades imediatas. Verificamos, por fim, que
o pensamento mgico-religioso, apesar de refletir socioculturalmente as formaes
intermedirias, num processo de reinterpretao cultural, repetiam ritos de
renovao conhecidos universalmente. Com isto consequamos uma interpretao
abrangente que dava conta do diferente e do semelhante, sem cometer o erro do
determinismo ou prender as manifestaes de conscincias individuais e coletivas
s necessidades e presses do ambiente.
www.neip.info
2. O Santo Daime: aspectos etnobotnicos e fitoqumicos
O Santo Daime preparado por decoco de ramos e folhas da
Banisteriopsis Caapi e de folhas de espcies de Psychotria Spruce. SPRUCE (123)
teria sido o primeiro a chamar a ateno para a importncia daquela trepadeira, hoje
conhecida por Banisteriopsis Caapi (SPRUCE e CRISEBACH) MORTON
SCHULTES (117).
Foi FISCHER (54) segundo CHEN & CHEN (28), ratificado por REICHEL-
DOMATOFF (112) quem isolou do Yag (Iag) um alcalide cristalino, denominado
por ele de telepatina. No tendo feito a rigorosa identificao botnica da espcie,
outros apresentaram o mesmo problema | ALBARRACIN (2), PERROT & HAMET
(104, 105), SCHULTES (118, 119, 120) |OCONNEL (100).
ELGER (44) constatou que o alcalide descrito por FISCHER (54) era idntico
harmina, isolada anos antes de um arbusto do Oriente Prximo, o Peganum
Harmala, cujas propriedades alucinognicas eram h muito conhecidas (61). Os
termos telepatina, yageina ou banisterina, at ento empregados pelos
pesquisadores resultaram, pois, em simples sinnimos de harmina. Posteriormente,
quando se conseguiram identificaes botnicas mais precisas, foi possvel
determinar a presena de harmina em B. Caapi e em B. Inebrians, derivados dos
beta-carbolinos e d-tetraidroarmina | BRISTOL (23:115/116), NARANJ O (95:394) e
SCHULTES (120:250).
PRANCE GT & PRANCE E (107) e PRANCE G.T. (108), DER
MARDEROSIAN (36 & 37), LINDGREN & RIVIER (77), LINDGREN (76) e
HOLMSTEDT & LINDGREN (66) descrevem o processo de preparo, material e
alcalides entre grupos indgenas do tronco lingstico Pano que vivem na rea
cultural J uru-Purus semelhantes aos que constituem nosso objeto de estudo.
www.neip.info
A anlise do Santo Daime, ou dos materiais especificamente utilizados em
seu preparo
(1)
, constatou a presena das drogas alcaloidicas quinina e seus
ismeros (frmula bruta) C20H24NO2 3H20; e hyoscina (Scopolamina) (frmula
bruta) c17H21NO4. A quinina e seus ismeros so prontamente absorvidos,
quando por via oral, ocorre principalmente na poro superior do intestino delgado.
A ao da quinina se faz sentir predominantemente sobre as Enzimas em geral,
Sistema Nervoso Central (SNC), sistema crdio vascular, sistema muscular e
sangneo. Os sintomas observados em grau intenso, compreendendo cefalia,
descontrole da presso, excitao, febre e, em doses excessivas, delrios e
sncopes. So essencialmente citotxicas em doses exageradas, lesando o SNC,
corao, rim, fgado e consequentemente dando manifestao clnico-toxicolgicas:
zumbidos, transtornos visuais, arritmia, colapso, choque, convulses e coma (126).
Com referncia aos efeitos especificamente provocados pela Escopolamina e
ismeros afirma que uma droga que atua sobre o Sistema Nervoso Autnomo
como Parasimpaticoltica, capaz de paralisar o Sistema Parasimptico, bloqueando
a ao de acetilcolina sobre os efeitos celulares. As doses teraputicas podem
produzir dilatao pupilar, com transtornos da viso e aumento da tenso intra-
ocular. As doses txicas produzem a curto tempo sintomas de excitao psicomotriz,
com delrio, alucinaes visuais terrorficas tais como animais selvagens
(macrozoopias) que provocam o pavor ao indivduo. As pupilas do intoxicado
mostram-se dilatadas as faces roxas e a boca seca por paralisia da secreo salivar,
com extrema dificuldade para deglutir. A intoxicao por escopolamina deprime o
sistema nervoso aps uma breve excitao. A taquicardia freqente como
alucinaes como tambm alteraes eletroencefalogrficas (126).
(2)
(1)
Anlise feita em Braslia, encaminhado ao Departamento de Polcia Federal do Instituto Nacional
de Criminalstica, a pedido de trs centros que utilizam a bebida. Laudos 10169 e 16658 de 3 de julho
de 1973 e 11 de fevereiro de 1974, respectivamente, em substncia lquida; Drcio Marques
Rodrigues e Casemiro dos Santos com o cip mariri (jagube) e a folha chacrona (rainha ou mescla).
(2)
Nem as anlises acima e tampouco nossa pesquisa de campo se realizaram experimentalmente
com seres humanos. No primeiro caso, parece ter havido simples transcrio de trabalhos
fitoqumicos e farmacolgicos j consagrados. Nossa observao se conduziu, principalmente, dentro
de preocupaes ligadas aos fenmenos psicossociais e culturais. Esclarecemos ainda que o
permanente e rgido controle na distribuio das doses da bebida e a prpria experincia vivida por
aqueles que, no observando recomendaes dos mestres, se intoxicam, permitem a concluso de
que as doses quase raramente ultrapassam o limiar teraputico.
www.neip.info
II- ESTRATGIA DE ABORDAGEM
www.neip.info
3. Um Ritual de Passagem
O Culto do Santo Daime surge no contexto de uma Amaznia humana e
social, entre a realidade do sonho e sonho de realidade; Amaznia feita de xodo e
exlio, em estase e xtase, podendo ser descrito como resposta s necessidades e
presses do ambiente concreto onde existe.
Pretendemos inicialmente introduzir o conceito instrumental de ritual como
estratgia de abordagem desse ambiente e fornecer um quadro geral classificatrio
de comportamentos cclicos que caracterizam, histrica e estruturalmente, o
processo de expanso da sociedade global. Indicaremos portanto, aspectos da
experincia humana e social, estados mentais e atos psquicos coletivos
(3)
no
mecanismo de passagem entre populaes diferenciadas socioculturalmente, em
planos e nveis opostos, mas no exclusivos.
oportuno lembrar que a ocupao da Amaznia, tem ocorrido de forma
espontnea e/ou dirigida, por iniciativa privada, com indivduos, famlias e grupos,
sob auspcios do Estado, por meio de incentivos especiais, buscando resolver, entre
outros, o problema do excesso demogrfico de outras regies do pas. A migrao
para a Amaznia adquire assim dimenses significativas a partir do ltimo quartel do
sculo passado. Sua motivao mais direta, o chamado ciclo da borracha, ir marcar
a realidade de uma formao social e cultural intermediria, polarizada, do ponto de
vista psicossocial, no intervalo de dois momentos fundamentais: o de antes e o de
depois.
Percebe-se ao longo de sua histria a constante repetio, entre indivduos e
populaes que chegam e se vo, de um tempo-tenso quando, de forma cclica as
antigas expectativas desaparecem, passam perodos de frustrao e desiluso,
adquirindo, aps novo processo de deslocamento no espao, novas esperanas.
O durante se aproxima bastante do conceito de durao que emprestamos
filosofia bergsoniana. A durao real histrica e social, seria experimentada de forma
(3)
Segundo conceito de GURVITCH (63)
www.neip.info
diferente. Uma durao em si, durao que a cincia elimina, que difcil de
conhecer (21).
BASTOS (13:2) considera a realizao dessa nova formao sociocultural, no
Acre, como produto de uma fuso
...entre dois estgios diferenciados de vida, mesmo
porque o prprio aparato visual mudava: no via (o
nordestino) nas brenhas acreanas nem o cangaceiro
hpico, nem o profeta de cruz alada. As novas condies
etolgicas operavam uma mutao gentica no
comportamento.
A durao bergsoniana e a proposta de BASTOS se completam e ajudam a
explicar a construo de uma realidade psicossocial e cultural com os gestos,
palavras, estados mentais e atos psquicos coletivos configurando um tipo de
apreenso etolgica. A prpria viso do mundo e a modalidade de percepo
sensorial e concepo da realidade social se alterariam:
...a solido e a volta a um contato mais direto e spero
com a natureza obrigavam o nordestino fixado a uma
reviso constante de valores, quer conscientemente ou
no. Tudo ali tinha que ser vivido dia a dia, sem iluso
alguma, sem projeto e sem ajuda de fora. Dentro de uma
realidade bruta insocivel, no bastavam as energias
antigas. O antes e o depois friccionados resultariam num
presente, numa contemporaneidade de efeitos
transformadores (13:3)
A nova realizao, de contornos diferentes no contexto macrossocial,
apresenta a ambigidade da coexistncia de dois tipos de durao padronizados,
isto , coletivos, de duas sees da sociedade global que se encontram no prprio
fazer da expanso dessa ltima. No h dvida de que se verificariam novos
princpios de percepo, de intuio, em funo dos valores assimilados. Tais
valores viriam a se acrescentar aos de antes, oriundos da civilizao ocidental, via
nordeste, com todo complexo da formao lusotropical.
O nordestino fixado, no exlio, teria passado por processo de redescoberta
cognitiva, comeando pela incorporao e reorientao de idias, crenas e
www.neip.info
smbolos ocultos e explcitos, no encontro de conjuntos culturais profundamente
influenciados por duas civilizaes: a primitiva, amerndia, e a brasileira, ocidental.
O conhecimento, vale dizer, a construo cognitiva da realidade social, e suas
estruturas de plausibilidade, teriam obedecido a fundamentos ticos, pois, como
argumenta MONOD (87:194):
... a escolha tica de um valor primitivo que funda o
conhecimento.
A tica do conhecimento seria imposta pelo homem a si mesmo sendo,
axiomaticamente, a condio de autenticidade de todo discurso e de toda a ao.
O discurso e a ao ocorreriam numa situao ecolgico - cultural, de um
novo tipo de miscigenao, que BASTOS denomina caldeamento psicolgico. Por
ele o homem amaznico, desse tempo de passagem
...conviveria dentro de novos padres evolutivos (13:3).
Mas o caldeamento obedeceria a natureza descontnua do processo de
ocupao, e, mais profundamente, da evoluo cultural, numa perspectiva
biopsquica e social. A durao e as formas de fixao determinariam o ponto de
intermediao.
O Estudo no vai alm das populaes rsticas situadas que, no interior do
territrio brasileiro, regies limtrofes com a Bolvia e Peru, viveram e ainda vivem,
em contato direto ou indireto com grupos primitivos de caractersticas tribais. No
descrevemos minuciosamente as estruturas e organizao social daquelas, dessas
ou das urbanizadas. Tomamo-las como extenso em estgios diferenciados da
sociedade global. A preocupao etnogrfica com os sistemas culturais, mgico-
religiosos, situados h alguns quilmetros da capital do Acre, Rio Branco. A religio
ser considerada como revelador dinmico | BALANDIER (8:passin) | da
intermediao entre as populaes.
www.neip.info
A reorientao se aplicaria s dimenses macro e microssocial. A ltima,
enquanto revelador inclusivo da primeira, poderia ser considerada processo de
reinterpretao HERSKOVITS (65:376/380) BASTIDE (9:531 ss.) | desde que
observemos as correes efetuadas por MOTTA (92).
No caso especfico do Culto do Santo Daime, Sistemas de J uramidan, seria
possvel localizar traos amerndios incorporados recentemente, convivendo com
outros mais remotos. Esses, provavelmente, constituem patrimnio da cultura rstica
nordestina transplantada e das formaes locais, delas fazendo parte integrante, h
muito. Aqui aproximamo-nos do conceito de sincretismo. Preferimos, contudo,
acompanhar MOTTA conservando, porm, o termo reinterpretao.
O Xang enquanto conjunto cultural ou simblico, alm de responder a
presses e necessidades concretas do contexto macrossocial do Recife | MOTTA
(93) | , primordialmente, expresso autntica da cultura brasileira e da prpria
natureza humana, no sendo nunca simples prtese de carter religioso. O
sincretismo, seria pois,
...a simultaneidade de dois vocabulrios de uma mesma
lngua sintagmas diatpicos com contextos diferentes para
a transmisso da mesma mensagem, dentro de princpios
de gerao nem mais africanos, nem europeus, mas
brasileiros, ns. | MOTTA (92:197) |
assim, acima dos elementos heterclitos, na aparente desordem ou inautenticidade,
sem o determinismo, de alguma lgica cultural, prevalece a natureza humana em
sua rica dialtica social, confirmando o diferente apontado por BASTOS. Teramos
na Amaznia, nas pluralidades de minorias cognitivas, uma reinterpretao
orientada no s pela necessidade mas igualmente pelo acaso.
Neste sentido, o surgimento na Amaznia de minorias cognitivas com suas
estruturas de plausibilidade especficas revelaria na diferena etolgica as
semelhanas humanas universais. Espcie de constante volta ao incio, sem que
isto signifique regresso ou involuo cultural.
www.neip.info
Seria oportuno apontar a trajetria histrica de tais conjuntos. Na
impossibilidade de faz-lo suficientemente, dada a natureza metodolgica, limitar -
nos - emos a indicar as caractersticas principais, gerais.
A forma de ocupao do espao, tipos de contatos com populaes indgenas
e, mais recentemente com as rsticas
(4)
, situam tais grupos num ponto
intermedirio, em transio.
Considerando o estado de crise, de insegurana, de aparente
desorganizao, mudana ou disnomia, podemos desenvolver a idia de um ritual
de passagem no prprio exerccio de apreenso do fenmeno e na realidade cultural
concreta apreendida.
O Ritual de Passagem
O contexto macrossocial e a prpria articulao esquemtica de um ritual de
passagem fazem parte da varivel independente. Se a tomamos pressuposta, no
aprofundamos os detalhes e implicaes, se a enfocamos numa nova perspectiva
devemos justificar o procedimento.
Usaremos, para isto, duas concepes de ritual, correspondendo a
fenmenos de mudana, no xodo, e como respostas adaptativas dos grupos, com
seus conjuntos simblicos, na durao de um tempo de exlio. Ambas se completam.
A primeira se aplica a fenmenos extraordinrios, coletivos, traumatizantes, a
segunda aos fenmenos individuais e coletivos, religiosos, num sentido "stricto
sensu" conforme classificao de MAUSS (80:333). Nos dois casos, o ritual,
enquanto acontecimento representativo, diz respeito sociedade, em suas
diferentes seqncias estruturais, de marginalizao (perifrica) ou integrada ao
sistema social.
Comentando a comunicao de LUC DE HEUSCH sobre conceitos de ritual e
cerimnia entre etlogos e etnlogos, MORIN parte da idia freudiana segundo a
qual:
(4)
Seguiremos parcialmente a conceituao de QUEIROZ (109)
www.neip.info
...um estado de crise poderia encontrar uma soluo
neurtica num ritual, isto , num comportamento
simblico que traz, magicamente, uma espcie de
resposta, para a incerteza, para a desordem, para a crise.
Conceber o rito como preveno ou resposta a alguma
crise (incerteza, desordem, conflito) permitiria talvez que
se estabelecesse uma espcie de ponte entre formas de
rituais diferentes, mantendo-se ao mesmo tempo a
especificidade do ritual humano (91:213).
Para ALVES a noo de ritual, antes conectada definio de religio e s
distines entre sagrado e profano , foi enriquecida nas anlises contemporneas
onde se ressalta seu carter comunicativo, pois ao articular elementos simblicos,
os eventos rituais so propcios interpretao, comunicao e a transformao
(3:21). Apoiando-se em LEACH, alm de um elenco de antroplogos, sustenta ainda
que:
a ordem social ... o sistema das relaes sociais tal
como so vividas no cotidiano, mas que no se revelam
de tal forma seno em momentos especiais, como so os
rituais (3:23).
LUC DE HEUSCH (31) advertiu-nos sobre o perigo do debate na natureza
psicolgica e sociolgica da religio. Tal debate estril, diz ele, na medida em que
a aparente contradio esconda uma experincia fundamental que a desgraa e a
finitude. Dizendo que os funcionalistas recuperam apenas parte da realidade, pois
esquecendo de tratar a utopia religiosa como tal, limitam-se a descrev-la como
instrumento de controle social sacrificando muitas vezes os fatos. Ora, argumenta,
se a religio se refere ao indivduo tanto quanto sociedade, os ritos individuais ou
coletivos
... se definem como categoria autnoma del
lenguaje hablado y gestual. Introducen un proyecto
de ordem para defender o restaurar al ser
degradado, acrecentar su potencial vital o,
inversamente, destruir el ser del outro. Estas
diversas modalidades, que se aplican tanto a la
accin ritual individual como colectiva, se inscriben
en el tiempo (31:279).
www.neip.info
A distncia entre os que defendem o carter comunicativo do rito e os que se
batem pela perspectiva funcionalista parece se eliminar diante da sugesto de se
estabelecer a ponte entre rituais diferentes que conservem a especificidade do
humano. Seria, pois, a compreenso do ritual como uma complexa rede de relaes
entre o natural e o cultura, o biolgico e o psicolgico. Eliminar-se-iam as diferenas
entre infra e supra estruturas, ganhando o ritual um status privilegiado nos
processos adaptativos dos grupos humanos.
O ritual envolvendo os grupos intermedirios, em especial os Sistemas de
J uramidan, seria considerado componente do mecanismo adaptativo, numa espcie
de truque onde a seleo no seria simples processo natural. Como observa
SAHLINS (115)
... nos estudos ecolgicos pouco enfatizado o fato de
que, antes de poder haver uma seleo natural, tem de
haver uma seleo cultural: a dos fatos naturais
relevantes. A seleo no um simples processo natural.
Ela se origina numa estrutura cultural, a qual, por suas
prprias caractersticas e finalidades, define o contexto
do meio ambiente especfico a ela. Essa estrutura cultural
decide, por assim dizer, a forma efetiva e a intensidade
das foras seletivas (115:10).
O ritual de passagem no contexto amaznico, onde o cultural e o natural, nas
perspectivas das presses e necessidades do ambiente, interagem dinmica e
simbolicamente, mais que simples imaginao fantasiosa ou signo de sndrome
patolgica. , sobretudo, a afirmao da dialtica da vida social onde a ritmia e a
disritmia, sonho, mito, magia, festa, canto, dana, doena, crena, medo, fome,
ordem, desordem, valores primitivos indgenas e urbanos, complexos simblico-
religiosos se articulam, estabelecendo a durao interior, num tempo-espao
existencial.
O projeto de ordem, enquanto vasto discurso da ao, envolve aspectos
biopsquicos e socioculturais sincrnicos, relacionados a riscos ambientais,
sobretudo instabilidade das condies scio-econmicas.
www.neip.info
Certos smbolos, idias e crenas, contudo encontram explicao de como
vieram a ser como so se se levar em considerao o processo de expanso da
sociedade global em momentos crticos de paradas e efervescncias.
Se o estgio intermedirio entre as populaes rsticas em rpida
transformao , quer pela penetrao da cultura urbana ou eliminao das antigas
estruturas de relaes sociais e as populaes urbanizadas, acusa a tenso de uma
durao onde traos de ambas se fazem presentes , torna-se necessrio
caracterizar os padres de realizao do mecanismo de passagem.
Entre os traos que marcam a passagem esto as condutas (ou
comportamentos) coletivas, os modelos (sistemas) culturais que, num nvel mais
profundo, revelam estados mentais e atos psquicos adaptativos com seus cdigos
ou mapas cognitivos correspondentes.
As estruturas de plausibilidade surgiro, pois, num contexto de tenso, de
disritmia, entre a realidade do sonho, prpria das populaes primitivas e o sonho
da realidade, sempre presente nas populaes urbanizadas, herdeiras tambm da
viso do paraso difundida desde os tempos da conquista colonial.
Alguns relatos de miraes parecem acusar a presena do mito do
eldorado e da viso do paraso entre conquistadores espanhis e portugueses,
especificamente os tesouros enterrados pelos pr-colombianos no Peru (cf. DE
HOLANDA, 33:65/103).
Dois depoimentos ilustram tal presena em termos manifestos, mas em
contextos diferentes. O primeiro por ocasio da descrio de uma mirao do
primeiro mestre da ayahuasca no Brasil, atravs de sua esposa
(5)
(I), o segundo, no
discurso de legitimao tica do movimento messinico milenarista, pelo Padrinho
Motta, na Colnia 5 Mil, ao dizer:
...pr que tanto ouro, sem ter tesouro. Ouro sem tesouro
no vale nada...
(5)
significativo que a presena dessa ltima famlia no Peru, em parte se justificava pelo trabalho de
minerao. Assim nos conta Aquileu (cunhado de Antonio Costa), ...quando eu cheguei ao Peru
estava um trabalho de ouro, e eu me animei a trabalhar com ouro e fiquei l....
www.neip.info
O trabalho que ensina tudo a Antonio Costa, alm de caracterizar uma
percepo sensorial que incorpora o mito, indica tambm modos especiais de
comportamento, em experincias de homogeneidade
(6)
estabelecendo uma ponte
para a compreenso de processos biopsquicos que tambm regem as sociedades
primitivas e intermedirias.
A realidade do sonho se delinearia numa viso do mundo comum s culturas
indgenas, ou o princpio relaciona-se com a funo social do sonho.
O sonho (enquanto marca do mito no decodificado em vises) identificaria
a civilizao ocidental onde segundo BASTIDE:
...esto cortadas as pontes entre a metade diurna e a
metade noturna (11:138).
L os sonhos espontneos ou estimulados e associados aos transes extticos
precisam ser considerados naquilo que alguns etnlogos denominam bastidores do
sonho onde est sempre aberta a porta entre as duas metades da vida do homem
fazendo com que ocorram trocas incessantes entre o sonho e o mito, entre fices
individuais e as sujeies sociais, com que o cultural penetra o psquico e com que o
psquico se inscreve no cultural... (11:139).
Conforme nos lembra RECHEL-DOLMATOFF (112)
(7)
, provvel que a
experincia alucinatria entre os indgenas seja de grande importncia exatamente
por que o transe exttico alcanado em estados naturais ou provocados de xtase.
xtase individual ou coletivo que se articula com momentos de transformao ou
modificao do metabolismo. Enquanto a primeira aponta para reaes psquicas, a
segunda incorpora disfunes orgnicas, manifestando-se como paralisao dos
humores do corpo. Ambos, contudo, participam do vasto sistema simblico que
caracteriza os grupos mgico - religiosos em foco.
(6)
Ver Captulo 5.
(7)
se relacionar estreitamente e em parte at causalmente com seus conceitos mgico
religiosos , com o manejo de diversos estados de conscincia e percepo fundamentais para nossa
compreenso dos processos mentais e psicolgicos que regem ou guiam essas sociedades.
(112:59/60).
www.neip.info
As homologias dos conjuntos xodo/exlio, populaes rsticas e
urbanizadas, em ritmos e variaes acima esboadas referem-se respectivamente a
movimentos migratrios em diferentes momentos do processo de expanso da
sociedade global. Devem ser classificados como fenmenos includos no nvel
sociocultural.
Chegamos ao seguinte esquema classificatrio:
NVEIS
psicossocial sociocultural
Experincias
(A) (D) entre populaes
da realidade do rsticas e popu-
sonho ao sonho laes urbaniza
da realidade das
(B) xodo e exlio
(C)
em xtase e
em estase
ecolgico-cultural hist-estrutural
formaes
Planos
Tendo em mente que a expresso que conduz a experincia,
desenvolveremos a idia de que os movimentos e estados de xodo e exlio, em
momentos de predomnio das necessidades prticas ou naqueles eminentemente
mgico - religiosos, podem ser explicados num contexto nico.
Rotulados como intermedirios das populaes rsticas e urbanizadas, os
conjuntos ou sistemas simblicos apresentam atualizao da natureza simblica do
homem. Fenmenos da reinterpretao repetiriam ordens de significados universais
de pessoas e coisas.
Uma vez que essas ordens so sistemticas, elas no
podem ser livre inveno do esprito (115:10).
www.neip.info
Interessa, enquanto tarefa antropolgica, descobrir ou revelar tais sistemas,
pois, como prudentemente reconhece SAHLINS, a antropologia
...no pode mais contentar-se com a idia de que os
costumes so simplesmente utilidades fetichizadas
(115:10).
Fortalecendo o tratamento psicossocial e sociocultural, xodo e exlio
inscrevem-se como comportamentos adaptativos e, paradoxalmente, no-
adaptativos.
A expresso ou ordem de significados remetem para atividades
prioritariamente prticas como produzir alimentos, colher ltex, criar gado, construir
casas, comer, beber, dormir ou aes mgico - religiosas onde temor e coragem,
tristeza e alegria, prazer e dor se revezam e se inserem como significantes de uma
ao social ritualizada. Por isso mesmo, fugindo de interpretaes fetichistas, no
vemos motivo para no incluir as duas prticas no plano ecolgico - cultural.
Visando entender as minorias cognitivas com suas estruturas de
plausibilidade enraizadas num contexto mgico religioso de sonho e realidade,
xtase e estase, articulou-se neste captulo a proposta de abordagem do processo
de ocupao da Amaznia na forma de um ritual de passagem.
Referindo-se duas dimenses, cobrindo experincias diferentes, utilizamos
dois conceitos de ritual, quanto a sua extenso, mantendo-se inaltervel a essncia
do mesmo.
As experincias ritualizadas anunciadas dizem respeito a comportamentos,
palavras e gestos de um projeto de ordem cuja simbolizao apresenta como
contedo dois tipos de respostas opostas mas no reciprocamente excludentes. Os
padres de respostas, porque repetitivos e cclicos, associam-se a movimentos
sociais de concentraes demogrficas em reas intermedirias ecolgica e
culturalmente.
H um ritual de passagem que expressa simultaneamente o desejo e a
impossibilidade de se fixar num espao e recomear o projeto de vida. H outro que,
www.neip.info
consumada a fixao e reiniciado o projeto de vida, por livre escolha coletiva, decide
realizar outra migrao, nova caminhada.
O projeto do primeiro conjunto confirmar a desordem da organizao scio-
econmico e cultural atravs da busca da ordem no interior da desordem. Negar a
desordem atravs da busca da ordem no interior e exterior da desordem parece
constituir a aspirao do outro conjunto, um no exclui o outro, at se completam.
Um no idntico ao outro, mas carregam analogias. No se estabelece uma
causalidade necessria entre ambos, eles podem se corresponder provvel e
imprevisivelmente em seus elementos internos ou unidades sociais significativas.
Mais que simples metfora, a semiologia do ritual que aqui esboamos,
expressa a lgica central de abordagem por ns adotada visando estabelecer
relaes entre o culto do Santo Daime e o contexto macrossocial amaznico.
O objetivo principal da estratgia metodolgica acima sintetizada deduzir e
tentar prever o ritual de transcendncia e despoluio dos Sistemas de J uramidan
no espao humano, social e concreto do ambiente onde aparecem.
www.neip.info
4. Expanso e Concentrao Demogrfica na Amaznia. A penetrao
capitalista e suas conseqncias
Compreender a expanso e concentrao na Amaznia ultrapassa a
preocupao estatstica, que revela aspectos pouco conhecidos das formaes
culturais de fronteira.
As formaes concretas, surgidas aps o incio do processo expansionista
poderiam ser previstas pela anlise cuidadosa do ambiente. Alguns aspectos,
porm, jamais sero previstos se as anlises permanecerem nos ngulos
econmicos.
Tais anlises introduzem rostos excessivamente srios, angustiados e
programados pelos esteretipos nas anlises sociolgicas funcionalistas.
Nossa abordagem parte dos fatos sociais reveladores, significantes, atravs
de uma leitura totalizante: palavras, gestos, intenes e explicaes adquirem
sentido quando o argumento no nega possibilidades interpretativas que preservem
a subjetividade do homem integrado em seus sistemas simblicos.
A linguagem econmico-social no nega a linguagem esquecida, na
simultaneidade ou durao, de imagens inter e intra subjetivas, nos desejos
realizados em sonhos e nos sonhos condutores (alimentados) dos projetos da viglia,
estimulados ou negados pela penetrao capitalista.
Os frios dados estatsticos escondem a segunda linguagem, revelando a
primeira. Aquela inserida nos smbolos religiosos ou no, influenciam e estruturam
padres de comportamentos perceptivos na forma de experincias alucinatrias de
homogeneidade, em transes extticos ou nas trocas simblicas dos atos
ritualizados.
Gestos de partir e chegar, plantar e colher, construir e morar, nascer, viver e
morrer, comprar, dever e pagar, expulsar e ser expulso, queimar tapiris de posseiros,
ou entre eles, sofrer tocaias, revelam e ocultam as vozes e os cantos do xodo e
exlio, quer num contexto mgico-religioso, quer na santificao das prticas de
sobrevivncia. Nas necessidades e presses implcitas e explcitas do comentrio
estatstico pode se deduzir a verdade funcional dos sistemas simblicos e
www.neip.info
acompanhar o processo de transformao de seringueiros em pees de fazendas ou
posseiros urbanos e ???pg.18.
Concentrao e Expanso Demogrfica
Os comportamentos de xodo e exlio, eixo de nossa argumentao,
correspondem a momentos de efervescncia social, durante os fluxos migratrios
inter e intra regionais. Os dados estatsticos apontam trs perodos crticos dessa
correspondncia.
Eles chegavam em massa como flagelados e retirantes para ocupar os
seringais nos baixos e altos rios, at que a depresso econmica dos anos 20 e 30
estancou o fluxo ento ininterrupto. Lembra BENCHIMOL (16) que comparando a
populao de 1872 com a de 1920 houve um acrscimo em toda a Amaznia de
332%. Por ocasio da grande crise motivada pela ascenso dos seringais de cultivo
da Malsia o Estado do Par perdeu 38.863 habitantes e o Acre 12.611 (Quadro 1).
A partir de 1940, decorrentes dos acordos de Washington, reativam-se os seringais,
com investimentos pblicos e privados, acontecendo assim a chamada segunda
batalha da borracha. Reinicia-se o fluxo migratrio.
A expanso da populao amaznica foi feita de modo polarizado, com os
maiores efetivos concentrando-se em reas que ofereciam atrativos e
oportunidades. Enquanto se realizava o processo de ruralizao seguida pelos
novos contingentes recm chegados Amaznia, que acabaram tambm criando
novas cidades e vilas no mediterrneo amaznico, a populao nativa do interior,
anteriormente acomodada na sua inrcia, perdida nos roados e stios dos
beirades, desassistida e entregue sua prpria sorte e persistindo a ausncia de
apoio infra-estrutural, iniciava seu deslocamento para os centros urbanos.
A urbanizao realizou-se tambm em trs fases. Na primeira, os coronis de
barranco, de seringa ou de castanha, donos de barraces flutuantes, proprietrios
de stios e fazendas, comerciantes, aviadores e regates, que, de alguma forma,
conseguiram capitalizar recursos, mandavam os seus filhos e esposas para as
www.neip.info
cidades grandes, geralmente, a capital do Estado, abrindo caminho para sua prpria
transferncia logo aps.
Na segunda fase, a massa rural de caboclos e de antigos nordestinos
migrantes dos anos 40 e seus descendentes, frustrados nos seus objetivos de
melhoria de vida, agora ainda mais desamparados com o xodo dos antigos patres,
deslocam-se para as sedes dos municpios mais prximos, procura de
sobrevivncia, inchando as pequenas e mdias cidades do interior, que se
expandiram da rua da frente para a rua dos fundos e da periferia e criando as
primeiras favelas urbanas municipais | WAGLEY (127) |.
Na terceira fase, aps um estgio mais ou menos curto na capital dos
municpios, seguiu-se novo xodo, desta vez para a cidade grande das capitais dos
Estados e Territrios, tentando os migrantes melhor sorte para si e seus filhos.
Nas ltimas dcadas a urbanizao se acelera (Quadro 2). A situao se
agrava pela forma como ela se realiza. Fugindo ao isolamento, fome, falta de
recursos de sade ou pela expulso da parte de especuladores de terras, os
seringueiros chegam s capitais. Pressionados, principalmente, por ex-seringueiros
transformados em latifundirios, comerciantes e polticos, vo abandonando suas
colocaes e pequenos roados. Os ncleos urbanos, os municpios do interior e
capitais passam por um processo de inchao populacional, surgindo
consequentemente, segundo expresso usada por BENCHIMOL (16), as favelas
rurbanas (16:39).
Penetrao Capitalista, Urbanizao
Desorganizao Social e Organizao Cultural
IANNI (67) analisa detalhadamente o fenmeno da acelerada penetrao do
capitalismo na Amaznia. Segundo ele estaria ocorrendo na Amaznia uma
acumulao primitiva na forma de um processo estrutural. A terra devoluta, tribal,
teria sido ocupada e transformada em monoplio de grandes latifndios e empresas
nacionais e estrangeiras. Teriam sido expropriados ndios, posseiros, caboclos,
www.neip.info
sitiantes e outros trabalhadores rurais, teriam sido expropriados e transformados em
pees, vaqueiros, agricultores, mineradores, mineiros, operrios, ou mesmo bias-
frias. A violncia privada, a jagunagem atuariam livremente, ou associadas com a
violncia estatal. O aparelho de Estado posto a servio da formao e expanso do
latifndio e empresa, por meio da sua parafernlia burocrtica, as isenes de
impostos, os favores creditcios, a proteo econmica e poltica; ao mesmo tempo
em que seriam esquecidos, controlados ou expropriados ndios, posseiros, caboclos,
sitiantes e outros trabalhadores rurais, que vivem de suas roas e criaes, pescas e
caas, em terras tribais, devolutas ou ocupadas.
Dessa forma teria se acentuado e generalizado o divrcio, pacfico ou brutal,
entre produtores e a propriedade dos meios de produo ao mesmo tempo que se
desenvolveriam as foras produtivas e as relaes de produo.
A fronteira amaznica, inicialmente, transformada numa regio de grandes
negcios, para grileiros, latifundirios e empresrios nacionais e estrangeiros. A
seguir passou a ser regio de absoro produtiva de amplos contingentes do
exrcito de trabalhadores de reserva, proveniente do Nordeste, Sul e outras partes
do pas. Evitou-se assim qualquer mudana na estrutura fundiria naquelas outras
partes do Brasil, onde as condies sociais recrudescem com o desemprego, o
subemprego e a superexplorao de trabalhadores rurais.
Assim sendo a sucesso de formas de dominncia | PIERSON (106) | na
Amaznia no indica apenas a substituio parcial dos antigos comandos polticos e
econmicos. As prprias relaes de produo, as foras produtivas e as classes
sociais tambm se modificam na Amaznia. medida que o capital industrial
subordina e transforma o campo, o campo reentra pela cidade, como necessrio,
persistente.
A penetrao do capital na regio no foi, pois, uniforme. Trouxe arranjos ou
organizaes distintas, em ritmos prprios de intermediaes. A citao abaixo
indica a coexistncia de estgios diferenciados de produo:
H formas de produo para subsistncia,
familiares e comunitrias, que subsistem em muitos
lugares. Mas so muitas as que cada vez mais se
articulam com a produo mercantil. Os avanos do
www.neip.info
capitalismo na fronteira amaznica tanto tem criado
e recriado formas familiares e comunitrias de
organizao social e tcnica da produo IANNI
(67:249) |.
Com isso marca-se mais ainda o carter instvel do perfil da ocupao e
expanso da sociedade global. Expanso caracterizada aqui como dominncia, ou
seja predomnio, quanto funo, de uma das partes interdependentes da unidade
orgnica, em torno da qual as outras partes se localizam e se organizam |PIERSON
(106:16) |.
Assim a organizao scio-econmico vem coexistindo com a
desorganizao das populaes primitivas e rsticas, alterando simultaneamente, as
populaes urbanizadas. No campo (stios, colnias, antigos seringais) a penetrao
do capital provoca surpresas demasiadas, modifica a paisagem com a implantao
dos grandes projetos agropecurios.
Do ponto de vista macrossocial, atendendo, interesses das classes
dominantes da regio ou de grupos estrangeiros, o acelerado processo de migrao
rural-urbano significou um reordenamento das relaes econmicas. As cidades
atingidas no congregaram uma populao afuncional, o inchamento no foi
problema de falta de espao fsico e a infra-estrutura urbana simples causa, mas,
sim, um risco calculado por interesses econmicos estritamente vinculado forma
de crescimento escolhida. (18)
O processo de expanso da sociedade global na Amaznia, seja a ocupao
espontnea, programada e/ou estimulada pelo Estado, estabelece no momento
atual, quando mais claras se tornam as relaes entre esse ltimo e as empresas
multinacionais, uma necessria correlao entre a organizao de novas e
substituio de antigas relaes socioculturais, prprias do perodo extrativista e das
relaes de produo respectivas.
Ora, o culto do Santo Daime, em seus principais momentos e modelos,
apresentou em cada perodo traos especficos ligados s fases de anomia ou de
desorganizao interna descritas no pargrafo anterior. Tais modelos parecem
guardar certas semelhanas com os movimentos messinicos estudados por
QUEIROZ (109). Contudo o conceito de anomia utilizado por ela difere do nosso.
www.neip.info
Para ela, seguindo tradio durkheimiana, moralista, em zonas de rarefao de
habitantes, de densidade to baixa, nem a anomia
pode deixar de ser de regra. Nem mesmo ser possvel uma reao contra ela
dada a impossibilidade de formao de grupos de uma certa estabilidade
(109:322). Haveria, pois, segundo a autora, um mnimo de densidade de populao
abaixo do qual os movimentos rsticos como os do Santo Daime, no seriam
possveis e um grau de desorganizao alm do qual nenhuma recuperao se
opera (109:323).
O Crculo Regenerao e F, como ser demonstrado aqui, contrariando a
afirmao acima, surgiu em pleno momento de desativao do sistema de
aviamento, principal suporte para a sustentao dos seringueiros, cuja decadncia
deixou marcas profundas na histria e na estrutura de ocupao. Comenta Terri
Valle de AQUINO (6) que em virtude de vertiginosa queda do preo da borracha a
partir de 1912, o patro j no podia importar todos os produtos necessrios ao
abastecimento dos seringueiros, o que incentivou o desenvolvimento de uma
pequena agricultura de subsistncia. Assim o principal fator responsvel pelo xodo
rural teria sido a quebra do sistema de aviamento pois os patres seringalistas j
no recebiam das casas aviadoras as mercadorias necessrias para a produo da
safra da borracha e nem dispem de recursos prprios para abastecerem os
seringais | AQUINO (6:51) |. Portanto, a decadncia teria provocado uma descida
dos centros para as margens e a populao comeou a migrar inclusive para a
Bolvia e Peru, ou se constituiu em pequenas colnias agrcolas comunitrias.
Algumas dessas comunidades surgiram em torno de fenmenos mgico-religiosos
sincrticos. O fato se repetiu em toda a Amaznia. Podemos concluir que tais grupos
surgem ou se manifestam desempenhando importante funo social, de integrao.
Alis, tal fato j foi observado por GALVO (55). Para esse antroplogo a principal
funo dessas religies caboclas a de proporcionar coeso. Haveria, pois,
grande semelhana histrica e estrutural entre os grupos que consomem o Santo
Daime e as irmandades descritas por GALVO, podemos dizer que ambos os
modelos (do Santo Daime e das irmandades) constituem-se nas
www.neip.info
...nicas estruturas formais dentro do grupo e como
tais proporcionam um mecanismo de coeso e de
governo da unidade social (55:139).
Podemos concluir que a ocupao da Amaznia Ocidental, em especial da
regio acreana, ocorreu, historicamente, de forma distinta das reas de colonizao
portuguesa. Sua anexao efetuou-se durante a Repblica. Todavia, de um ponto
de vista sociocultural e levando em conta a maneira de expanso da sociedade
global em toda regio, ser possvel encontrar, quanto aos grupos mgico-religiosos,
certos parmetros comuns situao descrita e analisada por GALVO (55, 56:27
ss.). As irmandades, enquanto sistemas sociais totais, situam-se exatamente na
intermediao entre populaes rsticas e urbanizadas, no se constituindo
rigorosamente num continuum histrico. Apesar das distncias e das diferenas
formadoras, quanto s etnias envolvidas, possvel afirmar a repetio do mesmo
processo de produo e mudana simblico-religiosa. Tal fenmeno est
intimamente vinculado s experincias de homogeneidade que sero abordadas a
seguir.
www.neip.info
5. Experincias de Homogeneidade
Experincia de homogeneidade
passagem de uma formao sociocultural para outra, num contexto de
franca penetrao do capitalismo, tendendo a predominar novos comportamentos,
no est eliminada a possibilidade de coexistncia de padres comportamentais
diferenciados.
Os conjuntos ou padres de crenas, normas, comportamentos e/ou estados
de conscincia e percepo no s regem ou guiam as sociedades (112:59), mas
expressam estruturas adaptativas.
As experincias alucinatrias, em estado de alterao e controle de reaes
psicofsicas (estase), encontram na praxis ritualizada, incorporada s estruturas de
plausibilidade dos grupos, certa homogeneidade alm do mundo de fantasia.
Caracteriza-se por uma fora coletiva cujas conseqncias ultrapassam a simples
fora moral proposta por DURKHEIM (39:381).
Nem sempre os rituais expressam mera busca de soluo neurtica. Como
vimos, MORIN (91:213) ADMITIU a coexistncia de rituais diferentes. Numa
perspectiva mais profunda, revelando a prpria natureza hbrida (e dionisaca) do
homem em seu processo evolutivo, ser possvel a constatao de experincias
simblicas, mgico-religiosas, capazes de integrar num mesmo tempo, espao e
ambiente, os estados biopsquicos de ordem e desordem, das lgrimas ao riso e
vice-versa. Neste sentido, MORIN (90) argumenta que o prazer que o sapiens
procura, no apenas no orgasmo, mas em todos os campos, no pode ser reduzido
a simples eliminao de uma tenso. O prazer existe, inclusive em estados de
exaltao de todo o ser, alcanado o limite de catalepsia ou epilepsia. Assim, nas
sociedades arcaicas e mesmo nas histricas, atravs de ervas e/ou lcool, da dana
e/ou do rito, do profano e/ou do sagrado, h a busca, espera de estados de
embriaguez, de paroxismo, de xtase, parecendo s vezes
unir a desordem extrema no espasmo ou na
convulso e a ordem suprema na plenitude de uma
www.neip.info
integrao com o outro, a comunidade, o
universo(90:114).
Portanto, os grupos atpicos plasmados no contato direto ou indireto com
populaes primitivas, em toda Amaznia, situados hoje na intermediao floresta-
cidade, no podem ser analisados apenas pelo ngulo funcionalista. Expressam
experincias de homogeneidade ainda vigentes na regio, apesar do impacto da
urbanizao, refletindo aspectos fundamentais e universais do ser humano.
Os movimentos e paradas no tempo e espao reais exteriores, com
assimilao e fixao de novos comportamentos, indicam a persistncia de certos
fatos e alterao de outros, identificam signos de uma linguagem adaptativa,
estruturante, realizada atravs de experincias significantes de paradigmas comuns
de percepo do tempo, do corpo. Uma arte de viver a durao interior
coletivamente numa espcie de sistematizao e complementao de duas
ecologias: dos atos de comunicao (trocas) exteriores e dos interiores, sempre na
busca de integrao total. (cf. 122:190).
As trocas simblicas dos rituais mgico-religiosos no so efeitos dessas
microssociedades, so as prprias microssociedades em ato, na argumentao de
MAUSS (84:174). Os fatos sociais no seriam nem coisas nem idias, seriam
estruturas (84:175).
Propomos, pois, conceituar as experincias de homogeneidade atravs de
reflexes em torno:
1) das noes arcaicas e histricas de tempo (durao) o que no significa
sua extino nas sociedades contemporneas (46:123);
2) de uma ecologia dos atos e ordenaes corpreo temporais.
A durao real , durao mtica e durao em si
Por serem repetitivos, os gestos, as palavras, as intenes e os estados
mentais individuais e/ou coletivos transformam-se em rituais. Eles rompem a rotina
www.neip.info
do cotidiano e delimitam espaos referentes, objetivos ou imaginrios, instituindo
palcos onde se dramatiza a memria social.
Tais momentos mticos relativizam a durao exterior medida pela seqncia
passado-presente-futuro, entre o antes e o depois, em zonas sob o imprio da
necessidade. Eles emergem dinamicamente, criando outras simultaneidades,
livrando-se da irreversvel linearidade constrangedora, afinal, como nos lembra
DOUGLAS:
Como um animal social, o homem um animal
ritual. Se o ritual suprimido de uma forma, ele
reaparece inesperadamente em outras to mais
fortes quanto mais intensa for a interao social
(38:80).
A noo de repetio sugere a existncia de algo que se repete, por exemplo,
algo marcado por metrnomos. Pode ser o tique-taque de um relgio, uma pulsao,
a recorrncia a dias, luas, estaes anuais ou, no caso das experincia mgico-
religiosas extticas do Santo Daime, as trs fases clssicas do ciclo onrico.
(*)
Por outro lado podemos pensar na noo de no-repetio. Sabemos que
todas as coisas vivas nascem, crescem e morrem, sendo um processo irreversvel.
LEACH (73) demonstra, por exemplo, que todos os aspectos do tempo, durao ou
seqncia histrica, so apenas simples derivaes de duas experincias bsicas:
a) que certos fenmenos da natureza se repetem;
b) que as mudanas da vida so irreversveis
(73:193).
A viso moderna tende a considerar prioritariamente o segundo aspecto, o
tempo seria pura seqncia de duraes de pocas. Apesar de tudo no podemos
deixar de reconhecer que a irreversibilidade do tempo nos muito desagradvel de
um ponto de vista psicolgico. Por isso os dogmas religiosos no mundo inteiro
relacionam-se com a negao da verdade final desta experincia do senso
comum.
(*)
Ver captulo 8.
www.neip.info
A noo dicotmica do tempo ajuda a explicar os arranjos simblico-
adaptativos que vem marcando a passagem aqui analisada.
Interessa com mais destaque o fenmeno da reinterpretao dos traos
culturais e ecolgicos, produzida no encontro e no seu desenvolvimento, de parcelas
da sociedade brasileira, valorizando ora uma, ora as duas noes temporais. Os
grupos mgico-religiosos vivem o ritual de passagem numa combinao dialtica de
ambas as noes: um tempo linear submetido durante os transes e vos
xamansticos ao tempo repetitivo, descontnuo; um tempo psicolgico, subjetivo,
cclico paralelo ou orientado pelo primeiro. Eles se constituem em estruturas do real
total.
Esperamos demonstrar que no se trata de simples oposio entre ontologias
(arcaica e histrica) conforme investigou ELIADE (50) ao descrever ritos de
renovao, mas de no enfatizar a abolio do tempo concreto e,
consequentemente, sua inteno anti-histrica (50:100).
Seria possvel verificar no contexto do contato entre sees representativas
de duas ontologias, uma forma de experincia cognitiva intermediria? Se, por um
lado, uma resposta afirmativa justifica a dialtica das duraes acima, por outro lado
no seria provvel que a vontade de desvalorizao do tempo fosse na verdade uma
vontade de criar simultaneidades coletivas atravs de experincias de
homogeneidade?
O tempo, entre os mestres e demais iniciados dos Sistemas de J uramidan,
concreto, substantivo, personificado, de natureza distinta do tempo profano, mas
esse, nem por isto minimizado ou ignorado. Pelo contrrio, tudo leva a afirmar que
ele revisto, buscado e pode orientar o presente e o futuro.
Inclinamo-nos a propor a hiptese de uma percepo alternativa ocorrida
entre a durao e a simultaneidade, bases das experincias homogeneizadoras.
Contrariando a doutrina de KANT (70:34-38) de que todas as coisas so
fenmenos externos no espao e no tempo e sua concluso segundo a qual
Quando se fala de muitos espaos, entende-se por isso apenas partes de um nico
e mesmo espao ou diversos tempos so apenas partes de um mesmo tempo
www.neip.info
podemos reforar nosso argumento acima, com elementos do relativismo de
BERGSON (21), na viso de MERLEAU PONTY (84).
Em lugar de concluir que O espao no um conceito emprico, tirado de
experincias externas e O tempo no um conceito emprico, tirado de alguma
experincia, BERGSON quer precisamente mostrar que no h simultaneidade
entre coisas em si, as quais, por mais prximas que estejam, esto cada uma em si
mesma. S coisas percebidas podem participar da mesma linha de presente - ,e,
inversamente, mal existe percepo existe imediatamente, e sem qualquer medida,
simultaneidade de simples perspectiva no apenas entre dois acontecimentos do
mesmo campo como entre todos os campos perceptivos, todos os observadores um
por um, e no como so vistos por um entre eles, mas tais como so para si prprios
e no absoluto de suas vidas, estas duraes solitrias, deixando de poder ser
aplicadas umas sobre as outras, medidas umas pelas outras, cessariam de oferecer
qualquer desfasamento, cessando tambm de fragmentar o universo do tempo.
MERLEAU-PONTY (84:280) |.
Sob o ngulo acima, a suspeita de uma desvalorizao do tempo se dilui. A
abordagem hbrida, histrica comparativa de ELIADE e emprica fenomenolgica de
BERGSON, oferece condies para melhor compreender as experincias extticas
e, sobretudo, estados de conscincia e percepo diferentes mas perfeitamente
justificveis quer entre primitivos ou modernos.
Sem aprofundar na anlise da citao de MERLEAU-PONTY, interessa no
momento incorporar o comentrio desse sobre a restituio de todas as duraes
em conjunto que no possvel na sua origem interior uma vez que cada um de ns
somente coincide com a sua. Essa restituio, segundo BERGSON (21) faz-se
... quando os sujeitos encarnados se percebem
mutuamente, quando os seus campos perceptivos
se perfilam uns pelos outros e se envolvem, quando
se vem uns aos outros em vias de perceber o
mesmo mundo (21:281).
Tentando entender o seringal como estrutura de fronteira e que regras guiam
sua expanso e seu processo de transformao J . P. OLIVEIRA FILHO (101:126)
www.neip.info
prope a esquematizao de dois modelos de seringal. No se interessa pelos
fatores mais gerais, mas pelos mecanismos concretos de passagem, nos elementos
que realizam a transformao de um dos modelos em outro. A esquematizao se
apresenta desta maneira:
Seringal
Modelo Caboclo Modelo do Apogeu
- explorao nos limites da fronteira
econmica
- mo-de-obra requisitada localmente
- fora de trabalho familiar
- pluralidade funcional da empresa
(inclusive com atividade de
subsistncia).
- Pequena produtividade do
trabalhador
- explorao da rea muito alm das
fronteiras do mercado
- mo-de-obra quase integralmente
importada
- trabalhador isolado
- especializao da empresa, com
abandono da agricultura.
- produtividade do trabalhador bem
mais elevada.
H correlaes entre a interpretao de OLIVEIRA FILHO e as observaes
de BASTOS (13:2). Percebe-se que aquele se refere primeira etapa da ocupao,
anterior ao pice do modelo caboclo. Esse j compreenderia o depois que abarcaria
todo o modelo do apogeu.
As observaes de BENCHIMOL (15) sobre os trs momentos da
urbanizao, ou xodo rural, no contraria as de OLIVEIRA FILHO (101) e no
invalida a anlise de IANNI (67). O penltimo procura ver a passagem a partir de
uma descrio histrica das duas modalidades de fora-de-trabalho na expanso da
fronteira amaznica do Sc. XIX e ajuda a entender minha argumentao, isto , os
comportamentos de xodo e exlio a partir do auge do modelo do apogeu (1912) sua
decadncia, tentativa de recuperao na dcada de 1940. A transformao de
migrantes rurais e urbanos, seringueiros, posseiros e barranqueiros em bias-frias
das empresas agro-industriais que penetraram na regio intensificou-se em fins da
dcada de 1960 e do Modelo Brasileiro de 1970. Trouxe como corolrio a
desorganizao de formas anteriores de vida social, reocupao dos territrios e
www.neip.info
alterao inevitvel do ambiente. Em muitos lugares da Amaznia as antigas
experincias de homogeneidade desapareceram, outras ainda persistem.
Na maioria dos casos as experincias de homogeneidade continuam atuais e
se centralizam em atividades mgico-religiosas, em conjuntos culturais que se
apresentam como fatos sociais. Chegamos assim a um ngulo dos estudos
ecolgico-culturais geralmente esquecidos por socilogos e antroplogos: o da
ecologia dos atos adaptativos e diferentes ordenaes corpreo-temporais e suas
repercusses aos nveis psicossociais e socioculturais.
Ecologia dos atos e ordenaes corpreo-temporais
MOLES (86) levanta o problema da densidade de seres humanos no espao
e a idia de trajetria, marcando a sucesso na conscincia pessoal, no espao e
tempo prprios, de srie de excitaes, de estmulos ou encontros situados no
territrio coletivo. a noo que liga a ecologia individual ecologia social das
aes ou transaes, e esse conceito,
...esta espcie de equao da partcula, no foi at
hoje muito utilizada para definir o objeto que aqui
nos preocupa, a idia da unidade do homem atravs
do espao e do tempo (86:163).
NITSCHKE (98), antroplogo cultural, interessado no estudo do binmio
comportamento e percepo, parece sugerir que tal unidade, em termos concepo
espao-tempo, no existe. Partindo da crtica teoria de KANT, citada acima,
prope-se a discutir o assunto fundamentando em quatro pressupostos bsicos,
atravs dos quais procura negar a orientao kantiana segundo a qual o homem tem
ordenado todos os fenmenos no tempo e no espao sob o conceito de grandeza,
e que nesse sentido, o ambiente seria da mesma espcie para todos.
Suas teses podem ser assim resumidas:
www.neip.info
Os animais no experimentam no ambiente
grandezas finitas de espao e tempo, mas
experimentam parceiros;
Seres humanos experimentam, alm disso,
diferentes ordenaes corpreo-temporais, nas
quais introduzem todos os fenmenos de seu
ambiente. As grandezas infinitas de Kant, tempo e
espao, s correspondem a uma ordenao
corpreo-temporal entre outras;
As diversas ordenaes corpreo-temporais
revelam-se em virtude de experincias de uma fora.
Uma vez que os efeitos dessa fora podem ser
observados na prpria pessoa e da mesma forma
no ambiente, chamamos essas experincias de
experincias de homogeneidade;
As experincias de homogeneidade correspondem a
modos especiais de comportamento e percepo.
Elas marcam as formas da sociedade, o modo de
representar dos artistas e as indagaes dos
cientistas.
Para MOLES (86), a criatividade do ser est associada a uma otimizao dos
intercmbios que ele pode ter com o meio material e humano. Um excesso de trocas
ou um intercmbio mal distribudo num campo de conscincia e num oramento-
tempo determinados tendem a reduzir essa criatividade quer pela distrao, quer
pela pobreza dos elementos que esse campo de conscincia deveria reorganizar ou
integrar.
Os atos e transaes compreenderiam dois aspectos bsicos: O primeiro se
refere interao dos atos ou comunicaes no interior da esfera pessoal centrada
no ser: esse territrio prprio, cuja verso moderna dada pelo apartamento. Seria
ecologia individual dos atos. O segundo aspecto seria a organizao de um espao
global coletivo em funo da inscrio, nesse espao susceptvel de ser
www.neip.info
representado por um mapa objetivo, do trajeto dos fluxos de comunicao que
deixam marcados os seus vestgios no mundo. Quer se trate da transferncias dos
seres, das coisas ou das idias, esses fluxos representam uma das modificaes
fundamentais do territrio peculiar ao sistema social.
O autor prope uma Antropologia do Espao, onde seriam distinguidas zonas:
de distraes, de aventuras, de estmulos agradveis e desagradveis, de
segurana, de sono. Chega mesmo sugesto de uma proxmica, cincia das
relaes entre
...o prximo e o distante, centrada
fundamentalmente no ser, em sua insero no
espao e no tempo, que ns definiramos (...) cincia
do conjunto dos fenmenos que, em igualdade de
condies sob outros aspectos, perdem sua
importncia relativa em funo da distncia entre
eles e o indivduo... (86:161).
Assim, h fortes indcios de que as experincias de homogeneidade, graas
restituio das duraes, dos comportamentos de xodo e exlio, relacionam-se ao
volume e ritmos de acontecimentos em momentos de efervescncia ou de quietude.
As vises extticas esteriopadas vinculam-se a um controle ciberntico
inerente s estruturas adaptativas dos grupos
...numa comunicao propriamente simblica no
fluxo contnuo dos gestos e vocalizaes entre os
mesmos indivduos que agem em comum no interior
de situaes relativamente padronizada pelo
ambiente para atender s atividades cooperativas
(86:161).
A autoscopia exttica, pelo ngulo lgico-positivista, poder ser classificada
como produto da sugesto coletiva neurtica de ordem patolgica. O mesmo
fenmeno, na perspectiva de uma anlise sistmica total, poder ser inserido como
condio necessria do desenvolvimento dos processos sociais e mentais de
ordem superior (86:161).
www.neip.info
Por outro lado a leitura de uma autoscopia, auto-diagnose, se fundamenta em
processos de trocas de informaes entre os subsistemas biolgicos, psquicos e
simblicos, pois
... a aptido que tem o indivduo, por intermdio
dos smbolos, de se tomar a si mesmo como objeto,
assim como a tomar as outras coisas e os outros
acontecimentos como objetos de reflexo, fora das
situaes estritamente presentes, utilizando
smbolos que desempenham o papel de
representaes internas (86:162).
As representaes internas de uma durao individual, homogeneizada pela
fora coletiva, estaria incompleta sem uma anlise da interao com o ambiente
externo:
acontecimentos demasiados, demasiadas
surpresas, demasiadas surpresas criam um ser
perdido, submerso e inadaptado; uma homeostasia
demasiadamente perfeita do sistema cria o
entorpecimento (86:164).
Portanto o estudo das interaes de espcies diferentes num domnio
limitado, transformado por MOLES, numa ecologia dos atos de comunicao e das
transaes, s ser revelador na medida em que, ao lado dos fatores fsicos,
qumicos, biolgicos, individuais e sociais, se explorasse o simblico inter e
intrasubjetivo, em estado de sono/sonho ou de viglia. O corpo ai bom para pensar.
Por ele e dele sairiam feixes de significados e chaves interpretativas. A percepo
espao-temporal passaria pelo corpo, liberando processos de criatividade humana.
NITSCHKE (98), alis, situa a criatividade na prpria experincia da
homogeneidade:
... os homens sempre experimentaram algo na
prpria pessoa, supondo que a mesma fora
tambm se torna atuante independentemente de sua
prpria pessoa. No se trata, portanto, de uma
experincia de si prprio, nem da experincia do
ambiente, mas da experincia de uma grandeza que
atua sobre a pessoa e ambiente. Uma vez que
www.neip.info
aquilo que experimentado na pessoa tambm deve
atuar de igual maneira no ambiente, ou seja,
abrangendo pessoa e ambiente... (98:96).
As diferentes ordenaes copreo-temporais produzem, segundo o autor,
diferentes experincias de homogeneidade. Uma vez que cada um desses
comportamentos corresponde a uma experincia de homogeneidade, fica facultado
ao homem tomar posio em seu ambiente. Nessa experincia ele e seu ambiente
so da mesma espcie, isto , ele e todos os fenmenos por ele registrados
enquadram-se dialeticamente numa dada formao da ordenao corpreo-
temporal.
Vale acrescentar que a passagem de uma ordenao corpreo-temporal a
outra pode ser diagnosticada primeiramente nas mudanas sociais. Tudo indica que
um novo comportamento (ou ordenao) preceder a reorganizao sociocultural.
Com o objetivo de caracterizar o contexto macrossocial esboamos reflexes
sobre as conseqncias da penetrao capitalista na regio.
O principal problema o da desorganizao de antigas populaes sofrendo
a sucesso de impactos. Alguns conjuntos culturais resistem.
Registramos trs momentos indicadores da desorganizao progressiva das
formas adaptativas acima mencionadas, substitudas, na sucesso, por modelos
culturais gerados no ambiente: perodo de decadncia do seringal modelo do
apogeu, perodo ps-Segunda Batalha da Borracha e perodo de acumulao
primitiva e expanso do latifndio de empresa. O ltimo se destaca pelo intenso
fluxo inter e intra regional.
As resistncias podem ser explicadas como homogeneidade ainda no
atingidas pelo impacto, ou parcialmente modificadas por ele. Verifica-se a
preservao de atos psquicos e ordenaes corpreo-temporais prprias de uma
reinterpretao cultural e a emergncia de conjuntos culturais atpicos no mais
rsticos mas ainda no integralmente urbanizados.
Em seguida propomos algumas orientaes tericas para apreenso dos
estados psquicos e atos mentais coletivos. Assim o plano ecolgico-cultural serviu
www.neip.info
para afirmar a debilidade de se enfatizar subsistemas isolados e a relatividade do
princpio de causalidade.
A passagem que vem ocorrendo na Amaznia, de um tipo de cultura para
outro, do rstico para o moderno (urbanizado), num macro-contexto marcado pela
desorganizao das populaes dos seringais, apresenta peculiaridades relativas
aos modelos caboclo e do apogeu. Analisadas a nvel micro-contextual, essas
peculiaridades fazem parte da histria e estrutura ecolgico-cultural dos Sistemas
de J uramidan, descrita a seguir onde indicaremos a permanncia de traos ligados
s populaes rsticas e primitivas, enriquecidos com elementos da recente cultura
urbana.
A homogeneidade, contudo, tem sido descontnua e nem sempre obedece a
evoluo indicada para a transfigurao tnica proposta por DARCY RIBEIRO
(113:242). Poderemos encontrar grupos mgico-religiosos que lograram reinterpretar
traos rsticos e primitivos, conservando caractersticas simblicas alternativas
padronizadas e no simples comportamentos (condutas) psicossociais efmeras. Se
aceitarmos as sugestes de QUEIROZ (109) e D. T. MONTEIRO (88), podemos
afirmar que tais grupos devem ser classificados como formaes sociais
intermedirias onde inclusive, parece no ter sido rompida total e conscientemente a
comunicao do homem com a natureza (116:297).
A pesquisa tentar, portanto, reconstituir um conjunto cultural, na forma de
sistema religioso cujos componentes bsicos tm suas matrizes na cultura rstica
nordestina transplantada e na tradio amerndia mais recentemente alcanada
pelas frentes extrativistas.
Os dados empricos referem-se, historicamente aos movimentos migratrios
iniciados na ltima dcada do sculo passado at finais da dcada de setenta.
Partimos da hiptese de que as experincias alucinatrias constituem-se em
estados atpicos de conscincia e percepo, responsveis pela construo social
de uma realidade prpria, de um estgio de passagem entre civilizaes distintas.
Os transes extticos e vos xamnicos, individual ou coletivamente, situam-se nessa
passagem, e no devem ser entendidos como simples liberao de tenses, ou
sublimao de pulses libidinosas (46).
www.neip.info
no nos parece tratar de um projeto de caractersticas apolneas, buscando
exclusivamente, o restabelecimento de uma ordem ou reencantamento do Paraso
Perdido. O projeto que a metfora do Palcio de J uramidan engendra leva-nos,
acima das idias de classe, raa ou necessidades, a um encontro com a natureza
dionisaca, perdida pelo positivismo e utilitarismo da civilizao ocidental. Um eterno
retorno. No apenas na verso de ELIADE (50), mas enriquecida com NIETZSCHE
(97) e DUVIGNAUD (43:226).
Portanto, paralelo ao processo de expanso da sociedade global, surge uma
ordem simblica cujas razes perdidas h muito, reaparecem nas feridas abertas
entre ndios e caboclos. Organizando o outro a sociedade nacional se desorganiza
e a se redescobre. Contraditoriamente, desorganizando o outro ela se organiza
como forma de ocultar a si mesma, tentando negar as feridas.
O projeto de ordem que o ritual de passagem institui remete a uma estrutura
ambgua: o palcio tanto pode ser espao sagrado da ordem consciente ou o
inconsciente processo de criao simblica pelas estases biorgnicas, biopsquicas
e sociais.
Uma metfora feita de metonmias que se completam: o astral adquire
expanso semitica complementar oposta: a terra-me. Aquele o todo, mas
espao simblico, territrio sagrado temido e desejado, reduto do Chefe Imprio, a
terra-me se integra aos poderes csmicos dos seres divinos. O palcio,
pertencente a uma ecologia sobrenatural, rplica, da natural, pode, pois, na idia de
uma ecologia dos atos de comunicao, reorientar aspectos mticos universais. A
proxmica ajuda a compreender o processo de expanso ou redescoberta
metafrica, presente, por exemplo, no hinrio do mestre IRINEU (37).
E o palcio, nesse processo de expanso semitica, antes, durante e depois
das miraes, centrado no ser, inserido no espao e tempo, na busca de
homogeneidade, faz semelhantes o prximo e o distante. Estabelece analogia entre
a ordem no interior da descoberta e a desordem no interior da ordem.
At onde os dados permitirem, sem abandonar a perspectiva societal,
utilizando sugesto de REICH (111:100), tentaremos relacionar o racional e o
irracional no conjunto de ordenaes simblicas do espao social, de transformao
www.neip.info
conjunta: os aspectos ecolgico-culturais no negariam a natureza psicossocial dos
mesmos. REICH concorda, neste ponto com BASTIDE (10:235), ou seja, o de que o
fator econmico no o nico determinante.
Para REICH (111) a psicanlise pode confirmar a tese de MARX segundo a
qual a existncia social que determina a conscincia, isto , as representaes,
objetivos e pulses, ideologias morais, etc., e no o contrrio. Contudo, isto no
excluiria a hiptese de que a intensidade das necessidades (condicionada
somaticamente), assim como as diferenas qualitativas no desenvolvimento
psquico, sejam determinadas pelo aparelho pulsional. Por isso mesmo convm
lembrar a tese de MARX segundo a qual os homens fazem a sua prpria histria,
mas apenas em condies determinadas e com determinados pressupostos iniciais,
de natureza social.
BASTIDE (10) enfatiza a dupla fonte do pensamento simblico: uma revelada
por Freud e pelos psicanalistas a mscara imposta libido; a segunda revelada
por DURKHEIM e por MAUSS: os momentos de efervescncia entre a psicanlise e
a sociologia.
(28)
REICH (111) coloca o problema em termos de uma relao entre o racional e
o irracional. O trabalho da terra com a ajuda de instrumentos agrcolas, assim como
a sementeira, visam tanto sociedade como ao indivduo a produo de alimentos.
Estes fatos porm revestem significado simblico de um incesto com a me (a terra,
me alimentadora). Assim o racional atrai o simblico | REICH (111:101) |. Portanto,
o fato de a me ter, como a terra de dar os seus frutos depois de ter sido trabalhada
com o auxlio de um instrumento (smbolo peniano) mostra, segundo interpretao
de REICH (111), que aquilo que parecia desprovido de significado o tem, que todo
simbolismo se apoia numa base real (111:101).
Uma das metonmias, presente por exemplo na metfora do Palcio de
J uramidan, expressa no hino 37, inscreve-se numa linguagem mgico-religiosa,
mtica, de predominncia conotativas notveis. Essas dizem respeito situao
(28)
Os smbolos sociais podem penetrar no sonho e por isso mesmo mudar de significado; graas ao
prprio mecanismo do pensamento onrico, os smbolos libidinosos podem penetrar na cultura, a
introduzindo uma srie de elementos cuja interpretao depende do domnio psicanaltico (10:240).
www.neip.info
concreta de subsistncia vivida ainda hoje por antigos seringueiros, mas no
eliminam a energia significante dos contedos sociais inconscientes, reveladores da
passagem aqui mencionada.
O projeto de ordem do Palcio expressa, portanto, a situao problemtica de
tenso que o processo de expanso da sociedade global vem engendrando, mas
mais que isso ainda.
www.neip.info
6. Vozes do xodo e Cantos do Exlio
BENCHIMOL (15), num denso inqurito antropogeogrfico, analisou
depoimentos de nordestinos regressando ou se retirando da Amaznia. Registra o
comportamento dos que perderam sua experincia de homogeneidade, eles vivem o
drama ecolgico do impacto causado por acontecimentos demasiados.
(29)
O material
colhido por BENCHIMOL encaminha nossa argumentao sobre a funo social do
sonho e das experincias alucinatrias. O autor indica comportamentos coletivos,
(30)
verdadeiros modelos socioculturais tendendo a todo momento cristalizao,
incorporao de um sonho coletivo. O sonho da realidade, a busca de um tempo
perdido, de um paraso, orientam e estimulam a transumncia pela Amaznia.
Por outro lado, FERRARINI (52) fala das dificuldades de adaptao do
nordestino na Amaznia, ressaltando certa tendncia fatalista, ele seria um nmade
por ndole. Os que se adaptaram indstria extrativa o fizeram com grande esforo.
Lembra a mudana etolgica sobre a qual falamos no incio do trabalho,
confirmando, assim, a necessidade de nova experincia de homogeneidade, pela
incorporao de nova percepo espao-temporal.
(31)
Para FERRARINI, dadas as
circunstncias em que a ocupao se efetuou, os laos sedentrios tornaram-se
impossveis. A imensido, o espao aberto, a prpria natureza do trabalho fizeram
com que o nordestino se tornasse um nmade. S agora que ele tende a se fixar
nas sedes municipais e nas capitais mais prximas. Vimos contudo, que o xodo
rural no se constitui em iniciativa do seringueiro. conseqncia da penetrao de
empresas nacionais e multinacionais favorecidas pela poltica de incentivos fiscais.
O seringueiro e sua famlia esto sendo expulsos de suas antigas colocaes por
causa dessa penetrao. Assim surgem no Acre os posseiros urbanos.
(29)
Cf. p. 34 ss.
(30)
Referimo-nos a uma espcie de combinao entre dois tipos de conduta coletiva segundo
classificao de GURVITCH (63). Por um lado as prticas, costumes, rotinas ou modos de vida, de
outro as condutas que paralisam os modelos que so insubordinadas, inesperadas, irregulares, no
conformistas, resistentes... (63:99).
(31)
Nordeste: paisagem aberta. O homem olhando a natureza de cima; dominando-a, possuindo-a .
Aqui o emaranhado dos cips de permeio com as gigantescas rvores, formando com a abundncia
das epfitas e parasitas um quadro botanicamente superpovoado. Nessa luta pela vida, forma este
contexto vegetal uma tessitura impenetrvel, to hermtica e fechada impedindo frontalmente o
acesso humano (52:57)
www.neip.info
Para que se possa compreender plenamente o significado do processo de
organizao social, poltica e mgico-religiosa dos grupos que consomem o Santo
Daime e, por esse caminho, buscam responder s necessidades e presses do
ambiente ora em foco, detalhemos os comportamentos coletivos aqui designados
Vozes do xodo e que correspondem ao drama vivido por antigos seringueiros, seu
processo de ocupao de espaos urbanos, j mencionados no captulo 4. Em Rio
Branco, posseiros urbanos ou invasores caracterizam famlias que, pressionadas
por uma srie de fatores, no tiveram outra alternativa seno a de ocupar
compulsoriamente terrenos desocupados, de particulares ou do Estado.
(32)
Os
depoimentos (II, III, IV, V, VI, VII e VIII) caracterizam o discurso, a comunicao de
uma situao existencial, o clamor, revelando sndrome de desenraizamento
cultural. Comportamentos relativamente estruturados, de efmera durao. Mas o
fenmeno do xodo rural interessa poltica de ocupao e explorao econmica
implantada na regio.
Verificamos pelos depoimentos que, apesar da desordem (doena, fome e
outros sinais de carncias), fenmenos que aqui inclumos no conceito de estase, os
desejos de ficar ou partir, abandonar ou voltar, ligam-se a um sentimento de euforia
interna, independente de situaes objetivas e externas. Em momentos de estase
podem surgir manifestaes de xtase e vice-versa.
Se GLUCKMANN (58) est certo em sua formulao sobre a expresso
simblica das relaes sociais eu diria que os depoimentos podem ser entendidos
como um ritual. As situaes dos posseiros revelam o processo de desorganizao,
de caos por um lado, mas, por outro, obedecem a certa lgica. No se constituem
(32)
A margem esquerda do rio Acre, nas proximidades do bairro Tringulo, num terreno alagadio, os
chamados posseiros urbanos construram (a seu modo, claro), em poucos meses, um novo bairro.
Homens, mulheres, crianas derrubaram as rvores, coivararam, limparam e ergueram seus
precrios barracos... A notcia de que est sendo aberta uma nova rea corre e se espalha
rapidamente protegida entre a populao. Quem chega primeiro vai marcando seu pedao de cho,
observando um acordo tcido entre eles: ningum deve reservar mais que o suficiente para a
construo de um barraco... Um barraco feito em poucas horas, geralmente pelo sistema de
mutires com o material mais simples algumas folhas de alumnio, cavacos ou mesmo palha para a
cobertura, restos de tbuas, caias opara as paredes e alguns esteios para equilibrar a construo.
Em poucos dias o terreno foi totalmente ocupado, deu para abrigar cerca de 150 famlias. A essas
alturas o proprietrio da rea j havia tomado todas as providncias para desalojar os invasores,
ameaando passar o trator sobre as casas, recorrendo justia... Os posseiros temeram um pouco
no incio, mas em seguida recobraram a coragem e confiana e permaneceram no local at hoje...
(Varadouro n 14, Ano II, 1979, p. 9).
www.neip.info
fiel cpia do projeto de colonizao imaginado pelo Estado, contudo atendem at
certo ponto estruturao do capitalismo na regio. Os efeitos de tal poltica de
ocupao se transformam em funo do projeto de ordem, desejada ou no pelos
agentes da ao, concretizada pelos atores vivendo conscientemente ou no o
drama. Enquanto texto significante o discurso constitudo pelos depoimentos
revelam atividade humana no especificamente tcnica ou esttica, mas representa
relaes sociais sobre as quais se refere, enquanto estado mental coletivo. Tal
colocao, portanto, estaria em harmonia com GLUCKMANN (58).
(33)
No
concordamos, porm, com a distino entre atividades rituais e atividades
cerimoniosas. As primeiras seriam de carter mstico, mas no h como separ-las
na prtica objetiva, por isso ficamos com DOUGLAS (38:80).
(34)
O ritual aparece nos discursos efetivamente realizados, de forma no
controlvel da parte dos atores pacientes, com intensa interao social consagrada
pelo uso, ritualizada. Aparece imprevisivelmente, em situaes contraditrias e,
paradoxalmente, copiam o modelo consagrado pela sociedade global: expulsos da
zona rural, repetem a arbitrariedade sofrida, que desordenou seu mundo, ocupando
espaos da zona urbana. Mas o fazem intuitivamente, buscando sua ordem no
interior da desordem, confirmando assim a desordem da organizao
socioeconmica imposta.
Pode-se, portanto, perceber ao longo do processo de ocupao da regio
perodos de intenso trfego humano, de chegadas e partidas, com duraes
intermedirias, paradas, onde as palavras, gestos e objetos parecem indicar
estagnao ou monotonia, crise ou desagregao das populaes, progresso,
euforia e renovao do mito do Eldorado. Opondo-se aos comportamentos coletivos
em contexto de sonho e alucinaes estimuladas psicossocialmente, tais
experincias passam a fazer parte das novas condies etolgicas, so os Cantos
do Exlio.
(33)
... organizao complexa da atividade humana que no so especificamente tcnicas ou
recreativas e que implicam comportamentos que constituem a expresso simblica de relaes
sociais (58:22).
(34)
Cf. p. 27.
www.neip.info
Cantos do Exlio
Identificam manifestaes permanentemente mgico religiosas, onde
musica, dana, transes extticos e sonhos expressam, conduzem e produzem
formas criativas de envolvimento do corpo, arte e mente. Alguns grupos organizados
segundo tradio mtica comum so mais estveis e desenvolvem outro tipo de
resposta crise. Torna-se impossvel fazer levantamento completo de tais grupos,
por isso daremos informaes gerais sobre o surgimento, funcionamento e estrutura
de alguns deles.
Embora ritualizados, os comportamentos de xodo e exlio (as vozes e os
cantos) so explicitamente no desejados, circunstancialmente tolerados pelos
aparelhos ou agentes de controle social, organizados e instalados como extenso da
sociedade global. Por isso eles no se opem mtua e exclusivamente. Ambos,
dependendo dos poderes poltico-ideolgicos e administrativos, so acionados ou
transformados pelos interesses das classes dominantes. Um contm o outro na
medida em que participam e reagem crise. So, pois, homlogos. Um no se
relaciona com o outro pelo princpio de causalidade, so descontnuos: o primeiro
ritualiza atos explicitamente ligados s solues de problemas do cotidiano a partir
do desejo de, sem deter poderes necessrios, realizar o sonho (desejo) do
Eldorado. O segundo, resistindo ou indiferente, vive ainda o passado, projetando no
presente e no futuro; embora seja um prolongamento das populaes rsticas da
sociedade global, ao incorporar elementos heterclitos de diferentes tradies
culturais,
(35)
pela reinterpretao, e usando outro princpio de realidade,
(36)
vivem
sem rupturas o tempo-espao onrico e o tempo-espao da viglia.
Ambos os tipos de comportamentos coletivos (ou condutas) que podem
resistir e se transformar em modelos sociais (63), caracterizando, assim, estados
(35)
Evidentemente no queremos separar diferentes partes de um sistema cultural, fazendo com que
uma independa da outra. A mudana de ambiente, necessria adaptao do homem e, por
conseqncia, aquisio de novos hbitos, ocorre de forma total. No h pois predominncia ou
independncia absoluta dos valores religiosos (ideolgicos), sociais e tecnoeconmicos. Como
lembrou BASTOS (13:3) houve uma contemporaneidade de efeitos transformadores (cf. p. 6).
(36)
No significa necessariamente uma oposio ao princpio do prazer da corrente freudiana. No
presente contexto ele se refere a formas alternativas ou diferenas de percepo da realidade para a
qual REICHEL=DOLMATOFF nos alertou (112:59/60) (cf. p. 14).
www.neip.info
mentais e atos psquicos coletivos
(37)
. Veremos que os Cantos do Exlio, revelam-
se simultaneamente como condutas coletivas e modelos sociais, dependendo do
estgio em que eles se encontrem.
Como apontar os elementos que os identificam? Um critrio o grau de
resistncia no tempo e sua extenso geogrfica, complementado por uma anlise
situacional na estrutura social, verificando a relao existente entre a conscincia
individual e a conscincia coletiva, segundo proposta durkheimiana, resumida por
BASTIDE (9):
...todo homem um animal social e a religio se
reduz conscincia da vida coletiva. Ela , ao
mesmo tempo, o produto da comunho e a
expresso prpria em que se manifesta esse
sentimento de comunho, a saber, a distino entre
dois mundos: o profano da conscincia individual e
o sagrado da conscincia coletiva, exterior e
superior s conscincias individuais (9:12/13).
Nosso maior problema consiste exatamente em definir critrios que nos
indiquem com segurana quando se trata de manifestaes religiosas, pois sendo
de difcil distino, cada conscincia aponta comportamentos ritualizados, isto ,
gestos, palavras e atos que buscam um projeto de ordem. Assim, ser sempre pela
permanente interpenetrao entre o individual e o coletivo que o sentimento de
comunho se manifesta; as respostas, enquanto ritualizados, sero sempre em sua
gnese religiosa, sagrada, coletiva, jamais deixando de, a nvel individual, se
constituir em solues prticas para problemas concretos o que, de resto, como
temos insistindo sempre, e voltaremos insistir, elimina qualquer tentativa de
abordagem determinista. Os comportamentos e modelos, mapeados segundo
(37)
Entendemos e usaremos tais conceitos dentro da idia geral expressa, por GURVITCH sobre o
assunto: A vida psquica manifestou-se em todos os planos sobrepostos da realidade social; faz
parte integrante desta realidade de que est impregnada. (...) Um certo nmero de pressuposies
podem com efeito levar a negar a existncia do nvel psquico, e sobretudo o consciente, atributo
exclusivo do indivduo, ou quando no designamos como mental seno o que se reduz ao
comportamento individual e s suas estimulaes, ou quando aceitamos a interpretao gratuita da
conscincia como fechada (...) Do ponto de vista sociolgico, o psquico em geral e o consciente em
particular so realidades incrustadas em outras realidades sobre as quais no tem nenhuma
precedncia nem ontolgica nem metodolgica (63:132) ( cf. pp. 78 e 90).
www.neip.info
critrio especial de classificao dos dados, exceo dos grupos do Culto do
Santo Daime, sero apenas indicados.
Enquanto Vozes do xodo podem ser tomados como comportamentos
coletivos psicossociais, Cantos do Exlio, sem deixar de serem libres e dinmicas
manifestaes de estados mentais, atos psquicos de xtase/estase/xtase, de
repente, imprevisivelmente se transformam em modelos socioculturais estruturados
em grupos mgico-religiosos. Esses, alm de tudo, se constituem em sistemas
culturais, com seus modelos de projeto de ordem:
Tipos de respostas (ritualizaes) s necessidades e presses
Comportamentos Colet. Psicossociais Modelos Socioculturais
Vozes do xodo
O sonho (desejo)
de realidade
Cantos do Exlio
A realidade do sonho
outros
Grupos mgico- religiosos
Santo Daime
Estados mentais e
atos psquicos
coletivos
xtase/estase
Estados mentais e
atos psquicos
coletivos
Estase/xtase
outros
Sistemas
Culturais
Sto Daime Sist. de
Sist. de J uramidan
Os modelos socioculturais
Conforme vimos no quadro classificatrio anterior, captulo 3, o consumo de
alucingenos (experincias paradoxais) ocorre segundo verdadeiros modelos de
ritualizao e encontra-se generalizado em toda Amaznia. Adotando, porm, o
nvel sociocultural como critrio de especificao, verificamos que tais modelos
socioculturais se transformam em autnticos precipitadores de sistemas culturais
que, por sua vez, identificam as formaes sociais intermedirias, segundo um plano
histrico-estrutural
(38)
. Tais modelos, pois, ligam-se a tradies e se transformaram
em costumes e rotinas
(39)
. Os grupos que consomem o Santo Daime ou Ayahuasca,
(38)
Cf. p. 15.
(39)
Embora GURVITCH (63:96) estabelea distino entre modelos culturais e modelos tcnicos,
recomenda que no devemos exagerar esta oposio que lhe parece bastante relativa. Modelos
tcnicos e modelos culturais no cessam em graus diversos de interpenetrar-se nos diferentes
agrupamentos e nas diferentes civilizaes. O comportamento econmico, por exemplo, est to
www.neip.info
Iag, etc., tendem a formar verdadeiros sistemas culturais. Neste caso as condutas
mgico-religiosas passam a fazer parte do dia-a-dia, sendo prticas, costumes e
rotinas que definem um modelo ou projeto de vida. Relacionaremos seguir alguns
desses grupos deixando para a prxima parte a anlise detalhada dos Sistemas de
J uramidan.
Alm de inmeros grupos estudados por vrios pesquisadores, bem mais
prximos das populaes primitivas (1, 27, 77, 102, 107, 108, ??) podemos
mencionar os grupos rsticos compostos de brancos, ndios e negros, indicando
progressiva assimilao afetiva (GALVO 56:282). O estudo de PRANCE &
PRANCE (107) sobre o uso da Ayahuasca pela populao de Tarauac, por
exemplo, contribui para o estabelecimento das relaes com o Culto do Santo
Daime. Enquanto o trabalho de DER MARDEROSIAN (36) confirma o percurso da
Ayahuasca na direo norte-sul (Peru, Bolvia, Brasil) penetrando por Cobija,
crescendo e adquirindo caractersticas prprias na evoluo de Brasilia para Rio
Branco, PRANCE & PRANCE (107) acusa os mesmos traos culturais indgenas
assimilados pelos grupos urbanizados de Tarauac.
(40)
Seriam razes comuns
rea cultural do J uru-Purus? De qualquer maneira, informa-nos PRANCE &
PRANCE (107) que em contraste com os ndios, os brasileiros adaptaram o uso do
narctico aos seus propsitos, incorporando, todavia, seu prprio folclore, tornando
a cerimnia ou o ritual de ingesto, mais complexo. Nesta cidade o cip tornou-se
parte da cultura acreana (107:107).
Entre os grupos ligados ao Santo Daime podemos mencionar o Crculo
Regenerao e F, Centro de Iluminao Crist Universal (Alto Santo), Centro
Ecltico de Fluente Luz Universal Raimundo Irineu Serra (CEFLURIS).
Apresentando algumas semelhanas, o Centro Esprita e Culto de Orao Casa de
J esus Fonte de Luz afasta-se daqueles e cria nova linha doutrinria. H
tambm um outro grupo que, apesar de bem organizado a exemplo desse ltimo,
no pode ser considerado como sistema cultural, ou seja, no h ntima e direta
relao entre as estruturas simblicas com a organizao social e formas de
impregnado de modelos culturais como de modelos tcnicos, e a mora, a religio, a arte, a durao,
etc., realizam-se graas a modelos tcnicos que lhes so prprios.
www.neip.info
adaptao tecnoeconmica; tais subsistemas nem sempre se vinculam
estreitamente, so as Unies do Vegetal (U.D.V.).
CENTRO ESPRITA E CULTO DE ORAO CASA DE JESUS FONTE
DE LUZ
CARVALHO NETO E NUNES PEREIRA (99) bem como BASTOS (14) so os
primeiros a registrar a existncia do grupo. Nossas pesquisas confirmam grande
parte das observaes daqueles. Tudo comea quando Daniel Pereira de Matos
visita Mestre Irineu e se sente chamado para uma misso especial. Instala-se numa
rea de 2.500 mt2, de propriedade do Sr. Manoel Anto da Silva, onde j havia
estado Mestre Irineu. A partir da segunda metade da dcada de 40 a Vila Ivonete j
era lugar concorrido, sendo ponto de apoio para os que se sentiam atribulados por
males do corpo e do esprito, conforme depoimento prestado pelo Padre Manuel
Pacfico da Costa, da Ordem dos Servos de Maria, a 4 de outubro de 1971. A
descrio de NUNES PEREIRA (99) aps visita ao grupo na dcada de 60, fornece
detalhes sobre o ritual, cenrios e aspectos da bebida. Outros grupos se
constituram como desdobramento do centro acima. Alguns enfatizam os trabalhos
com o alucingeno, negando fenmenos de incorporao. Uma faco dirigida por
Mestre Olinto no admite a incorporao, mas a de Mestre J uarez, sim, que divide
com sua esposa a direo do outro centro, sobre o qual falaremos a seguir.
CENTRO ESPRITA F, LUZ, AMOR E CARIDADE
Localiza-se margem esquerda do Rio Acre, alguns quilmetros antes da
cidade de Rio Branco. Funciona h mais de dez anos numa gleba de terra
pertencente ao casal. Segue os padres clssicos dos demais, com a novidade de
desenvolver os trabalhos em duas etapas bem distintas. Uma sesso de
concentrao, com hinos recebidos pelo Mestre Daniel e outros. H orientao e
(40)
CAPISTRANO DE ABREU (1) apresentou interessante levantamento da Gramtica Caxinawa de
Tarauac, mencionando o uso do HUMI (a Ayahuasca).
www.neip.info
iluminao do Santo Daime. A seguir passam para as obras de caridade, no
terreiro de macumba. Maria Rosa (me Rosa ou Maria Baiana) comanda os
trabalhos de cura, instrumento (aparelho) do Preto Velho, alm de incorporar
vrios caboclos. Tem seus filhos espirituais, e o ritual assemelha-se ao candombl
de caboclo.
CENTRO ESPRITA BENEFICENTE UNIO DO VEGETAL (U.D.V.)
Destinada a purificar a humanidade, livrando-a da iluso, foi criada em 1962,
na regio amaznica, a seita religiosa Unio do Vegetal. Surgiu em Porto Velho,
Rondnia, onde funcionavam os grupos filiados aos de Rio Branco (Centro de
Iluminao Crist e Centro Esprita e Culto de Orao Casa de J esus Fonte de
Luz). O segundo quando visitado por NUNES PEREIRA (99) era dirigido na poca
por Chica Macaxeira. Segundo informantes, seu fundador, o ex-seringueiro, baiano,
J os Gabriel da Costa, teria conhecido Mestre Irineu. Em 1964 Gabriel tomou a
iniciativa de reunir seus companheiros para realizar a primeira sesso. A Unio do
Vegetal identifica simultaneamente a mistura dos dois principais vegetais, j
mencionados neste trabalho, e designa tambm a sociedade legalmente constituda.
Chamam o cip de Mariri e a psychotria de chacrona. Dezenas de outros ncleos
esto sendo criados em todo o Brasil. A sede geral, de Porto Velho, presidida pelo
Mestre Raimundo Carneiro Braga. O ritual simples seguindo padres clssicos.
Renem-se quinzenalmente, em torno de uma mesa comprida com bancos laterais.
Os scios usam camisa verde, o mestre representante usa camisa azul e quem faz
a distribuio do vegetal. Todos se concentram para receber o que h de vir,
preparados para seguir, conforme diz a chamada da Unio. As chamadas, espcies
de benditos populares, so feitas para trazer a fora superior. Apresentam uma
complexa organizao e a promoo de um grau a outro conseguida atravs do
processo de iniciao. Os ncleos da UDV rene-se geralmente na periferia das
cidades. Em Rio Branco, Porto Velho e cidades do interior de ambos os Estados, as
sesses se realizam na rea urbana, nas residncias dos responsveis pelos
mesmos ou em templos construdos para tal finalidade.
www.neip.info
Os Sistemas e Juramidan
So os centros ligados a uma mesma narrativa mtica primordial. A
organizao do culto e estrutura das colnias no se diferem acentuadamente. O
panteo o mesmo, a linha das entidades que entregam os hinrios harmonizam-se
em torno de uma nica hierofania csmica e J uramidan, o prprio Deus manifestado
em carne na pessoa de Raimundo Irineu Serra.
1) CRCULO REGENERAO E F
Organizado em Brasilia, fronteira com a cidade boliviana de Cobija, por volta
de 1920, pelos irmos Antonio e Andr Costa, alm do prprio Raimundo Irineu
Serra (Mestre Irineu) todos negros, naturais de S. Vicente Ferrer, Maranho.
2) CENTRO DE ILUMINAO CRIST UNIVERSAL
Surgiu no dia 26 de maro de 1931. Mestre Irineu, J os das Neves, acreano
de Xapur, e remanescentes do grupo de Brasilia so seus primeiros
organizadores. Oficializou-se a 21 de maio de 1962 como Centro Esotrico e a 23 de
janeiro de 1971, rompendo com o Crculo Esotrico Comunho do Pensamento de
So Paulo, transformou-se na atual instituio. O conceito de Alto Santo
(41)
cresceu muito chegando a atrair enfermos de toda a regio e de outras partes do
Brasil e do exterior. A sede do culto localiza-se em terras doadas pelo Senador J os
Guiomard Santos, ento governador do Estado, e compreendiam parte da antiga
Colnia Alberto Torres, atual Francisco Custdio Freire, altura do quilometro 7 da
rodovia Custdio Freire. A propriedade foi dividida em pequenos lotes cedidos s
famlias freqentadoras do culto, aparentadas entre si. O atual salo de reunies
grande, de madeira, edificado em terreno cercado, tendo frente enorme cruz de
Lorena em branco abraada por um tero de contas negras. A cruz conhecida por
Cruz de Caravaca e o tero por Rosrio de Maria. Numa elevao, com duas vias de
acesso, pelo caminho que sai da sede (salo) ou pela estrada Custdio Freire, situa-
(41)
Nome pelo qual conhecido o lugar. Refere-se certamente hierofania tpica criada em torno da
figura mstica do Mestre Irineu Serra, lembrando lugar de romaria.
www.neip.info
se o Alto Santo, espaosa casa de madeira, onde se iniciou o culto do Santo Daime,
residncia e local de trabalho do Mestre Irineu, ponto de romaria. A ainda residem
sua esposa, uma das lderes da comunidade, a Sra. Peregrina Gomes, alm de
outros membros de sua famlia. O Senhor Francisco Fernandes, atual responsvel
ocupa um dos quatro dormitrios. A casa funciona como abrigo ou hospedaria de
devotos. A primeira via de acesso passa por uma faixa de pastagem limitada por
duas cercas ao longo da mesma, saindo do salo e chegando ao Alto Santo, depois
de passar por um olho dgua que alimenta um aude direita. Quase de frente, do
outro lado da estrada, esto os tmulos do Mestre Irineu, falecido a 06/07/1971 e de
Lencio Gomes da Silva, seu substituto falecido em 1980. As sepulturas so
protegidas por um galpo, com pilares e muretas de alvenaria. H inclusive um
busto do Mestre Irineu, sobre um pedestal, ex-votos e velas. esquerda, a casa de
Lencio, onde atualmente residem Dona Madalena da Silva, viva de Lencio e
afilhada do Mestre Irineu alm de seus quatro filhos.
CENTRO ECLTICO DE FLUENTE LUZ UNIVERSAL RAIMUNDO IRINEU
SERRA CEFLURIS
No incio da dcada de 70 o caboclo amazonense Sebastio da Motta Melo
(Padrinho Sebastio), lder carismtico espontneo, patriarca envolto em aura de
simpatia e carinho, recebeu uma revelao especial e, com outros egressos do Alto
Santo, organizou o CEFLURIS altura do quilmetro 5 da rodovia Rio Branco
Porto Acre, ao norte da cidade. Construram enorme e funcional templo de alvenaria.
A fachada principal apresenta seis arcos de entrada ao trio, duas grandes torres
significando as duas bandeiras
(42)
que o centro conduz. O grupo instituiu uma
propriedade coletiva rural, atravs da incorporao de 13 pequenos lotes,
assentando perto de trezentas pessoas, cerca de 43 famlias. Pretendem com isto
alcanar a auto-suficincia, buscando uma vida mais prxima natureza,
consumindo alimentos sadios. H plantao de arroz, feijo, cana, mandioca, caf,
criao de gado, extrao de borracha e madeira. A produo, circulao e consumo
(42)
A primeira a do Santo Daime deixado pelo Mestre Irineu e a segunda, a da Santa Maria
(maconha) instituda pelo Padrinho Sebastio.
www.neip.info
desses bens, ficam pelo consenso de todos, sob controle do Padrinho Sebastio,
auxiliado por seus filhos e outros irmos que compem a diretoria.
Detalharemos a seguir a estrutura e o funcionamento do ritual desses ltimos
grupos.
www.neip.info
III O CULTO DO SANTO DAIME
7. Os Sistemas de Juramidan
Os sistemas de Juramidan
As experincias alucinatrias no so simples manifestaes imaginrias,
psicopatolgicas, sem sentido ou fora social. Enquanto vividas no enquadramento
ritual de envolvimento do corpo, arte e mente, necessria e dialeticamente, essas
experincias interagem com aspectos econmicos e sociais do ambiente em que
concretamente existem | MOTTA (94:121 |. A viso do mundo, produto da
decodificao das miraes, insere-se num projeto de ordem pelo qual antigas
expectativas estruturam um mapeamento da realidade | VELHO (125:33 ss.) |. Elas
integram, portanto, modelos socioculturais especficos. Os dois conjuntos mgico-
religiosas, cujo ritual descreveremos a seguir, tecidos numa espcie de todo
ordenado, para aqueles comprometidos com ele, parecem mediar um conhecimento
genuno, o conhecimento das condies essenciais nos termos das quais a vida
tem que ser necessariamente vivida | GEERTZ (57:146) |. J uramidan, patente
recebida por Raimundo Irineu Serra no astral, o chefe imprio, imperador e pai da
raa. em torno dele, do impacto causado por ele, enquanto viveu e desempenhou
as funes de mestre, de seu hinrio e do testemunho dos que com ele conviveram,
que se estruturam muitos grupos. O Alto Santo e a Colnia 5 mil, por serem bem
estruturados, ilustram esses. Ainda que constituindo dissidncia do primeiro, o
segundo, em seus pontos principais, prossegue repetindo os mesmos rituais e
doutrinas centrais. O fato desses grupos relacionarem-se com o contexto
macrossocial permite-nos descobrir sinais de modelos de projeto de ordem
diferenciados, como veremos oportunamente.
A lenda que envolve os acontecimentos referentes iniciao dos primeiros
mestres do Santo Daime possui verses que variam segundo a tica de cada
informante. Enquanto antigos membros do Crculo Regenerao e F negam ou
minimizam os poderes de Mestre Irineu, os seguidores desse garantem que Antonio
Costa, julgando-se menos capaz, teria pedido virgem me que entregasse a
misso a Raimundo Irineu Serra. Todos, contudo, so unnimes em confirmar a
presena de ambos no perodo de aprendizagem (I, IX, X, XI, XIII).
www.neip.info
Primeiras Experincias
Segundo AJ S, um peruano, do Departamento de Loreto, Crescncio Pizango,
teria convidado Antonio Costa para tomar a ayhuasca. Ambos, na ocasio,
trabalhavam perto de Cobija, pelo rio Tahuamano, num seringal da Casa Soarez.
J R, atual secretario do Alto Santo, cria um contexto antropomrfico, fitoltrico e
profiltico, dando primazia ao Mestre Irineu (IX). Lencio Gomes da Silva, que
assumiu a presidncia do Alto Santo, confirma tal verso (X).
O Padrinho Sebastio, discpulo e, segundo suas palavras, continuador e
precursor do prprio Mestre Irineu, transmite o que apreendeu do relato oral mtico
(XI).
Conforme demonstraremos, essas experincias pioneiras, envoltas pela
reconstituio de uma narrativa mtica primordial, ultrapassam idiossincrasias
individuais e se projetam na prpria institucionalizao dos primeiros ncleos ou
sesses de Santo Daime.
A reconstituio histrico-estrutural do grupo pioneiro, em Brasilia, que mais
tarde originou o Crculo Regenerao e F, confirma a presena de traos culturais
pertencentes s populaes primitivas, em especial os Caxinwa brasileiros e
peruanos j em acelerado processo de integrao aos valores da sociedade global.
Estaria, no caso, ocorrendo o fenmeno da reinterpretao mencionado acima.
Conforme registramos, os grupos apresentam dois tipos de rituais. Ou se
limitam ingesto do Daime e trabalhos de concentrao ajudados por msica
produzida por fongrafo e gravador, ou recorrem ao canto e dana ao som de
maracas e outros instrumentos musicais. Outro trao que identifica os Sistemas de
J uramidan diz respeito a preparao, indicao e legitimao de seus mestres ou
padrinhos. Trata-se de combinao das figuras do paj indgena, do sacerdote
catlico e a figura do guia espiritual dos cultos populares afro-brasileiras.
Constatamos assim o fenmeno da reinterpretao no prprio processo de
legitimao de seus lderes.
www.neip.info
A Legitimao dos Mestres
A Sagrao de um mestre, isto , o processo de reconhecimento do status de
vidente, conselheiro, curandeiro ou orientador espiritual, no ocorre por acaso,
depende de uma srie de circunstncias, tais como o tipo de estrutura do grupo,
perodo de confirmao de suas qualidades especiais e a possibilidade poltica junto
irmandade. Na verdade o processo de sagrao fundamenta-se na rede de
relaes que o futuro lder consegue, consciente ou inconscientemente, estabelecer
entre membros do grupo, extrapolando at mesmo os limites da comunidade de
referncia.
Os grupos mais complexos como o da UDV prevem a possibilidade dos
iniciados chegarem a mestre, depois de passar pelos nveis intermedirios do
oficialato. Nesse caso o processo no apresenta traumas ou divises dos ncleos,
pois ele previsto e estimulado. Ainda assim, em decorrncia da disputa poltica
pelo cargo, podem ocorrer crises internas e at o seccionamento do grupo.
Enquanto esteve vivo o Mestre Irineu autorizou vrios de seus oficiais mais
adiantados a fazer o Daime e ministrar o servio em suas prprias casas. Tal fato
justificava-se especialmente no inverno, quando as estradas se tornam de difcil
trfego e os ramais secundrios praticamente desaparecem. Exigia desses novos
lderes que doassem a metade da bebida feita ao centro sede, que fizesse o Daime
de acordo com seus ensinamentos, recomendando a participao de pessoas
previamente instrudas e preparadas. Contudo, a morte de Mestre Irineu suscitou
acirrada disputa entre os novos lderes. Tal fato ocorreu em virtude da estrutura do
grupo no prever mais de um mestre. Mesmo a sagrao de Irineu Serra foi
parcialmente contestada pelos freqentadores do CRF. L Antonio Costa ocupava o
cargo de general, tendo Raimundo Irineu Serra comandante em chefe (XIII).
sempre o grupo que legitima o futuro lder. Neste sentido torna-se
importante o perodo de iniciao que pode durar indefinidamente. O candidato vai
desenvolvendo suas aptides. s vezes a pessoa j chega e no primeiro trabalho
com a luz executa um servio direitinho (MM). Os informantes explicam que no
depende s do esforo, o merecimento por ter passado por outras encarnaes
tambm conta; a pessoa, no caso, j est num estgio de evoluo superior a
www.neip.info
muitos que freqentam a sesso. Alm do tipo de estrutura e tempo de iniciao no
grupo, outro fator que pesa decisivamente na sagrao de um mestre. Trata-se do
subgrupo de apoio dentro da irmandade. Esse s vezes compe-se de parentes do
pretendente ao cargo.
Antonio Costa e Raimundo Irineu Serra
O informante SJ S comenta que apesar de Irineu reconhecer que Antonio
Costa tinha mais virtude, ele queria ser igual ao chefe. Os exames realizados
ocultamente, isto , durante os transes extticos constituem importante instrumento
de legitimao do pretendente a chefe. A coragem ento virtude decantada pelo
grupo. Ser homem significa suportar as terrveis provas fsicas e psquicas,
sobretudo vividas no astral. (XXXVIII). Indica-nos o informante que para cada
pessoa a Rainha da Floresta e outros seres divinos, determinavam trs diferentes.
Como ltimo exame Antonio Costa teria que passar num engenho de roda de
navalha, meter a cabea com a mquina trabalhando e passar do outro lado. A viva
de Antonio Costa confirma a verso(XL). Antigos moradores de Brasilia ainda falam
da presena de Antonio Costa na regio, como curandeiro, profundo conhecedor de
ervas e conselheiro de autoridades (I). Antigos discpulos de Antonio Costa
continuam trabalhando com o Daime na mesma cidade (XIV, XV). Informaes
complementares confirmam nossa hiptese de reinterpretao, conservando com
mais evidncia a influncia dos cultos afro-brasileiras e amerndios (XV).
Lencio Gomes da Silva e Sebastio Mota Melo
A morte do Mestre Irineu precipitou o desligamento de mais de cem membros
do Alto Santo, liderados pelo padrinho Sebastio, solidificando assim a recm criada
Colnia 5 mil, Lencio e sua esposa, contudo, defendem a preferncia do Mestre
Irineu por esse ltimo (XVI, XVII, XVIII).
A legitimao do Padrinho Sebastio descrita e defendida por ele mesmo,
repetindo os clssicos vos xamansticos (XIX). O prprio hinrio do Padrinho
Sebastio procura confirmar sua chamada (11 E 15).
www.neip.info
Francisco Fernandes
o atual responsvel pela direo dos trabalhos espirituais do Alto Santo,
sendo tambm presidente do Centro Esprita Fluente Luz Universal. A legitimao
de sua escolha, contudo, parece no ser unnime. Visitando o grupo em 1981
constatamos a existncia de um princpio de diviso. Os descontentes com a nova
direo alegam excessiva severidade com que o Francisco Fernandes, ou Sr. Tetu,
vem dirigindo a irmandade. Todavia, o atual comandante vibrante e respeitado oficial
da casa, vem em seu hinrio legitimando o novo presidente, que todos chamam de
assessor. O hinrio do Sr. Tetu (48, 49, 50) parece ter como tema central sua
confirmao como escolhido de Mestre Irineu e do Sr. Lencio Gomes da Silva. No
caso, estaria ocorrendo menos uma contestao das qualidades especiais do Sr.
Tetu do que uma disputa pelo poder entre os familiares de Lencio Gomes da Silva
que reivindicam o comando da irmandade.
O Santo Daime
Demonstramos em outra parte que o Daime a mesma bebida utilizada em
grande parte da Amaznia Ocidental e conhecida por ayahuasca, iag, mariri, etc. O
participantes dos Sistemas de J uramidan empregam estes termos, e ainda as
expresses folha rainha, chacrona ou mescla ao se referirem especificamente
Psychotria Spruce. A impreciso terminolgica pode estar indicando a preservao
de certas origens tnicas. Torna-se, pois, interessante fazer algumas consideraes
de ordem etnolingustica, sociocultural e mtica/funcional em torno do assunto,
aprofundando tambm alguns aspectos sobre o preparo, efeitos sagrados e
interditos em torno da beberagem ou dos vegetais empregados.
Do ponto de vista etnolingustica ser possvel tentar, rapidamente, justificar a
transformao da expresso ayahuasca para Daime, o que refora a tese da
reinterpretao proposta at aqui, com referncia ao processo de passagem
etnolgica e etolgica.
Ainda desconhecemos os resultados de pesquisas realizadas na regio, de
uma perspectiva sociolingstica, que pudesse revelar o processo de unificao
lingstica, ou monolingstico, atravs do qual novos ngulos da passagem das
www.neip.info
populaes primitivas e rsticas para estgios mais adiantados de urbanizao
fossem suficientemente esclarecidos. Recentemente o Dr. MAURIZIO GNERRE (59)
se props a trabalhar numa pesquisa visando estudar, com metodologia
sociolingsitica, a relao entre desintegrao das sociedades tribais do Acre e a
situao lingstica em que elas se encontravam. No Acre, em quase todos os
grupos indgenas encontram-se repertrios lingsticos individuais constitudos de
duas at quatro lnguas. As lnguas representam diferentes nveis de prestgio social
e a aculturao lingstica procede na direo da aquisio de uma variedade de
portugus e do abandono das lnguas dos grupos indgenas menos integrados
(como os Culinas no Rio Purus), at o portugus, passando, por lnguas de status
intermedirio como o Caxinava, o Quexua dos peruanos e o espanhol falado por
mestios peruanos e bolivianos.
Ora, diante da situao social e lingstica do Acre, em constante mudana
nos ltimos anos, onde 70% dos atuais 300.000 habitantes do estado vive fora dos
centros maiores e os grupos indgenas constituem minoria absoluta (3% da
populao do Estado), propunha o pesquisador a instituio de relaes possveis
entre incidncia de multi e bi-linguismo nas comunidades indgenas (ou indgenas-
caboclas) e os comportamentos sociais complexos de tais comunidades. Com
certeza, podemos concluir que a mudana da expresso quichua ayahuasca
(jayahuasca ou hayahuasca) significando (bejuco ou liana de los muertos), segundo
estudos de NARANJ O (96:36) para d-me, dame ou Daime, revela no apenas a
reinterpretao cultural-religiosa, mas fundamentalmente, o processo de
urbanizao. O prprio insediamento dos ndios |GNERRE (59) | teria favorecido a
fuso no s entre diferentes grupos como tambm entre ndios e caboclos. Os
grupos de diferentes famlias (Pane, Arawak) se apresentariam misturados tambm
com mestios peruanos e o multilinguismo que fenmeno j tradicionalmente
presente na rea geogrfica do Alto Amazonas, do Sul do Acre, at o Uaups |
SORENSEN (129), MELATTI (83) |.
Lembramos, confirmando nossa argumentao, o registro Santo D-me feito
por NUNES PEREIRA (99) no incio da dcada de 60. Tal registro revela a
conservao da grafia espanhola. Nos depoimentos e hinrios por ns levantados
www.neip.info
raramente encontramos a mesma expresso, predominando a forma da-me ou
daime.
Por outro lado no devemos explicar o fenmeno ora em discusso apenas
sob a varivel cultural, h aspectos que ultrapassam qualquer tipo de determinismo
e nos coloca diante de comportamentos simblicos e mticos universais.
Por ser preparada com vegetais o daime e todo o complexo ritual relaciona-se
necessariamente com os elementos terra, gua, ar, fogo e cu. As miraes
produzidas pelos alucingenos sempre contendo intensa movimentao multicoloria
de luzes resplandecentes, confundem-se com a luminosidade do Sol, da lua e das
estrelas (2). Por isso pelo fenmeno da contiguidade repete-se o da mitificao e
simbolizao para se constituir finalmente, em hierofania, ou seja, complexo de
crenas atravs das quais objetos, seres e fenmenos da natureza passam a
possuir poderes no naturais, de uma ordem sobrenatural, sobre a qual no temos
domnio. Essas Hierofanias, conforme definio de ELIADE (45) e OTTO (103)
indicam a irrupo do sagrado.
(43)
Podemos, assim, considerar o culto do Santo
Daime como conjunto de manifestaes de hierofanias macro e microscsmicas,
uranianas, biolgicas e tpicas. Tais hierofanias cobrem todos os aspectos religiosos
da irmandade, mas , sobretudo, com referncia aos vegetais (coleta, limpeza, feitio,
pessoas envolvidas, etc. ) que essas hierofanias aparecem, subsistem e se reforam
reinterpretadas.
Os encarregados da coleta e todo o processo de produo da bebida
precisam estar preparados espiritualmente. Os mais experientes e dedicados so
encarregados da tarefa que se realiza durante a lua nova, quarto crescente ou lua
cheia. A descrio do feitio (XXI) documenta as hierofanias.
No J agube os poderes de cima e os poderes de baixo se interpenetram e
vislumbram o arqutipo da terra-me (4, 37); lembra-nos, a propsito, ELIADE (49)
que a lua um astro que cresce, decresce e desaparece, astro cuja vida est
submetida lei universal do devir, do nascimento e da morte. Como o homem, a lua
(43)
Afirma ELIADE (45:156): Le sacr, par consquent, se manifeste galement comme une force,
comme une puissance. Pour indiquer lacte de la manifestation du sacr, nous avons propos le
terme hierophanie .
www.neip.info
tem uma histria pattica, porque a sua decrepitude, como a daquele, termina na
morte. Durante trs noites o cu estrelado fica sem lua. Mas esta morte seguida
de um renascimento: a lua nova. Por ser um astro ligado aos ritmos da vida, a lua
est associada s guas e aos vegetais. A identificao da lua com Nossa Senhora
da Conceio, mais que simples emprstimo ou reinterpretao, revela a
permanente ligao da vida com suas fontes naturais e espirituais. O jagube, sendo
filho da terra (4) acompanha o ritmo da vida, regido pela fora lunar. Outros signos
relacionam o jagube ao jardim e s flores, que por extenso tambm se aplica aos
outros seres divinos. Tudo isto faz descortinar o conjunto lua gua - vegetao,
confirmando o carter sagrado de certas beberagens de origem divina | ELIADE
(47:204) |
(44)
Podemos tambm indicar traos de uma hierofania tpica
(45)
, tal fato se
relaciona com os vegetais e com a prpria bebida. Assim, os lugares onde os
vegetais so encontrados e onde se realiza o feitio so referentes de manifestaes
sagradas.
Numa perspectiva macrocsmica o daime visto como fermento que leveda
a massa, que contagia o profano e o transforma em sagrado, puro. Quem ingere o
daime sem observar os interditos pode provocar uma entropia do sagrado. Por estar
fraco a pessoa estar sujeito a graves conseqncias. Mas, medida em que o
sangue vai se adaptando aos alucingenos, novas pginas mentais vo sendo
aprendidas pelo aluno (XXII). Outro informante associa o J agube ao mito do paraso
ednico (XXIII). Quando o Daime pega ele balana tudo quanto h, a pessoa viaja
por diferentes planos do astral, penetra os jardins do Palcio de J uramidan (10, 11,
17, 38).
Dificilmente o daime ingerido por uma s pessoa. Sua ingesto sempre
ritualizada, geralmente em reunies familiares ou durante as sesses. Por isso,
(44)
E continua o mesmo autor: A embriaguez sagrada permite participar, ainda que de maneira
fulgurante e imperfeita, na modalidade divina; quer dizer que ela realiza o paradoxo de ser
verdadeiramente, e, ao mesmo tempo, de se tornar, de ser fora e equilbrio. O destino metafsico da
Lua de viver permanecendo, simultaneamente, imortal, conhecer a morte como um repouso e
uma regenerao, nunca como um fim (47:204/205).
(45)
No sentido de que determinados lugares ou cenrios, por terem sido palcos de manifestaes
sagradas, passam a ser considerados como locais onde a santidade se faz presente, passam a ser
objetos de interditos e peregrinao.
www.neip.info
sempre que possvel, ao se transferirem para lugares onde no existe o culto, seus
devotos se renem e sob a presidncia do mais experiente realizam o ritual. O fato
pode ocorrer em ocasies especiais.
O Caminho para o Astral
O sonho, ou atividade onrica durante o sono paradoxal, e a experincia
alucinatria so considerados como manifestaes extraordinrias atravs das quais
se pode penetrar e conhecer a verdadeira realidade, a da vida espiritual, onde
cada um dos participantes encontra-se com seu verdadeiro EU, descobrindo sua
personalidade. Com isto ele conseguir antecipar seu futuro e rever seu passado.
Esta realidade, porm, interpenetra a realidade da vida material. Ainda que ambas
sejam importantes, a segunda transitria e funo da primeira. Uma vida
espiritual plena. Portanto, penetrar o astral torna-se fundamental, por isso quanto
mais autodisciplina e submisso aos trabalhos na espiritualidade mais se desvenda
e se corrige o esprito. Assim podemos considerar o processo ritualstico como
caminho indispensvel para a penetrao, conhecimento, atravs de trabalhos
sempre mais profundos, dos diversos e complexos planos evolutivos do astral. Alis,
afirmou J R que uma das funes do daime e das sesses, substituir os difceis e
complicados exerccios de concentrao pelos quais os praticantes letrados de
teosofia e outras correntes espiritualistas conseguem nos manuais. Podemos, pois,
descrever os elementos e partes do ritual como caminho a percorrer para atingir os
planos desejados. Trataremos inicialmente dos diferentes tipos de sesso, da
seqncia-padro das sesses e da dana.
As Sesses
O Culto do Santo Daime pode ser descrito como extenso ritual, atravs do
qual, simbolicamente, os grupos organizam a vida mgico-religiosa e disciplinam
estados mentais paradoxais. Tais estados se caracterizam pela permanente vivncia
de duas formas simultneas de percepo da realidade, aparentemente
contraditrias: o tempo e espao da viglia coexistem com aqueles percebidos
www.neip.info
durante o sono paradoxal
(46)
e as experincias alucinatrias vividas nos momentos
de transe exttico. O culto tambm mtico. Neste sentido ele estabelece um
conjunto semiolgico autnomo, valendo-se essencialmente de gestos e linguagem,
conforme conceituao de LUC DE HEUSCH (32).
Sesses Exotricas e Esotricas
Em algumas sesses participa apenas um pequeno grupo de oficiais, os mais
adiantados, ns a designamos neste trabalho de esotricas. As outras sesses
podem ser freqentadas por qualquer pessoa, so por isso aqui consideradas
exotricas.
As pessoas que necessitam de trabalhos espirituais especiais tambm
participam das sesses esotricas e h algumas constitudas apenas de dirigentes e
oficiais da doutrina.
Os festejos bailados, festejos e missas so sesses exotricas mas os
trabalhos de mesa, concentraes e feitios (XXI) classificam-se entre as esotricas.
No se pode precisar as funes que as diferentes sesses desempenham.
Cada acontecimento, num contexto de envolvimento do corpo, arte e mente, jamais
ser suficientemente explicado ainda que se utilize das distines entre funes
latentes e funes manifestas.
As sesses, com pequenas variaes, apresentam uma estrutura-padro,
exceto as sesses de feitio. Embora as fases do feitio sejam constantes no h
sempre o mesmo ritual. Em todas as sesses, todavia, teremos a presena do
Santo Daime, das preces (teros/rosrios), da poesia ritualista cantada (hinrio) e
dos momentos de trabalho quando ocorrem as experincias alucinatrias (sonhos
e miraes).
Por ocasio dos festejos tornam-se indispensveis os instrumentos musicais
(de percusso e de sopro) e os maracs (latas cilndricas com cabos de madeira,
contendo pedras ou sementes).
(46)
Ver pp. 70 e 72.
www.neip.info
Durante os festejos bailados, realizados no salo de reunies, atinge-se o
instante mais forte do ritual, instante bem dionisaco, de efervescncia social e fuso
das conscincias, quando se torna difcil separar o social do individual, so
verdadeiros estados mentais coletivos paradoxais, com ininterrupta interpretao da
realidade e da fantasia. So as cerimnias previstas no calendrio litrgico. As
demais sesses tm lugar nas residncias, nos limites das colnias da irmandade,
nas colnias de irmos localizadas em pontos distantes das sedes ou na cidade de
Rio Branco.
Seqncia padro das sesses
A descrio das fases de cada sesso obedece seqncia observada por
ocasio da pesquisa participante. Deixando de lado as diferenas entre os diversos
tipos de sesso observados, por serem circunstanciais, pode-se afirmar que as
partes abaixo apresentadas formam a estrutura do ritual.
ABERTURA: Aps rezarem o tero, fardados ou no, todos os participantes
comungam, adultos e crianas, postando-se em filas organizadas segundo o sexo.
Ao receberem a bebida, antes de ingeri-la, pronunciam a expresso Deus me Guie.
A seguir tomam o Santo Daime. A pessoa que est dirigindo a sesso sempre a
primeira a comungar;
PREPARAO: nos minutos que sucedem comunho ou seja, os efeitos
psicofsicos, permanecem compenetrados. Murmuram algum tipo de prece ou
sussurram entre si, comentam discretamente sobre variados assuntos. Os que vo
bailar (se festejo bailado) j buscam os quadrilteros demarcados no cho do
templo, e se apresentam fardados: os homens trajam cala azul e camisa branca e
as mulheres vestem blusa branca e saia azul. Todos levam altura do peito, lado
direito, um signo de Salomo. Os demais participantes acomodam-se, buscando
cada um a posio que melhor lhe convenha, ocupando cadeiras, poltronas e
bancos de madeira, junto s paredes laterais. O comandante chama os soldados e
oficiais formao. Eles trabalharo bailando enquanto os outros permanecero
www.neip.info
concentrados em seus lugares trabalhando para si mesmos e/ou dando reforo
(47)
aos demais.
TRABALHO: o pice de cada sesso. Se sesso apenas de concentrao
o silncio total; todos visam penetrar o astral, onde se sentiro totalmente outro
sem deixar de ser ele mesmo. Desejam a limpeza e sade do corpo, da mente, do
esprito. Esperam encontrar os seres divinos em seus respectivos planos. Entre
esses seres divinos, aqueles que representam o Anjo da Guarda de cada um,
parentes vivos ou desencarnados. Viajam pelos distintos planos do astral. Mas a
viso suprema, o encontro sempre pretendido por todos, a do Imperador
J uramidan, que j viveu inmeras encarnaes: nas figuras de Imperadores,
Profetas, Buda, apstolos, deuses incas; veio por ltimo no J esus Cristo negro, o
prprio Mestre Irineu. Sendo festejos, com hinrio e dana, estas experincias so
mais fortemente inspiradas pelo ritmo e tm o reforo das chamadas presentes nos
milhares de hinos j incorporados doutrina;
ENCERRAMENTO: Ocorre depois de duas a seis horas de reunio, o que
depende do decreto do servio daquele dia. As entidades so despedidas e o
trabalho comea a ser fechado. Rezam o tero e se colocam fora de forma por
ordem do mesmo comandante
(48)
Limitamo-nos acima a registrar apenas os gestos, palavras e atos referentes
ao ritual do ponto de vista religioso, aqueles acontecimentos centrais que
contextuam as experincias alucinatrias. Tudo o que acontece antes e depois das
sesses constituem excelente material etnogrfico. Por exemplo, os momentos que
sucedem os fenmenos estritamente religiosos, ou os intervalos, quando alguns
tomam a caiuma, outra bebida de origem indgena composta de macaxeira
fermentada, acar, cravo, gengibre e canela. A caiuma tem sabor agradvel e
serve para alimentar e diminuir o gosto travoso deixado pelo Santo Daime. Outros
vo at a taberna situada a poucos metros do salo de reunies, tomam caf,
(47)
... Dar reforo pode significar ajudar a sustentar a corrente espiritual.
(48)
Dependendo do tipo de sesso e respectivo tempo de durao, podero ocorrer de uma a seis
rodadas (doses de bebida). Nos festejos bailados, e.g., de duas em duas horas servem nova rodada.
Cada devoto, porm, participa conforme sua necessidade.
www.neip.info
comem biscoito e conversam sobre assuntos do dia-a-dia e mais discretamente
sobre suas ltimas miraes.
A Dana
Apesar da aparente rigidez em sua coreografia, a dana (ou bailado) no
esconde seu aspecto dionisaco. o que ocorre nos chamados festejos oficiais.
Nestas ocasies comemoram entre outros motivos, o nascimento, em dezembro, e a
morte, em julho, do Mestre Irineu. A Irmandade durante estes festejos usa farda
especial. As mulheres com blusa e saia brancas, com saiote e fitas pendentes da
manga da blusa. Os homens vestem-se de branco com uma lista verde ao longo das
pernas da cala e um signo de Salomo no palet.
Apresentam-se formando dois eles, um composto de homens, outro de
mulheres, obedecendo os dois quadrilteros concntricos. Os figurantes vo
danando e cantando uma poesia ritualizada (hinrio), em ritmos ora de valsa, ora
marcha ou mazurca, numa montona compulso, por repeties de frases inteiras.
Uma cumulativa fora, na harmonia total, movendo-se como se fossem um s. H no
teto do salo onde danam uma enorme estrela de Salomo, no interior dela uma
lua nova e bem no centro repousa uma guia.
Cantam em unssono, enquanto se movem suave mas com grave passo de
ave, inclinando-se levemente para a direita e para a esquerda. Os maracs vo
repetindo o bater das pulsaes, ou imitando o passo marcial, horas e horas, com
interrupes rpidas de duas em duas horas. Eles nos fazem lembrar as cerimnias
descritas por vrios etnlogos BENEDICT (17:103:112); LOWIE (78:23-48)|.
ANDRADE (5:306-308), um ano aps nossas primeiras pesquisas de campo,
descreveu essa dana. Quem dana deve ter, na mo direita, um marac, que bate
a cada tempo; na marcha, os maracs so batidos lateralmente (para o mesmo lado)
trs vezes, e para cima uma vez. Diz-se que o marac d trs batidas e uma
chamada. Esta corresponde ao primeiro tempo, que o mais forte. Na valsa, h uma
chamada e duas batidas, mas os participantes chamam a valsa de compasso dois
por um, indicando que ela comea em anacruse, como a marcha. Na mazurca,
tambm de ritmo ternrio, cada conjunto de trs compassos forma a unidade dos
www.neip.info
passos coreogrficos, e por isto diz-se que a mazurca tem nove tempos, trs vezes
trs. De dentro de seus retngulos, as pessoas esto viradas uma para a outra,
duas a duas; assim do trs passos, um com cada p, sem sarem de seus lugares;
no segundo compasso, uma est ao lado da outra, do mais trs passos e no
terceiro compasso, cada uma est de costas para seu par e de frente para o par de
seu vizinho. Cada qual deu um giro de 180, isto , danou o primeiro compasso
virado para o vizinho esquerda, o segundo ao lado dele e o terceiro voltado para o
vizinho da direita; o quarto compasso a repetio do primeiro, em frente mesma
pessoa, para recomear o ciclo; o quinto compasso corresponde ao segundo e, no
sexto, cada qual volta posio em que comeou a dana. Na mazurca no h
chamadas, s batidas, porque ela no comea em anacruse. Dessa forma, os
danantes jamais do as costas para a mesa central. No h outros gestos alm da
troca de ps e das batidas e chamadas de maracs, o que indica certamente uma
aculturao indgina nos passos da dana, embora seus nomes sejam
transplantados de danas europias como a valsa e a mazurca, e de marcha, onde
simplesmente o binrio se torna quaternrio, porque h quatro batidas de marac,
correspondendo a dois compassos.
A dana ritualizada e os demais atos estimulam a criatividade dos grupos,
restituindo e tornando homogneas as duraes individuais, contribuindo para a
unificao de diferentes ordenaes corpreo-temporais. Como essas ordenaes
caracterizavam at ento tradies culturais diferentes, elas tendem a resistir; sob o
impacto dos fenmenos totais modificam-se e se unificam, confirmando alis a
conexo entre religio e sociedade. RADCLIFFE-BROWN (110), por isso justificou a
necessidade de estudos antropolgicos das relaes entre a msica (e a dana) e
os ritos religiosos, citando uma frase do Livro dos Ritos de Confcio:
Ritos, msica, castigos e leis tm um nico e
mesmo fim: unir os coraes e estabelecer a ordem
(110:181)
www.neip.info
8. O RITUAL DE TRANSCENDNCIA E DESPOLUIO
Penetrar o astral e conhecer os planos de vida espiritual exige passar
progressivamente pelas lies vividas durante as miraes num permanente
processo de limpeza: cada gesto, palavra ou pensamento pode ajudar ou dificultar a
evoluo. exceo da dana, realizada durante os festejos bailados, os demais
atos mgico-religiosos realizam-se tambm nos momentos da vida diria, individual
ou coletivamente, entre os residentes nas colnias (comunidades) ou incluindo os
que moram na cidade. Foi praticamente impossvel durante a pesquisa de campo
separar os momentos religiosos dos demais considerados tradicionalmente
profanos. Mesmo em suas atividades familiares, profissionais, os referenciais ticos,
implcitos ou explcitos nas Santas Doutrinas conseguem exercer poderosa
influncia. Contudo, alguns dos ritos mais objetivamente ligados busca de
transcendncia e purificao, presentes em momentos importantes das sesses, se
destacam constituindo-se na espinha dorsal dos Sistemas de J uramidan. Eles
constituem o assunto desse captulo.
Os efeitos causados, direta e/ou indiretamente, pelo consumo da
Banisteriopsis Caapi Spruce e Psychotria Spruce e outros aditivos j foram descritos
por diversos pesquisadores | PRANCE & PRANCE (107), LINDGREN & RIVIER
(77), NUNES PEREIRA (99) e COELHO (29) | no havendo divergncias
significativas ente os mesmos. Tentando descrever o fenmeno no contexto do
ritual, classificamos e descreveremos tais efeitos segundo trs momentos bsicos,
que, com ligeiras modificaes repetem-se ciclicamente, englobando aspectos
biopsquicos e mgico-religiosas.
O primeiro momento o da ESTASE e se identifica pela parada ou paralisia
do sangue e de certos humores do corpo. A desorganizao biolgica e psquica do
ritmo passa a se constituir, para os participantes do culto, em modificaes do ritmo
da prpria existncia que pode chegar a verdadeira dissociao rtmica, diferente da
dissociao da sndrome esquizofrnica (7:122). Os grupos, pelo contrrio,
assimilam a dissociao rtmica e a incorporam aos momentos criativos quando
corpo, arte e mente se interpenetram. possvel descobrir vrios aspectos ligados
interpretao da primeira fase do ciclo onrico. Elas se situam nos mais diversos
www.neip.info
campos da percepo. H interpretaes exclusivamente mgico-religiosas, portanto
mticas. Outras fazem meno a relaes psicofarmacolgicas da bebida e imediata
ao de purgao ou limpeza dos rgos, comprovando assim a ao vermfuga da
harmina. Os informantes costumam associar essas interpretaes. Veremos
oportunamente que as principais interpretaes podem ser circunscritas a um locus
significante central e principal que se expande de uma dimenso microcsmica, dos
sistemas biolgicos internos do indivduo, para dimenses espirituais coletivas, entre
os membros dos grupos, e macrocsmicos quando incluem fenmenos universais.
Assim a limpeza do organismo, que comea minutos aps a ingesto, metafrica e
de fato pode provocar a limpeza do ambiente onde as pessoas se encontram, da
prprias pessoas e da natureza. Tudo, porm deve comear pela peia, ou seja o
amansamento do sangue. A estase, por extenso a reorganizao rtmica, ou
disritmica, vale dizer o rudo
(49)
interno provocado pelos alucingenos o primeiro
passo para a ordem. o tempo a durao do Santo Daime.
A segunda fase, denominada por ns de XTASE 1, comea a se manifestar
pelo balano, isto , a pessoa se sente totalmente agitada, sob poderosa fora
como que uma ferroada de marimbondo, podendo a seguir perder os sentidos,
dormir, ou, se puder e preferir, de acordo com o tempo de prtica, entrar num estado
de transe. Nestas circunstncias ela se sente num outro plano mas consciente e
presente no tempo e espao onde se realiza a sesso. Ela pode ver e conversar
mentalmente com os seres divinos num determinado plano do astral, conservando-
se lcida, respondendo a perguntas dos circundantes. Ela est em duas realidades
simultaneamente, podendo se firmar em uma ou noutra. Pertencem a esse estgio
as provas a que os candidatos a Mestre do Daime se submetem. No incio dessa
fase geralmente ocorrem distores visuais, acsticas e da concepo do tempo. O
xtase 1 marca tambm o segundo momento da disciplina e incio dos trabalhos
espirituais propriamente dito surgindo no raro representaes da morte. A pessoa
se sente diante da morte, est morrendo. Tornam importantes, nestes momentos, o
reforo ou seja conforto que aprece na forma de hinos, palavras de nimo dos
demais, preces recitadas ou a prpria atividade mecnica de canto e dana. O
(49)
A fase inicial de desorganizao de confuso, de falta de descodificao de uma possvel
mensagem cifrada simbolicamente.
www.neip.info
reforo no caso pode ser considerado como a contrapartida sensorial das atividades
de substituio conforme formulao do etlogo MICHAEL CHANCE aqui
simplificada como certos atos que lhe permitem estabelecer um controle sobre seu
estado nervoso interno (26:90).
A terceira e ltima fase, s vezes se confundindo com o somo paradoxal ou
atividade onrica a do XTASE 2 e se caracteriza pelas vises agradveis, viagens
a lugares desconhecidos (ou conhecidos), sales dourados, seres resplandescentes,
jardins, flores, prncipes, reis, profetas e outras teofanias. O sono paradoxal
corresponderia segunda fase do sono normal no se confundindo, porm, com
ele
(50)
A experincia alucinatria, caracterizada pelos estados mentais extticos sem
perda da lucidez, de um ponto de vista neurobiolgico no se confunde com o
estado mental do sono paradoxal. Contudo ambos relacionam-se complexamente
com a sensao, a imaginao, o pensamento e os sentimentos. Os estmulos
qumicos afetam igualmente o sistema nervoso durante o sono e a viglia. Por isto as
miraes extticas e os sonhos devem ser includos, no presente caso, como
experincias sensoriais pertencentes igualmente ao ciclo onrico.
Durante a efervescncia ou recolhimento ritualizado, as sensaes de dor ou
de prazer, alegria ou tristeza, passam a ser moldadas pela imaginao. O
pensamento mgico-religioso se encarrega de sistematizar este conjunto de reaes
emocionais estabelecendo ou renovando sentimentos e atividades mentais coletivas.
(50)
Assim explica J OUVET: De maneira muito esquemtica, os mecanismos do sonho podem ser
decompostos em 3 elementos principais. O primeiro capital, pois explica os outros dois. Caracteriza-
se pela existncia de um estado de excitao intensa, ritmada, da maioria dos neurnios cerebrais,
inclusive dos neurnios motores. Esse estado de excitao generalizada exige de um lado, a
presena de um pacemaker, e de outro lado, requer um mecanismo de bloqueio das eferncias
motoras: sonhamos que estamos correndo, mas nosso corpo permanece inerte, por estar paralisado.
Esta paralisia s pode ocorrer durante o sono, por ser este a condio preparatria quase obrigatria
do sonho. Acompanha, portanto, o sonho, um estado de excitao central intensa. Ocorre com efeito
uma verdadeira tempestade cerebral durante a qual registros feitos por meio de microeltrodos
demonstram que as clulas nervosas apresentam uma excitao anloga ao mais intenso estado de
viglia...Ainda no sabemos se o sono que sucede ao sonho no intervm igualmente para restaurar
at certo ponto as sinopses centrais que acabam de ser submetidas avalancha de estimulaes
intrnsecas durante a atividade onrica. O sonho e o sono parecem, por conseguinte, estreitamente
associados (65:97).
www.neip.info
No estgio do xtase 2 evidencia-se ainda mais a atuao da imaginao
sobre a sensao, moldando formas variadas de percepo do corpo e do mundo
exterior. O pensamento simblico, mtico, porm, encarrega-se da sistematizao e
organizao desse tipo de percepo. Nesta fase manifestam-se os vos
xamansticos, entrevista com entidades no astral, seres divinos, recepo de novos
hinos e profundas revelaes sobre o passado e o futuro de cada devoto.
Embora distintas, as trs fases do ciclo onrico se interpenetram sendo
impossvel traar com preciso suas fronteiras, especialmente quando as rodadas
do Santo Daime se sucedem e os ciclos onricos se confundem. As fases, no
contexto dos estados mentais acima esboados, e o sono paradoxal manifestados
em situao aparentemente desvinculadas das sesses, recebem diferentes
interpretaes que passaremos a expor.
Os sonhos e as experincias alucinatrias
O projeto de ordem que estamos investigando tem como referencial simblico
e normativo principal as experincias onricas/alucinatrias, fenomenologicamente
denominadas de ciclo onrico. Aps o rito de iniciao (passagem pelo ciclo
onrico) a pessoa poder progressivamente descobrir quem ela j foi em outras
encarnaes e desenvolver a mediunidade ajudada pelo ser divino (o Santo
Daime), dominando tcnicas de concentrao, de transes extticos, trabalhando
nos diferentes planos do astral.
A absoro de substncias txicas que produz fisiologicamente estados de
xtase tem fora de rito para aqueles que atribuem tais estados no a causas
verdadeiras mas s influncias especiais (82:140). No culto do Santo Daime as
influncias ancoram-se numa tradio firmada nas Santas Doutrinas,
compartilhadas pela irmandade, legitimada nos hinrios. Por isso a importncia do
complexo prece, canto, dana, jejum e outros gestos, palavras e atos codificadores
do ritual. atravs da associao dos diversos ritos que os estados de xtase ou
onricos se transformam em campo e formas de manifestao sagrada ou profana.
Trs experincias indicam graus de compreenso e aceitao das Santas
Doutrinas e no so mutuamente excludentes.
www.neip.info
Apesar da MIRAO se constituir no tipo de experincia almejado por todos
no est afastada a possibilidade de se trabalhar com o SONHO/REVELAO
tomando cuidado permanente de no se deixar enganar pelo SONHO/ILUSO.
O sonho/iluso a seqncia de fenmenos psquicos (imagens,
representaes, atos e idias). Tal seqncia ocorre involuntariamente. Do ponto de
vista neurobiolgico, o sonho/iluso corresponderia ao perodo de sono
paradoxal
(51)
, ele reflete a vontade da matria, da carne, fantasia criada pela
pessoa. LM por exemplo afirma que a fantasia uma coisa que no pode ser, mas
que domina o sujeito. Devemos estar alerta, pois existe o ponto negativo mesmo
na prpria pessoa e adverte: se a gente no tiver cuidado, rapaz, cai na armadilha.
Nestas ocasies a pessoa pensa que o negcio est certo mas sem fundamento.
Dentro dos trabalhos a fantasia ou nasce dentro da pessoa ou poder estar sob
corrente negativa. Diz o informante que l dentro da sede j o fizeram de mestre e
d exemplo de uma ocasio em que trabalhando, foras negativas vieram a ele
insinuando que ele era poderoso a ponto de ir l e pegar uma estrela daquela e
balanar.
Um critrio para testar se um sonho ou mirao autntico consiste na
prova do ncubo. O sonho deve permanecer secreto por algum tempo at que
venham novas mensagens em sinal de confirmao. A corroborao ocorre pela
reiterao de signos coerentes e convergentes com as Santas Doutrinas. Se o
sonho no se estrutura e no se fundamenta nas recomendaes doutrinrias no
haver a indispensvel receptividade dos demais. Por isso o sonho precisa ficar
provisoriamente incubado. Revelado dever encontrar sinais do mesmo no sonho ou
mirao do outro. A coerncia ter por parmetro a harmonia com o discurso
onrico individual e coletivo. O sonho ou mirao contaminada pela iluso versa
geralmente sobre acontecimentos ou pretenses consideradas profanas e que
muitas vezes ameaam a harmonia do grupo. A identificao do duplo ou do EU
(51)
Lembra J OUVET que os principais indcios do sono paradoxal so representados pela ativao
da atividade eltrica cerebral, que se torna semelhante da viglia no animal ou a do estgio I do
adormecimento no homem (69:98). DEMENT nos informa que a fase paradoxal do sono foi
recentemente elucidada, trata-se do sono ativado, de rpidos movimentos oculares (REM) a que se
poderia tambm chamar de sono onrico porque parece ser, de fato, o estado em que o sonho
aparece (35:52).
www.neip.info
INFERIOR com personagens mticos, heris, antigos profetas, reis ou como explicou
LM ser portador de poderes extraordinrios e violentamente rejeitada a princpio pelo
grupo. O sonho est contaminado por foras negativas, do peso da matria. o
desejo exercendo seu imprio com fludos
(52)
enganadores.
O sonho/revelao so os mesmos fenmenos experimentados de forma
predominantemente involuntria, depois que a pessoa j conheceu e trabalhou com
o ser divino. Ele considerado como aviso de futuras miraes. Encontra
registro. Sua leitura, porm, torna-se precursora ou providente. Prepara a pessoa
para as prximas experincias. A informante LC, em sua casa, dormindo, sonhou
com uma entrevista com Mestre Irineu transfigurado num bonito moo loiro. No
jardim ele era um prncipe. Ela entrava no jardim e lhe pedia flores. Confiou o sonho
a amigos mais ntimos e ao prprio Mestre. Na mirao seguinte, durante o trabalho
ela viu o que havia sonhado(XXIV). Na verdade depois do rito de iniciao no
ocorre mais o sonho, mesmo a fantasia dali para frente no ser interpretada como
simples imaginao. Ser, contraditoriamente, advertncia, aviso dado pelos seres
divinos.
A mirao ainda que sujeita fantasia (quando a imaginao atende muito
mais ao estado de impureza da matria, ao peso da vida material) se manifesta
nos dois ltimos estgios do ciclo onrico. Espao, tempo, objetos e seres, inclusive
o duplo da prpria pessoa que mira localizam-se nos distintos planos, do astral na
realidade da vida espiritual.
A mirao depende do reforo, do companheirismo, da solidariedade e
assistncia dos irmos mais adiantados. Por isso LGS afirma que fechando o olho
melhor, s vezes tanto faz fechar os olhos ou abri-los, tudo a mesma coisa. A
pessoa est vendo tudo, espiritual...o corpo fica quietinho. Quando no h sintonia
entre a conversa dos circundantes e o que a pessoa est vendo, esta fica por fora,
havendo sintonia, uma conversa toda por dentro daquilo que a gente est vendo,
em lugar de atrapalhar, faz alimentar.
(52)
Primeiros sintomas de mirao, podendo tambm ser identificado como convites iniciais. Aquele
que sabe trabalhar escolhe corretamente os melhores convites.
www.neip.info
As vises extticas
(53)
pelos aspectos fenomenolgicos assemelham-se s
clssicas experincias de possesso, contudo alguns adeptos negam que haja a
incorporao de espritos
(54)
Assim, as entrevistas, vos (deslocamento no espao e
no tempo) e outros atos realizados nos diversos planos do astral; bem como, nos
casos de autoscopia
(55)
quando o duplo se faz acompanhar numa viagem interior
pelo prprio corpo
(56)
(XXV) temos a explicao de que se trata de um poder
milagroso do ser divino e no substituio do esprito por outro.
(57)
Embora nem todos os comungantes estejam no mesmo estgio do Mestre
(Padrinho Sebastio ou outro) e oficiais adiantados, podemos falar de um transe
xamnico
(58)
individual e de outro coletivo.
Vises de Iniciao
medida que os praticantes do culto do Santo Daime assimilam as tcnicas
de concentrao, automaticamente, pelo reconhecimento coletivo, galgam postos
mais elevados na hierarquia. Comeam como soldados podendo chegar a
comandantes. O processo depende fundamentalmente da experincia exttica inicial
que poder ocorrer na primeira ingesto do Santo Daime.
As miraes iniciais variam quanto ao grau de profundidade, clareza das
imagens e enquadramento aos princpios doutrinrios. Podemos classifica-las de
vises de iniciao imediata e de iniciao progressiva. Ambas, porm, fazem parte
do processo permanente de aperfeioamento. A iniciao estritamente falando s
termina quando o discpulo passa a oficial da casa. Por se tratar de uma estrutura
ritual que admite a existncia desse grupo adiantado, cujos componentes
comunicam-se entre si durante as sesses exotricas, procurando estabelecer e
(53)
Sinnimo de mirao ou xtase 2.
(54)
Verifiquei posteriormente que a incorporao atravs de um aparelho quando o esprito da
pessoa d lugar a outro vem sendo enfatizado no CEFLURIS.
(55)
A expresso significa ver a si mesmo interiormente.
(56)
Geralmente esta viagem visa a cura preparatria do futuro oficial ou Mestre.
(57)
Talvez coexistam o espiritismo medinico popular e o fenmeno esotrico via agnosticismo da
projeo do duplo. Da a presena dessa espcie de xamanismo siberiano (31:257).
(58)
Usamos as expresses: transe xamnico ou vises xamnicas aquele estado descrito acima
para as experincias realizadas pelos mestres e oficiais da casa mais adiantados, em seus ritos de
iniciao e no progressivo exerccio de mestres do Santo Daime, conselheiros, curadores e
responsveis pelas sesses de festejo, concentrao ou trabalho de mesa.
www.neip.info
sustentar uma corrente espiritual, sugerimos uma distino entre transe xamnico
individual e transe xamnico coletivo. No primeiro caso as vises e, especialmente a
chegada da fora e do tempo ocorrem independente da influncia dos demais,
mesmo em ausncia deles. No segundo as manifestaes concorrem para uma
harmonizao de todos, no estabelecimento de uma corrente. Essas ltimas
caracterizam sesses especficas como a concentrao, trabalho de mesa, de cura,
etc.
A viso xamnica inicial do Padrinho Sebastio ilustra fenmeno do transe
exttico individual de cura como preparao e sinal para as futuras funes
espirituais, repetindo modelo clssico descrito por ELIADE (48:165)
(59)
Notveis
marcas correspondentes ao xtase 2, associadas estase, com projeo do duplo,
fazem do depoimento do Padrinho Sebastio um exemplo clssico (XIX).
A Prece
A prece, entre os seguidores de J uramidan, , simultaneamente gesto,
palavra e ato que tanto pertencem religio como magia. Mesmo no possuindo
eficcia fsica ela serve para regulamentar, disciplinar, tonificar as conscincias,
contribuindo para fazer e refazer periodicamente o ser moral da irmandade. Ela
expressa a fora social sem deixar de respeitar e estimular a criatividade individual.
Enquanto rito a prece faz desaparecer a fronteira entre o religioso e o mgico.
Assim, na abertura de cada sesso o tero prece religiosa; alterando o Padre
Nosso, porm, passa a ter fora mgica:
... vamos ns ao vosso reino...
A prece tambm consagra o recinto, magia. Aps a comunho, no incio do
ciclo onrico, espera-se o vmito purgativo, ocasio em que corpo e mente alteram-
se. A ingesto do Daime para quem observou interditos apresenta-se
potencialmente carregada de energia, mana. Comungando, em permanente
(59)
... tortura e despedaamento do corpo, moedura da carne at o corpo se reduzir ao esqueleto,
substituio das vsceras e renovao do sangue, permanncia em regies inferiores onde o futuro
xam ser instrudo pelas almas de xams falecidos, ascenso ao cu para obter a consagrao de
Deus.
www.neip.info
atitude de prece, firmado na s Santas Doutrinas, com a irmandade, o Santo Daime
ter mais eficcia, nesta situao, por causa e apesar da estase o devoto atingir o
xtase.
H prece mental e oral quando a palavra se transforma num verdadeiro gesto
eficaz, ainda que no possa rigorosamente separ-las pois em realidade at a
orao interior ainda uma orao, e para que haja linguagem no necessrio
que a palavra seja materialmente pronunciada (82:145). Durante a mirao com
mais razo pois basta imaginar ou expressar simultaneamente o desejo na forma de
prece mental para que o desejo se concretize naquilo que se deseja ver. sempre
um ato mental. Assim, durante o ciclo onrico, as preces mentais superam os
exerccios devocionais rogativos, passando a se constituir em autnticos atos
criadores, mgicos, cuja eficcia, por exemplo, facilita o deslocamento do EU
SUPERIOR ou duplo. Tais atos podem ordenar e d4esordenar a realidade da vida
espiritual em homologia com a realidade da vida material. Com justa razo os
pensamentos devem controlar o desejo, policiar a imaginao por dentro e por fora.
Durante as concentraes forma-se uma corrente de energia, quando cada
um, e todos, do o reforo. A mente deve estar em ordem, despoluda, em
permanente estado de orao.
Por outro lado preciso estar consciente o tempo todo, isto , com juzo
perfeito para no se embaraar. Os doentes mentais precisam passar por
tratamento rigoroso. A luz, com a prece de todos, num pensamento positivo
estabelece as condies ideais para uma terapia coletiva narcoanaltica (cf.
51:1045)
(60)
Assim, no extenso ritual mgico-religioso, a prece ultrapassa limites do tempo
e espao da viglia. considerada vital durante o trabalho no astral, no tempo e
espao onricos, quer nos esteretipos dos hinrios, quer nos hinrios contados e
bailados. A prece, que normalmente pertence aos momentos apolneos, racionais
conquista espao entre os fenmenos dionisacos, relacionando-se dialeticamente
(60)
pgina 1046 EY (51) sugere que se debe aproximar al narcoan lisis el aspecto psicoterpico
de las curas de sueo... (accin sedativa y catrtica de los medicamentos, relajamienteo de las
resistencias, produccin de material onrico). Desde este punto de vista, la cura de sueo constituye
una variedad ampliada y particularmente poderosa de la farmacopsicoterapia.
www.neip.info
com a conscincia coletiva. Neste momentos de estados intensos, a conscincia
coletiva parece diminuir ou suspender sua presso sobre as conscincias individuais
que nelas participam. Na profundidade mais ntima do EU de cada discpulo de
J uramidan a conscincia coletiva se encontra. A prece enquanto ato mental
individual tem seu fundamento no fenmeno social. Como percebem MAUSS, cada
um pode criar sua prece, sem que a prece deixe de ser instituio social. A partir do
momento em que a prece, falada ou moldada no ritmo dos hinrios, criada
(recebida) pelo indivduo, incorporada no ritual, ela deixa de ser individual
(82:122). A conscincia coletiva est inteiramente em cada participante e cada
participante est na conscincia coletiva (63:134).
Dessa forma os cantos rezados dos hinrios contam a histria das miraes
dos discpulos constituindo-se, entre outras coisas, faam a reviso e aprofundem
seus trabalhos.
O Hinrio
Se o Santo Daime, dana, sonhos, miraes e preces conduzem os
participantes a um nvel de realidade acima do dia-a-dia, e se, magicamente, eles
aspiram livrar-se das impurezas fsicas, morais e espirituais, no menos verdade
que a prece cantada abre outras dimenses da articulao entre sensao,
imaginao, pensamento e sentimentos. A msica
(61)
junta-se ao mito para soldar
mltiplos fenmenos sociais totais. A propsito, veremos a seguir alguns aspectos
relacionados com a concepo, origem, contedo, legitimao, simbologia, estrutura
e funes dos milhares de hinos incorporados aos Sistemas de J uramidan.
O hinrio a coleo de poemas recebidos pela pessoa e num sentido mais
profundo designa simultaneamente um s hinrio, o tronco da misso, chamado de
CRUZEIRO recebido pelo Mestre Irineu (1).
(61)
Confirmando, alis, o exaustivo ensaio de ALVIN sobre o papel teraputico da msica. Tratando
dos principais efeitos psicolgicos da msica sobre o indivduo, que podem dar origem
comunicao, identificao, associao, fantasia, expresso pessoal e ao conhecimento de si
mesmo: La msica es parte de tantas funciones y sitios, que todo ser humano est expuesto a ella
de varias maneras; no solo la relaciona com estados de nimo realis, sino tambin com las
experincias passadas (4:112).
www.neip.info
Quanto a forma de hinos podem ser descritivos, narrativos, oraes de
confisso ou chamadas de determinados seres divinos.
O passar a limpo
(62)
, ou processo de legitimao dos hinos obedecem
critrios de ordem doutrinria e esttica. Visa verificar o grau de desenvolvimento do
aluno e a necessria facilidade de memorizao e execuo do novo hino.
Ainda que moldados, os hinos trazem as marcas de seu autor que no
ultrapassam limites impostos pelas Santas Doutrinas e expressos nos hinrios dos
irmos mais desenvolvidos. Por isso os novos hinrios devem, inicialmente, passar
todo o CRUZEIRO
(63)
, a seguir, caso seu autor o deseje, percorrer os hinrios
circunscritos por um crculo de projeo
(64)
H pois uma eurritmia padronizada e o passar a limpo tem inclusive a
funo de efetuar pequenas correes.
J P destaca que apesar do Padrinho Sebastio no saber ler teve a felicidade
de ver uma igreja na mirao. Na igreja dois anjos tocavam hinos com trombetas.
Quando os anjos acabaram de tocar, retiraram as trombetas e passaram a cantar. O
cntico transferia-se para a mente do Padrinho, pessoa digna de receber que
aquela msica (recebida por qualquer pessoa) nunca ser esquecida. Explica que
quando ela recebe, passa a cantar pela primeira vez como h de ser cantado pelo
resto da vida. Quem estiver perto vai escrevendo ou grava e escreve logo que pr
botar no caderno e que faz parte do hinrio. LC depois de circunstanciar a mirao
do prncipe no jardim florido conta ter encontrado com as companheiras e
sustentado com elas um dilogo, na forma de um hino, sobre as flores divinas
celestiais fornecendo sua interpretao. Mais tarde descobre, conversando com
Mestre Irineu que o hino daquela mirao um desdobramento do hino desse
denominado O J ardineiro (XXIV).
(62)
o processo de legitimao se transforma numa aula para o dono do hino recm recebido e aos
discpulos presentes (XXXIV). A expresso tambm se aplica verificao da graduao do Santo
Daime, por ocasio do feitio.
(63)
No sentido de trabalhar todo hinrio do Mestre Irineu, dele extraindo lies na forma de hinos.
(64)
O conjunto de ensinamentos presentes em todos os hinrios.
www.neip.info
Simbolicamente, para os informantes, cada hinrio ramos do tronco da
misso, de onde aquele recebe v ida, que se prolonga, manifestando-se em forma
de flores (os hinos) que vo nascendo.
O CRUZEIRO composto de 132 hinos, alm de 12 hinos de confisso,
cantados quatro vezes no ano: nos dias dedicados a So J oo, Nossa Senhora da
Conceio, Natal e Reis.
So mltiplas as funes dos hinrios, algumas delas prticas e manifestas,
outras inconscientes, percebidas pelo pesquisador ao tentar investigar a tese
principal do trabalho. No pretendemos, nem ser possvel esgotar todas as
funes, contentamo-nos com um breve comentrio em torno das que se relacionam
diretamente com nosso argumento central.
Prece cantada com fora de rito, o hinrio funciona como brevirio. Um guia
mstico que ajuda a conduzir as experincias extticas ou, nos nveis do excesso de
energia, colabora na soluo de problemas dirios. Quando MM toma o Santo
Daime e se sente pego, estando numa mirao, ele deve imediatamente escutar os
hinos que esto sendo cantados. Ligado ao hino e energia espiritual ele vai ter
toda aquela lio como se fosse um professor lendo uma apostila, todinha na
nossa cabea, ns estamos dentro dele, estamos ouvindo e vendo. O hinrio tem
fora nele est a palavra de Cristo na terra, na mo dos homens, palavra de Deus.
Os hinos contm a histria da doutrina, alm de ensinar, dar conforto
espiritual, identifica e chama os seres divinos, faz igualar as miraes. Impossvel
compreend-los fora do universo simblico e do extenso ritual. Espcie de
psicografia de dramas vividos, em xtase dialeticamente relacionados com a estase.
Portanto, cada hinrio documenta a trajetria espiritual de seu dono por uma
seqncia de consultas e dilogos com os seres divinos, revelando momentos de
tenso, apreenso, tristeza e alegria. tambm sinal de confiana do Mestre e da
Rainha da Floresta. LM viajou a Braslia para operar seu filho. De repente, em
mirao, recebe o hino Pensamento Positivo (16). Noutra ocasio em Manaus
submetendo-se a uma operao recebeu um hino que lhe garantiu o amor e a
confiana de Deus (18).
www.neip.info
J R fala da homogeneidade dos hinrios. Em todos como se estivssemos
vendo o Mestre Irineu falando para ns indicando tambm a parte que o irmo est
recebendo. Ele fala pedindo, rogando divindade, ou ao Mestre que rogue por ele.
Entre os membros do CEFLURIS, alm do uso paralelo da Santa Maria
(65)
, a
partir de 1978 aproximadamente, comea a se instituir o presente de hinos dos
irmos mais adiantados aos que ainda no possuem hinrio. Atingindo determinado
grau de desenvolvimento espiritual o dono de um hinrio deve fech-lo. Ser ento
considerado professor
(66)
Em seus trabalhos espirituais ele poder receber hinos
orientados como se estivesse ouvindo a voz de um irmo menos desenvolvido
cantando. Na verdade trata-se do EU SUPERIOR daquele irmo. O professor
receber o hino em lugar do irmo e lhe oferecer como um presente. Com o
presente esse poder iniciar seu prprio hinrio.
Quanto estrutura os versos dos hinos podem ser de cinco, sete, dez e at
doze slabas, havendo constncia mtrica entre os versos de cada estrofe; so
comuns as rimas em o, al, ade, entes, ir, um ala, er, ar e outras; h rimas perfeitas
e imperfeitas, usadas com naturalidade.
As melodias so singelas, cada frase meldica correspondendo a um verso
da estrofe. Como a melodia toda corresponde ao tamanho da estrofe, ela se repete
at esgotar o contedo do hino; alem disso, no cantar, os versos so repetidos,
como para facilitar a memorizao; todos os devotos sabem os hinos de cor. (5:302).
Lembra ainda a folclorista J . ANDRADE no ter encontrado nenhuma melodia
semelhante s msicas da Igreja Catlica Apostlica Romana, contudo nas letras
dos hinos esto claros os elementos catlicos, tais como a devoo a Nossa
Senhora da Conceio como Virgem Me, a concepo de So J oo Batista como
menino-pastor como aparece nas bandeiras da Festa de So J oo. (5:204). Traos
de religio medinico de aculturao africana coexistem com elementos religiosos
do ndio americano no ritual da bebida com mirao e nas letras que se dirigem ao
(65)
Apesar de no se constituir em assunto dessa monografia no poderemos omitir o uso da
maconha ou Cannabis Sativa de distintas formas, para fins ritualsticos e teraputicos.
(66)
O filho do Padrinho Sebastio, mesmo no tendo fechado seu hinrio, vem dando presentes a
vrios irmos.
www.neip.info
sol a lua, s estrelas como seres de realidade divina, a quem pertencem tambm
J uramidan, Equior. Dona Soloina e a Rainha da Floresta.
O CRUZEIRO e os demais hinrios que dele se ramificam simbolizam
simultaneamente a misso plantada por J uramidan e metaforicamente a misso de
cada esprito, sua passagem por este planeta preparando-se para sua total
transformao em seres divinos. Por isso quando se canta o hinrio de um irmo, o
decreto do servio fixado antecipadamente, determinando at que ponto do
mesmo iro naquela sesso. Caso no concluam o hinrio numa sesso, devero
continuar na prxima.
Vimos neste captulo alguns dos ritos que compem o extenso ritual de
transcendncia e despoluio. O ciclo onrico e os trs tipos de experincias
paradoxais contextuam uma vasta rede de comunicao envolvendo situaes
concretas. Neste sentido o sonhar no apenas uma experincia universal
(64:191) generalizada, mas possui referentes empricos definidos. Os modelos
socioculturais aqui estudados configuram uma viso do mundo ou princpio de
realidade, atravs da interpretao imaginativa alternativa, aproveitando expresso
cunhada por R. RIBEIRO (114:141) em seus estudos dos cultos afrobrasileiros do
Recife. L como aqui no culto do Santo Daime as estruturas de plausibilidade
orientam cognitivamente para universos simblicos e mticos partilhados por certos
indivduos mas no comuns a todos os membros da sociedade. Em outras palavras,
as experincias onricas, ainda que diferentes dos acontecimentos do estado de
viglia, articulam-se coma a conduta dos devotos, fornecendo-lhes padres de
institucionalizao e socializao. Padres que os Sistemas de J uramidan
desenvolvem objetivamente no projeto de ordem.
Alm deste sentir-se acima dos acontecimentos profanos do dia-a-dia, os
devotos podem mais porque se sentem menos contaminados pelo provisrio da
vida material. Ao se constituir em locus significante a limpeza do corpo, da mente
e do esprito pela contiguidade atinge tambm atividades da vida material
consideradas impuras, mas necessrias para a evoluo dos espritos. Cada
deslocamento significando a morte e a ressurreio, encurta o processo de
www.neip.info
purificao do esprito, e mais prximo este se apresenta de sua transformao em estados
semelhantes aos astros.
O tempo tambm se despolui, numa inverso metafrica: a realidade da viglia,
objetiva, impondervel, passa a ser fantasia, irrealidade. O tempo, espao, objetos e seres
vistos nos planos do astral tornam-se csmicos.
O complexo mgico-religioso assenta suas bases num pensamento simblico
modelador das interpretaes dos efeitos psicofsicos, portanto as sensaes e percepes
no so produtos exclusivos da imaginao. As emoes e sentimentos, individuais e
coletivos em permanente fuso, so tambm responsveis pelas peculiaridades desses
estados mentais e atos psquicos. Aquelas podem alterar o significado de antigos smbolos
em funo de experincias concretas. As Santas Doutrinas abrangem, pois, cerimnias
que atualizam e inovam os clssicos sacramentos do cristianismo que fazem parte dessas
fantasias pragmticas indispensveis, sem as quais a civilizao no pode existir. FIRTH
(53:238).
Os Sacramentos
A reinterpretao dos sacramentos no visa somente justificar as fantasias
pragmticas do ciclo onrico atravs das quais expressam as necessidades e presses
concretas do cotidiano. Busca principalmente estabelecer condies para o fluir das
emoes e sentimentos, quase sempre castrados pela religiosidade oficializada nas vrias
denominaes
(67)
Mas por trs do rito est o mito, da a presena do pensamento
simblico, repetindo sempre as hierofanias universais; estas so constantemente
atualizadas nos sacramentos expressando o conjunto de crenas que o legitima.
Os sacramentos so reinterpretados ou subsistem sob outros nomes. No primeiro
caso encontram-se a comunho e a confisso presentes em todas as sesses; casamento
e extrema-uno so optativos. No h crisma; o batismo e a ordenao subsistem nos
ritos de iniciao, aquele seguindo o ritual catlico, usando, porm, o Daime em
lugar da gua.
(67)
Alguns informantes referem-se frieza do ritual catlico. MM fala da eucaristia, diz que o Daime
o sangue de Cristo. Ele no precisa ir Igreja Catlica para comungar, pois l, quando ele ia era
uma coisa banal, secundria... (mas o Daime) o corpo de Cristo, o legtimo.
www.neip.info
9. As Santas Doutrinas
Os ritos de confisso podem ser classificados lato sensu e stricto sensu. A
confisso lato sensu compreende gestos palavras e atos de contrio, de
reconhecimento dos pecados. Constituem preparao para a ingesto da bebida.
Durante o ciclo onrico os fiis precisam confessar suas culpas mentalmente. No
segundo estgio do ciclo ocorre disciplina ou peia, quando a pessoa sofre ao
enfrentar vises terrorficas. Ela se identifica com as imagens e acredita estar tendo
revelaes sobre seu estado espiritual. Num sentido especfico confisso tem ritual
apropriado que se repete quatro vezes no ano.
Cada rito de confisso precede o da comunho propriamente dita. A confisso
prepara
(68)
o comungante que neste ato penetra no tempo e espao sagrado.
Podemos descrever e analisar a comunho sob ngulos distintos e
complementares. Do ponto de vista religioso o ato de ingerir a bebida sagrada ou
comungar marca o ingresso do futuro membro da irmandade. A partir da primeira
experincia ele j inicia uma rede de relaes ou trocas simblicas que estimula
solidariedade e companheirismo.
(69)
A comunho, sem negar o mgico-religioso e por conseqncia dele, marca o
ingresso de seu praticante no contnuo processo de evoluo.
Comungar significa repetir a eucaristia. MM explica que o sangue de Cristo
que esto ingerindo, mas s vamos descobrir pelos ensinamentos de nosso
mestre. O poder do Daime, contudo, independe de quem o faz ou opera o ritual, o
informante diz acreditar que ali t o verdadeiro, consagrado, o sangue de Cristo
puro. Apesar de ser o sangue autntico de Cristo ele se torna simblico porque
ainda estamos na matria.
(68)
SJ adverte, porm, que durante os rituais especficos de confisso torna-se necessrio alcanar
dentro de si mesmo o merecimento para limpar o corao e assim reconhecer onde errou pois o
Daime mostra o erro ... no iluso, no pantomina...
(69)
Atingimos assim outro ngulo da comunho. LM, por exemplo, nos colocou na categoria daqueles
que merecem confiana porque com eles comungamos em vrias ocasies e justifica dizendo:
... o Sr. comunga com a gente e a gente pode se abrir...porque
com leigo ningum pode conversar nunca, camarada que no
participa no tem condies da gente conversar com ele....
www.neip.info
Os ritos pressupem um pensamento mtico, mas este no precede queles e
vice-versa. A comunho, ultrapassando sua abordagem ritual, na verdade preexiste
potencialmente nos grupos e independe de determinados ritos ou mitos para que se
concretize, esses porm vinculam-se estreitamente quela, expressando-a aquela,
embora observvel e pressuposta necessita de referenciais empricos formulados
nas Santas Doutrinas. Os ritos constituem-se em formas e expresses das
doutrinas. Ritos, mitos e crenas ajudam a instituir princpios de organizao da
comunho. Paradoxalmente a comunho garante a sobrevivncia dos grupos e
justifica os Sistemas de J uramidan. Vejamos, rapidamente, pontos centrais das
crenas e suas relaes com os outros elementos no conjunto dos Sistemas.
A Linha do Daime
As doutrinas sintetizam um espiritismo medinico, refletindo porm influncias
esotricas que no admitem a incorporao e sim a eficcia da concentrao e
busca gnstica do EU, uma forma de ritual catlico e a noo de revelao de
orientao protestante. O breve comentrio a seguir reflete uma interpretao que
supomos aproximar-se bastante do modelo formulado pelos participantes do culto
(70)
Os informantes falam em uma linha do Daime expressa nas Santas
Doutrinas cujo comeo nos remete diretamente ao mito do paraso ednico. Os
mestres do Daime ou da Ayahuasca no Brasil, Bolvia e Peru, seriam simples
continuadores de uma linha que, em seu trajeto at hoje, apresentou apstolos, reis,
imperadores, profetas, etc. Eles passaram pela terra uma ou dezenas de vezes na
consecuo do plano divino de purificao ou evoluo de antigos seres divinos
que perderam sua condio original de espiritualidade. Seres divinos que souberam
trabalhar e conquistaram elevados graus de perfeio, voltam terra ou a planos
inferiores para doutrinar os menos desenvolvidos. Muitos se transformaram em
mestres com poderes extraordinrios. Os que j lograram cumprir as condies
(70)
difcil, dada a natureza deste trabalho e seus objetivos, detalhar as mltiplas origens dos traos
culturais religiosos presentes no complexo conjunto doutrinrio. Tarefa talvez impossvel.
Contentamo-nos em estabelecer e relacionar os pontos pertinentes nossa tese central.
www.neip.info
esto num estado to elevado de desprendimento da matria que chegam a se
confundir com os astros. H seres divinos ligados aos quatro elementos
fundamentais da vida: sol (fogo) terra, vento (ar) e gua (mar). A vida espiritual
relacionada aos poderes de cima se ope vida material correspondente aos
poderes de baixo. Ambas porm se interrelacionam e mutuamente se implicam.
preciso preparar bem a matria para que o esprito possa realizar bom trabalho no
astral, funo que estabelece uma rica simbologia e por sua vez expressa a
solidariedade entre palavras, gestos, atos de confisso e comunho, bem como
obras em favor da humanidade. Elas justificam clssica teodicia do sofrimento |
WEBER (128:316) |.
No Cruzeiro, h referncias explcitas a seres
(71)
divinos relacionados com os
quatro elementos fundamentais da vida.
(72)
No topo da hierarquia esto J esus,
Maria, J os, J oo Batista, os Reis Magos (Tintuma, Agarrube e Titango) Equior,
Barum, Marum, B.G.Santa Isabel, etc. Algumas entidades aparecem explicitamente
ligadas gua, ao mar, s flores, aos pssaros. Os caboclinhos se apresentam
trazendo remdios bons.
A linha do Daime a linha do astral um estgio mais elevado do que as de
Umbanda, Aruanda, Candombl e uma infinidade delas. Se a elevao espiritual da
pessoa est enquadrada dentro dessa linha voc toma o Daime, uma, duas vezes e
vai automaticamente desenvolvendo com facilidade. No pertencendo linha do
Daime preciso trabalhar por merec-la. Depois de passar por vrios sistemas e
linhas SJ descobre em Porto Velho, numa sesso preparada por seu cunhado, que
pertencia linha do astral.
Todos procuram provar a origem divina da bebida. A Folha Rainha est
ligada a Nossa Senhora e, tambm primeira mulher no Paraso. O cip jagube
simboliza o Ado ednico. Mas no se trata de smbolos arbitrrios. H uma relao
lgica entre o comeo, queda do homem, seu processo de redeno em J esus
(71)
s vezes uma mesma entidade aparece sob variados nomes, apontando funes diferentes.
(72)
So os elementais das doutrinas esotricas e teosficas.
www.neip.info
Cristo e as sucessivas pocas do plano divino visando preparar a humanidade para
o dia do apuro final. O Santo Daime ao longo dos milhares de anos vem sendo
utilizado por pessoas especialmente chamadas por Deus, atravs, principalmente,
da Virgem Me. Tais pessoas se encarregam de reimplantar as doutrinas (19).
Uma cadeia de grandes servos de Deus passando s vezes desapercebidos, como
humildes agricultores, carpinteiros, pedreiros, seringueiros, reis, prncipes,
imperadores, tambm aparecem na hagiologia, Sebastio Mota (para os da Colnia
5 mil) o novo J oo Batista anunciando uma espcie de terceira volta de Cristo.
Irineu Serra foi J esus Cristo enquanto esteve na terra, mas continua sendo visto e
reconhecido na figura do General J uramidan no plano mais elevado do mundo
astral. Para os devotos do Alto Santo, Francisco Fernandes, ex-seringueiro, vindo do
nordeste, ex-agricultor agora residindo na sede continua a cadeia. Lencio Gomes
da Silva, o prprio Irineu Serra so herdeiros imediatos das santas doutrinas
entregues a eles, pelo ensino de Crescncio Pizango, na companhia de Antonio
Costa. Pizango, considerado o guardio da casa, tansmitiu o que recebeu de antigos
reis que trabalharam na regio andina. Um deles o Rei Uascar. A Virgem Me
entregou a misso a Irineu Serra, mas voltou encarnada na pessoa de Peregrina
Gomes da Silva. Ela vista no astral como a Rainha da Floresta, por isso, durante
os festejos, usam na farda um distintivo com as iniciais CRF, significando Centro
Rainha da Floresta.
(73)
O Santo Daime pode, dependendo do merecimento da pessoa ajudar a
pessoa a cumprir o seu carma. Se o carma da pessoa muito pesado ele tem de
passar por vinte encarnaes. Explica ainda SJ que se a pessoa entrou nessa
linha do Daime e ele compreendeu, ele vai eliminando aquele dficit, aquele peso e
acrescenta: cada vez que ele toma o Daime ele vai largando uma cascazinha, esse
carma vai largando. Pode inclusive alcanar uma encarnao s e se libertar de
tudo isto pois o fim de tudo o perdo e tem que reconhecer Deus, nosso pai e a
Virgem, nossa me. Um informante do centro da Vila Ivonete, onde aceitam a
incorporao e possesso faz parte das doutrinas, afirma que o Daime
(74)
um
(73)
Provavelmente a sigla tenha sido usada desde o incio como marca doutrinria do grupo e,
simultaneamente, ocultando este significado principal, indicar o nome oficial do centro em Brasilia,
ou seja o Crculo Regenerao e F.
(74)
Os devotos da Vila Ivonete admitem trabalhar sem o Santo Daime.
www.neip.info
veculo que o chefe de uma banca qualquer prepara ele para trabalhar em qualquer
tipo de ritual. Explica que pode trabalhar num ritual sadio, de uma corrente superior
sadia, e pode trabalhar numa corrente inferior. O Daime aceita tudo pois o maior
livro do mundo. por isso, afirmam, que ns chamamos Da-me, porque tudo
aquilo que ns buscarmos dentro dele, que ns pedirmos com amor, com f, ele nos
traz a explicao.
A linha do Daime no Alto Santo e colnia 5 mil exige disciplinado trabalho de
seleo das miraes. Elas podem revelar doutrinas ss ou daninhas. Visando
sistematizar e codificar as lies mais importantes o hinrio tronco funciona como
matriz para que a doutrina se ramifique, se multiplique, se espalhe pelo mundo.
Ficaria muito pesado para um irmo s receber todos os ensinos do Mestre Irineu
da a necessidade de dividir a tarefa. Para distinguir o sonho/iluso da mirao basta
descobrir os pontos de ligao entre o ncleo da mirao expressa no novo hino e
os ensinos de outros hinrios, prefententemente do prprio Irineu Serra.
(75)
(75)
Cf. depoimento e hino recebido por LC (XXIV), hino 17.
www.neip.info
IV O CULTO DO SANTO DAIME E O CONTEXTO MACROSSOCIAL
10 O Projeto de Ordem
O Projeto de Ordem
Apesar do aspecto disciplinador, apolneo das Santas Doutrinas, possvel
surpreender certa liberdade de manifestao dos sentimentos e emoes
individuais, sem com isto eliminar a coeso do grupo. Liberdade e sentimento de
comunho, de deixar o EU se fundir na efervescncia do NS onde as conscincias
individuais interagem e criam estados mentais coletivos transcendentais, difceis de
se analisar emprica e objetivamente, pois, lembra-nos | GURVITCH (63:112) | os
smbolos no so seno um dos numerosos nveis da vida social. Assim o fato de
que o simbolismo social no se deixa reduzir ao simbolismo onrico, no nos deve
levar concluso errada de que os dois simbolismos, sociolgico e psicanaltico,
no permitam encontrar um denominador comum. Ainda que as condutas dos
devotos do Culto do Santo Daime, devam ser, e realmente so, regulares e
relativamente esperadas, a ponto de desenvolverem um projeto de ordem
psicossocial total,
(76)
cujos sinais objetivos, empricos manifestam-se na extensa
rede de trocas simblicas, mas exteriormente bem prticas, no podemos deixar de
mencionar sinais do projeto de ordem na conexo entre o consciente e o
inconsciente, entre as conscincias individuais vivendo seus dramas e tenses
frente ao OUTRO representado por toda a irmandade. O messianismo e milenarismo
esboados em tal projeto, tentado nos dois modelos (o do Alto Santo e o da Colnia
5 Mil) descortinam a possibilidade de se avaliar, de passagem, a relao que une o
mundo das representaes coletivas, construda e constantemente reelaboradas nos
transes extticos sagrados. O sagrado, uma das condies indispensveis de
existncia dos movimentos messinicos, metfora do social, evidentemente
apresentar contornos distintos acompanhando as transformaes das estruturas
sociais. Contudo, do ponto de vista subjetivo, emocional, sentimental, ele pode
expressar aqueles estados mentais atravs de atos psquicos que interfiram no
social e o sacralizam. Assim as trocas incessantes entre os sonhos individuais e os
mitos, atualizados nos ritos e legitimados nas santas doutrinas no apresentam
(76)
Ver p. 10; cf. LUC DE HEUSCH (31:279).
www.neip.info
soluo de continuidade entre as imagens da vida espiritual com suas hierarquias,
relaes de parentesco divino e a realidade concreta do dia-a-dia das irmandades.
Lembra | BASTIDE (12:XXI) | que no se pode considerar o mito como uma
narrativa pura e simples. Ele pertence praxis, sendo, pois, criador de gestos e
ritos. Portanto as vises sagradas, num permanente vaivm entre consciente e
inconsciente, vida material e vida espiritual, de simples metforas passam a ser
experincias organizadoras a seu modo de novidades socioestruturais.
As trocas entre coisas e homens, homens e seres divinos, sustentam
estruturas de plausibilidade que, embora possam ser explicadas a partir da
sociedade global, s se esclarecem se penetrarmos no interior dos grupos e
vivermos os fenmenos sociais integrados de adaptao e criao imaginria. So
minorias cognitivas operando com gestos e linguagens as experincias de
homogeneidade que no se constituem em sistemas de comunicao apenas com o
mundo imaginrio, fantasmtico e mtico como pensava |LUC DE HEUSCH (32) |.
A energia social
(77)
, presente nos ritos e crenas, purificao do corpo, mente
e esprito, cura dos momentos de efervescncia, transborda-se e orienta seqncias
estruturais da realidade concreta, objetiva, do tempo de viglia, configurando ao
mesmo tempo o desencantamento e o reencantamento do mundo.
O Bosque da Liberdade, praa pblica da vila de Brasilia, centro de
atividades sociais e religiosas, lugar de sesses exotricas do Crculo Regenerao
e F, na dcada de vinte, constituiu-se no embrio do projeto de ordem.
Antonio e Andr Costa organizaram a partir de um culto familiar do Santo
Daime, a rede de reciprocidade, mais tarde repetida no Alto Santo. Nos primrdios
de organizao do Acre, em termos polticos, econmicos e jurdicos | COSTA (30) |,
em plena crise do seringal do modelo do apogeu o CRF passou a agrupar as
coisas a partir da tentativa de decalcar inversamente, atravs dos sistemas
(77)
Trata-se efetivamente da eficcia simblica j discutida por LEVI-STRAUSS. Num contexto de
despoluio onde a doena faz parte da mesma linguagem, pela afirmao da estase chega-se ao
xtase; metonmia e metfora se articulam, ou seja, pela estagnao patolgica do sangue ou de
outros humores do corpo atingimos um xtase social o doente sob efeito do Santo Daime no apenas
aceita resignadamente, ele sara. O mestre ali do lado fisicamente ou o corpo de cura, consultando o
astral, fornecem ao doente uma linguagem na qual se podem exprimir imediatamente estados no-
formulados, de outro modo informulveis (75:228).
www.neip.info
simblicos, os sistemas de organizao social da sociedade global da poca,
lembrando aqui passagem de | DURKHEIM (39:205/222) |.
O mutiro (ou adjutrio) comum entre populaes rurais passou a ser norma
entre os membros da irmandade, dez anos depois, no grupo que se constitua em
continuao do CRF. MH informa que a faixa de terra da Colnia do Alto Santo, por
ser grande serviu de abrigo a muita gente. Irineu Serra cedeu graciosamente lotes
para quem quisesse cumprir com seu dever de trabalhar a terra pr sustento de sua
famlia e educao de seus filhos
(78)
. Explica que eram mais de 45 famlias. Quando
era chegada a poca da broca
(79)
o mestre juntava aqueles homens e dizia: hoje
na terra de fulano! E conclui destacando a boa convivncia e mtua ajuda e a
harmonia da comunidade. A cooperativa agrcola a que se transformou a colnia,
segundo informantes na cidade, produzia o suficiente para consumo da irmandade,
abastecendo tambm o Mercado Pblico Municipal de Rio Branco. No dia 8 de
novembro de 1970, depois de ter sido reconhecida de utilidade pblica, foi instalado
e inaugurado pelo governo estadual, na prpria colnia o Posto de Assistncia
Rural para Beneficiamento de arroz denominado Raimundo Irineu Serra
(80)
.
O modelo acima caracterizado apesar da rejeio do presente mundo,
expressa no texto doutrinrio de SJ (XXXV), no implica em tentativa de
transformao imediata das estruturas sociais. A irmandade do Alto Santo sempre
se colocou ao lado dos poderes constitudos, mesmo que em seus atuais
pronunciamentos lamentem a devastao da Amaznia, a corrupo dos costumes
e a poluio industrial. A teodicia do sofrimento permite que o grupo tolere o
desencantamento do mundo, aceitando-o como lugar de provao e
desenvolvimento espiritual. Buscam a ordem apesar e no interior da desordem
afirmando, paradoxalmente, a necessidade da desordem. Essa fornece a matriz
para uma metfora invertida, que se sistematiza no astral com seus palcios,
prncipes e jardins.
(78)
Tanto no Alto Santo como na Colnia 5 Mil e na Vila Ivonete, h escolas pblicas estaduais.
(79)
poca da derrubada da mata visando preparar a terra para o plantio.
(80)
Segundo informao do boletim Efemrides Acreanas, publicado pelo departamento de Geografia
e Estatstica do Acre, janeiro, 1971 Rio Brando Acre, p. 61.
www.neip.info
O modelo da Colnia 5 Mil enfatiza com mais veemncia a relao entre
purificao do corpo, mente e esprito e a necessidade da criao de um povo de
Deus de uma nova J erusalm. Semelhante ao desencantamento expresso pelo
Alto Santo, condenando a realidade da vida material institucionalizada, ilustrada
pela desorganizao social do Acre, e do mundo, diante da impotncia dos que
emigram, ecoando nas Vozes do xodo, surge o projeto de reencantamento nos
Cantos do Exlio. Os dois modelos salientam a poluio da sociedade, o
desordenamento, o caos. Um mundo em desarranjo, crtico, portanto ilgico. O
projeto, em ambos os modelos, postulam na anomia uma forma de reinterpretao
do sobrenatural, chegando mesmo expresso de BERGER (19:20) reconquista da
abertura da percepo da realidade |BERGER, (19:passin) |, num tempo e espao
de drama, festa e sagrado. Os modelos buscando transcender a realidade da
viglia, subdividida em sociedade da irmandade e mundo fora da irmandade
vivem na interpenetrao de ambas, afinal os homens da irmandade so os mesmos
da vida cotidiana, profana, potencialmente intolervel, mas ao mesmo tempo
concebida como presente do criador. A irregularidade se apresenta mais como
postulado tico, moral. O modelo da Colnia 5 Mil aprofunda e extende as
conseqncias prticas das recomendaes contidas nas santas doutrinas. O rito
de despoluio invade tudo. Os gestos purgativos do consumo agnico e eufrico do
Santo Daime, que nas duas irmandades tem o objetivo de eliminar as impurezas por
influncia mgica do ser divino , purificam a alma pela disciplina da vontade e
adequado uso da mente
(81)
. A luta prossegue na batalha prtica pelo po de cada
dia, para todos de forma solidria. Os adeptos do Padrinho Sebastio, esto
buscando a ordem no interior e acima da desordem. Uma rpida sntese de
desorganizao do Acre nos ltimos doze anos ajuda a situar o ltimo modelo.
A partir da dcada de setenta, em pleno ufanismo poltico-econmico do
chamado Milagre Brasileiro novamente se acelera o processo migratrio da
populao nordestina despossuda de terras para a Amaznia. No Acre o problema
se agrava com a disputa pela terra. O capitalismo avana. Suscita tenso social. Por
um lado a apressada tentativa de transformar a estrutura produtiva do estado. Por
outro, a conseqncia lgica da necessidade de limpar a rea, pela expulso de
(81)
Cf. depoimento (XXVIII).
www.neip.info
posseiros, antigos seringueiros e a queima de barracos. A substituio violenta e
desordenada do extrativismo pela pecuria compromete o equilbrio da regio,
baseado na extrao da borracha, castanha, madeira de lei e a agricultura de
subsistncia. A luta pela terra e a expulso de posseiros obedecem a lgica das
empresas com capital acumulado em outras regies do pas.
Esta veio encontrar apoio na poltica oficial que
defende a mentalidade empresarial, que v na
grande agropecuria a nica forma de integrar a
Amaznia economia do Pas e que viabiliza esta
poltica atravs dos incentivos fiscais (60:14).
Em meio a esta desorganizao o Mestre Irineu Serra falece. O Alto Santo
passa por mudanas e a Colnia 5 Mil sob a chefia do Padrinho Sebastio desliga-
se definitivamente daquele. Mais de cem novos scios vm fortalecer a irmandade
recm organizada. Posseiros expulsos dos seringais, migrantes procedentes de
outras regies e de outros pases comeam a freqentar a Colnia 5 Mil. A ideologia
do grupo se distancia da antiga estratgia poltica de Irineu Serra e passa a
contestar os valores da civilizao ocidental
(82)
. Um dos lderes da irmandade explica
que o plano de agora criar a unio, a comunidade e que antes no era assim,
estava s no pensamento. Vincula a nova organizao a uma multiplicao da
mente (XXVIII).
(82)
Por falta de condies para aquisio de tratores e outros implementos visando reciclar a terra
cansada, por causa, ainda, do crescimento da comunidade, e, principalmente, por se sentirem
constantemente perturbados pela presena de elementos da Polcia Federal e de pessoas no
identificadas inteiramente com o Projeto, a partir de maio de 1980, O CEFLURIS
iniciou abertura e implantao do Seringal Rio do Ouro, localizado na rea denominada Fazenda
Paulista, parte da gleba Santa Filomena, margem esquerda, no km 53 da rodovia que liga Boca do
Acre a Rio Branco. Apesar da pobreza da terra, dificuldades de acesso, epidemias, etc., depois de
trs anos a comunidade apresentava significativo resultado em termos de organizao (ver Quadro 3)
e na situao econmica (ver Quadro 4). A economia baseia-se no extrativismo da borracha e na
agricultura de subsistncia (Quadros 5 e 6), complementada por frutas, castanha, pato, aa,
abacaba, palmito, caa e pesca. A produo vendida ao patro em Boca do Acre que troca a
produo pelos artigos necessrios comunidade. Espcie de repetio do sistema de aviamento.
Sendo a atual rea ocupada de posse definida do terceiro, o INCRA cedeu uma rea no Igarap
Mapi de 10.000 h, para 100 adultos documentados, com entrega de ttulos definitivos individuais e
mais uma reserva de outra rea com as mesmas dimenses para a nova gerao que vem surgindo.
A mudana da comunidade para o municpio de Pauini, prximo ao Rio Purus, no Estado do
Amazonas, no incio de 1983, tem conotaes mticas/messinicas.
www.neip.info
O Padrinho Sebastio, por sua vez, defende a idia crist de vida comunitria,
messinica, apontando oposies entre o povo e o tempo de Deus e os do mundo
que est se acabando, virando uma farofa s. Cita uma parbola bblica para
ilustrar nova praxis de sua misso (XXIX e XXX).
O projeto de ordem no se esgota, contudo, nos limites funcionalistas,
pragmatistas. Muitos gestos, palavras e atos no so mecanicamente produzidos
visando objetivos prticos. Sob a perspectiva das experincias de homogeneidade,
deveremos nos precaver para no racionalizar o que, apesar de lgico, no deixa de
ser espontneo, revelando mais as rupturas e contradies de conjuntos culturais
representativos das formaes intermediarias.
Essas formaes sociais intermedirias poderiam ser analisadas, tomando
como pressuposto emprico o projeto de ordem dos Sistemas de J uramidam, sob o
ngulo estritamente simblico, mgico - religioso, para verificar a seguir as relaes
sociais, econmicas, polticas e psquicas que o projeto conduz e expressa. Outro
ngulo, partindo de uma relao dialtica entre sistemas biolgicos, psquicos e
sociais, situaria o problema numa espcie de interao ecolgico - cultural. Neste
caso o sonho e as experincias alucinatrias, sem negarmos, mas incorporando o
simblico - religioso, fariam parte de tipos especiais de comportamento e percepo,
configurando pois estruturas de plausibilidade alternativas, isto , distintas mas no
separadas das formaes sociais rsticas e urbanizadas. Preferindo o segundo
caminho no negaramos a tese funcionalista de que os sonhos e experincias
alucinatrias respondem a necessidades e presses do ambiente onde os grupos
existem concretamente.
Teria havido no processo de variaes socioestruturais da histria da
ocupao do Acre uma correlao entre aquele e os novos padres de pensamento,
cujas estruturas de plausibilidade dependeram do comportamento mgico-religioso
que acabamos de descrever. Alis a cosmoviso construda no encontro de brabos
nordestinos com seringueiros e caucheiros nativos da Amaznia brasileira, boliviana
e peruana, passaria por modificaes segundo condies etolgicas
correspondentes aos impactos de civilizao ocidental. Essa uma das formas de
considerar o ritual de passagem sugerido no incio deste trabalho.
www.neip.info
Assim, Vozes do xodo e Cantos do Exlio caracterizariam, em rtmos
descontnuos, esses comportamentos coletivos. Apesar de diferentes quanto
forma de expresso os dois padres de comportamento apresentariam projetos de
ordem semelhantes. A expresso simblica estaria conduzindo a experincia
reveladora e condutora da condio humana
(83)
, segundo graus diferenciados,
implcitos ou explcitos, intencionais ou espontneos.
(83)
Conceito utilizado por J ean Cazeneuve compreendendo o conjunto de determinaes que se
impem ao indivduo ou seja o condicionamento geral ou a totalidade das condies as quais sua
ao est submetida e que limitam o campo de seu livre arbtrio ou de sua indeterminao (25:26).
Ele destaca o conjunto de elementos que caracterizam a liberdade relativa do homem, mas tambm
do ponto de vista existencialista o fato de Ltre dans le monde. Mas completa: Il y faut, ajouter,
dun point de vue plus empiriste lenvironnement quei simpose des conditions lexistence humaine.
Cest les cas, par exemple, du climat, du rythme des saisons. Mais il y faut ajouter aussi et surtou
lenvironnement artificiel et plus pariculirement lenvironnement social, avec toutes les rgles,
costumes, obligations et interdictions que cela comporte (25:26/27).
www.neip.info
11. O Palcio de Juramidan
A viso do mundo do projeto de ordem dos Sistemas de J uramidan, contudo,
no se constitui de forma totalmente racional
(84)
. Ela se estrutura a partir de uma
complexa interao de sentimentos, emoes, sensaes e imaginao. Comea
pela integrao simblica e concreta do homem com o ambiente
(85)
e at repete as
hierofanias de renovao do mundo
(86)
. A relao torna-se dialtica: a percepo dos
fenmenos fsicos e qumicos naturais passa a ser miticamente relacionada com os
estados de transcendncia desse ambiente, valorizando-o ainda mais.
Assim o ciclo onrico fornece base emprica para a estruturao do
pensamento simblico, sendo elo de ligao entre fenmenos naturais e culturais. O
simblico interagindo com estados de alterao e controle dos efeitos
psicofisiolgicos (estase e xtase) expressa e conduz fatos psquicos e sociais
totais. A acomodao do corpo (e da mente) s peridicas alteraes dos sistemas
biolgicos
(87)
obedece atuao da imaginao, moldada pelo social, sobre as
sensaes individualizadas
(88)
. A presso do grupo menos sentida nestes
momentos, por isso a conscincia individual se sente mais plena e total e,
paradoxalmente, parte do OUTRO.
Embora os seres divinos se manifestem num tipo de realidade percebida
individualmente , eles o fazem por causa de uma fora especial cuja noo
concebida e pensada socialmente atravs de sentimentos sociais
(89)
. Aceitamos a
opinio de MAUSS (81:150) de que os juzos de valor no so obra dos espritos
individuais. Podemos de fato afirmar que eles se formam fatal, universal e
fortuitamente acerca de Certas coisas escolhidas na maioria de modo arbitrrio
(90)
.
No culto do Santo Daime, por exemplo, o efeito fisiolgico (mudanas metablicas,
(84)
O imaginrio relfete uma lgica simblica que se assemelha ao conceito pelo seu poder
referencial (74:28).
(85)
No sentido bem amplo, ecolgico natural/cultural, onde se reflete toda a interao do homem em
sua condio humana, portanto, infra e supra-estrutural.
(86)
No interessando aqui a orgem, mas a repetio dos arqutipos.
(87)
Ao amanssamento do sangue segundo o informante J N.
(88)
No havendo, portanto, uma relao direta entre o contedo imaginrio e as propriedades
fitoqumicas.
(89)
Entendidos aqui como sentimentos coletivos que emergem graas a movimentos exteriores que
os simbolizam (DURKHEIM (39:510).
(90)
O grifo nosso. A lingstica ope aos signos arbitrrios aqueles que so motivados diretamente
pelos objetos ou fenmenos. Neste trabalho adotaremos esta interpretao.
www.neip.info
tremor ou balano de todo o corpo sentidos concretamente pelas pessoas) que
sugere o ordenamento corpreo-temporal. A prpria noo de fora, contudo, se
expande arbitrariamente a outros nveis simblicos no motivados. Assim a viso do
mundo, a plausibilidade e respectivos juzos de valor se estruturam atravs de
smbolos motivados e arbitrrios
(91)
.
As noes de fora e tempo sagrados ou profanos, que estruturam e orientam
o pensamento simblico, mtico, vale dizer, mgico e social, em virtude das relaes
concretas, biolgicas com o corpo humano e analgicas
(92)
, com outros animais e
fenmenos da natureza , bem como o mistrio da morte e do futuro, expressam pelo
fenmeno da reinterpretao, formas de compreenso da natureza universais mas,
simultaneamente, particularizadas na existncia concreta de cada um. A
desorganizao social, as crises econmicas, as necessidades concretas, enfim a
anomia e desencantamento do mundo no se constituem em causas diretas
isoladas desses fenmenos mgico - religioso. A institucionalizao das
experincias alucinatrias pela estruturao simblica toma como referencial
classificatrio imediato, portanto motivado, os cenrios percebidos durante viglia.
Neste sentido viajar pelos planos do astral, danar, cantar, rezar, passam a ser
reforadores da viso do mundo. O terror da morte e do sofrimento tornam-se
suportveis e a realidade passa a ser apreendida sob legitimaes mgico-
religiosas. Os sistemas de J uramidam refletem o estgio de passagem ora
regressiva, ora progressiva, das populaes primitivas/rsticas e
rsticas/urbanizadas. Por isso os mesmos smbolos e imagens fazem deslizar
significados diferentes. neste contexto que mitos do cristianismo ocidental e de
outras manifestaes religiosas orientais se reencontram, os diferentes se tornam
semelhantes para, novamente, expressarem a unidade de condio humana.
Faremos a seguir uma rpida amostragem da estrutura simblica dos
Sistemas de J uramidam atravs da indicao de hinos
(93)
que expressam alguns dos
elementos nucleares referenciais analgicos motivados e arbitrrios.
(91)
Entre os arbitrrios podemos colocar os elementos nucleares mticos, no motivados diretamente
pelos fenmenos fisiolgicos, embora associados indiretamente.
(92)
Especialmente aqueles que se manifestam nos ritos de renovao e outros arqutipos.
(93)
O nmeros entre parnteses nas linhas tipogrficas correspondem coletnea de Hinos (Letras)
colocadas na sesso dos Hinrios.
www.neip.info
Durante os ciclos onricos os elementos nucleares fora e tempo se
interrelacionam sugerindo a idia psicogentica, ou seja, a de que um provoca ou
traz o outro. O tempo de espera pelos efeitos psicofsicos um tempo de
expectativa, quando o sofrimento e a dor fsica devero ser substitudos pelos
efeitos ou sensaes agradveis. A fora do ser divino no corpo da pessoa purifica e
cura preparando-a para a perfeio moral e espiritual (20). medida que as fases se
sucedem em cada comunho, a fora do ser divino se confunde com o prprio
tempo. A fora faz estremecer (5), julga, mostra, d firmeza e ajuda a trabalhar (21,
22, 23); segura e tange a pessoa (24. 25). A fora vem do Pai e pode ser pedida (26,
27). Ela sai do vegetal sagrado, e por pertencer floresta, recebe energia do sol,
obedecendo as fases da lua para crescer (5, 28), liga-se, pois, ao ritmo da natureza
nasce, cresce e morre para ressurgir sempre (5).
O tempo representado quantitativa e qualitativamente por sua durao
exterior, objetiva o tempo do Mestre ensinador ainda encarnado (29). O tempo
tambm desmuda (30) e marcou a passagem do Mestre Irineu pela terra, agora
tempo de apuro, do ajuste de contas (31, 32, 33, 34).
As noes de tempo e fora esto tambm relacionadas com os elementos
nucleares arbitrrios cujos referentes imediatos pertencem estrutura social, ou
relaes sociais de parentesco. Eles se associam tambm, miticamente, com os
vegetais e fenmenos da natureza j mencionados.
Assim a Rainha da Floresta Nossa Senhora (transmutando ao longo dos
hinrios nos diferentes nomes e funes do catolicismo), em outros momentos, alis
centrais, e fundamentais para uma anlise mais profunda do simbolismo, ela est
vinculada famlia nuclear (Pai-Me-Filho). O filho se identifica com o J agube e com
o prprio J uramidan (35, 6, 36, 37). O pai e o filho associam-se idia de sol
(simbolizando a fora e o poder) e a me com a lua (2, 38, 31, 40). O tempo
predomina sob a idia de gestao e fertilidade (39, 5, 37).
A famlia arqutipica surge ainda associada idia do Palcio que pode ser
expressa atravs de diferentes termos, indicando sempre um lugar de instruo,
beleza, justia, conforto e luz (11, 41, 42, 3, 43, 25, 44).
www.neip.info
As trocas e as trocas simblicas
Ao descrever o ritual de transcendncia e despoluio e as santas doutrinas,
afirmamos a organizao das colnias em sistemas de trocas concretas ligadas s
prticas de sobrevivncia dos grupos. Dissemos que tal estratgia representava uma
forma de responder s necessidades e presses do contexto macrossocial. Os ritos
e mitos, bem como a viso de mundo decorrente de todo complexo mgico-religioso
no foram vistos apenas como legitimadores ou reorganizadores das estruturas
sociais mas ultrapassavam qualquer perspectiva funcionalista.
Sugerimos ao longo de todo trabalho que os sistemas de J uramidan,
enquanto grupos mgico-religioso que representam comportamentos coletivos
podem tambm ser analisados com intensos processos de reconstituio ou criao
de experincias de homogeneidade. Quando discutimos tal conceito o fizemos sob
perspectiva ecolgico-cultural influenciado pela teoria da informao de MOLES (86)
e ensaio de NITSCHKE (98) sobre variaes nas formas de percepo corpreo-
temporal. Tais estudos levaram-nos noo de uma ecologia que, a partir de uma
antropologia do espao, levava em conta tambm os atos e as trocas simblicas.
Posteriormente verificamos que os dois conceitos de vida do Culto do Santo Daime
sugeriam a existncia de uma ecologia natural e outra sobrenatural. Alargamos
ento nosso conceito de experincia de homogeneidade visando cobrir tambm as
trocas (ou comunicaes) simblicas (e msticas) entre os personagens da vida
material (ecologia natural) e da vida espiritual (ecologia sobrenatural). Como
ambas se interrelacionam continuamente e implicam em trocas dos seres, coisas e
sentimentos da vida da viglia e a imaginada e sentida como real com personagens
mticas dos planos do astral, completamos nosso conceito de experincia de
homogeneidade afirmando que o culto do Santo Daime por envolver corpo e mente
em fenmenos biopsquicos e psicossociais, em fenmenos onde os estados
mentais e atos psquicos e sociais so totais, como as conscincias individuais e/ou
sociais transcendendo o tempo linear, dele saindo para penetrar no tempo cclico. As
duraes aqui tornam-se simultneas, contudo impossveis de serem provadas
empiricamente. Experincias que ultrapassam o aqui e agora dessas irmandades
fazendo-as atualizar hierofanias e ritos de renovao da existncia.
www.neip.info
12. Consideraes Finais
Por que os grupos humanos consomem habitualmente um alucingeno? Ser
uma fuga da realidade, ritual religioso experincia filosfica buscando lograr
determinados estados mentais e atos psquicos de sublimao, de equilbrio, de
integrao? Ou ser que se perscruta aqui uma nova dimenso vivencial de outra
realidade ou quem sabe busca de uma experincia dionisaca? Orgistica?
De qualquer maneira, lembra-nos REICHEL-DOLMATOFF (112) a busca de
uma resposta nos conduzir a dimenso muito profundas e muito complexas dos
mecanismos psicoculturais descobrindo motivaes ntimas e encobertas que s
raras vezes se manifestam em outros aspectos da conduta social.
Pelo princpio do realismo antropolgico, que consiste em respeitar os
conjuntos culturais ou modelos socioculturais pelo que eles so, podemos concluir
que histrica. Estrutural e funcionalmente o consumo do Santo Daime longe de
significar ruptura de uma possvel normalidade cognitiva
(94)
, ao se transformar em
costume institucionalizado pelo grupo, passou a fazer parte de sua viso do mundo
e toda tentativa de analisar tal fenmeno jamais esgotar as explicaes.
Poderemos, se tanto, fazer algumas reflexes finais em torno do assunto, deixando
para outra investigao o aprofundamento de vrios pontos esboados.
(94)
As diferentes culturas no representam modos diferentes de tratamento da mesma realidade
objetiva, constituindo-se porm, legitimamente, domnios cognitivos distintos. Homens culturalmente
diferentes vivem em realidade cognitivas tambm diferentes, especificadas por sua forma de nelas
viver MATURANA (79:162).
www.neip.info
1
Por um lado o ritual de transcendncia e despoluio, simblica e
concretamente, responde a necessidades e presses do contexto macrossocial.
Quem toma o Daime se acaba. A matria se acaba e duplo penetra o astral, em
profundo sono paradoxal ou em experincias extticas. De l retorna purificado. A
morte legitimada no ritual e perde seu aspecto de horror. A vida tambm passa a
ser vivida ritualmente na matria em seu processo de perfeio. As situaes
objetivas do cotidiano transformam-se em campo de provao numa luta homloga
s batalhas espirituais, com acumulao de idias e atitudes travadas no astral,
territrio da vida espiritual. O combate para todos e cada um conhece seu lugar na
hierarquia militar (45, 46).
Amor, paz, justia e harmonia so diretrizes bsicas. O sistema cultural
modelo de e para as relaes simblico-estruturais GEERTZ (57:105/109) . De fato
viver as santas doutrinas exige conduzir-se de acordo com estruturas ou padres,
dando aos mesmos um sentido de regenerao Expressam o clima do mundo e o
modelam (57:109).
O consumo do Santo Daime est portanto intimamente relacionado com vasto
sistema de trocas, intra e extra colnias. No dar e receber dias de servios na
agricultura ou, atualmente, na Colnia 5 Mil, no trabalho comunitrio da unio, no
compadrio e outras atitudes comunicadoras. As trocas so os prprios grupos em
ato e no simples efeitos. So relaes reforadoras da estrutura de plausibilidade e
expresso da homogeneidade. Todos se sentem integrados a um universo com
sentido. A comunidade emprica transposta para um plano csmico e tornada
majestaticamente independente das vicissitudes da existncia individual. O
predomnio das relaes de parentesco, enquanto matrizes do sistema simblico,
confirma que essa estruturao obedece a um princpio genealgico simples, o da
famlia (53:263). Tal princpio coloca o Deus Pai, Deus Filho e a Virgem Me como
representantes de maneira diversas dos temas de poder, conhecimento, moral e
autoridade (53:263).
www.neip.info
Embora uma leitura dos signos manifestos nas preces, hinos e as santas
doutrinas formuladas parcialmente de forma oral
(95)
, nos levam a suspeitar a
reproduo da teoria da libido, isto no invalida a argumentao do pargrafo acima
podendo at mesmo conciliar as duas direes (a psicanaltica e a sociolgica) num
denominador comum.
Lembra-nos BASTIDE (10) que a dupla permeabilidade do mundo onrico e do
universo mtico, com seus intercmbios de smbolos ocidentalizados, isto , com a
concluso do sentimento de culpa, apenas aparente nos momentos de crise. A
crise, no entanto, faz sobressair a regra geral de que nela
... os smbolos da libido se transformam em
smbolos sociais (10:239).
Eles tendem a mudar de funo. Assim as palavras do inconsciente passam a ser
palavras de solidariedade coletiva. Por isso esses smbolos devido a sua
comunicao a um grupo todo, j no podem mais, ser lidos por referncia a um
mito individual, eles s podero ser compreendidos doravante tendo a organizao
social como principal referente. Obviamente eles conservaro sempre, at mesmo
em sua utilizao, as cicatrizes visveis de seu desarraigamento da libido (10:239).
O sonho e o mito comportariam uma leitura ou atualizao de reforo ou
coeso dos grupos, de estmulo ao pensamento mgico voltado para estados
mentais e atos psicossociais totais. Provavelmente uma espcie de fuso operada
em momentos de efervescncia entre o simbolismo da libido e o da conscincia
coletiva com interveno de crenas coletivas e no sucedneos sexuais. O rito
nestas condies no esconde incesto ou dio pelo pai sob mscaras lricas. Pelo
contrrio, ele torna a colocar a sociedade atual
(96)
na posio da sociedade primitiva
ou da sociedade dos deuses, assim o gesto simblico, ou seu smile mtico, passa a
(95)
As santas doutrinas no hinrio apresentam-se acessveis a todos, embora parcialmente inteligveis
aos iniciados. Os aspectos doutrinrios orais, circulando sem registro escrito entre os participantes,
se restringem mais s redes conversacionais que representam formas de reforo das estruturas de
plausibilidade e experincias de homogeneidade dos grupos. O mesmo ocorre com referncia aos
mestres, conselheiros e oficiais mais adiantados.
(96)
O que mais uma vez confirma o estgio sociocultural intermedirio dos grupos, mas sem significar
atraso ou progresso diante do moderno ou do antigo.
www.neip.info
ter um significado diferente do que lhe atribudo pelos discpulos de Freud sendo
um mecanismo de criao e no de defesa (10:236).
Um exemplo, talvez, possa ilustrar a afirmao acima. A interdio sexual,
aparentemente vinculada teoria da libido, portanto de defesa, pode ser
interpretada, aceitando a opinio de CAILLOIS (24) sobre o sagrado de respeito
(97)
,
como estrutura e funo da plausibilidade e homogeneidade no sentido de demarcar
o tempo de participao nas duas vidas
(98)
. Mesmo porque eles minimizam
conscientemente o carter pecaminoso do ato sexual. A mistura entre os atos e
trocas realizadas nas duas ecologias no enfatiza o carter sagrado ou profano de
uma ou outra. Chegamos inclusive a suspeitar, lembrando novamente os elementos
nucleares motivados, de uma forma prtica de classificar os fenmenos da natureza
e da cultura com base nas relaes biopsquicas. Indagado sobre a possvel
impureza do ato sexual como causa do interdito, um informante alegou-nos razes
prticas sobre uma camada simblica. Praticado imediatamente antes ou depois de
consumir o Santo Daime, em virtude do ser divino ainda estar circulando com toda
sua fora no sangue da pessoa, o desgaste fsico desprendido para tal ato sempre
provoca srios distrbios no organismo e principalmente no crebro. Alm de
interferir na qualidade de concentrao e nas revises
(99)
das miraes. Por outro
lado para gozar plenamente o sexo preciso que o sangue volte ao normal e que a
pessoa se dedique totalmente satisfao do prazer sexual, um presente dado por
Deus aos seus filhos. (SJ )
(97)
O autor explica os ritos sexuais de purificao dos Thongas evitando cometer os excessos da
escola freudiana. Por isto ele afirma: pouco razovel recorrer a angstia, a traumatismos, a
recalcamentos, que geralmente eles (os primitivos) desconhecem...parece-nos legtimo pensar que
estes sbios entusiastas, convencidos como esto de que a sua soluo vlida para qualquer
problema, projetaram demasiado depressa sobre os selvagens os complexos dos civilizados
(24:138).
(98)
A material e a espiritual que sugere a idia mtua dependncia entre ambas. Sugere dois estados
opostos: a morte se caracteriza como meio de passagem de uma a outra e estar em uma delas
significa o esquecimento (sono) da outra.
(99)
Aqui o sagrado de respeito tem prioridade e reflete na prtica o processo contnuo da memria: os
ltimos atos ou cenas da viglia reaparecem e alteram a inteno do rito.
www.neip.info
2
O estudo do culto do Santo Daime, levando mais adiante as reflexes de
BASTIDE, sugeriu a idia dos autnticos psicodramas ou psicoterapias
espontneas, vividos em sonho no astral e na realidade psicossocial dos
festejos
(100)
.
Aqui precisamos retomar Freud, Histria e mito se articulam. O tempo mtico
vivido durante o ciclo onrico, pensado e simbolizado nas santas doutrinas,
intensamente vivido nos cantos e danas, desvaloriza o tempo biogrfico (XXXII),
mas no deixa de tomar como referente o tempo objetivo, histrico e social. E tudo
isto faz retornar o projeto de ordem que visa no apenas encontrar sentido no
mundo atual mas buscar explicao para a desordem. Ora a desordem
experimentada empiricamente (na dor, sofrimento, carncia, etc.) ora necessria
para alterar e diferenciar essas zonas de coero das zonas de liberdade.
(101)
Assim as figuras mticas da primeira mulher (Rainha da Floresta simbolizada
pela mescla ou folha rainha
(102)
e o jagube) traduzem a volta a um tempo mtico,
paradisaco. A autoscopia, os vos extticos, desdobramento do duplo e regresso
aos tempos primordiais
(103)
fazem parte dos ritos de purificao e transcendncia
com a conotao de renovao, reabastecimento psquico. A possibilidade de
correo das imperfeies, o vir-a-ser corrige aos poucos a pobreza do princpio.
Portanto usando o raciocnio de DUVIGNAUD (41) as entrevistas, ou os
dramas, vividos pelos devotos do Santo Daime, expressos nos dilogos que fazem
(100)
O termo festejo aplica-se no apenas s sesses espritas. Aniversrios, casamentos e outras
comemoraes recebem a mesma designao.
(101)
A explicao histrico-funcional, pela abordagem de MOLES daria conta do princpio da ecologia
dos atos no espao. Durante a primeira fase do culto do Santo Daime, em pleno tempo e espao do
extratrivismo da borracha, o impacto das relaes de produo e as exigncias do sistema de
aviamento, configurou determinadas zonas de coero em contraste com as de liberdade. As
primeiras marcariam o domnio do espao do barraco da fiscalizao, da exigncia de produo.
As ltimas, dos domnios do patro, no mundo do seringueiro: as colocaes, estradas, tapiris e
outros espaos; roados, barrancos e vilas. (Cf. experincias de homogeneidade cap. 5).
(102)
Podendo, apesar das divergncias, representar o positivo e o negativo, o homem e a mulher
(XXIII e XXXIII).
(103)
Os informantes falam de miraes nas quais se vem crianas ou em fases da vida mais
remotas, e mesmo as atribudas a outras encarnaes, praticando atos de violncia contra a
natureza. s vezes interpretam tais miraes como expresso de desejos ou pensamentos
delituosos.
www.neip.info
parte da estrutura-padro dos hinos
(104)
, configuram parte da estrutura do mundo
reproduzindo a estrutura dos mitos. Identificar-se com seu duplo seria tomar posse
de um papel num ato de criao e a educao esttica do homem a se afirma
atravs do domnio de figuras imaginrias, portadoras de substncia efetiva
(41:228).
As figuras imaginrias vistas e vividas no astral, progressivamente simbolizam
a vida de cada um. Seu prprio corpo no astral, na vida espiritaual ou o resduo da
personalidade
(105)
de parentes j falecidos ou ainda vivos e as afirmaes de
deslocamento da matria pela projeo, exercendo a ubiquidade, manifestao ou
expresso da alma coletiva em cada indivduo. A srie de normas controladoras da
idiossincrasia
(106)
presentes no processo do passar a limpo revela nova faceta
desses guias litrgicos de religio e magia. BOURDIEU (22) chega concluso
similar nossa ao afirmar que o brevirio e o sermonrio so usados como roteiro,
ponto de apoio, impedindo as excentricidades e extravagancias. Eles asseguram a
economia da improvisao, mantendo-a dentro de limites (22:98). Mas o que
aconteceria se invertssemos a funo? No seriam as formas estereotipadas o
caminho da autonomia, isto , a competncia individual para entrar no jogo
simblico? A descoberta de seu lugar h hierarquia (45, 46) confere ao crente nova
identidade e aceitao de si mesmo. Trata-se de um processo mental ininterrupto
reiterativo, onde a realidade transcendente s atingida pela repetio ou pela
participao |ELIADE (50:49) | num modelo exemplar provido de sentido. Atinge-
se uma ordem de tempo congelado, cclico predominando o atipismo criador. A o
social segrega atipismo, individualismo, utilizando-o para desvendar regies ainda
desconhecidas da existncia (42:25/26). Assim as duas idias de Freud,
consideradas por ELIADE (47:73) como importantes para anlise do rito de
(104)
Uma espcie de psicografia sem que haja incorporao ou possesso.
(105)
Certas caractersticas fortes da personalidade da pessoa, que no astral servem como traos para
identificar os respectivos espritos.
(106)
Forma de filtrar os hinos impedindo que a iluso se confunda com a verdade. A iluso aqui
pode tambm indicar a ocorrncia de pseudo-transe exttico.
www.neip.info
renovao, podem tambm orientar nossas reflexes sobre os psicodramas vividos
pelos participantes do culto do Santo Daime, em especial a segunda delas. A
primeira diz respeito atitude de beatificao da origem ou comeo. A segunda trata
da tcnica do voltar atrs. A perfeio da origem associa-se ao papel decisivo do
tempo primordial e paradisaco da primeira infncia, beatitude anterior ruptura (ou
seja o desmame) antes do tempo ter se convertido para cada pessoa, em um tempo
vivido. O voltar atrs indica o meio pelo qual se espera reatualizar eventos
decisivos da primeira infncia. A regresso no tempo e espaos mticos biogrficos
experimentados durante algumas miraes opera-se atravs de tcnicas homlogas
s psicanalticas, j conhecidas em certa tcnicas psicofisiolgicas orientais. Um
descobrir aos poucos o seu passado, se possvel seus primeiros dias de vida nesta
encarnao e a Deus ajudar at as outras (MM).
3
Poemas, msica, cantos, danas e sonhos tergicos operam, pois, um universo de
arte, de festa, de suspenso onde corpo e mente no se dissociam sugerindo tambm uma
das facetas da condio humana, ou seja sua relativa liberdade, porm vivida intensamente
neste momentos de renovao. O que certamente nos traz de volta DURKHEIM (39) em
oposio ao radicalismo freudiano e tese de IANNI (68) sobre a concepo do ideolgico
religioso como epifenmeno estrutural assumindo assim posio idntica a de MONTEIRO
(88)
(107)
, viso que prende a conscincia coletiva aos laos do determinismo
socioeconmica
(108)
. O ideolgico surge como reflexo das subestruturas e no confere
independncia vida, que dever ser sempre guiada pela necessidade e utilidade.
Seguindo, porm, a opinio de DURKHEIM (39) e MAUSS (81) para quem o
(107)
Os principais movimentos messinicos havidos no mundo rural brasileiro encontram-se em
manifestaes mais ou menos desenvolvidas da crise nas relaes sociais de produo, ou como
forma de protesto. Como afirma IANNI: Por trs da aparente resignao que acompanha a reza, a
procisso, a romaria e o movimento messinico, est o descontentamento face s condies
presentes de vida (...) provavelmente o messianismo a primeira manifestao coletiva desesperada
diante de uma situao de carncia extrema (68:153).
(108)
Mesmo METRAUX (85) no escapa a essa interpretao. Comentando as festas religiosas face
ao desenvolvimento comunitrio na regio andina, onde as homenagens aos santos duram vrios
dias, considera que no Equador, Bolvia e Peru el catolicismo bastante gastado que Espaa introdujo
entre los ndios pierde mucho de su empuje. Quechuas y aimars han llegado a ser conscientes de la
explotacin implacable de que han sido victmas hasta fecha muy reciente y, en muchas regiones,
prefieren invertir el fruto de su trabaio en la compra de un camin o de consuelo del olvido de su
miseria (85:223).
www.neip.info
pensamento simblico tem sua origem nos momentos de efervescncia social,
podemos afirmar que para os seguidores de J uramidan, a vida ganha independncia
e se atira pelo prazer de se afirmar
(109)
Encontramos assim explicao para alguns fatos do Culto do Santo Daime
que no atendem s necessidades imediatas. O canto, a dana e outros aspectos
dionisacos apontam pois a criatividade dos grupos e a unio de todos na busca
permanente de uma identidade profunda, invisvel e impossvel de serem justificadas
objetivamente, ultrapassando argumentos fetichizantes.
Uma das maneiras de perceber o rito de renovao que MOTTA viu vem em
seu estudo sobre o Xang do Recife
(110)
seria enfatizar exatamente o clima de festa e
o efeito dessas duraes que interferem no tempo do cotidiano. Apesar de
necessidade e desordem da vida material, at pela sua incorporao ao cdigo
ritual, d espao e tempo para a manifestao esttica, ao acaso e ao jogo, nestas
zonas de liberdade em oposio s de coerees impostas pela razo e pela teoria
e prtica do utilitarismo predominante na civilizao ocidental. Assim numa
abordagem freudiana da arte poderamos, seguindo interpretao de KOFMAN (71)
afirmar contraditoriamente a no razo do imenso imaginrio em torno do Palcio de
J uramidan; aqui a vida experimenta um tempo no linear, mas circular. A vida em
seu eterno retorno repete na diferena o mesmo jogo eterno. Passamos da
concepo do mundo divino, acabado, visto nos planos superiores do astral, ao
mundo do acaso e da necessidade, da infncia que leva a srio o jogo, o jogo do
srio, isto , a inocncia da vida: passagem da tragdia comdia e ao humorismo.
A prpria vida nos sistemas de J uramidan, vivida e tecida pelo sentir, ver e imaginar
plastificaes a verdadeira arte que, em seu eterno retorno, repete na diferena
dores e alegrias, criaes e descries (71 p. 199/201)
(109)
A vida assim estimulada goza mesmo de uma independncia muito grande, para jogar-se
algumas vezes, em manifestaes sem fim, sem nenhum tipo de utilidade, apenas pelo prazer de se
afirmar (39:605).
(110)
MOTTA, pergunta por qu os que esto famintos e necessitados juntam a sua fome canto e
dana e festejam em volta da ms? (93:22). Adiante prope uma resposta: a descoberta de uma
identidade muito profunda, que deixa atrs raa, classe e necessidade. Um rito de renovao pelo
contato com a origem do humano, afirmando a liberdade em face da noite da necessidade e da
determinao (93:23).
www.neip.info
Pela comunho das energias individuais, saindo de suas vidas ordinrias
que constituem o mundo profano passam a experimentar uma vida mais alta, o
mundo sagrado. Mas nessa exaltao das energias haver sempre um excesso que
ter necessidade de se desprender e que se desprender por nada, no prazer, nos
gritos, nas gesticulaes, nas danas.
Ouvir, decifrar e atender apelos das Vozes do xodo deveriam nos levar a
postular a necessidade de reconciliar os planos econmicos e sociais, regionais e
interregionais, com os Cantos do Exlio, indicadores de uma realidade onde o
ambiente e a cultura no so variveis independentes e sim intimamente
relacionadas, pois se trata de rea em que a cultura est em equilbrio com o
ambiente depois de realizar uma adaptao assombrosa a condies extremamente
desfavorveis para explorao agrcola.
(*)
Adaptando classificao de | KRISTEVA (72:143 ss) | diramos que Vozes do
xodo e Cantos do Exlio esto sempre em vias de se constituir, mas nunca
constitudos em definitivo. Cada um a identidade do que ele pode ser e no aquilo
que sem poder deixar de ser. No h pois padronizao rgida e nem passagens
esperadas e estereotipadas. A imprevisibilidade do contexto macrossocial no
autoriza uma relao de causalidade entre ambos: as vozes no criam os cantos e
esses no causam aquelas. A descontinuidade socioestrutural da Amaznia,
obedecendo oscilaes das polticas de desenvolvimento regionais e nacionais, a
vocao econmica do Acre no delineada e a no viabilidade de estratificao
social complexa, permitem deduzir que as Vozes do xodo se opem mas no por
excluso aos Contos de Exlio. Esses pertencem aos primeiros movimentos
migratrios. Seus componentes descendem na maioria dos dois primeiros surtos
migratrios do extrativismo da borracha. Aqueles, surgindo no curso das ltimas
levas migratrias, portanto mais recentes. A efervescncia aqui gerou outras formas
culturais tais como as comunidades de Base da Prelazia Acre-Purus, sindicatos
rurais, associaes patronais, etc. houvesse oposio exclusiva e teramos
encontrado um discurso monolgico. As efervescentes minorias cognitivas seriam
produto do descompasso econmico entre o Acre e demais regies do pas. Haveria
(*)
??????????????????
www.neip.info
inevitvel identidade entre os cultos mgico-religioso amaznicos e uma suposta
etapa do desenvolvimento a ser superada.
Da perspectiva de nosso trabalho no se trata de uma lei causal, mas de
interpretaes distintas. Se as Vozes do xodo so pertinentes no atual processo
de urbanizao, pela expanso da sociedade global, o segundo, gerado e
plastificado durante o contato dos transumantes nordestinos com populaes
amaznicas primitivas/rsticas, constituem-se em modelos socioculturais
relativamente autnomos.
Enquanto o primeiro comportamento revela o custo social (8:82) do
progresso no atual momento de passagem ecolgico-cultural, o segundo, num
plano histrico-estrutural, sendo tambm representao da sociedade global em
determinado momento, caracteriza a realizao de um conjunto cultural indito. Tal
conjunto pode ser visto como transgresso do ponto de vista da urbanizao.
Portanto os Sistemas de J uramidan podem ser caracterizados como conjunto
de reveladores sociais do Ritual de Passagem Acreano. Assim foram analisados os
micro-dramas vividos pelos seus personagens. Tal interpretao d conta daquilo
que | BALANDIER (8:85) | chama de circunstncias em que a sociedade global se
encontra desvendada e posta em presena, poder-se-ia diz-lo, da dinmica e dos
problemas decorrentes de seu funcionamento (8:83).
Ao rejeitar a soluo tipolgica escolhida por | QUEIROZ (109) | para analisar
o messianismo, agregando porm a crtica que lhe faz MONTEIRO (88), aceitamos
implicitamente que as formaes sociais, engendradas pelos movimentos mgico-
religiosas, em momentos de efervescncia, ligavam-se necessariamente a
momentos extraordinrios de crises. As crises, contudo por si s, no geraram os
Sistemas de J uramidan. Os ltimos surgiram em virtude da prpria criatividade
humana, pois como afirma DUVIGNAUD:
... no son las instituciones las que hacem sobrevivir
a las sociedades, sino los hombres que las
reinventan en el presente... (43:168).
www.neip.info
Tornou-se oportuno no momento da penetrao da frente extrativista, em
situao de completo isolamento dos aparelhos institucionais do Estado, com a
organizao poltico-territorial ainda indefinida
(111)
, agravada com a crise da
economia da borracha, a ocorrncia de formas sociais alternativas, solucionando
assim problemas de desorganizao gerada no prprio modelo de ocupao.
A ritualizao no caso tendeu menos soluo de crise
(112)
, forma de protesto
ou de efeitos tranquilizadores. A heterclita e imprevisvel reunio de smbolos e
mitos ajudou na coordenao do crebro e corpo; os atores comearam a
desempenhar, a criar, novos papis pela inovao repetidora.
Nascidos e renascidos nos perodos de crise, os filhos, sditos, discpulos,
servos, irmos e soldados do pai e me, rei e rainha, mestre e senhora e do general
J uramidan, engendrados em relaes sociais que se padronizam repetindo modelos
de hierarquia universais. Ora afirmam com nfase o modelo prtico de ordem das
Vozes do xodo confirmam a desordem do mundo atravs da busca de uma
ordem no interior da desordem ora minimizam o projeto prtico de uma realidade
ltima dos Cantos do Exlio negam a desordem atravs da busca da ordem no
interior e acima da desordem; mas dialogicamente indiferentes, (ainda que no se
livrando totalmente) de uma razo prtica, utilitria, conseguem absorver a estase e
o xtase, o vinho sagrado e o sonho, o futuro no passado, o EU no NS, TODOS no
OUTRO pelo prazer da festa e da renovao peridica da vida. A morte se despolui,
mente e corpo no mais se dissociam.
E conclumos, entre outros argumentos, com a advertncia nietzschian de que
nossa natureza mais ntima, o fundo comum de nosso ser, encontra prazer
indispensvel e uma alegria profunda na imensa paixo de sonhar (97:37).
Enquanto movimentos mgico-religiosos, onde o consumo do Santo Daime
ensejou e orientou a institucionalizao dos grupos, os Sistemas de J uramidan,
(111)
COSTA (30) Descreve exaustivamente a situao de anomia institucional das trs primeiras
dcadas de organizao do Territrio do Acre.
(112)
BASTIDE (12) admitiu o papel teraputico desempenhado pelos cultos mgico-religiosas nos
pases afetados parcialmente pelo movimento de modernizao. No caso da Amaznia, podemos
com certo relativismo, confirmar sua argumentao: ...diante de uma situao conflitual, h uma
alternativa cultural; pode-se responder a ela seja por um desenvolvimento da magia seja caindo na
loucura (12:191).
www.neip.info
marcados como desviantes pelos agentes do controle social, podem ser vistos como
expresso de uma nova dimenso vivencial da realidade banhada pelo exerccio do
querer e desejar. Uma tentativa de interao entre smbolos da libido e smbolos
sociais. O que confirma a insistncia de BASTIDE (11) sobre a importncia
psicoteraputica de dar livre curso imaginao, aos fantasmas e desejos que se
encontram no fundo de ns, onde, inclusive a msica desempenha papel
fundamental (ALVIN (4:101/130).
Nesse ponto se tornam claros os ns, os embaraos da metfora do Palcio
de J uramidan. Espcie de operao do eterno retorno, no devir constante das
miraes. Eles so criadores da ordem e da desordem com o permanente pedir (dai-
me) ultrapassando o complexo de dipo, pela pariticipao no sagrado, ou seja a
comunidade projetada no astral, estabelecendo o eterno retorno. o pensamento do
eterno retorno que seleciona; faz do querer algo de completo. O pensamento do
eterno retorno elimina do querer tudo que cai fora do eterno retorno, faz do querer
uma criao, efetua a equao querer criar (DELEUVE (34:239).
www.neip.info
V DEPOIMENTOS
I
... ele queria falar com ele (Antonio Costa) pr ele fazer uma descoberta l no Peru,
em Cuzco, l tem muita coisa pr descobrir n? Mas s descobre um como ele. Ele descobre
porque ele cansou de dizer pr ns: olha o que tem em Cuzco, parece que estou vendo aqui na
minha vista...e sei fazer aquilo tudinho, destrancar aquelas caixas que est cheia, de
ouro...tudo, tudo eu sei fazer e sei como ...e por aqui no tem quem faa essa
descoberta...mas eu fao, porque tenho certeza que fao, porque meu trabalho me ensina
tudo...!
II
Vim do seringal Iracema porque os paulistas chegaram e expulsaram ns. Eles
chegaram e tomaram tudo. O que ns amos ficar fazendo l? Ns s vivia pr cima e pr
baixo, pagando aluguel. A abriram isso aqui, eu vim e tirei este terreno. Pagava Cr$ 500,00
de aluguel por um quarto de 2x3 no Bairro do Quinze (29 anos, casado, estivador).
III
Vim do seringal Remanso. Chegamos em dezembro na cidade e ficamos morando no
quarteiro do seu Virglio, pagando Cr$ 200,00 por ms. T com um ms que entrei aqui,
no sei quem o dono. Aqui difcil ns comer carne; o que ns come arroz com feijo
(Maria Amlia Nbrega do Nascimento, 23 anos, casada, o marido vende refresco).
IV
Eu morava no seringal Iracema, perto de Xapuri. Vim porque venderam o seringal
pros paulista e no consentiram a gente continuar na terra. O ganho na cidade pouco e no
d pro aluguel, a nos achamos essa facilidade aqui. Ns entramos aqui e depois apareceu o
dono. Perguntou com que ordem ns entramos aqui. Ns falamos que foi com nossa ordem
www.neip.info
mesmo, ningum ia mentir, n? Isso aqui era tudo mato bruto. Eu pelejei pro governo dar um
lugarzinho, mas era s prometimento. No tem facilidade para os pobres, e a facilidade a
gente morrer mesmo Laureano Pereira da Silva, 54 anos, casado, trs filhos, diarista).
V
Comprei isso aqui por Cr$ 300,00 de um rapaz. Ns esperava que as autoridade
ajudasse, mas ns temos padecido mais do que galinha que cria pato. Eu no tinha posse, nem
condio de construir um barraco (J os Torres da Silva, 64 anos, engraxate, ex-soldado da
borracha).
VI
Ns conhecia isso aqui como terra abandonada, sem dono; agora pareceu o dono
(Nazar Oliva Viana, 60 anos, viva, cuida de quatro crianas rfs, recebe Cr$ 780,00 do
Funrural, pagava Cr$ 250,00 de aluguel).
VII
Cortei seringa 11 anos. A no agentei mais e vim embora pr cidade. Morava no
seringal Fortaleza, rio Abun. Pagava Cr$ 200,00 de aluguel. O senhor est vendo isso aqui:
fui eu que broquei, coivarei, derrubei em duas semanas. Dizem que vo botar ns pr fora,
mas eu no saio, no tenho pr onde ir (Francisco Henrique dos Santos, 75 anos, cearense,
aposentado pelo Funrural).
VIII
Nasci e me criei no seringal. Faz quatro anos que estou aqui na rua; morava no
bairro do Tringulo, numa casa alugada. Vim do seringal porque a mulher vivia doente e tinha
umas filhas que queriam estudar. Eles mandaram empatar; paramos uns dias, mas comeamos
de novo. Ns somos brasileiros, ser que ns no temos direito a um lugarzinho? (Edgar
Dias Ferreira, 46 anos, vivo, diarista).
www.neip.info
IX
Isso ele foi buscar longe, veio do Peru. Na histria esta bebida derivou do Rei Uascar,
passou para o Rei Inca, deste para um caboclo peruano chamado Pizango, do caboclo para
Antonio Costa, de Antonio Costa para ele. Porm at a era uma bebida totalmente bruta. S
homens tinham o direito de tomar. Ele procurou especializ-la, e se dedicou realmente. Ele
sujeitou-se a um regime...l ento, ele firmou, falando com a prpria bebida: Se t fores uma
bebida que venha a dar nome ao meu Brasil eu te levo pro meu Brasil, mas se for
desmoralizar o meu Brasil eu a deixo. Ele no cansava de relatar isso a gente
X
...teria sido atravs do Rei Inca, depois Rei Uascar, a Antonio Costa e deste para
Irineu. O Antonio Costa aprendeu tambm, no ensinou. A chamou o Mestre pr tomar mais
ele. Irineu foi tomar mais ele. A Dona veio entregar pr Antonio Costa e ele mandou que
entregasse a Irineu e Antonio disse: Tudo que a Sra. Tem pr entregar pr mim, entrega pr
Irineu, que viajou do Maranho j pr essa finalidade. Ento, quando Antonio Costa tomou
falou pr ele: Irineu aqui tem uma senhora que diz que viajou desde o Maranho at aqui
contigo, pode crer...
XI
...ele estava no centro cortando seringa, a um peruano ensinou ele a fazer o Daime e
tomar, at que um dia, ele estava cortando seringa mais Antonio Costa e por ali ele foi...esse
Antonio Costa disse: Irineu, aqui tem duas moas dizendo que estamos trabalhando pra ser
besta! - manda que elas vem falar comigo... ...naquele dia ele fez Daime e meteu...de vez em
quando ele ouvia uma voz que dizia toma Daime, e ele batia um caneco e emborcava, e
dizia: - Olha a, eu j tomei uma canecada, e tu? Rapaz eu j tou alto. Ento voc no
homem. A ele pegava o caneco e metia na boca, e o tempo passando, at que as moas
chegaram e falaram pr ele: - Olha, tu te apronta, te apronta mesmo que tal dia vem uma
mulher falar contigo. Quando foi no dia final que preparou o Daime...tomando o Daime ele
viu a claridade, ela vinha explandindo tudo, com pouco tava uma mulher na frente dele, e
falou: - Me conhece? Conheo, no uma mulher? Ela disse: - Mas tu nunca viste esta
www.neip.info
mulher aqui, a primeira vez que tu t vendo. Como se chama? Ela disse: - Clara. A ele
imaginou com ele que ele tinha deixado uma namorada na terra dele, por nome Clara. Ele
disse: - Ah! minha namorada...no , , no . Da ela disse que era a Virgem e Soberana
me. A veio e indicou a ele tudo, tudo, e ensinou...ele aprendeu... Mas t s aprende
passando oito dias de jejum, e tua comida macaxeira cozinhada insonsa, com gua, no bota
acar, nem sal, no tem nada de ch, s macaxeira com gua...vai tirar seu tempo. E ele
meteu pr l, quando tava oito dias ele disse que j andava cambaleando, no agentava mais
aquela macaxeira fria e ele cortando seringa e...cortando uma madeira dentro do igarap, uma
voz falou: - Teu companheiro ia botando sal dentro de tua panela hoje, na tua macaxeira, pra
saber se tu sabe alguma coisa. A ele deu uma risada e dizia com ele mesmo: ia que eu j
tou adivinhando. J ustamente ele viu uma mulher passando, mas no foi aquela mulher que
falou no, fui que adivinhei, foi ela que falou, porque eu dizer que tou adivinhando, eu j tou
mentindo. E seguiu pr casa. Quando chegou l disse: - Rapaz, voc queria me matar? Ia
botando sal na minha macacheira? Antonio Costa respondeu: - A rapaz, ento agora sim, eu
t alegre porque sei que voc t aprendendo alguma coisa... Com oito dias ela veio e entregou
tudo a ele. E a doutrina rolou, rolou...
XII
...funcionando l na floresta...tanto ns tnhamos prazer como os espritos tambm.
Porque no h coisa melhor do mundo do que uma sesso na floresta...o lugar onde amos
tomar o Daime todo enfeitado com palmas, palmeiras, flores silvestres...ns tnhamos
tudo...os espritos gostam muito...tratando da floresta...eles gostam. Eles so da
floresta...porque nossa chefa a Rainha da Floresta, sabe quem a Rainha da Floresta? 2
Nossa Senhora da Conceio? 1 Tudo uma s... 2 Iemanj? 1 Tudo uma s...tanto faz
Nossa Senhora da Conceio...s uma Nossa Senhora... 2 A folha rainha com que se faz a
Ayuasca seria uma coisa sada dela...por isso tem esse nome? 1 isso a...da saiu...isso no
todo mundo que sabe...sabe ns que trabalhava com a chefa...ningum sabe como veio o
J agube e como veio a mescla. 1 Informante 2 Entrevistador.
www.neip.info
XIII
...a pessoa entrava como soldado, passando para sargento, comeando a seguir o
oficialato. Antonio Costa, o grau dele era como Marechal...a tinha uma forma de no se
conhecer bem os postos...porque Andr Costa, como vice-presidente teria que ser o segundo,
agora Alfredo Lins como secretrio do chefe e ajudante de ordens...tambm na falta do chefe
ele ficava no lugar...mas o comandante em chefe era o Irineu.
XIV
...ali no quilmetro 16, na variante, tem um velho que trabalha com Daime, Velho
Loureno, ele paraense, no sei se batuque ou se Santo Daime?...bem encostadinho, no
quilmetro 12, tem o Heliodoro, esse trabalha com o Daime, trabalha muito, rapaz! Ele s
come palmito, no come nada de carne, nada de sangue...ele tem um rancho dentro da mata, a
loja l dentro da gruta, tem de tudo, ele vende caf, cigarros, rdio, at disco de Roberto
Carlos. ...agora esse Loureno tem vez que passa 28 dias sem abrir o comrcio dele, o
sujeito, chega l, quer as coisas e ele no vende, l cantam muito hino... ... esse Manoel do
Santo Daime, rapaz ele canta tanto hino bonito e tirado da cabea dele...
XV
...esse Manoel do Daime no trabalha com Umbanda mas fala em Iemanj, diz ele
que o beija-flor que desce no sei como ? O esprito santo... ele fala em J uramidan, em
Titango, Tintuma e Agarrube, usa marac, uma farda bonita, com penacho...marac de coit
com pedrinha dentro...vo cantando e vo batendo...sempre me contava esse negcio..., os
ndios cantam muito isso...
XVI
...ele (Irineu Serra) sabia que ia fazer a viagem dele. A ele fez uma reunio na sede,
entregando a sede pr ele (Lencio) tomar conta, pois j h 4 anos Lencio vinha dirigindo a
irmandade, e Mestre Irineu disse: todo mundo meus irmos e minhas irms sabe que eu j
estou velho e cansado, o Lencio agora quem vai tomar conta da sesso...
www.neip.info
XVII
...ele morava ali e eu aqui, tarde eu ia pr l, a gente batia um papo, mas eu nunca
pensei dele morrer primeiro do que eu, compreendi ele, ele vinha me aperfeioando h 10
anos pr essa finalidade de hoje. S depois que ele viajou foi que eu vim d f...
XVIII
...era tudo daqui. O Motta no tem nada. O Motta, quando Mestre Irineu viajou fazia
uns oito anos que ele freqentava aqui. Chegou doente pr se tratar, ento quando o velho
viajou ele arretirou-se pr l, ele levou as pessoas que justamente iam me dar trabalho...
XIX
...eu adoeci aqui de um troo que eu no sei o que era, recebi uma pancada de um
besouro aqui, e ficou aquilo fervilhando, fervilhando, e num dia comeou aquilo a andar na
minha barriga, subiu at aqui e eu gagulhava muito e no saia nada, fiquei um ano doente, j
sem nada e ia ao doutor, deva isso e dava aquilo, at que o Dr. Ari disse: Rapaz eu acho que o
recurso abrir pr ver o que tem. Eu respondi ah! doutor sem saber o que eu no vou no.
Nesse dia mesmo eu disse: Eu hoje fico bom ou ento vou morrer, vou l no Mestre Irineu.
(...) Tomei...quando eu fiz assim o mundo acabou-se. A eu vi o corpo l, eu me achava
sentado assim alto, encostado a mim tinha um companheiro sentado, do meu lado, e eu de c
tava olhando o corpo l e eu aqui tava alegre, no tinha nada de doena. S era o corpo que
estava l estirado (...) vinham 2 homens, traziam uma aprelhagem, pesava muito mais...a
chegaram...Meu esqueleto todinho na mo, s os ossos, dedos, tudo era aquela ossada, isso
aqui a costela, o espinhao daqui pra baixo, era s ossoseco com aquela...as canelas, preto
danou-se, mas muito sujo...e tiveram foi tempo virava assim...me mostraram tudo n. Depois
dali aqueles ossos sumiram tudo da mo deles, j estavam no corpo, pegaram isso aqui,
cortaram e abriram, puxaram tudo pr fora, eu de l s sentado olhando, tiraram um pedao
quadrado, abriram aquilo, da puxaram trs bichos deste tamanho. A, est aqui o que tava te
matando, era isso aqui. Mas desse no tenha medo que voc no morre mais, quando eles
fecharam, empurraram aquilo pr dentro e fecharam. A eu me acordei l...no sei pr onde
www.neip.info
foram os doutores, nem sei aonde eu estava. Sei que fiquei batendo a poeira...graas a Deus
at hoje.
XX
... e ele (Irineu Serra) foi embora, ns ficamos l junto, o homem (Lencio) criou l
um negcio de no sei de que, de um cime, uma inveja, o povo gostava mais de mim do que
dele, mas l eu no estava representando nada, o representante l era ele mesmo. Da ele
comeou criando caso, porque o velho me deixou aquilo de eu fazer o Daime e levar pr l, a
metade, a metade meu, e assim fui, com ele eu ia muito vem, tudo corria bem, depois que ele
faleceu, comeou a cria isso...at que eu disse: antes que eu brigue, que eu no quero saber de
briga, me arretirei, um dia eu recebi uma ordem, porque no hinrio tem, eu no sabia, quando
recebi o hinrio, mesmo nas palavras de Cristo me dizia, depois de eu ouvir uma voz, falou:
Alevanta um templo e prepare um povo...
XXI
...os elementos que esto designados para tirar o cip, por direito, passam trs dias
sem ter relaes com a esposa...inclusive para determinar a perfeio mesmo, o sujeito
dormir fora do quarto...e no come comida gordurosa, come pouco. No dia de sair toma de
madrugada o Daime. Coloca um pedacinho de macaxeira na sacola, cozida sem sal, e leva pr
mata, toma mais uma dose de Daime se for preciso e vo em trs ou cinco. L eles se
dividem, tantos vo tirar o jagube e tantos vo tirar a folha...l eles cortam o jagube, j tem
marcado, sabem como e onde . Deixam mais ou menos um palmo e meio de tronco. Cortam
dali para cima, vo cortando, pedacinho de vinte centmetros, que para raspar e triturar.
Aquele pedacinho de gomo que fica ter condies de brolhar. Quando enganchado nos
outros paus, do tipo parasita, tem que derrubar as outras rvores. Cortar, pr ela cair, para
aproveitarem todo o cip. Eles cortam l, pe no saco, a, depois de tudo pronto pe nas
costas, trazem at a estrada onde est o carro...de tarde eles trazem o cip e as folhas. Limpam
direitinho, raspam todos os cips tomando Daime, cantando. A gente vem prepare o Daime, a
mesma turma. No todo mundo. a turma selecionada. No outro feitio ser outra turma. As
mulheres s podem participar da limpeza das folhas. No vo buscar na mata, na colheita das
folhas, mas na catao das folhas as mulheres podem fazer parte. 2 Elas no podem ver
www.neip.info
fazer o Daime? 1 Eu nunca ouvi dizer que pudesse ver, eu acho que por causa da regra, se
o velho Irineu no concordou, que era o mais antigo na coisa... 2 Quer dizer que a
menstruao pode tirar a pureza da coisa? 1 Ele no ia dizer no ...a turma deve ter noo
... Depois delas limpinhas, tambm o cip, vo se preparar. No outro dia de madrugada
comeam a triturar, com marretas, triturando direitinho. As folhas j catadas, a pe a ferver a
gua, uma camada de folha, uma de cip, outra de folha, mais outra de cip...trs camadas,
pe l no fogo com a lenha, de tal maneira que a densidade de fritura no decaia, isso tem
uma grande influncia. preciso manter o grau exato de quentura...assim ficam cantando
hinos, ambiente sadio, louvando a Deus de qualquer maneira, s coisas boas, mirando...todos
ali... H os que esto fora, que no esto fazendo o Daime, ficam trabalhando, tomando o
Daime, ajudando a cantar pr fazer o ponto. Eu sempre participava. A quando d ponto
direitinho eles tiram e botam pr esfriar numas frasqueirinhas...
XXII
...porque o sangue j est acostumando, j est mais ou menos, j est manso, porque
logo o senhor entra na aula, vem o ABC, n? Quando o senhor sente o benefcio deu 3
carreirinhas, pega outras 3, vai indo, vai indo...
XXIII
... porque o Daime um veculo muito fino n, e ele tem todos os poderes, pois
uma coisa que foi tirada como ns sabemos da primeira mulher que habitou o mundo, da
primeira mulher saiu J agube e saiu a Mescla.
XXIV
...cheguei no mesmo jardim como no sonho...e encontrei o Prncipe...olhei pr ele e
ele pr mim...a vem a P e a M... eu disse a elas: o homem me deu os galhos...samos para o
rumo das flores...M passou na minha frente e tirou de cada galho uma flor...trs flores e
entregou na minha mo cantando: recebe estas trs flores que o Divino Pai quer te d. A eu
vou e respondo: e se elas quiserem murchar, ela me responde: s todo dia aguar que estas
flores daqui preciso ns saber zelar porque so flores divinas do reino celestial. A a P veio
www.neip.info
para perto de mim...tomava o Daime, batendo, acompanhando a valsa e comeou a
cantar...depois me perguntou: voc no vai cantar?...e eu disse: eu recebo estas trs flores que
o divino pai quem me d e se elas quiserem murchar s todo dia aguar ... quando ela me
entregou as flores e comeou a cantar tudo se movia dentro daquele jardim, aquelas plantas
danando uma valsa...
XXV
...eu me vi por dentro de mim mesmo...assim do estmago pr cima, nessa passagem
eu vi um tipo de fole, de uma sanfona, eu tinha dezoito teclados, dezessete parados (...) a
continuamos a viagem, eu e meu instrutor, subindo pela garganta...a entrei na cabea...era um
salo grande...era o espao ocupado pelo crebro (...) foi dando uma formao de como o
crebro da gente, uma massa...e eu l de trs olhando para a frente, aquele contorno todo do
crebro...e o instrutor ali do lado...ele mostrava assim aquela mancha preta...cada uma mancha
desta um tumor em formao...
XXVI
...o Padrinho me disse que se viu diante do trono de Deus de onde saia assim como
que vibraes, como que notas musicais do trono pr ele, e aquelas notas musicais chegavam
a ele assim como que hino.
XXVII
porque quem manda na pessoa a mente, sujeito tem a mente limpa, o Daime quer
isso, a aceita. Se ele um sujeito embaraado de tudo, quando o Daime chega nele, que
uma pureza, encontra aquela casa cheia...primeiramente ele vai sofrer, vai apanhar, pr poder
chegar a um ponto...
XXVIII
...aqui a sede, as colnias so mesmo l pr dentro; tem a do Chaves, tem a do
Valdete, tem a do Paulo, tem a do Raimundo, a do J oo, do Lourival, do Nelson, do Rodolfo,
www.neip.info
tudo nosso, tudo unido, a gente chama do fulano, porque a representao social deles, cada
um tem dono, mas tudo nosso, trabalhamos par um fim s, depois que foi criada a unio, a
comunidade, mas antes no era assim no, era assim s no pensamento, de desejo, de prtica
no era...tudo isso a gente sabe, daquilo que agente recebe da multiplicao da mente....
XXIX
...Senhor que achou do homem? mais fcil um camelo passar no buraco de uma
agulha do que um rico se salvar, mas para o Pai nada difcil, porque nada se perde, tudo se
transforma...ns somos uma irmandade, tem o terreno de um, do outro, do outro, do
outro...um tem, que as vezes d, um arroz, o feijo de um roado d uma nela, no d nada. O
do outro l d que uma coisa, aquele de l tem o que comer e o outro que trabalhou tanto no
dele como do outro, no come nada, porque o outro agarra e traz tudo pr ele, ento ficou um
irmo sem nada, desamparado sem comer (...) ento achei que ajuntando tudo, tudo uma coisa
s, o pouco que d, d pr tudo n, s come at enquanto tem, no teve mais vamos esperar
que Deus amelhora...
XXX
...aqui uma luta, o sujeito leva essa doutrina, esta pesa, no facilidade, no com
dinheiro, no com nada, com coragem pr poder levar...se pegar a cair dinheiro acabou a
doutrina, um encosto. A gente precisa de dinheiro porque tudo no mundo comprado, mas
ningum faa ambio de dinheiro, pr ter ruma de dinheiro, porque no adiante, a uma
riqueza que tem bem a (referindo-se a um crime ocorrido na cidade envolvendo possvel
vingana e trfico de drogas), se acabando em desgosto e dor, agonia, s t dando agonia. Pr
que tanto ouro, sem ter tesouro! Ouro sem tesouro no vale nada, ferruge come, a traa corta.
Eu quero ser pobre mesmo, mas quero que o mundo goste de mim, os que no gosta mas t
pr l, no est me atormentando, eu estou gostando dele, que ele no est me fazendo
nada....
www.neip.info
XXXI
...a gente s passa a sentir os efeitos quando chega na altura que a gente deixou na
vida passada...do seu sistema espiritual, pr dali continuar...
XXXII
...rapaz tu no ests em canto nenhum...tu s o que sempre foi e nunca deixou de
ser....te acorda direitinho e v que ns nunca nascemos e nunca morremos...
XXXIII
...o J agube o elemento para dar a fora do corpo balanar o que for necessrio para
acordar dentro do organismo, ele quem traz a misso de ir l atravs do sangue de qualquer
coisa e balanar os sistemas adormecidos e a folha quem aproveita a oportunidade da
vibrao do sistema adormecido e faz dar a viso...da eu digo que no tem esse negcio de
macho e fmea...
XXXIV
... o mestre Irineu, mas o pensamento nele, sem sair fora, nele...mas ficar falando
no mestre Irineu e ficar fazendo mal a outro pr acol, um tempo perdido (...) a falsidade o
drago maior, que existe, uma fera devoradora...quem est por dentro da conversa preste
ateno (...) ele me colocou ali dentro onde estou... porque ele sabe, me conhece por dentro e
por fora. Porque eu digo pr vocs: aqui por fora eu no sou homem (...) aqui dentro ns
temos tudo o que ns quisermos, mas preciso ser leal e compreender que uma coisa divina
e no pode falhar, com mentira ningum se apruma (risos)...
XXXV
J so decorridos 1973 anos que vs, os reis magos: Gaspar, Melchior e Baltasar,
montados em camelos transpuseram montes e plancies, atravessando fronteiras de seus pases
onde reinavam, foram em misso do Divino Criador; visitar dando boas vindas ao menino que
www.neip.info
acabava de nascer, naquele tempo filho de Maria Imaculada, em companhia de J os, o
carpinteiro, e que como os Seres Divinos como Vs, estavam aqui na terra para cumprir a
misso que fora confiado a cada um, a presena de vs naquela manjedoura foi de um
significado deveras importante (...) Cumpriu at expiao na cruz pr mostrar humanidade
que assim fazendo que podemos, seguindo os vossos ensinos, alcanar o Reino de Deus,
Palcio do Grande Imprio da Luz Resplandecente ... onde convosco ns somos esperados
(...) o menino que vs honrastes naquela era cresceu, completou o seu ministrio ... e
regressou ... vs tambm o fizeste ... ele aqui voltou, reuniu seu rebanho ... aqui estamos em
nova jornada, agora com a ausncia do mestre, porm ele trouxe novos ensinos para ns (...)
afastai de ns todo mal, dai-nos sade, paz e amor ... confortai-nos junto ao grande poder com
quem confiamos vencer ... vencer o apuro, suportamos as reformas dos costumes e atos da
humanidade, nestes dias difceis em que pesa sobre ns o perigo de uma hecatombe
destruidora criada pelo egosmo dos poderosos ... do envenenamento da atmosfera terrena
proveniente dos pazes qumicos (...) alertai o homens atuais para manter a floresta
amaznica (...) saudemos aqui neste altar da Santssima e Soberana Me e os trs Reis do
Oriente (...) Tintuma, Titango e Agarrube no astral para que venham com Nosso Mestre nos
remir e nos salvar destes males que nos rodeiam, a Vs rendemos graas por estarem aqui
conosco nesta noite feliz de 5 para 6 de janeiro do ano de 1974, da era Crist, no segundo
meio sculo do ensinador Raimundo Irineu Serra J uramidan. Rio Branco, 5 de janeiro de
1974. S.J .
XXXVI
... apesar de Irineu reconhecer que Antonio tinha mais virtude, ele queria ser igual ao
chefe (SJ S cunhado de Antonio Costa)
XXXVII
... mas em verdade ele era muito adiantado, mas no conseguiu passar no exame ...
no chegou a ser chefe com os exames ... ele falhou neste ponto: quando ele foi fazer o
primeiro exame, a ele perguntou a meu cunhado: pode me acompanhar?, meu cunhado
respondeu que sim (SJ S cunhado de Antonio Costa)
www.neip.info
XXXVIII
... quando chegou l na frente a estava um abismo pr ele baixar ... e a escada era de
teia de aranha ... a ele recusou ... (SJ S, cunhado de Antonio Costa)
XXXIX
... meu cunhado passou e chegou do outro lado e foi aplaudido espiritualmente, a
deu viva ao chefe, com toda a sua nobreza. (AJ S, cunhado de Antonio Costa)
XL
... ele passou e saiu num salo grande, cheio de luz, de flores, a ele saiu rindo, todos
bateram palmas, a abraaram ele, afirmando: voc em que ser o chefe de nossa sociedade ...
(Maria Nazar, viva de Antonio Costa)
www.neip.info
VI HINRIO
Autores
n
dos
hinos
Irineu
Sebastio
Tetu
L. Mendes
M. Damio
A. Gomes
J . Pereira
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
093
029
100
064
038
041
042
037
046
012
079
065
054
080
070
115
069
071
033
099
129
084
040
121
001
022
040
027
045
047
049
099
011
023
085
031
104
113
073
058
008
040
016
036
066
005
034
035
006
025
012
041
Nmeros dos hinos nos respectivos hinrios
www.neip.info
1
O Cruzeiro tem rosrio
Para quem quiser rezar
Tambm tem a santa luz
Para quem quiser viajar
Vamos todos ns louvar
O Divino Esprito Santo
A Virgem Nossa Senhora
Nos cobrir com o vosso manto
Eu digo com firmeza
Dentro do meu corao
Vamos todos ns louvar
A Virgem da Conceio
A virgem da Conceio
a nossa protetora
quem nos d vida e sade
E a nossa defensora
Vamos todos meus irmos
Vamos cantar com amor
Vamos todos ns louvar
A J esus Cristo redentor
J esus Cristo redentor
Filho da Virgem Maria
quem nos d a santa luz
o nosso po de cada dia
www.neip.info
2
Sol lua estrela
A terra o vento e o mar
a luz do firmamento
s quem eu devo amar
s quem eu devo amar
Trago sempre na lembrana
Deus quem est no Cu
A onde est minha esperana
A virgem Me mandou
Para mim esta lio
Me lembrar de J esus Cristo
E me esquecer da iluso
Trilhar este caminho
Toda hora e todo dia
O Divino est no Cu
J esus filho de Maria
3
Vem, vem, vem, a vem
(estribilho)
Vou contar minha histria
Como foi que se passou
O mundo de iluso
Uma vez se acabou
Vem, vem, vem, a vem
(estribilho)
www.neip.info
Gosto de confessar
Alegre e satisfeito
Vejo tanta maldade
E ainda querem ser direito
Vem, vem, vem, a vem
(estribilho)
Vamos todos se alegrar
Com a linda preleo
J esus Cristo nosso Pai
E a Virgem nossa me
Vem, vem, vem, a vem
(estribilho)
Pergunto aos meus irmos
Para onde que vai
Falando um dos outros
Esto fora do meu Pai
Vem, vem, vem, a vem
(estribilho)
Todos se aprontando
Para o Mestre receber
Quando chegar no salo
No queira esmorecer
Vem, vem, vem, a vem
(estribilho)
Este salo dourado
do nosso Pai verdadeiro
www.neip.info
Vamos todos se alegrar
Que todos ns somos herdeiros
4
Eu sou filho da terra
Vivo nas matas sombrias
Implorando o Pai eterno
E a sempre Virgem Maria
Aqui eu toco o meu tambor
E nas matas eu rufo caixa
Todo mundo vai atrs
Procurando mas no acha
Todo mundo sabido
E o saber Deus quem d
Seguindo na linha direito
muito fcil de encontrar
5
Eu peo a J esus Cristo
Eu peo a Virgem Maria
Eu peo a meu Pai Eterno
Vs me d a santa luz
Eu sigo na verdade
Eu sigo meu caminho
Eu sigo com alegria
Que eu sou filho da rainha
A fora da floresta
A fora do astral
A fora est comigo
www.neip.info
A minha me quem me d
Eu chamo o rei Titango
Eu chamo o rei Agarrube
Eu chamo o rei Tintuma
E eles vem l do astral
A fora divina
A fora tem poder
A fora neste mundo
Ela faz estremecer
Sempre eu vivo neste mundo
Viva todo que quiser
Viva Deus l nas alturas
E o patriarca So J os
Eu dou viva a Virgem me
Viva nas suas companheiras
Nos protejas neste mundo
Vs como me verdadeira
O sol que veio a terra
Para todos iluminar
No tem bonito nem feio
Ele ilumina todos iguais
A lua tem trs passagens
Todas trs nelas se encerra
preciso compreender
Que ela quem domina a terra
6
Eu venho da floresta
www.neip.info
Com o meu cantar de amor
Eu canto com alegria
Minha me que me mandou
A minha me que mandou
Trazer santas doutrinas
Meus irmos todos que vem
Todos trazem este ensino
Todos trazem este ensino
Para aqueles que merecer
No estando nesta linha
Nunca de conhecer
Estando nesta linha
Deve ter amor
Amar a Deus no Cu
E a Virgem que nos mandou
7
Vou chamar a estrela dgua
Para vir me iluminar
Para vir me iluminar
Para vir me iluminar
Dai-me fora e dai-me fora
Dai-me fora e dai-me fora
Dar licena eu entrar
Dar licena eu entrar
Nas profundezas do mar
Nas profundezas do mar
www.neip.info
Foi meu Pai que me mandou
Foi meu Pai que me mandou
Conhecer todos primores
Conhecer todos primores
Dai-me fora e dai-me fora
Dai-me fora e dai-me fora
A minha me que me ensinou
A minha me que me ensinou
Conhecer todos primores
Conhecer todos primores
Com amor no corao
Para cantar com os meus irmos
Para cantar com os meus irmos
Para cantar com os meus irmos
8
A terra aonde estou
Ningum acreditou
Dai-me amor, dai-me amor
Dai-me o po do Criador
A minha me que me ensinou
Quem me deu todos primores
Dai-me amor, dai-me amor
Dai-me o po do Criador
A riqueza todos tem
Mas ningum quer acreditar
Dai-me amor, dai-me amor
Livrai-me de todo mal
www.neip.info
9
Marizia minha vida
Para mim acreditar
O azul do firmamento
E as estrelas me guiar
Soberano Pai Eterno
Quem me manda eu cantar
Para eu ter toda firmeza
Para sempre vos amar
A minha me que me ensinou
Que me mandou eu seguir
Para sempre amm J esus
Para sempre eu ser feliz
No devemos esquecer
Do amor que recebeu
Quando chegou nesta casa
A verdade conheceu
10
Eu balano, e eu balano
e eu balano tudo enquanto h
eu chamo o sol, chamo a lua
e chamo estrela
para todos vir me acompanhar
11
Eu estava num palcio
da soberania
Quando vi chegar meu Mestre
Com a Sempre Virgem Maria
www.neip.info
Meu Mestre me falou
Com amor no corao
s para ser meu Filho
E amar os meus irmos
E para ser irmo
preciso ter amor
Amar a Virgem Me
E ao nosso Pai Protetor
E para ter amor
preciso ser irmo
Amar ao Pai eterno
E a Virgem da Conceio
12
Quando tu estiver doente
Que o Daime for tomar
Te lembra do Ser Divino
Que tu tomou para te curar
Te lembrando do Ser Divino
O Universo estremeceu
A floresta se embalou
Porque tudo aqui meu
Eu j te entreguei
Agora vou realizar
Se fizeres como eu te mando
Nunca h de fracassar
Tu j viste o meu brilho
E j sabe como eu sou
Agora eu te convido
Para ires aonde eu estou
www.neip.info
13
Meu pai minha me
E meu mestre ensinador
Todo que falar do mestre
Entre no chiqueirador
Meu pai minha me
E meu mestre zelador
Meu mestre quem me leva
Nas alturas aonde estou
No p deste cruzeiro
Aonde est todo primor
Meu mestre foi cravado
Neste mundo sofredor
Esta estrela que me guia
Aonde est o meu amor
a Estrela do oriente
J esus Cristo Redentor
14
Oh meu Divino Pai
S por vs devo clamar
Tantas vezes vos ofendi
E vs me queira perdoar
Vs me queira perdoar
Que eu pequei por inocente
Porque no tinha certeza
Do nosso Deus Onipotente
O meu Divino Pai
vs que me d luz
www.neip.info
Nunca mais hei de esquecer
Do Santo nome de J esus
O povo to iludido
Por completas iluses
Porque no querem acreditar
Na me de Deus da criao
A laranja uma fruta
Redonda por vossas mos
Vs me entrega com certeza
E eu deixo cair no cho
15
O mestre me chamou
Para com ele eu seguir
Se eu acompanhar-lhe com amor
Ele me mostra o caminho
Procurei o meu J esus
No alto azul do cu
Falei com a Rainha
E saudei Santa Isabel
A virgem Me Me de J esus
Santa Isabel Me de So J oo
Eu peo ao Pai eterno
Que me d o meu Perdo
A minha me to formosa
E boazinha como
Eu amo ao meu J esus
E o Patriarca So J os
www.neip.info
16
Pensamento Positivo
Pensamento positivo
Preste ateno no que veio fazer
O nosso Deus grande
E o teu mestre tem poder
17
Minha me minha rainha
Foi ela que me entregou
Para mim ser jardineiro
No jardim de belas flores
No jardim de belas flores
Tem tudo que eu procurar
Tem primor e tem beleza
Tem tudo que Deus me d
Todo mundo recebe
As flores que vem de l
Mais ningum presta ateno
Ningum sabe aproveitar
Para zelar este jardim
Precisa muita ateno
Que as flores so muito finas
No podem cair no cho
O jardim de belas flores
Precisa sempre aguar
Com as preces e os carinhos
Do nosso Pai universal
www.neip.info
18
A mor eu chamo amor
Amor amor j vem
Amor puro amor
Feliz quem tem
Eu amo o Pai Eterno
Amor tambm a Rainha
Eu amo a J esus Cristo
O mestre que me ensina
Sempre chamo o meu mestre
Porque eu devo chamar
Porque ele nos ajuda
Para todos triunfar
Nosso mestre est aqui
Est ali, est acol
Com o vosso amor
Est em todo lugar
Eu vou cantar eu vou cantar
De joelhos em uma cruz
Eu vou louvar ao Senhor Deus
Foi quem me deu esta luz
Esta luz da floresta
Que ningum no conhecia
Quem veio me entregar
Foi a sempre Virgem Maria
Quando ela me entregou
Eu gravei no corao
Para replantar santas doutrinas
www.neip.info
E ensinar os meus irmos
Eu agora recebi
Este prmio de valor
De So J os e da Virgem Me
De J esus Cristo Redentor
Tenho f de vencer
E ganhar com meus ensinos
Porque Deus soberano
E Ele quem nos determina
20
Pedi fora a meu pai
Ele me deu com amor
Para mim ensinar
Neste mundo pecador
A minha me que me ensinou
Mandou eu ensinar
A todos meus irmos
Aqueles que acreditar
Surubina minha flor
J ardim da minha infncia
A base deste mundo
o verde minha esperana
21
Chamo a fora eu chamo a fora
A fora vem nos amostrar
Treme a terra e balanceia
E vs no sai do seu lugar
www.neip.info
Geme a terra e geme a terra
Geme a terra e treme o mar
Ainda tem gente que duvida
Do poder que vs me d
Aqui dentro da verdade
Tem uns certos mentirosos
Que caluniam os seus irmos
Para se tornar muito vioso
Mais ningum no se alembra
Que chamou o mestre mentiroso
Devagarinho vai chegando
E quem chamou quem vai ficando
22
Firmeza, firmeza, firmeza
Eu peo a Deus
Aplanai meu corao
Eu quero ser um filho seu
Firmeza, firmeza
Eu recebo com alegria
A quem eu peo firmeza
E a sempre Virgem Maria
Firmeza, firmeza
Para seguir na santa luz
A quem eu peo firmeza
ao corao de J esus
Firmeza, firmeza
Firmeza no pensamento
A quem eu peo firmeza
www.neip.info
ao nosso Deus Onipotente
a quem eu peo firmeza
Para ser feliz eternamente
23
Entrei numa batalha
Vi meu povo esmorecer
Temos que vencer
Com o poder do Senhor Deus
A Virgem Me com o poder
Que vs me d
Me d fora e me d luz
E no me deixa derrubar
O Divino Pai Eterno
E a Virgem da Conceio
Todo mundo levantou
Com suas armas na mo
A Virgem me com o poder
Que vs me d
Me d fora e me d luz
E no me deixa derrubar
24
A fora quem me segura
A fora do astral
Ele quem segura todos
Quem quiser acreditar
Esta fora divina
A minha me quem me dar
Sempre eu venho dizendo
Ns devemos se firmar
www.neip.info
A firmeza a paz
seguir nesta retido
Viva a Deus no cu
E a Virgem da Conceio
25
Tangido por uma fora
Suspendi o meu pensamento
Avistei um lindo palcio
Submerso no firmamento
Segui os meus passos em frente
Fui naquela direo
Chegando fui recebido
Como um grande cidado
Dentro daquele palcio
Eu vi uma grande luz
Prostrei-me diante dela
Era o meu Senhor J esus
A Ele eu pedi conforto
Luz para navegar
Pedi-lhe o santo perdo
Fora para trabalhar
A Ele me levou
A uma feliz manso
Botei os olhos enxerguei
A Virgem da Conceio
A ela eu pedi firmeza
E a vossa companhia
Ali fiquei encantado
www.neip.info
De ver tantas maravilhas
Ela Saiu me levando
Me mostrando o vosso amor
Fiquei surpreso e pasmado
Diante do Criador
Me reconcilio ao mau Pai
Peo a vossa beno
Narrei o meu trabalho
Com grande satisfao
26
Aqui entra todos
Entra os sujos e os rasgados
Na casa do meu Pai
S entra os limpos sem pecados
preciso apanhar
Apanhar para obedecer
Que culto sem castigo
Ningum sabe o que vai fazer
Aqui muito srio
Quem quiser que venha ver
Depois que estiver dentro
que vai se arrepender
A fora do meu Pai
Ele bem vem avisando
Quem tiver os meus pecados
Agente firme para ir se limpando
www.neip.info
27
Peo fora, l vem fora
Deus do cu foi quem mandou
J esus Cristo est comigo
Ele meu protetor
J esus Cristo est na terra
Ele bom curador
Ele cura, quem lhe procura
Pois Ele o triunfador
Ele cura, quem lhe procura
Conforme o seu merecer
Que nem todos
Esto na graa, para as curas receber
28
Passarinho est cantando
Descorrendo o A.B.C.
E eu descorro a tua vida
Para todo mundo ver
Passarinho est cantando
Canta na mata deserta
Dizendo para o caador
Voc atira e no acerta
Passarinho verde canta
Bem pertinho para tu ver
Sou passarinho e tenho dono
E meu dono tem poder
Passarinho verde canta
Com alegria e com amor
www.neip.info
Sou passarinho e canto certo
E com certeza aqui estou
29
Chamo o tempo eu chamo o tempo
Para ele vir me ensinar
Aprender com perfeio
Para eu poder ensinar
Os que forem obediente
Tratar de arrepender
Para ser eternamente
Para Deus lhe atender
Depois que o tempo chega
Ningum quis aprender
Depois que refletir
Que vai se arrepender
Firmeza no pensamento
Para seguir no caminho
Embora que no aprenda muito
Aprenda sempre um bocadinho
30
Olhemos para o tempo
Que o tempo desmudou
Minha me que me ensinou
Como Mestre ensinador
Eu vivo neste mundo
Neste mundo pecador
Cumprindo esta misso
De J esus Cristo Redentor
www.neip.info
Eu ensino os meus irmos
Para terem um grande amor
Sigo firme com certeza
Em nosso Pai Criador
31
L vem tempo e l vem tempo
E l vem tempo chegando
Ningum est compreendendo
O que o tempo est dizendo
L vem tempo e l vem tempo
L vem o tempo rolando
Eu agora quero ver
Quem para o tempo est olhando
L vem tempo e l vem tempo
L vem o tempo quebrando
Quem quiser correr que corre
Quem est firme fica olhando
Meu mestre me deu conforto
Para o tempo eu resistir
S fao o que vs manda
E no querem me ouvir
32
A febre do amor
Meu mestre j ensinou
Para vs quem tem firmeza
No nosso pai criador
A roda est girando
www.neip.info
E o tempo vai se passando
o tempo da apurao
Mais ningum est ligando
A roda do amor
Meu mestre quem est mandando
E o que for lhe escutando
Nesta casa vem chegando
No p deste cruzeiro
onde est todo primor
E onde o mestre sofreu
Mais ele no reclamou
Vamos todos se humilhar
Que o mestre est mandando
Quem no seguir com ele
Neste mundo vai ficando
33
O tempo trouxe
Eu afirmei
Que Deus Pai
Soberano Rei
A Virgem mo
De piedade
E nosso mestre
Nos mostra a verdade
Esta verdade
o poder
Eu peo ao meu mestre
Para nos defender
www.neip.info
Vs nos defenda
De todo terror
Vs o chefe
Nosso defensor
34
Estou olhando para o tempo
E vejo o tempo muito srio
L vem tempo, l vem tempo
o tempo do Imprio
Meu mestre nos valei
E no nos deixe esmorecer
fortaleza do mundo
E Rei de todo poder
Em vosso ps estou
Lhe pedindo humilhado
E o que vs vai me dando
Eu recebo conformado
Vamos todos meus irmos
Se firmar neste poder
o tempo da escolha
Este veio foi pr valer
E me sinto satisfeito
Bem alegre e agradecido
Com os ensinos do meu mestre
Que eu tenho recebido
35
Papai velho e mame velha
Vs me d o meu basto
www.neip.info
Sou eu, sou eu, sou eu
Com a minha caducao
At que em fim, at que em fim
At que em fim, eu recebi o meu basto
Pude me levantar
Com a minha caducao
Reduzi meu corpo em p
O meu esprito entre flores
Sou eu, sou eu, sou eu
Filho do rei de amor
Mame velha sempre d
Papai acarinhar
Sou eu, eu sempre digo
Eu nasci em Natal
36
Seio aonde est meu pai
Seio que ele est me vendo
Reconheo a minha me
Eu seio o que estou dizendo
Todos faam por saber
Conhecer o seu valor
Receber a santa luz
Encher seu culto de amor
Todos chegam no salo
Com alegria para cantar
E quando chega o dia prximo
Suspirar para no voltar
www.neip.info
37
Pisei em terra fria
Nela eu senti calor
Ela quem me d o po
A minha me que nos criou
A minha me que nos criou
E me d todos ensinos
A matria eu entrego a ela
E meu esprito ao Divino
Do sangue das minhas veias
Eu fiz minha assinatura
O meu esprito eu entrego a Deus
E o meu corpo a sepultura
Meu corpo na sepultura
Desprezando no relento
Algum em meu nome
Alguma vez em pensamento
38
Ia guiado pela a lua
e as estrelas de uma banda
quando eu cheguei em cima de um monte
eu escutei um grande estrondo
Esse estrondo que eu vi
foi Deus do cu foi quem ralhou
dizendo para todos ns
que tem poder superior
Eu estava passeando
na praia do mar
www.neip.info
escutei uma voz
mandaram-me buscar
A eu botei os olhos
a vem uma canoa
feita de ouro e prata
e uma senhora na proa
Quando ela chegou
mandou eu embarcar
ela disse para mim
ns vamos viajar
Ns vamos viajar
para o ponto destinado
Deus e a Virgem me
quem vai ao nosso lado
Quando ns chegamos
nas campinas destas flores
esta a riqueza
do nosso pai criador
39
Eu canto nas alturas
A minha voz retinida
porque eu sou filho de Deus
e tenho a minha me querida
A minha me que me ensinou
a minha me que me mandou
eu sou filho de vs
eu devo ter amor
www.neip.info
Com amor tudo verdade
com amor tudo certeza
eu vivo neste mundo
sou dono da riqueza
A minha me lua cheia
a estrela que me guia
estando bem perto de mim
junto a mim prenda minha
A riqueza todos tem
mais preciso compreender
no com fingimento
todo querem merecer
40
Tenho gosto e tenho prazer
Nesta grande verdade
Dando glria a meu pai
a minha majestade
No sou grande sou pequeno
Porque assim mau Pai quer
Eu aqui dou os ensinos
De J esus de Nazar
J esus Cristo meu irmo
Desde o dia que nasceu
Agora chegou o tempo
De eu unir por So Irineu
Pai Filho Esprito Santo
Quem vus fala aqui no erra
Meu Pai me d a fora
E minha me domina a Terra
www.neip.info
41
Eu vinha de viagem
Vi uma estrela brilhante
Era os olhos da Rainha
Que estavam me olhando
A muito tempo eu dormia
No podia me acordar
Acordei porque sonhei
Com uma voz a me chamar
Acordei muito assustado
Por est dentro de um salo
Mais estava encostado
A Virgem da Conceio
O Salo era dourado
Cheio de rosas e flores
Agora fiquei sabendo
Que o mestre tem poder
Todos querem ser feliz
Sem querer d o que tem
Eu tambm dou o que meu
Aquele que me convm
Estamos todos reunidos
Aqui dentro do poder
Encostado ao nosso mestre
Que no deixa esmorecer
Estamos dentro da verdade
Para todos ns seguir
www.neip.info
Encostado ao nosso mestre
Que no nos deixa cair
Estamos todos nesta luz
A luz que Deus tanto amou
Somos todos batizados
Por Cristo Nosso Senhor
Estamos recebendo
As ordens est nossa misso
O mestre manda trabalhar
Com amor no corao
42
O Pai Eterno me mandou
Para uma casa eu vim fazer
E colher os meus irmos
Aqueles que me obedecer
Eu cheguei num palcio
Vi o Palcio a brilhar
O meu mestre na minha frente
Ele estava a me ensinar
Eu vi as portas se abrirem
E minha me a caminhar
Louvando aos seus filhos
Aqueles que lhe procurar
Oh! minha me a vs eu peo
Com carinho e com amor
Que me mostre o caminho
Que eu no sei para aonde eu vou
www.neip.info
Minha me a vs peo
Me bote a Santa beno
Eu amo a vs no cu
E ao meu J uramidan
Todos Seres me acompanham
Com amor e alegria
Me alegra o corao
E a Sempre Virgem Maria
43
Luiz ouvi
Esta voz me chamar
Eu segui bem direitinho
Fui com meu mestre me encontrar
No meio de um salo
Ele mandou eu me sentar
Numa bonita poltrona
L na vida espiritual
bom se ter amigos
Mais o melhor se firmar
Que a coisa est muito sria
E preciso ns rezar
Eu convido os meus irmos
De todo meu corao
]Para ns seguir na paz
Com o nosso Rei J uramidam
44
No dia seis de janeiro
Dia dos Santos Reis
www.neip.info
Vou fazer minha viagem
Para o Rio de J aneiro
As guas todas corriam
O navio se desprendia
O povo todo chorava
Eu sorria de alegria
Era um dia sombrio
De muita ventilao
Vou sair das guas escuras
Vou entrar nas guas brancas
Entrei nas guas brancas
Vi primores e maravilhas
Meu corao se abriu
De alegria ele sorriu
Quando eu cheguei no cais
Fui bem recebido
Por diversas pessoas
Consideravam-me amigo
Firmei o meu pensamento
Com grande acompanhamento
Encontrei uma banda de msica
Fazendo suas referncias
Quando eu cheguei no palcio
Fiz minha obrigao
Avistei uma excelncia
Um excelentssimo ancio
Fiz minha continncia
www.neip.info
Prestou-me bem ateno
Pedi-lhe a Santa Luz
De vs o santo perdo
45
Somos todas perfilhadas
Na bandeira galuada
Escute a voz que vai sair
Que somos todas numeradas
Somos todas oficiais
Do castelo principal
Fomos todas reunidas
Nesta noite de natal
A nossa Me nos d valor
E nos entrega todos primores
Em ver os vossos filhos
Me dando grandes louvores
O Mestre fica contente
Quando v grande harmonia
Implorando ao Pai Eterno
Que nos d mais alegria
Vamos todos meus irmos
Bem seguir nesta misso
No encaremos sofrimento
Que vosso pai tem compaixo
J esus Cristo o nosso Mestre
Que sofreu por ns na cruz
Ele sofreu com o vosso amor
www.neip.info
Para nos dar a Santa Luz
Peo a vs que me d foras
Para eu combater com a matria
Que meu esprito do Divino
E a matria da terra
46
Chuva do astral
Disciplina na terra
Todos se preparem
Para ver o fim da guerra
Eu sigo em frente
Com minha Diviso
Porque estou preparado
Com as armas na mo
Meu Pai me deu fora
Me entregou o poder
Para eu viver neste
Mundo e saber me defender
47
A Rainha da Floresta
Foi quem me deu esta luz
Para mim cantar com os meus irmos
No dia que nasceu J esus
Para nos remir e salvar
Ele nasceu neste dia
Vamos todos festejar
A J esus filho de Maria
www.neip.info
J esus filho de Maria
Com o divino Senhor Deus
Vamos cantar com amor
No dia que J esus Nasceu
Ele nasceu neste dia
Para vir nos ensinar
Para ns cantar com alegria
Nesta noite de natal
48
Olhei para o firmamento
Vi uma estrela brilhando
Fui me aproximando dela
Era meu mestre me olhando
Firmei meu pensamento
Meu mestre eu enxerguei
Meu filho para onde vai
Vs me mostre os meus defeitos
Teus defeitos so estes
Bota todos para trabalhar
De grande a pequenos
Todos precisam rezar
Sois reis em tua casa
Presidente e comandante
Dentro do teu comando
Tu pode disciplinar
Dentro do teu comando
Tu pode disciplinar
Com f na Virgem Me
www.neip.info
E pronto eu para te ajudar
Se todos trabalhassem
Procurassem me ouvir
Todos viviam bem
E se orgulhavam em ser feliz
O meu mestre me entregou
O lugar de assessor
Sendo a mesma funo
Que o nosso irmo ocupou
Vs quem me entende
Eu no vim me oferecer
Sei que vs tem poder
Pode fazer e desfazer
Tu no veio te oferecer
Todos tem que entender
Na terra vale quem tem saber
E aqui quem merecer
50
S quero que me escute
No tem alterao
Cumpra com sua obrigao
Dentro da sua misso
Cada um que se corrija
Procure se tem defeito
Eu ti coloquei aqui
Ningum pense que pr enfeite
Todos pode olhar
www.neip.info
Quem quiser pode falar
Eu ti coloquei aqui
Pr dar um respeito ao meu lar
51
Eu fiz uma viagem
Que meu Mestre me mandou
A sempre Virgem Maria
Foi quem me acompanhou
Perguntou se eu tinha coragem
De cair dentro do mar
Quando eu disse que tinha
Ele mandou eu pular
Preparei-me e pulei
Com amor no corao
Do mundo eu me desprendi
Eu vou morrer na solido
Meu Mestre me confortou
E J esus Cristo Redentor
Quando eu senti a meu lado
Uma fora superior
Segui minha viagem
Pavor nenhum no senti
Terminado a viagem
Quando eu cheguei no vi
Quando eu fui abrindo os olhos
Vi as luzes clarear
Estava dentro de um salo
J unto com meu General
www.neip.info
A tinha um trapaceiro
Querendo me conduzir
Eu disse a meu General
Ele no quis consentir
Ele foi me abraando
Para com ele eu seguir
Meu General me segurou
Disse este veio foi pra qui
Eu digo aos meus irmos
Que todos ns devemos crer
Que dentro do poder Divino
Tem tudo pr ns ver
52
O General J uramidan
Os seus trabalhos no Astral
Entra no reino de Deus
Que tem fora divinal
Este reino excelente
para todos os meus irmos
Os que forem obedientes
E limpar seus coraes
Neste reino de meu Pai
para mim com todos entrar
Os que obedecer os ensinos
E depois que se humilhar
Este reino de cristal
um poder superior
Meu pai quer seus filhos limpos
Pois ele o Rei de amor
www.neip.info
VII QUADROS
Quadro I MIGRAES NA AMAZNIA (REGIO NORTE) E NAS OUTRAS REGIES DO BRASIL
1950/1970
Unidades da
Federao e
IMIGRAO (1) EMIGRAO (2) SALDO MIGRATRIO
Regies 1950 1960 1970 1950 1960 1970 1950 1960 1970
PAR
AMAPA
AMAZONAS
RORAIMA
ACRE
RONDNIA
71.770
30.063
49.605
13.844
29.309
29.061
108.407
21.222
53.020
5.836
29.024
31.552
171.11
37.500
65.676
8.326
25.762
48.501
81.432
117
53.378
116
13.313
299
89.611
935
54.465
984
18.666
1.658
130.395
6.389
76.071
3.134
29.479
5.981
- 9.662
29.946
- 3.773
13.728
15.996
28.894
18.796
20.287
- 1.445
4.852
10.358
29.894
40.716
31.111
- 10.395
5.192
- 3.717
42.520
TOTAIS
REGIO NORTE
223.652 249.061 356.876 148.655 166.319 251.449 74.997 82.742
105.427
NORDESTE 948.029 1.400.215 1.666.646 1.920.209 3.627.480 5.139.604 - 936.180 - 2.227.265 - 3.472.958
SUDESTE 2.663.266 4.147.701 6.603.818 2.668.524 3.898.944 5.963.629 - 5.258 248.757 640.189
SUL 857.542 1.977.763 2.886.972 395.634 802.694 1.521.434 461.908 1.175.069 1.365.538
CENTRO-OESTE 359.434 864.661 1.665.945 73.297 304.141 304.141 286.137 720.697 1.361.804
Fonte: FIBGE Anurio 1978. (1) Naturais de outras unidades da Federao, presentes na Unidade da Federao indicada
(2) Naturais da Unidade da Federao, presentes em outras unidades
www.neip.info
EXPANSO E CONCENTRAO DEMOGRFICA NO ACRE
POR MICRO-REGIES HOMOGNEAS E MUNICPIOS
DCADA 1970/1980
POPULAO RESIDENTE VARIAO RELATIVA DO
1970 1980
CRESCIMENTO 1970/1980 %
1. ALTO J URU (002)
CRUZEIRO DO SUL
FEIJ
MANCIO LIMA
TARAUAC
2. ALTO PURS (003)
ASSIS BRASIL
BRASILIA
MANOEL URBANO
PLCIDO DE CASTRO
RIO BRANCO
SENADOR GUIOMARD
SENA MADUREIRA
XAPURI
TOTAIS
36.716
15.886
6.952
24.016
83.570
1.098
11.208
4.406
5.258
70.959
8.117
18.243
13.341
132.630
216.200
50.475
19.613
7.368
28.427
105.883
1.366
13.937
5.966
9.342
117.113
9.728
23.592
14.701
195.745
301.628
37,4
23,4
5,9
18,3
26,6
24,4
24,3
35,4
77,6
65,0
19,8
29,3
10,1
47,5
39,5
www.neip.info
Quadro III
ORGANOGRAMA
Fonte: Organizao Geral do Seringal Rio do Ouro, Arquivo da Comunidade.
Trabalhos doutrinrios
Borracha Agricultura Administrao Geral Equipe de Cura
Farinhadaa
Engenho
Manuteno e
Transporte
Documentao de
Bens e Viagens
Escola
Biblioteca
Medicina
Natural
Mquinas e
Motores
Compras e
vendas
Equipe de
Professores
Dentista
Prtico
Carpintaria
Distribuio de
Mercadorias e
Armazenamento
Artesanato
Farmcia
Fabricao de
Embarcaes
Escolinha de
Msica e Canto
Equipe de
Massagens
www.neip.info
QUADRO IV
Colocao Igarap Adultos Crianas Estradas rvores Roado Construo Criao
Nova
Esperana
Trena
10 11 21 4174 21 ta. 2 casas
1 defum.
22 gal.
1 porco
Estrela do
Norte
Trena
1 - 5 1069 12 ta. 2 casas
1 defum
22 gal.
1 porco
Estrela
Dalva
Rio Ouro 4 6 7 1448 6 ta. 1 casa
1 defum
12 gal.
So Paulo Rio Ouro 4 4 7 1329 8 ta. 3 casas
1 defum
-
Santa Rita Rio Ouro 2 1 6 1141 4 ta. 1 casa
1 defum
20 gal.
Santa Lara Rio Ouro 3 1 7 1471 4 ta. 1 casa
1 defum
3 gal
Sete Estrela
Trena
3 1 2 335 15 ta. 1 casa 20 gal.
10 patos
So J os Trena 3 7 6 1311 5 ta. 1 casa 6 gal.
1 porco
Vitria Trena 3 6 7 1555 4 ta. 1 casa 12 gal.
1 porco
Santa Luzia Rio
Edimari
2 2 6 559 1 ta. 1 casa
1 defum
-
Trena Rio
Edimari
2 6 5 548 3 ta. 1 casa
1 defum
15 gal.
Novo
Horizonte
Rio
Edimari
2 1 4 587 1 ta. 1 casa
1 defum
-
xxxxx Rio
Edimari
1 2 - - 8 ta. 1 casa
1 defum
-
xxxxx Rio
Edimari
2 -
- - 4 ta. 2 casas
1 defum
-
Santa Maria Rio
Edimari
4 6 6 828 5 ta. 1 casa -
So
Bernardo
Santa
Maria
2 6 3 540 12 ta. 2 casas
1 defum
3 gal.
Santo
Antonio
Prata 6 7 1541 4 ta. 1 casa
1 defum
8 gal.
So
Sebastio
Rio do
Ouro
30 23 18 4061 65 ta. 11 casas
1 defum
80 gal.
1 porco
So Pedro Trenas 14 14 - - 30 ta. 3 casas
1 engenho
30 gal.
2 porcos
J ardim Trena 6 5 - - 155 ta. 3 casas 20 gal.
Fonte: Organizao Geral do Seringal Rio do Ouro, arquivo da Comunidade.
Obs.: Mais duas colocaes form abertas, sendo o trabalho interrompido em virtude
www.neip.info
QUADRO V
ESPECIFICAO DA AGRICULTURA POR COLOCAO
Colocao Macach.
Covas
Arroz
Quilo
Cana
Covas
Milho
Quilo
Banana
Toceira
Caf
Ps
Abacaxi
Ps
Taioba
Touc.
Frutas
Mudas
Nova
Esperana
18.000 30 2.000 5 300 2.000 300 - 200
Estrela do
Norte
6.000 16 1.200 5 1.130 50 150 - 130
Estrela
Dalva
3.000 30 200 10 30 - 200 - 50
So Paulo 13.000 - 300 - 50 - - - 100
Santa Rita 2.500 10 300 5 - - - - 100
Santa Lara 1.500 - 120 - 30 - - - 80
Sete
Esterla
8.300 30 200 10 40 40 - - 150
So Jos 2.000 20 200 - 100 - 200 - 100
Vitria 5.000 - 300 - - - - - 110
Santa Luzia - - - - - - - - -
Trion 1.000 25 - 5 - - - - -
Novo
Horizonte
- - - - - - - - -
Novo
xxxxxx
3.000 - - - 80 150 - - 100
Xxxxxxxxxx
x
- - - 15 - - - - -
Santa Maria 200 10 50 - - - - - -
So
Bernardo
1.000 30 - 6 - - - - -
Xxxxxxxxxx
xxx
- - - - - - - - -
So
Sebastio
20.000 - 1000 - 350 - 2000 - 120
So Pedro 74.000 - 5000 50 200 450 - 1000 -
Jardim 59.000 120 1000 20 400 50 500 - 100
Fonte: Organizao Geral do Seringal Rio do Ouro, arquivo da Comunidade.
www.neip.info
QUADRO VI
TOTAL DA PRODUO E BENFEITORIAS
Plantios:
macacheira
banana
cana
abacaxi
caf
batata doce
taioba
fruteiras
arroz
milho
ps
touceiras
covas
ps
mudas
covas
touceiras
mudas
quilos
quilos
217.500
2.170
11.820
3.350
2.690
500
1.000
1.410
321
131
Criaes:
porcos
galinhas
patos
cabeas
cabeas
cabeas
7
350
10
Construes:
casa de moradia
casa de farinha
(forno de prensa)
engenho
canoas
batelo
2.300 m
2
320 m
2
150 m
2
cap. 7 pessoas
cap. 35 pessoas
36
4
1
7
10
Cobertura:
alumnio
palha
cavaco
m
2
m
2
m
2
840
954
986
Explorao de
borracha:
Desmatamento:
estradas de seringa
seringueiras
para agricultura
para campos
terra firme e vrzea
exploradas
tarefas (1)
tarefas
117
22.497
336
30
Fonte: Resumo Geral, Arquivo da Comunidade do Seringal Rio do
Ouro.
(1) um hectare corresponde 4 tarefas
IX NDICE TERMINOLGICO
Acomodao (do corpo e da mente), 98
www.neip.info
Anomia, 22, 23, 93, 99.
Antropologia do Espao, 33, 102.
Apreenso Etolgica, 6.
Arbitrrio (coisas escolhidas de modo), 99.
Arritmia, 5.
Assessor, 57.
Assessor, 57.
Astral, 37, 69; linha do, 88; planos do, 72; planos evolutivos do, 62; psicodramas ou
psicoterapia espontnea vividos no, 107; viajar pelos planos do, 100; vista no, 89.
Atipismo criador, 109
Atos psquicos coletivos, 44.
Ato sexual (carter pecaminoso), 106.
Autoscopia, 33, 34; conceituao, 74; como parte do rito de renovao, 108.
Aviamento (desativao do sistema), 23.
Banisteriopsis Caapi, 4.
Caldeamento psicolgico, 7, 8.
Cantos do Exlio, 16, 17, 18, 20, 44: projeto de reencantamento nos, 93.
Cerimnia, 10.
Ciclo Onrico, 68 ss, 84, 98.
Coeso (das religies caboclas) 23, 25; do grupo, 90, 106.
Compadrio, 104
Comunho, 85, 86, 87, 100; das energias individuais, 112.
Condio humana, 97, 100,110.
Condies etolgcas (novas), 44.
Condutas (comportamentos coletivos), 12,40,41,45,97,102; ritualizaos, 45.
Conjuntos culturais, 7,8,36.
Conscincia (coletiva), 45,78,106.
Conscincia individual, 45; se sente mais plana, 98.
Construo cognitiva, 7.
Contexto Macrossocial, 53.
Criatividade humana, 114.
Crise (momentos de), 105.
www.neip.info
Cultura indgena (traos da), 1.
Custo social, 114.
Dana, 66 ss.
Desencantamento (e reencantamento do mundo), 9.
Desordem, 11, 42; confirmar a (negar a), 16.
Desorganizao, das populaes primitivas e rsticas, 21; grau de, 22; social, 99.
Determinismo socioeconmico, 111
Dialogia, 113,43,16,17.
Disciplina da vontade, 94.
Disritmia, 11,12,14.
Dominncia, 21,22.
Duplo, 74; desdobramento do, 108,109.
Durao, 6,7,8; arte de viver a, 26; individual, 34; interior, 12; real, mtica e em si,
26,27; simultaneidade ou, 18.
Duraes, simultneas, 102.
Ecologia, dos atos, 26,31 ss; natural e sobrenatural, 102.
Ecolgico, cultural (planos), 14,15,16.
Educao, esttica do homem, 109.
Efervescncia (social), 12; do NS, 90,113.
Eldorado, 13.
Eletroencefalogrficas (alteraes), 5.
Energia Social, 91.
Envolvimento do corpo, arte e mente, 53,63.
Epilepsia, 25.
Escopolamina, 4,5.
Estados, atpicos de conscincia e percepo, 37.
Estados, mentais coletivos, 90,102,106.
Estados, mentais e atos psquicos coletivos, 5,6,45,84.
Estados, mentais paradoxais, 62,64.
Estados, mentais e atos psquicos adaptativos, 12 de transcendncia, 98.
Estase, 5,14,15,25,42,68 ss.
Estrutura de plausibilidade, 3,12,14,16,18,25; alternativa, 96.
www.neip.info
Estrutura simblica e org. social, 48
Eterno retorno, 37,112,116
Expanso e concentrao, 18 ss
Experincias alucinatrias, 13,40,53,71,100; de homogeneidade, 13,18,32,96,102;
os que perderam, 40 necessidade de novas, 40 ainda vigentes, 26 extticas,
27 reconstituio ou criao, 102; experincias ritualizadas, 16
xodo e Exlio, comportamentos de, 19,30; homologia dos conjuntos, 14;
movimentos e estados de, 15; cantos e vozes, 18,19 ss; xodo rural, 40,41
xtase 1,5,16,25,69; xtase 2,70; individual ou coletivo, 14
Famlia arquetpa, 101
Fatos psquicos e sociais totais, 98
Fatos sociais (como estruturas), 25; reveladores, 18
Fenmenos mgico-religiosos (sincrticos), 23
Festejo (s), 63,107; bailado, 63.
Fisiolgico, efeito, 99.
Folha rainha, 88.
Fora, especial (pensada socialmente), 99; e tempo elementos nucleares, 100
Formas de dominncia (sucesso), 21
Formaes sociais intermedirias, 5,36,114.
Frente extrativista, 115.
Funo social do sonho, 40.
Grupos mgico-religiosos, 45, 102
Harminia, 4.
Hierarquia, militar, 104,109
Hierofania (s), 60,98,102.
Hinrio (s), 78 ss.;
Hino (s), 78.
Histrico-estrutural, plano, 15
Homeostasia, 34.
Homogeneidade (descontnua), 36.
Ideologia (do grupo), 95
Idiossincrasia, 109
www.neip.info
Inchamento populacional (processo de) 20.
Inconsciente (palavras de) 105
Integrao (do homem com ambiente) 98
Interdio sexual 106
Interpenetrao (entre sociedade da irmandade e mundo fora da irmandade), 93
Intoxicao (por escopolamina), 5.
Irmandade (s), 60,91,93,95,102; descrita por Galvo, 23; sistemas sociais totais, 23.
J agube, 88.
J ogo simblico, 109
J uru-Purus (rea cultural), 4.
Libido, 105; teoria da, 106.
Linha do Daime, 66, 86 ss.
Mapas cognitivos, 12.
Mapeamento da realidade, 53.
Marcha, 66.
Mazurca, 66.
Mecanismo (s) psicoculturais, 103.
Messianismo, 90.
Metabolismo, 16.
Metfora (com base invertida), 93.
Milenarismo, 90.
Mutiro, 92.
Minorias cognitivas, 8,16,113.
Mirao, 71,74,89.
Modelo, de e para, 104
Modelos socioculturais, 40,44,45,46 ss, 114.
Movimentos, messinicos, 22; e paradas, 26; rsticos, 23.
Mudana metablica, 99.
Multiplicao da mente, 95.
Msica, terapia pela, 78.
Mutiro, 92.
Normalidade cognitiva, 103.
www.neip.info
Nova J erusalm, 93.
Ontologia (s) duas, 28.
Ordem (s), de significados universais, 15; sistemticas, 15; e de ordem (estados
biopsquicos), 25.
Ordenaes (ou ordenamento) corpreo-temporais, 31 ss,36,67.
Padres, de institucionalizao, 82; e socializao, 83.
Palcio de J uramidan, 37,39,112.
Parentesco divino, 91.
Passar a limpo, 109.
Peia, 69.
Penetrao capitalista, 20 ss,40.
Pensamento simblico, modelador das interpretaes, 84; dupla fonte do, 38,111.
Percepo, abertura da...da realidade, 93; corpreo-temporal, 102; espao-temporal,
35; sensorial, 13.
Permeabilidade, dupla (do mundo onrico e do universo mtico), 105.
Poluio, da sociedade, 93.
Populaes primitivas, 47; contato direto ou indireto com, 25; passagem das, 100.
Populaes rsticas e urbanizadas, 12.
Prazer sexual, um presente, 107.
Prece, 76 ss.
Princpio de realidade, 44; de prazer, 44; genealgico, 104.
Produo, formas de, 21.
Projeto de ordem, 12,14,15,18,37,39,45,53,90 ss,96.
Propriedade coletiva rural, 52.
Proxmica, 33,38.
Psicanlise, 38.
Psicodrama (ou psicoterapias espontneas), 107.
Psicofsicos (efeitos), 100.
Psychotria Spruce, 4.
Pulses libidinosas, 36.
Quinina, a ao da, 4,5.
Racional, e irracional, 38,39; e simblico, 39.
www.neip.info
Rainha da Floresta, 56,89,101,108.
Realidade do sonho, e sonho da realidade, 12,13.
Realismo antropolgico, 103.
Reforo, dar, 64,70.
Regresso, 110.
Reimplantar, doutrinas, 88.
Reinterpretao, 8,10,15,44,55,58,99; traos culturais e ecolgicos 16,17; dos
sacramentos, 84.
Rejeio, do presente mundo, 93.
Relaes biolgicas com corpo humano e analgicas com outros animais, 99;
Relaes biolgicas, reforadores das estruturas de plausibilidade, 104;
Relaes biolgicas de parentesco, predomnio das, 104;
Relaes biolgicas simblico-estruturais, 104;
Relaes biolgicas biopsquicos, 107.
Religio, revelador dinmico, 8; e sociedade (conexo), 20,67.
Renovao, da existncia, 102; rito de, 110,112.
Reorganizao sociocultural, 35,36.
Reorientao, 8.
Repetio, 109.
Revelador(es), inclusive, 8; sociais, 114.
Ritmia, 11.
Rito(s), individuais ou coletivos, 10; carter comunicativo do, 11; de renovao, 108;
de confisso, 85; de despoluio (invade tudo), 93.
Ritual(ais), 2,27; de passagem, 9,11,15,16,114; de transcendncia e despoluio,
104 ss; nos discursos realizados, 42; prever o, 16; tipos de, 16.
Sacramentos, 84 ss.
Sagrado, de respeito, 106.
Santas Doutrinas, 84 ss.
Sentimentos coletivos, que emergem, 99.
Ser Divino, 94.
Seringal, modelos caboclo e do apogeu, 30,32.
Sesses esotricas e exotricas, 63 ss.
www.neip.info
Signo(s), de Salomo, 64; motivados e arbitrrios, 99; manifestos, 105.
Smbolos, arbitrrios, 88; da libido (tendem a mudar de funo), 105; motivados, 88.
Simbolismo, social e onrico, 96.
Simbolizao, 16.
Sincretismo, 8,9.
Sndrome patolgica, 11.
Sistema(s) biolgico(s), 98; cultural, 45,47; de J uramidan, 17,50,98,100,102;
simblicos, 18.
Sociedade global, 8,14,22,43,44,91.
Sociedades primitivas e intermedirias, princpios que regem, 13.
Socioestrutural(ais), variaes, 97.
Sonho(s): associados a transes extticos, 13,14;
bastidores do, 14;
coletivos, 40;
condutores, 18;
da realidade, 40;
e realidade, 16;
espontneos ou estimulados, 13;
iluso, 72,73,89;
revelao, 72,73;
tergicos, 110.
Sono paradoxal, 62; conceituao, 70,72.
Taquicardia, 5.
Telepatina, 4.
Tempo, 100,101;
aspectos do, 27;
biogrfico, 108;
cclico, 102;
descontnuo, 27,28;
noes arcaicas e histricas, 27;
noo dicotnica, 27;
psicolgico, subjetivo/cclico, 28
www.neip.info
--espao onrico, 44
--espao de viglia, 44
repetitivo, 27,28.
Teodicia, do sofrimento, 93.
Teoria, da informao, 102.
Terapia, coletiva narcoanaltica, 77.
Transes extticos, 18,37; sagrados, 90; xamnico individual e coletivo, 75.
Trocas, entre sonhos individuais e mitos, 91; simblicas, 18,26; e trocas simblicas,
101.
Ubiquidade, 109.
Urbanizao, 21,22; fases da, 19,20.
Vida espiritual, 91.
Vida material, 91.
Viso do mundo, 103.
Vises extticas, 33,74,108.
Viso xamnica, do Padrinho Sebastio, 76.
Vo(s) xamanstico (s) ou xamnico(s), 37,71.
Vozes do xodo, 45; cantos do exlio e, dialogia, 113.
www.neip.info
X- BIBLIOGRAFIA
ABREU C. R-Txa ru-ni-ku-i Gramtica, Textos e Vocabulrio Caxinaw. Rio.
Prefeitura de Tarauac, Ed. Sociedade Capristano de Abreu, 1941, p. 47,78.
ALBARRACIN, L., Contribucin Al Estudo de Los Alcaloides Del Yag, Bogot,
1925, p. 4.
ALVES, Isidoro. O Carnaval Devoto. Petrpolis, Vozes, 1980 p. 10
ALVIN, J ., Musicoterapia, Buenos Aires, Paids, 1967, p.. 78,116.
ANDRADE. J ., Msica e Dana na mirao do Santo Daime Musices Aptatio,
Collectanea Musicas Sacras Brasilien; Institut Fur Hymnologische und
musikethnologische Studien Roma, Urbaniana University Press, 1981 (306-308),
p. 66,81.
AQUINO, T. V., Os Caxinav: de seringueiro caboclo a peo acreano. Dissertao
de Mestrado em Antropologia Social, Braslia. Fundao Universidade de
Braslia, 1977, p. 23.
AUGRS M., A dimenso simblica, Petrpolis, Vozes, 1980, p. 68
BALANDIER, Georges, As Dinmicas Sociais. S.P, Difel, 1976, p. 8,114.
BASTIDE , R., As religies Africanas no Brasil, S. P, Pioneira, 1971, p. 8,45.
__ Sociologia e Psicanlise, S.P, Edusp / Melhoramentos, 1974, p 38,105.
__ Sociologia do Sonho, In: Callois & Von grunebaum, org. O Sonho e as
Sociedades Humanas. S.P, Francisco Alves, 1978, pg. 13,116.
___ Antropologia Aplicada, S P, Ed. Perspectiva, 1976, pg. 91,115.
BASTOS, Abguar. Introduo de DA SILVA, Clodomir Monteiro, As Comunidades
do Santo Daime, SURVEY REALIZADO ENTRE AGOSTO E NOVEMBRO DE
1978. Acre, mimeografado, 1979, p. 6,7,90,44.
___Os cultos Mgico-Religiosos no Brasil. S.P, Ed. Hucitec, 1979, p. 48.
BENCHIMOL. S., Amaznia, Um pouco-antes e alm-depois. Manaus, Coleo
Amazoniana 1, Ed. Umberto Calderare, 1977, p 30,40.
BENEDICT , R., Padres de Cultura. Lisboa, Ed. Livros do Brasil, s/d, p. 66.
www.neip.info
BERLINK & HOGANA, O Desenvolvimento Econmico do Brasil e as Migraes
Internas para So Paulo: Uma anlise Histrica, Caderno do I.F.C.L. 3,
Unicamp, 1974, p 22.
BERGER P., Um Rumor de Anjos. Petrpolis, Vozes, 1973, p. 93.
___A Construo Social da Realidade, Petrpolis, Vozes, 1978.
BERGSON, Henri, La Pense et le Mouvant S, Essais et Conf. 1933 (2 ed.) Paris
Alcan, 1934. Pg. 6,28,29.
BOURDIEU, P., A Economia das Trocas Simblicas, S.P. Perspectiva, 1974, p 109.
BRISTOL, Molvin l., The Psichotropic Banisteriopsis Among the Sibundou of
Colombia. Botanical Museum Leaflets, Harvard University, vol. 21 n5, pp. 113-
140, Cambridge, 1966, p 4
CALLOIS, R., O homem e o Sagrado, Lisboa, Ed. 70, 1979, p. 97
CAZENEUVE, J ., Sociologia Du Rite, Paris, Puf, 1971, pg. 97.
CHANCE, M., Sociedade hednicas e sociedades agonsticas entre os primatas, ,
in: Piattelli-Palmirini, Org. Para Uma Antropologia Fundamental de primata ao
Homem, continuidade e rupturas. S.P., Cultrix, 1978, V. I (82-97).
CHAUMEIL, J . E. P., Chamanismo Yagua in Amazonia Peruana Chamanismo. Vol.
II, n4, pg. 35-64 Centro Amaznico de Antropologia Y Aplicacin Prctica,
Lima, Peru 1979, pg. 47.
CHEN, L. & K. K. CHEN, Harmine, the Alkaloid of caapi. Quarterly J ournal of
Pharmacy and Pharmachology, vol. 12, pg. 30,38, 1939, 4
COELHO, V. P. Os alucingenos e o mundo simblico, SP, Edusp, 1976, 68
COSTA Craveiro, A conquista do Deserto Ocidental, Rio, Brasiliana, 1974, p. 92,115.
DE HEUSCH, LUC, Estructura y Praxis, , Mxico, Siglo XXI, Ed., 1973, 74.
___Introduo a uma Ritologia Geral. In: Para uma Antropologia Fundamental,
MORIN. E., S.P. Cultrix, 1978, p 10,11,63,90,91.
DE HOLANDA, Srgio Buarque. Viso do Paraso. S. P, Ed. Nacional, Secretaria de
Cultura, Cincia e Tecnologia, 1977, p 12.
DELEUZE, Gilles, Nietzsche e a filosofia, Rio, Ed. Rio, 1976, p 116.
www.neip.info
DEMENT, W. C., A psicofisiologia do sonho. In: R. Caillois & G. B. Von
Grunebaum, Org. O sonho e as Sociedades Humanas, Rio Francisco Alves,
1978 (51-78) p 72.
DER MARDEROSIAN, A . H., A . V. Pinkle & M. F. Dobbins IV, Native use anda
occurrence of N. N-Dimetrhltryptamine in the leaves of Banisteriopsis Rusbyana.
Am. J . Pharmacy 140: 137-147. 1968 p. 4,47.
DER MARDEROSIAN, A . H., A . Kensinger, I. Cho & Goldistein. The use and
hallucinatory principles of a psychoactive beverage of the cashinahua tribo
Amazon Basin) Drug Dependence 57-14, 1970, p.4.
DOUGLAS, M., Pureza e Perigo. S.P. Perspectiva, 1976, p 27,42.
DURKHEIM, E., Les formes elementaires de la vie Religieuse, Paris, PUF, 1968,
pg. 25,92,99,110,111.
DUVIGNAUD, J ., Sociologia da Arte. Rio, Forence, 1970
___Sociologia do Comediante, Rio, Zahar, 1972, pg. 108,109.
___Anomia, In Sociologia, Rio, Forense, Universitria, 1974, p. 109.
___El Lenguaje Perdido, Mxico, El. Siglo XXI, 1977, p. 37,114.
ELGER, F., Ueber das Vorkommen Von Harmin in Einar Sudamerikanischen Liane
(yag), Helv. Chim. Acta, 11. Pp. 162-166. 1928 p 4.
ELIADE, M., Mythes, Rves et Mustres, Paris, Ides /gallimard, 19576, p 60.
___Aspects Du Mythe, Paris, Gallimard, 1963, p. 26,37.
___Mito e Realidade. , S.P. Perspectiva, 1972, pg. 61,110.
___Iniciaciones Msticas, Madrid Taurus, ed., 1975, p. 76.
___Tratado de Histria das Religies, Lisboa, Cosmos, 1977, p. 60
___O Mito do Eterno Retorno, Lisboa, Ed. 70, 1978, p. 28,37,109.
EY, H., Tratado de Psiquiatria, Barcelona, Toray-Masson, 1972, p. 77.
FERRARINI, S. A ., Transertanismo, Rio, Vozes, 1979, pg. 40.
FIRTH, R. Elementos de Organizao Social, Rio, Zahar, 1974, p 84,104.
FISCHER, C. C., Estdio sobre el princpio activo del Yag. Tese indita,
Universidad Nacional, Bogot, 1923, p. 4.
www.neip.info
GALVO, E., Santos e Visagens, S.P., Ed. Nacional, 1976, pg. 23,24.
___Encontro de Sociedades, Rio, Paz e Terra, 1979, pg. 47.
GEERTZ C., A interpretao das Culturas, Rio, Zahar, 1978, pg. 53,104.
GLUCKMANN, M., Ensays on the Ritual of Social Relation, Manchester, 1962, p. 42.
GNERRE, M. Projeto de Pesquisa, UNICAMPS, Fotocpia, 1977, pg. 58,59.
GRECHI, M., CPI da Terra, in Varadouro, Rio Branco, novembro, 1977, pg. 94.
GUNN, J . A ., The Harmine Group of Alkaloids, In: Hefter, B. Ed. Handbuch der
Experimentellen Pharmakologia, Berlin, 1937, pg. 4.
GURVITCH, G. Determinismes Sociaux et Libert Humanine, Paris, Puf, 1955.
GURVITCH, G. A vocao atual da sociologia, Lisboa, Cosmos, 1979, pg.
5,40,44,46,78,90.
HALLOWELL, A . I., O Papel dos Sonhos na Cultura Ojibwa, in: R. Caillois & G. E.
Von Grunebaum, Org. O Sonho e as Sociedades Humanas, Rio, Francisco
Alves, 1978 (191-214) pg. 82.
HERSKOVITS, Melville J ., Antropologia Cultural (Man na Hisworks) S.P. Ed. Mestre
J ou, 1973, pg. 8,70.
HOLMSTEDT, B & LINDGREN, J . E. RIVIER, L., Ayahuasca, caapi ou Yag
bebida alucinognica dos ndios da bacia amaznica, Cincia e Cultura, S.
Paulo, 31 (10) pp.1125-1128, 1979, pg. 4.
IANNI, Octvio, Ditadura e Agricultura, Rio, Civilizao, 1979, pg. 20,22,30.
IANNI, Octvio, Relaes de Produo e Proletariado Rurais in: Vida Rural e
Mudana Social, One Tomas Zsmrelsanyu et Oriovoaldo Queda, S.P. Nacional,
1979, pg. 110,111.
J OUVET, M., Neurobiologia do Sonho,in: Piattelli-Palmarini, Org., Para uma
Antropologia Fundamental, O crebro humano e seus universais, S.P. Cultrix,
1978, V II (96-121)
KANT, E., Crtica da Razo Pura, S. Paulo, E.P. Brasil, 1965, pg. 28.
KOFMAN, S., El Nacimiento Del Arte. B. Aires, Siglo XXI, 1973, pg. 112.
KRISTEVA, J ., Le Mot, Le Dialogue Et le Roman, in: Recaerches pour une
semanalyse, Paris, Edition du Soleil, 1969, pg. 113.
www.neip.info
LEACH, E. R., Repensando a Antropologia, S.P., Perspectiva, 1974, pg.27.
LEVI-STRAUS, C;. O Pensamento Selvagem, S.P. Ed. Nacional, 1970, pg. 28.
___ , Antropologia Estrutural, Rio, Tempo Brasileiro, 1967, pg. 91.
LINDGREN, J . E. e Holmstedt, B. Cromatografia de gs e espectografia de massa,
Cincia e Cultura, S.Paulo 3 (8); 871-875, pg. 4.
LINDIGREN & RIVIER, Ayahuasca, the south American Hallucinogemic Drink na
ethnobotanical and chemical investigation. In: Economic botany, 1972, pg.
2,4,47,68.
LOWIE, R., Religiones Primitivas, Madrid, Alianza Editorial S. 1976, pg. 66.
MATURANA, H. Estratgias Cognitivas, In: Piptelelli Palmarini, Org. Para Uma
Antropologia Fundamental, o crebro seus universais, S.P. Cultrix, vol. III (148-
172), 1978, pg. 103.
MAUSS, M., Introduccin a la Etnografia. Istmo, 1974, pg. 9.
___ Sociologia e Antropologia, S.P., Edusp, 1975, pg. 99,111.
___ , A Prece, , Mauss, Antropologia, S.P. 1979, (102-146) pg. 77.
MELATTI, D. M. E MELATTI J . C., Relatrio sobre os ndios Marubo, Fundao
Universidade de Braslia, 1975, pg. 59.
MERLAU-PONTY, M., Sinais, Trad. Fernando Gil, Lisboa, Minotauro, 1962, pg.
26,28,29.
METRAUX, A ., Religion y Magias Indgenas de Amrica del Sur, Madrid, Aguillar,
1973, pg. 85,111.
MOLES, A ., Ecologia dos Atos, Trad. Heloysa de Lima Dantas, In: Pattelli-Palmarini,
Org., Para uma Antropologia Fundamental, S.P. Cultrix, 1978 (160-165) pg.
31,32,33,34,102.
MONOD, J ., O Acaso e a Necessidade, Trad. Bruno Palma e Pedro P. de Sena
Madureira, Petrpolis, Vozes, 1976, pg. 7.
MONTEIRO, D. T., Os Errantes do Novo Sculo, S.P., Duas Cidades, 1974, pg.
36,111,114.
www.neip.info
MORIN, E., O Cinema ou o Homem Imaginrio, Lisboa, Ed. Moraes, 1970.
___ O Enigma do Homem, Rio, Zahar, 1975, pg. 25.
___ In: Discusso, Luc de Heusch, Introduo a uma Ritologia Geral. In: MORIN 7
PIATTELLI-PALMARINI, Org. Para uma Antropologia Fundamental. Trad.
Heloysa de Lima Dantas. S. Paulo, Cultrix, 1978, pg. 10,25.
MOTTA, R., Bandeira de Alair; A Festa de So J oo e os Problemas do
Sincretismo Afro-Brasileiro. In: Cincia & Trpico, Recife, 3 (2): 191-2, dezembro
de 1975, pg. 8.
___ R., Protena, Pensamento e Dana. In: Comunicaes, Recife, UFPE/PIMES,
1977, pg. 8,112.
___ Renda, emprego, nutrio e religio, In: Cincia & Trpico, Recife, FJ NPS,
J ulho/Dezembro, 1977, pg. 53.
NARANJ O, P., Psychotropic Properties of the Harmala Alkaloids. In: Efron, Daniel,
E., Ethonopharmacologic Search for Psychoactive Drugs, pp. 389-391,
Washington, 1967, pg. 4,48.
Etnofarmacologia de las plantas psicotrpicas da Amrica, Terapia, 24. Pp.
5/62, 1969, pg. 59.
NIETZSCHE, P., A origem da tragdia, Lisboa, Guimares & Cia. Ed., 1978, pg.
116.
NIETSCHKE, A ., Comportamento e Percepo. In: Galdamer H. G. & Vogler P.,
Org. Ed. Alem, Trad. E Org. Ed. Brasileira, Egon Schaden, Nova Antropologia,
Antropologia Cultural, o Homem e sua existncia biolgica, social e cultural, S.P.
EDUSP, 1977 (88-105), pg. 31,34,35,37,102.
NUNES PEREIRA, Casa das Minas, Petroplis, Vozes, 1979, pg. 18,49,59,68.
OCONNELI, F. D. e Lynn, E. V. The alkaloid of Banisteriopsis inebrians Morten.
J ournal of the Amrica Pahrmacological Association, vol. 42, p. 753, 1953, pg.
4.
OLIVEIRA FILHO, J . P., O caboclo e o Brabo, revista Encontros com a Civilizao
Brasileira, Rio de J aneiro, Civilizao Brasileira, V. 11, Maio, 1979 (101-140)
pg. 29,30.
www.neip.info
ORO, A . P., Tukna: vida ou morte, Porto Alegre, Vozes, 1978, pg. 147.
OTTO, R., The Idea of the Holy, Inglaterra, 1965, pg. 60.
PERROT, E. & HAMET, R., Le yag, plante sensorielle des indiens de la region
amazonienne de lEquateur et la Colombie, Compt Rendue de la Academie de
Sciences, vol. 184, p. 1266. Paris, 1927, pg. 4.
___ Yag, ayahuasca, caapi et leur alcaloide: tlpathine ou yageine, Travaux lab.
Mat. Med. Pharm. Galn, 18, parte 2, 1, Paris, 1927 b., pg. 4.
PERSON, D., Estudos de Ecologia Humana. S.P. Martins, 1970, pg. 21,22.
PRANCE, G. T. & PANCE, E., Hallucination in Amazonia. In: Garden J ournal, 20, pp.
102-107, 1970, pg. 4,47,68.
PRANCE G. T., Notes on the use of planta hallucinogens in Amazonian Brasil. In:
Econ. Botany, 24, pp. 62-68. 1970, pg. 4,47.
QUEIROZ, M. I. P. de, O messianismo no Brasil e no Mundo, S.P. Alfa-mega, 2
ed., 1977, pg. 9,22,23,36,114.
RADCLIFFE-BROWN A . R., Estructura y Funcin en la Sociedade Primitiva,
Barcelona, Ed. Pennsula, 1972, pg. 67.
REICH, Wilhelm, Materialismo Dialtico e Psicanlise, Editorial Presena, s/d. pg.
38,39.
REICHEL-DOLMATOFF, G. O Contexto Cultural de Um Alucingeno Aborgene
Banisteriopsis Caap, Trad. Maria Helena Villas Boas. In: Coelho Penteado Vera,
Org. Os Alucingenos e o Mundo Simblico. S. Paulo, Edusp, 1976, pg.
4,14,25,44,103.
RIBEIRO, Darcy, Os ndios e a civilizao, Rio de J aneiro, Zahar, 1979, pg. 11,15.
SCHADEN, Egon, A Antropologia da Comunicao e a Cultrua, In: FREIRE Gilberto
& MOTTA Roberto. Org. Trpico & Saneamento, solos, etc. Recife, Ed.
Universitria, Universidade Federal de Pernambuco, 1978, pg. 36.
SCHULTES, R. E., The Idently if the Malpighiaceous Narcotics of South Amrica,
Botanical Museum Leaflets. Harvard University, vol 18, pp. 1-56, Cambridge,
1957, pg. 4.
www.neip.info
___ Pharmacognosy: 1: J ungle search for New drug plants in the Amazon; 2: Native
narcotics of the new world; 3: Botany attacks the hallucinogens. The
pharmaceutical sciences, third lecture series, pp. 138-185, 1960, pg. 4.
___ The plant kingdon and hallucinogens, bulletin on narcotics, Vol XXI, n 3, J ulhe-
Setembr, 1969, a . pg. 4.
___ Hallucinogens of plant origin, science, vol. 163, pp. 245-254, Washington, 1969
b. pg. 4.
SEITZ, A ., Etnopharmacologic search psychoactive drugs, us Departament of
health, education and welfare, pp. 315-338, 1969.
SHARON, Douglas, El chaman de los cuatro vientos, Mxico, Siglo XXI, 1980, pg.
26.
SORENSEN, A . P., Multilingualism in the northwest amazon, Amrican
Anthropologist, 65 (1967) pp 670-84), pg. 4,54.
SPENCE, R., Notes of a botanist on the Amazon and Andes, 2 vols. Londes, 1908.
VELHO, G., Individualismo e cultura Notas para uma Antropologia da Sociedade
Contempornea, Zahar, Rio, 1981, pg. 53.
VIVES, D. S., Laudo de Exames ns. 10169 e 10658 Departamento de Polcia
Federal, Diviso de Represso e Entorpecentes, pg. 74,4
WAGLEY, C., Uma comunidade Amaznica, S.P., Ed. Nacional, 1977, pg. 20.
WEBER, M., Ensaios de Sociologia, Rio, Zahar, 1969, pg. 87.
OUTRAS FONTES
- BOLETIM DE EFEMRIDES ACREANAS, DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA E
ESTATSTICA DO ACRE, J ANEIRO DE 1971.
- J ORNAL VARADOURO, RIO BRANCO, N 14, ANO II, 1979.
Você também pode gostar
- Questionário II - Sociologia Da EducaçãoDocumento4 páginasQuestionário II - Sociologia Da EducaçãoLiliane Lopes88% (43)
- Chamadas UdvDocumento1 páginaChamadas UdvFred LoboAinda não há avaliações
- UniÃo Do VegetalDocumento9 páginasUniÃo Do Vegetaljasalazar2008185693% (28)
- União Do VegetalDocumento6 páginasUnião Do VegetalFabiano Fortes Prates89% (9)
- Santo Daime - O Evangelho Segundo Sebastiao MotaDocumento222 páginasSanto Daime - O Evangelho Segundo Sebastiao MotaHorus 9391% (22)
- Jardim Das Flores O Livro Do VegetalDocumento134 páginasJardim Das Flores O Livro Do VegetalCarlos Eduardo Pereira94% (31)
- Relatório Final de Estágio Terapia Humanista ExistencialDocumento17 páginasRelatório Final de Estágio Terapia Humanista ExistencialAteliê Coisas de MariaAinda não há avaliações
- Estatuto Do Mestre - Alto Santo/CICLUDocumento13 páginasEstatuto Do Mestre - Alto Santo/CICLUguedes_filho917683% (6)
- Estória de Uma Persistente e Corajosa Mariposa Que Durante Toda A Sua Existência Dedicou Sua Vida A Dançar Cada Vez Mais Próxima de Uma Estrela Encantadora Chamada LupunamantaDocumento2 páginasEstória de Uma Persistente e Corajosa Mariposa Que Durante Toda A Sua Existência Dedicou Sua Vida A Dançar Cada Vez Mais Próxima de Uma Estrela Encantadora Chamada Lupunamantaludierludy80% (5)
- BORGES, Marcelo. Carta Aberta - O Racismo Da União Do VegetalDocumento6 páginasBORGES, Marcelo. Carta Aberta - O Racismo Da União Do VegetalJohn Winston67% (6)
- José Gabriel Da Costa: Trajetória de Um Brasileiro, Mestre e Autor Da União Do VegetalDocumento9 páginasJosé Gabriel Da Costa: Trajetória de Um Brasileiro, Mestre e Autor Da União Do VegetalRacquell Silva Narducci50% (2)
- Chamadas de ABERTURA Dos Trabalhos Da Fraternidade Rosa Da VidaDocumento2 páginasChamadas de ABERTURA Dos Trabalhos Da Fraternidade Rosa Da VidaAmaury JustinoAinda não há avaliações
- Baixinha - Mensageiro de CuraDocumento91 páginasBaixinha - Mensageiro de CuraLuciane KnapickAinda não há avaliações
- Leo Artese - Curandeiro, Céu Da Lua CheiaDocumento132 páginasLeo Artese - Curandeiro, Céu Da Lua CheiaLuciane KnapickAinda não há avaliações
- Carta de Princípios Das Entidades AyahuasqueirasDocumento2 páginasCarta de Princípios Das Entidades Ayahuasqueirasguedes_filho9176100% (3)
- A Religiao Do SentirDocumento10 páginasA Religiao Do SentirEloi Di Magalhães100% (1)
- O Uso Da Ayahuasca e A Experiência de Transformação, Alívio e Cura Na UDVDocumento152 páginasO Uso Da Ayahuasca e A Experiência de Transformação, Alívio e Cura Na UDVguedes_filho9176100% (11)
- A Estrela Do Norte Iluminando Até o SulDocumento163 páginasA Estrela Do Norte Iluminando Até o SulRafaelCabral100% (16)
- Encantamento Udv RosaDocumento21 páginasEncantamento Udv RosaLucas Nascimento100% (1)
- HARMONIA CÓSMICA (Cifras)Documento8 páginasHARMONIA CÓSMICA (Cifras)Thales Favoretto PozzerAinda não há avaliações
- 00 - Hinário Pad. Zé Ricardo - Harmonia CósmicaDocumento18 páginas00 - Hinário Pad. Zé Ricardo - Harmonia CósmicaOneris GrünewaldAinda não há avaliações
- Farmacologia Humana Da Hoasca - Estudos ClínicosDocumento4 páginasFarmacologia Humana Da Hoasca - Estudos Clínicosguedes_filho9176Ainda não há avaliações
- Hinário de CuraDocumento128 páginasHinário de Curasanjayfm50% (2)
- Album Dos 50 Anos Da Madrinha Chica Na Missão Do Mestre DanielDocumento15 páginasAlbum Dos 50 Anos Da Madrinha Chica Na Missão Do Mestre Danielguedes_filho9176Ainda não há avaliações
- O Uso Da Ayahuasca e A Experiência de Transformação, Alívio e Cura Na UDVDocumento152 páginasO Uso Da Ayahuasca e A Experiência de Transformação, Alívio e Cura Na UDVguedes_filho9176100% (11)
- Farmacologia Humana Da Hoasca - Estudos ClínicosDocumento4 páginasFarmacologia Humana Da Hoasca - Estudos Clínicosguedes_filho9176Ainda não há avaliações
- A Piramide de Maslow A Luz Da Teoria Das Quatro Castas and PDFDocumento127 páginasA Piramide de Maslow A Luz Da Teoria Das Quatro Castas and PDFCultura AnimiAinda não há avaliações
- Encontro Do Mestre Irineu Com A AyahuascaDocumento39 páginasEncontro Do Mestre Irineu Com A Ayahuascaguedes_filho9176Ainda não há avaliações
- Experiências Com A (Pá) Lavra Na União Do VegetalDocumento185 páginasExperiências Com A (Pá) Lavra Na União Do VegetalFelipe Facklam100% (1)
- O Mensageiro de Deus 2Documento183 páginasO Mensageiro de Deus 2Manoel Sena CostaAinda não há avaliações
- Tempos e Saúde Na União Do VegetalDocumento162 páginasTempos e Saúde Na União Do VegetalSaulo Saulo100% (1)
- Encantamento e Disciplina Na Uniao Do Vegetal - RosaDocumento21 páginasEncantamento e Disciplina Na Uniao Do Vegetal - RosaTxai Evan Brandao100% (1)
- Bailados Da Barquinha - Wladimir SenaDocumento12 páginasBailados Da Barquinha - Wladimir Senaguedes_filho9176100% (1)
- "Beber Na Fonte" Adesão e Transformação Na União Do VegetalDocumento273 páginas"Beber Na Fonte" Adesão e Transformação Na União Do VegetalLenço De Seda Cecab100% (1)
- Santo Daime O Professor Dos Professores - Tese - UFCE - 2008Documento233 páginasSanto Daime O Professor Dos Professores - Tese - UFCE - 2008Wagner Lira100% (1)
- Chão Da RosaDocumento29 páginasChão Da RosaEduardo TronconiAinda não há avaliações
- José Gabriel Da CostaDocumento13 páginasJosé Gabriel Da Costamktb195764Ainda não há avaliações
- Oaska PDFDocumento180 páginasOaska PDFHelio Marcellus Honorio CarlosAinda não há avaliações
- Cartilha Do Departamento de Pesquisa Plantio e Cultivo de Mariri e ChacronaDocumento23 páginasCartilha Do Departamento de Pesquisa Plantio e Cultivo de Mariri e ChacronaRicardo Nascimento100% (1)
- UDV Perguntas e RespostasDocumento4 páginasUDV Perguntas e Respostaskroedel100% (3)
- Ordem Nova FlorDocumento56 páginasOrdem Nova FlorFlavioTeixeira100% (2)
- Aniversário Do Mestre Gabriel 2011Documento20 páginasAniversário Do Mestre Gabriel 2011yyzmiller100% (1)
- José Gabriel Da CostaDocumento9 páginasJosé Gabriel Da Costaguedes_filho9176100% (6)
- Universidade de Brasília Pós-Graduação em Geografia: Território E Rede Da União Do VegetalDocumento517 páginasUniversidade de Brasília Pós-Graduação em Geografia: Território E Rede Da União Do VegetalHelder MunayAinda não há avaliações
- Caderninho - Sois Baliza - Germano Guilherme (Cifrado)Documento55 páginasCaderninho - Sois Baliza - Germano Guilherme (Cifrado)CaianBruschetta100% (3)
- Maravilha Divina - Chico NôDocumento31 páginasMaravilha Divina - Chico NôShirley Santos ArarunaAinda não há avaliações
- Glauco OChaveirinho ChaveiraoDocumento96 páginasGlauco OChaveirinho Chaveiraoblobon100% (1)
- Hinário O Justiceiro Padrinho SebastiãoDocumento322 páginasHinário O Justiceiro Padrinho SebastiãoEverton de Medeiros80% (5)
- Santo Daime Revelado Portugues BR - Gideon Dos LakotaDocumento300 páginasSanto Daime Revelado Portugues BR - Gideon Dos LakotaRoselí Linhares100% (2)
- Religiosidade PopularDocumento394 páginasReligiosidade PopularPalaiós Arqueologia100% (1)
- R - D - Titi Joao LubengoDocumento144 páginasR - D - Titi Joao LubengoNicolas RafaelAinda não há avaliações
- Um Estudo de Antropologia Visual Sobre Pescadores Artesanais Do Sertão Norte-MineiroDocumento52 páginasUm Estudo de Antropologia Visual Sobre Pescadores Artesanais Do Sertão Norte-MineiroJoyceBarbosaAinda não há avaliações
- Manjacos Da Guiné, Saberes e Tradição Bissau Sobre Discursos, Cultura, No Período Colonial e P ColonialDocumento53 páginasManjacos Da Guiné, Saberes e Tradição Bissau Sobre Discursos, Cultura, No Período Colonial e P ColonialTony BarbosaAinda não há avaliações
- PacificarDocumento201 páginasPacificarMiguel JuniorAinda não há avaliações
- Travassos 1984 XamanismoEMusicaEntreOsKayabi PDFDocumento366 páginasTravassos 1984 XamanismoEMusicaEntreOsKayabi PDFAna LuAinda não há avaliações
- A Invenção Da SociedadeDocumento107 páginasA Invenção Da SociedadeBeatriz RodriguesAinda não há avaliações
- Edmundo Fonseca Machado JuniorDocumento123 páginasEdmundo Fonseca Machado JuniorAline MouraAinda não há avaliações
- CRUZ - 2017 - Quando A Terra Sair PDFDocumento143 páginasCRUZ - 2017 - Quando A Terra Sair PDFUgo MaiaAinda não há avaliações
- Antônio Geraldo e o Barquinho Santa CruzDocumento6 páginasAntônio Geraldo e o Barquinho Santa Cruzguedes_filho9176Ainda não há avaliações
- Resolução Conselhos CEMACT/CFEDocumento19 páginasResolução Conselhos CEMACT/CFEguedes_filho9176Ainda não há avaliações
- A Morte É Uma Festa. O Velório DaimistaDocumento4 páginasA Morte É Uma Festa. O Velório Daimistaguedes_filho9176Ainda não há avaliações
- DPI Programação GeralDocumento1 páginaDPI Programação Geralguedes_filho9176Ainda não há avaliações
- A Viagem de TufiDocumento3 páginasA Viagem de Tufiguedes_filho9176Ainda não há avaliações
- Santo Daime, Transcendência e CuraDocumento11 páginasSanto Daime, Transcendência e Curaguedes_filho9176100% (2)
- Rosana Oliveira - Dissertação Sobre BarquinhaDocumento124 páginasRosana Oliveira - Dissertação Sobre Barquinhaguedes_filho9176100% (1)
- Barquinha - Espaço Simbólico de Uma Cosmologia em ConstruçãoDocumento9 páginasBarquinha - Espaço Simbólico de Uma Cosmologia em Construçãoguedes_filho9176Ainda não há avaliações
- Saudade É o Amor Que Fica!Documento2 páginasSaudade É o Amor Que Fica!guedes_filho9176100% (1)
- Poesia de Saturnino Brito Do NascimentoDocumento11 páginasPoesia de Saturnino Brito Do Nascimentoguedes_filho9176Ainda não há avaliações
- José Gabriel Da CostaDocumento9 páginasJosé Gabriel Da Costaguedes_filho9176100% (6)
- O Oposto de JesusDocumento2 páginasO Oposto de Jesusguedes_filho9176100% (1)
- Farmacologia Humana Da Oasca - Chá Preparado de PlantasDocumento15 páginasFarmacologia Humana Da Oasca - Chá Preparado de Plantasguedes_filho9176100% (5)
- O Canto Do UirapuruDocumento13 páginasO Canto Do Uirapuruguedes_filho9176100% (2)
- Cristiane Albuquerque Web - 01Documento178 páginasCristiane Albuquerque Web - 01guedes_filho9176100% (2)
- Contrantes e Des em Uma Tradição AmazônicaDocumento315 páginasContrantes e Des em Uma Tradição Amazônicaguedes_filho9176100% (1)
- O Túmulo Do MestreDocumento3 páginasO Túmulo Do Mestreguedes_filho9176Ainda não há avaliações
- Matrizes Do Santo DaimeDocumento13 páginasMatrizes Do Santo Daimeguedes_filho917650% (2)
- Revista Cult - Entrevista - Bruno LatourDocumento5 páginasRevista Cult - Entrevista - Bruno LatourMárcio Renato Teixeira BenevidesAinda não há avaliações
- Organizações em Rede PDFDocumento96 páginasOrganizações em Rede PDFMarcos SouzaAinda não há avaliações
- Criminalidade, Sociedade, Violência e Controle SocialDocumento19 páginasCriminalidade, Sociedade, Violência e Controle SocialRodrigo MirandaAinda não há avaliações
- A Ética Hacker Pekka HimanenDocumento18 páginasA Ética Hacker Pekka HimanenGentil Serra Jr.Ainda não há avaliações
- Transporte Coletivo Passageiros M4Documento32 páginasTransporte Coletivo Passageiros M4Tiago Gonzaga De PaulaAinda não há avaliações
- Um Outro Quarto PoderDocumento36 páginasUm Outro Quarto PoderJuliana Lima de SouzaAinda não há avaliações
- Ortiz. Durkheim - Arquiteto e Herói Fundador PDFDocumento20 páginasOrtiz. Durkheim - Arquiteto e Herói Fundador PDFHelaysa K. G. PiresAinda não há avaliações
- A Educação Como Socialização em EDDocumento21 páginasA Educação Como Socialização em EDCaim BAinda não há avaliações
- Manuel Fernandes - Escolas de SambaDocumento172 páginasManuel Fernandes - Escolas de SambaArthur Antonovitch100% (1)
- Jogo de CorpoDocumento341 páginasJogo de CorpoAknaton Toczek SouzaAinda não há avaliações
- Noções Basicas CRDocumento11 páginasNoções Basicas CRBinAinda não há avaliações
- Tráfico de Cativos e Diáspora Africana No Mundo AtlânticoDocumento9 páginasTráfico de Cativos e Diáspora Africana No Mundo AtlânticoAna ArêdesAinda não há avaliações
- Resumo Da Conferência de JomtienDocumento4 páginasResumo Da Conferência de JomtienVersilei Margareti Ramos RamosAinda não há avaliações
- Emile DurkheimDocumento5 páginasEmile DurkheimDébora LimaAinda não há avaliações
- Revista Da Cinemateca Brasileira n.2 PDFDocumento158 páginasRevista Da Cinemateca Brasileira n.2 PDFbergzauberAinda não há avaliações
- AAnálise Institucional Revisão Conceitual e Nuances Da Pesquisa-Intervenção No BrasilDocumento19 páginasAAnálise Institucional Revisão Conceitual e Nuances Da Pesquisa-Intervenção No BrasilJenne GamaAinda não há avaliações
- STC - Dicas de TrabalhoDocumento7 páginasSTC - Dicas de Trabalhoefasonia100% (2)
- Atividade Sociologia 3 SérieDocumento4 páginasAtividade Sociologia 3 SérieValéria SouzaAinda não há avaliações
- Aantropologia Como CiênciaDocumento11 páginasAantropologia Como CiênciaJoséAugustoNogueiraAinda não há avaliações
- Conceituado ComunidadeDocumento12 páginasConceituado ComunidadeCláudia MartinsAinda não há avaliações
- Dossiê Cavalo MarinhoDocumento178 páginasDossiê Cavalo MarinhoHacsa OliveiraAinda não há avaliações
- Manual 3242Documento38 páginasManual 3242Orlando LoureiroAinda não há avaliações
- Monografia - Currículo Escolar Na Unidade de EnsinoDocumento53 páginasMonografia - Currículo Escolar Na Unidade de EnsinoJose JesusAinda não há avaliações
- Livro PosTudo PalavraAberta SiteDocumento121 páginasLivro PosTudo PalavraAberta Sitepabloluck8Ainda não há avaliações
- Arqueologia Do Passado Contemporaneo - RUIBALDocumento7 páginasArqueologia Do Passado Contemporaneo - RUIBALAndré AraújoAinda não há avaliações
- Relatório Lewin - 12 Homens e Uma SentençaDocumento12 páginasRelatório Lewin - 12 Homens e Uma Sentençamil cursoAinda não há avaliações
- Negociação e Gestão de ConflitosDocumento228 páginasNegociação e Gestão de ConflitosAndre AmaralAinda não há avaliações