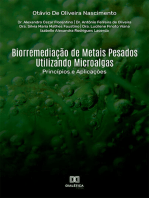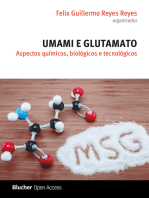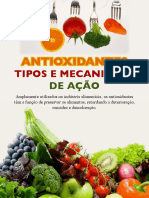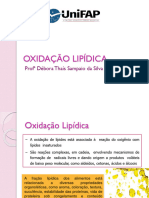Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
30255
30255
Enviado por
Lila SantosDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
30255
30255
Enviado por
Lila SantosDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Quim. Nova, Vol. 29, No.
4, 755-760, 2006
R
e
v
i
s
o
*e-mail: valeria_ramalho@yahoo.com.br
ANTIOXIDANTES UTILIZADOS EM LEOS, GORDURAS E ALIMENTOS GORDUROSOS
Valria Cristina Ramalho
*
e Neuza Jorge
Departamento de Engenharia e Tecnologia de Alimentos, Instituto de Biocincias, Letras e Cincias Exatas, Universidade
Estadual Paulista, Rua Cristvo Colombo, 2265, 15054-000 So Jos do Rio Preto - SP, Brasil
Recebido em 8/6/04; aceito em 6/5/05; publicado na web em 01/12/05
ANTIOXIDANTS USED IN OILS, FATS AND FATTY FOODS. Lipid oxidation is certainly one of the most important alterations
that affect both oils or fats and foods that contain them. It is responsible for the development of unpleasant taste and smell in foods,
making them unsuitable for consuming. The use of antioxidants permits a longer useful life of these products. This work presents
a bibliographic review of research carried out in order to evaluate the antioxidant activity of natural or synthetic substances used in
the conservation of food lipid. Among such substances, the following antioxidants are highlighted: butylated hydroxyanisole (BHA),
butylated hydroxytoluene (BHT), tertiary butylhydroquinone (TBHQ), propyl gallate (PG), tocopherols, phenolic acids and isolated
compounds from rosemary and oregano.
Keywords: lipid oxidation; natural antioxidants; synthetic antioxidants.
INTRODUO
Com a finalidade de inibir ou retardar a oxidao lipdica de
leos, gorduras e alimentos gordurosos, so empregados compos-
tos qumicos conhecidos como antioxidantes.
Os lipdios so constitudos por uma mistura de tri, di e
monoacilgliceris, cidos graxos livres, glicolipdios, fosfolipdios,
esteris e outras substncias. A maior parte destes constituintes
oxidvel em diferentes graus
1
, sendo que os cidos graxos insaturados
so as estruturas mais susceptveis ao processo oxidativo
2
.
A oxidao lipdica responsvel pelo desenvolvimento de
sabores e odores desagradveis tornando os alimentos imprprios
para consumo, alm de tambm provocar outras alteraes que iro
afetar no s a qualidade nutricional, devido degradao de vita-
minas lipossolveis e de cidos graxos essenciais, mas tambm a
integridade e segurana dos alimentos, atravs da formao de com-
postos polimricos potencialmente txicos
3-5
.
Os lipdios podem ser oxidados por diferentes caminhos:
Reaes hidrolticas
As reaes hidrolticas so catalisadas pelas enzimas lipase ou
pela ao de calor e umidade, com formao de cidos graxos livres
6
.
Oxidao enzimtica
A oxidao por via enzimtica ocorre pela ao das enzimas
lipoxigenases que atuam sobre os cidos graxos poliinsaturados,
catalisando a adio de oxignio cadeia hidrocarbonada poliinsa-
turada. O resultado a formao de perxidos e hidroperxidos
com duplas ligaes conjugadas que podem envolver-se em dife-
rentes reaes degradativas
5,7
.
Fotoxidaco
O mecanismo de fotoxidaco de gorduras insaturadas pro-
movido essencialmente pela radiao UV em presena de
fotossensibilizadores (clorofila, mioglobina, riboflavina e outros)
que absorvem a energia luminosa de comprimento de onda na fai-
xa do visvel e a transferem para o oxignio triplete (
3
O
2
), gerando
o estado singlete (
1
O
2
)
8
.
O oxignio singlete reage diretamente com as ligaes duplas
por adio formando hidroperxidos diferentes dos que se obser-
vam na ausncia de luz e de sensibilizadores, e que por degradao
posterior originam aldedos, lcoois e hidrocarbonetos
5,9
.
Autoxidaco
o principal mecanismo de oxidao dos leos e gorduras
8
.
Farmer et al.
10
propuseram uma seqncia de reaes inter re-
lacionadas para explicar o processo de autoxidaco dos lipdios
demonstrada na Figura 1.
Como pode ser observado, a autoxidaco dos lipdios est as-
sociada reao do oxignio com cidos graxos insaturados e ocorre
em trs etapas:
Iniciao ocorre a formao dos radicais livres do cido graxo
devido retirada de um hidrognio do carbono allico na mol-
cula do cido graxo, em condies favorecidas por luz e calor
11
.
Propagao os radicais livres que so prontamente suscept-
veis ao ataque do oxignio atmosfrico, so convertidos em
outros radicais, aparecendo os produtos primrios de oxidao
Figura 1. Esquema geral do mecanismo da oxidao lipdica
756 Quim. Nova Ramalho e Jorge
(perxidos e hidroperxidos) cuja estrutura depende da nature-
za dos cidos graxos presentes. Os radicais livres formados
atuam como propagadores da reao, resultando em um pro-
cesso autocataltico
11
.
Trmino dois radicais combinam-se, com a formao de pro-
dutos estveis (produtos secundrios de oxidao) obtidos por
ciso e rearranjo dos perxidos (epxidos, compostos volteis
e no volteis)
5,8
.
Para evitar a autoxidao de leos e gorduras h a necessidade de
diminuir a incidncia de todos os fatores que a favorecem, mantendo
ao mnimo os nveis de energia (temperatura e luz) que so respons-
veis pelo desencadeamento do processo de formao de radicais li-
vres, evitando a presena de traos de metais no leo, evitando ao
mximo o contato com oxignio e bloqueando a formao de radicais
livres por meio de antioxidantes, os quais, em pequenas quantidades,
atuam interferindo nos processos de oxidao de lipdios
12
.
HISTRICO SOBRE O USO DE ANTIOXIDANTES
O uso de antioxidantes na indstria de alimentos e seus meca-
nismos funcionais tm sido amplamente estudados
13
.
O retardamento das reaes oxidativas por certos compostos
foi primeiramente registrado por Berthollet, em 1797, e depois es-
clarecido por Davy
14
, em 1817.
O curso da rancificao de gorduras permaneceu desconhecido
at Duclaux demonstrar que o oxignio atmosfrico era o maior agen-
te causador de oxidao do cido graxo livre. Vrios anos mais tarde,
Tsujimoto descobriu que a oxidao de triglicerdios altamente
insaturados poderia provocar odor de rano em leo de peixe
14
.
Wright, em 1852, observou que ndios americanos do Vale de
Ohio preservavam gordura de urso usando casca de omeiro. Esse
produto foi patenteado como antioxidante 30 anos mais tarde
14
.
O conhecimento atual das propriedades de vrios produtos qumi-
cos para prevenir a oxidao de gorduras e alimentos gordurosos co-
meou com estudos clssicos de Moureu e Dufraise. Durante a I Guerra
Mundial e pouco depois, estes pesquisadores testaram a atividade
antioxidante de mais de 500 compostos. Esta pesquisa bsica, combi-
nada com a vasta importncia da oxidao em praticamente todas as
operaes de manufatura, desencadeou uma busca por aditivos qumi-
cos para controlar a oxidao, que ainda hoje est em curso
14
.
Das centenas de compostos que tm sido propostos para inibir
a deteriorao oxidativa das substncias oxidveis, somente alguns
podem ser usados em produtos para consumo humano.
Na seleo de antioxidantes, so desejveis as seguintes pro-
priedades: eficcia em baixas concentraes (0,001 a 0,01%); au-
sncia de efeitos indesejveis na cor, no odor, no sabor e em outras
caractersticas do alimento; compatibilidade com o alimento e f-
cil aplicao; estabilidade nas condies de processo e armaze-
namento e o composto e seus produtos de oxidao no podem ser
txicos, mesmo em doses muitos maiores das que normalmente
seriam ingeridas no alimento
14
.
Alm disso, na escolha de um antioxidante deve-se considerar
tambm outros fatores, incluindo legislao, custo e preferncia
do consumidor por antioxidantes naturais
15
.
CLASSIFICAO E MECANISMO DE AO
Segundo Bailey
14
, os antioxidantes podem ser classificados em
primrios, sinergistas, removedores de oxignio, biolgicos, agen-
tes quelantes e antioxidantes mistos.
Os antioxidantes primrios so compostos fenlicos que pro-
movem a remoo ou inativao dos radicais livres formados du-
rante a iniciao ou propagao da reao, atravs da doao de
tomos de hidrognio a estas molculas, interrompendo a reao
em cadeia
16
. Frankel
17
apresentou o mecanismo de ao represen-
tado pela Figura 2.
O tomo de hidrognio ativo do antioxidante abstrado pelos
radicais livres R
e ROO
com maior facilidade que os hidrognios
allicos das molculas insaturadas. Assim formam-se espcies ina-
tivas para a reao em cadeia e um radical inerte (A
) procedente
do antioxidante. Este radical, estabilizado por ressonncia, no tem
a capacidade de iniciar ou propagar as reaes oxidativas.
Os antioxidantes principais e mais conhecidos deste grupo so
os polifenis, como butil-hidroxi-anisol (BHA), butil-hidroxi-
tolueno (BHT), terc-butil-hidroquinona (TBHQ) e propil galato
(PG), que so sintticos, e tocoferis, que so naturais
18
. Estes l-
timos tambm podem ser classificados como antioxidantes biol-
gicos
14,18
.
Os sinergistas so substncias com pouca ou nenhuma ativida-
de antioxidante, que podem aumentar a atividade dos antioxidantes
primrios quando usados em combinao adequada com eles. Al-
guns antioxidantes primrios quando usados em combinao po-
dem atuar sinergisticamente
14
.
Os removedores de oxignio so compostos que atuam captu-
rando o oxignio presente no meio, atravs de reaes qumicas
estveis tornando-os, conseqentemente, indisponveis para atua-
rem como propagadores da autoxidao. cido ascrbico, seus
ismeros e seus derivados so os melhores exemplos deste grupo.
O cido ascrbico pode atuar tambm como sinergista na regene-
rao de antioxidantes primrios
14,19
.
Os antioxidantes biolgicos incluem vrias enzimas, como
glucose oxidase, superxido dismurtase e catalases. Estas substn-
cias podem remover oxignio ou compostos altamente reativos de
um sistema alimentcio
14,20
.
Os agentes quelantes/seqestrantes complexam ons metlicos,
principalmente cobre e ferro, que catalisam a oxidao lipdica. Um
par de eltrons no compartilhado na sua estrutura molecular promo-
ve a ao de complexao. Os mais comuns so cido ctrico e seus
sais, fosfatos e sais de cido etileno diamino tetra actico (EDTA)
14,21
.
Os antioxidantes mistos incluem compostos de plantas e ani-
mais que tm sido amplamente estudados como antioxidantes em
alimentos. Entre eles esto vrias protenas hidrolisadas, flavonides
e derivados de cido cinmico (cido cafico)
14
.
ANTIOXIDANTES MAIS UTILIZADOS EM ALIMENTOS
Antioxidantes sintticos
BHA, BHT, PG e TBHQ so os antioxidantes sintticos mais
utilizados na indstria de alimentos.
A estrutura fenlica destes compostos (Figura 3) permite a
doao de um prton a um radical livre, regenerando, assim, a
molcula do acilglicerol e interrompendo o mecanismo de oxida-
o por radicais livres. Dessa maneira, os derivados fenlicos trans-
Figura 2. Mecanismo de ao para os antioxidantes primrios
757 Antioxidantes utilizados em leos, gorduras e alimentos gordurosos Vol. 29, No. 4
formam-se em radicais livres. Entretanto, estes radicais podem se
estabilizar sem promover ou propagar reaes de oxidao
22
.
BHA um antioxidante mais efetivo na supresso da oxidao
em gorduras animais que em leos vegetais. Como a maior parte
dos antioxidantes fenlicos, sua eficincia limitada em leos
insaturados de vegetais ou sementes. Apresenta pouca estabilidade
frente a elevadas temperaturas, mas particularmente efetivo no
controle de oxidao de cidos graxos de cadeia curta, como aque-
les contidos em leo de coco e palma
14
.
BHT tem propriedades similares ao BHA, porm, enquanto o
BHA um sinergista para propilgalatos, o BHT no . BHA e BHT
podem conferir odor em alimentos quando aplicados em altas tem-
peraturas em condio de fritura, por longo perodo
14
.
O BHA e o BHT so sinergistas entre si. O BHA age como
seqestrante de radicais perxidos, enquanto o BHT age como
sinergista, ou regenerador de radicais BHA
23
.
PG um ster do 3,4,5 cido triidroxibenzico; tem uma con-
centrao tima de atividade como antioxidante e quando usado
em nveis elevados pode atuar como pr-oxidante. Seu poder para
estabilizar alimentos fritos, massas assadas e biscoitos preparados
com gorduras baixo
14
.
TBHQ um p cristalino branco e brilhoso, moderadamente
solvel em leos e gorduras e no se complexa com ons de cobre
e ferro, como o galato
24
. considerado, em geral, mais eficaz em
leos vegetais que BHA ou BHT; em relao gordura animal,
to efetivo quanto o BHA e mais efetivo que o BHT ou o PG
25
. O
TBHQ considerado tambm o melhor antioxidante para leos de
fritura, pois resiste ao calor e proporciona uma excelente estabili-
dade para os produtos acabados
26
. cido ctrico e TBHQ apresen-
tam excelente sinergia em leos vegetais.
Estudos toxicolgicos tm demonstrado a possibilidade des-
tes antioxidantes apresentarem efeito carcinognico em experi-
mentos com animais
27
. Em outros estudos, o BHA mostrou indu-
zir hiperplasia gastrointestinal em roedores por um mecanismo
desconhecido; em humanos, a relevncia dessa observao no
est clara
28
.
A reduo do nvel de hemoglobina e a hiperplasia de clulas
basais
24
foram atribudas ao uso de TBHQ, .
Por estes motivos, o uso destes antioxidantes em alimentos limi-
tado; TBHQ no permitido no Canad e na Comunidade Econmica
Europia
29
. No Brasil, o uso destes antioxidantes controlado pelo
Ministrio da Sade que limita 200 mg/kg para BHA e TBHQ e 100
mg/g para BHT como concentraes mximas permitidas
30
.
Tendo em vista os indcios de problemas que podem ser provocados
pelo consumo de antioxidantes sintticos, pesquisas tm sido dirigidas
no sentido de encontrar produtos naturais com atividade antioxidante,
os quais permitiro substituir os sintticos ou fazer associaes entre
eles, com intuito de diminuir sua quantidade nos alimentos
31
.
Antioxidantes naturais
Entre os antioxidantes naturais mais utilizados podem ser cita-
dos tocoferis, cidos fenlicos e extratos de plantas como alecrim
e slvia.
O tocoferol, por ser um dos melhores antioxidantes naturais
amplamente aplicado como meio para inibir a oxidao dos leos
e gorduras comestveis, prevenindo a oxidao dos cidos graxos
insaturados
12
.
A legislao brasileira permite a adio de 300 mg/kg de
tocoferis em leos e gorduras, como aditivos intencionais, com
funo de antioxidante
32
.
Os tocoferis esto presentes de forma natural na maioria dos
leos vegetais, em alguns tipos de pescado e atualmente so fabri-
cados por sntese. Existem quatro tipos segundo a localizao dos
grupos metila no anel: , , , (Figura 4). A atividade antioxidante
dos tocoferis principalmente devida capacidade de doar seus
hidrognios fenlicos aos radicais livres lipdicos interrompendo a
propagao em cadeia.
Muitas pesquisas tm sido realizadas nos ltimos 40 anos so-
bre o efeito de tocoferis durante a autoxidao de leos
33
.
Yoshida et al.
34
, afirmaram que a potncia biolgica dos toco-
feris como vitamina E decresce conforme a seqncia , , , e
segundo Jorge e Gonalves
12
, sua atividade como antioxidante au-
menta nessa mesma seqncia.
Por outro lado, Lea e Ward citados por Warner et al.
33
sugerem
que a atividade antioxidante relativa dos tocoferis depende de
vrios parmetros, incluindo temperatura, composio e forma da
gordura (lquida, emulso) e concentrao de tocoferis.
Com relao temperatura, pesquisas revelam que essa varivel
pode ter um efeito significativo no resultado de estudos de oxidao
usando esses compostos. Segundo Gottstein e Grosch
35
, a atividade
antioxidante relativa dos tocoferis > > > em gordura de
porco acima de 60 C, mas essa ordem alterada para > > >
entre 20 e 40 C. Verifica-se tambm, que a atividade antioxidante
relativa dos tocoferis em diferentes gorduras armazenadas a 37 C
= >
33
, o que mostra o efeito do tipo de substrato.
O -tocoferol pode atuar como antioxidante ou pr-oxidante
dependendo do sistema testado, da concentrao, do tempo de oxi-
dao e do mtodo usado para acompanhar a oxidao; a concen-
trao de tocoferol para otimizar a estabilidade oxidativa de leo
de soja entre 400 e 600 mg/kg
36
.
Figura 3. Estrutura fenlica dos antioxidantes sintticos
Figura 4. A molcula dos tocoferis
758 Quim. Nova Ramalho e Jorge
Tendo como base a formao de hidroperxidos, em leo de
milho -tocoferol exibiu tima atividade antioxidante em concen-
traes menores (100 mg/kg) que na correspondente emulso leo/
gua (250500 mg/kg). Entretanto, baseando-se na decomposio
de hidroperxidos, medida pela formao de hexanal, a atividade
do -tocoferol aumentou com a concentrao, tanto no leo quan-
to na emulso
37
.
Por outro lado, Jung e Min
38
definiram concentraes timas
de 100 mg/kg para , 250 mg/kg para e 500 mg/kg para
tocoferis para aumentar a estabilidade oxidativa de leos de soja
purificados e armazenados no escuro, temperatura de 55 C. Os
tocoferis apresentaram significantes efeitos pr-oxidantes em con-
centraes acima destes nveis.
Os tocoferis so lbeis na presena de oxignio, luz e calor. A
velocidade relativa de decomposio de tocoferol em aquecimento
de leo de soja e girassol simulando fritura (180 C por 12 h) foi
> > >
12
.
Em estudo da ao antioxidante dos tocoferis em gorduras
vegetais parcialmente hidrogenadas de soja e algodo com varia-
o no ndice de iodo, Stell
39
notou uma destruio mais rpida de
e tocoferis que de e tocoferis durante a termoxidao a
180 C por 10 h. A destruio dos tocoferis originais, naturalmen-
te presentes nos leos e gorduras, foi maior nas gorduras mais
saturadas, enquanto que a dos tocoferis adicionados, em geral, foi
maior nas gorduras mais insaturadas, demonstrando haver uma re-
lao da resistncia dos tocoferis no s com o substrato mas
tambm com o fato de serem naturais ou adicionados.
Os cidos fenlicos caracterizam-se pela presena de um anel
benznico, um grupamento carboxlico e um ou mais grupamentos
de hidroxila e/ou metoxila na molcula, que conferem proprieda-
des antioxidantes
40
. So divididos em trs grupos; o primeiro
composto pelos cidos benzicos, que possuem sete tomos de
carbono (C
6
C
1
), suas frmulas gerais e denominaes esto re-
presentadas na Figura 5. O segundo grupo formado pelos cidos
cinmicos, que possuem nove tomos de carbono (C
6
C
3
), sendo
sete os mais comumente encontrados no reino vegetal (Figura 6).
As cumarinas so derivadas do cido cinmico por ciclizao da
cadeia lateral do cido o-cumrico (Figura 7)
31
.
Os antioxidantes fenlicos funcionam como seqestradores de
radicais e, algumas vezes, como quelantes de metais
41
, agindo tan-
to na etapa de iniciao como na propagao do processo oxidativo.
Os produtos intermedirios formados pela ao destes antioxidantes
so relativamente estveis, devido ressonncia do anel aromtico
apresentada por estas substncias
4
.
Diversos autores realizaram estudos visando verificar o poten-
cial antioxidante dos cidos fenlicos, com o objetivo de substituir
os antioxidantes sintticos, largamente utilizados na conservao de
alimentos lipdicos por aumentarem a vida til de muitos produtos
42
.
Em um estudo para avaliao do potencial dos cidos cafico,
protocatequnico, p-hidroxibenzico, ferlico e p-cumrico em
banha, na concentrao de 200 mg/kg, utilizando o mtodo
Rancimat temperatura de 90 C, os cidos cafico e protocate-
qunico apresentaram atividade antioxidante maior que o -tocoferol
e o BHT na mesma concentrao
43
.
A atividade antioxidante da frao polar contida em leo de oliva
refinado foi testada nele mesmo atravs do mtodo de Shall (estufa a
60 C, na ausncia de luz), determinando-se o ndice de perxido
como indicador do processo oxidativo. O extrato contendo a frao
polar era constitudo praticamente por compostos fenlicos, em par-
ticular por cidos fenlicos. Os resultados mostraram uma certa ao
por parte da frao polar do leo de oliva, mas esta foi inferior do
BHT, ambos utilizados na dosagem de 200 mg/kg. Foi testada tam-
bm a atividade antioxidante de cada cido fenlico contido na fra-
o polar, individualmente, utilizando a mesma metodologia. O ci-
do cafico mostrou uma atuao maior que a do BHT, enquanto os
cidos protocatequnico e sirngico, apesar de terem apresentado ati-
vidade, foram inferiores ao BHT. Por outro lado, os cidos o-
cumrico, p-cumrico, p-hidroxibenzico e vanlico demonstraram
pouca ou nenhuma propriedade antioxidante
44
.
Em estudos realizados com extratos de casca de batata, atravs do
mtodo de Shall, observou-se que os compostos cidos clorognico,
glico, protocatequnico e cafico apresentaram atividade antioxidante
similar ao BHA quando o extrato e o antioxidante sinttico foram
aplicados em leo de girassol na dosagem de 200 mg/kg
45
.
Na tentativa de elucidar as diferenas de potencial existentes entre
os cidos fenlicos, foi realizada uma comparao quantitativa do com-
portamento cintico da inibio da oxidao de alguns cidos benzicos
(cidos p-hidroxibenzico, vanlico, sirngico, e 3,4diidroxibenzico)
e cinmicos (cidos p-cumrico, ferlico, sinpco e cafico) quando
aplicados em banha aquecida a 100 C, com retirada de amostras em
intervalos de tempo definidos para anlise
46
. Concluiu-se que, no caso
dos cidos benzicos, a hidroxila presente na molcula do cido p-
hidroxibenzico no conferiu a este nenhuma propriedade antioxidante.
J a metoxila presente com a hidroxila no cido vanlico conferiu a ele
uma pequena atividade antioxidante. No caso do cido sirngico, que
Figura 5. Estrutura qumica dos cidos benzicos
Figura 6. Estrutura qumica dos principais cidos cinmicos
Figura 7. Estrutura qumica das cumarinas
759 Antioxidantes utilizados em leos, gorduras e alimentos gordurosos Vol. 29, No. 4
possui dois grupamentos de metoxila, a ao foi ainda maior. Com refe-
rncia aos cidos cinmicos, a presena de metoxila adjacente hidroxila,
como ocorre no cido ferlico, aumentou o perodo de induo da oxi-
dao duas vezes em relao ao controle. O perodo de induo foi
ainda maior com a presena de duas metoxilas, como ocorre no cido
sinpico. Entretanto, o maior potencial antioxidante foi encontrado quan-
do havia duas hidroxilas nas posies 3 e 4, estrutura apresentada pelos
cidos cafico e 3,4-diidroxibenzico. Portanto, a atividade antioxidante
dos compostos estudados apresentou a seguinte ordem: cido cafico >
3,4-diidroxibenzico > sinpico > sirngico > ferlico > p-cumrico >
vanlico.
Em estudos cinticos mais recentes, utilizando-se triacilgliceris
e metil steres de leo de girassol, verificou-se que os cidos
fenlicos participaram mais efetivamente na fase de iniciao da
oxidao e os cidos ferlico, cafico e sinpico atuaram tambm
nas reaes de propagao. Isso leva ao melhor esclarecimento da
ao destes antioxidantes no processo oxidativo
47
.
Em investigaes de cidos fenlicos presentes em gros de
soja, quatro cidos apresentaram atividade oxidante significativa
quando aplicados em leo de soja: cidos clorognico, cafico, p-
cumrico e ferlico, tendo este ltimo a maior atividade antioxi-
dante. A oxidao foi acompanhada atravs da determinao do
ndice de perxido
48
.
No nmero crescente de pesquisas que tm sido realizadas vi-
sando a utilizao de antioxidantes naturais, muitas especiarias tm
sido estudadas e tem-se observado que o alecrim e o organo pos-
suem forte atividade antioxidante
49
. Vrios compostos fenlicos tm
sido isolados do alecrim (carnosol, rosmanol, rosmaridifenol e
rosmariquinona)
49
e do organo (glucosdeos, cidos fenlicos e
derivados terpenos)
50
.
Wu et al.
51
confirmaram a eficincia antioxidante do extrato
metanlico de alecrim (0,02%) em banha armazenada no escuro
por 6, 14, 21, 28 e 36 dias atravs da determinao do ndice de
perxido. A eficincia do extrato de alecrim foi comparvel ao BHT
e superior ao BHA nas mesmas concentraes.
Vekiari et al.
50
fracionaram extrato de organo com vrios
solventes (ter de petrleo, ter etlico, acetato de etila e butanol). A
frao solvel em ter etlico foi mais efetiva na proteo de banha
(no escuro, a 65 C) contra a oxidao e sua atividade foi equivalente
ao BHT. O mesmo foi observado em leo de milho e soja refinados
armazenados no escuro, a 35 e 65 C e sob operao de fritura. Os
antioxidantes foram utilizados na dosagem de 0,01 e 0,02% e a oxi-
dao foi acompanhada pela determinao do ndice de perxido.
Em estudo realizado por Almeida-Doria e Regitano-DArce
49
,
sobre a ao antioxidante de extratos etanlicos de alecrim e organo
em leo de soja submetidos termoxidao, foram realizados en-
saios para verificao de atividade antioxidante de extratos
etanlicos dessas especiarias comparados com os antioxidantes
sintticos TBHQ e BHA + BHT. Verificou-se que os compostos
empregados retardaram a oxidao do leo, entretanto, os extratos
naturais no atingiram a eficincia do TBHQ, mas foram to efeti-
vos quanto a mistura BHA + BHT.
Gordon e Kourimsk
52
observaram que o extrato de alecrim
promoveu ao protetora contra formao de dmeros e degrada-
o de tocoferis em leo de canola usado na fritura de batata.
Ainda sobre a estabilidade oxidativa da batata frita, Lolos et
al.
53
observaram que o extrato de organo adicionado em batata
chips aps a fritura, como antioxidante, retardou significativamen-
te a oxidao do leo absorvido pela batata, com resultados com-
parveis ao TBHQ durante armazenamento a 63 C por 7 dias, en-
tretanto, o TBHQ foi mais efetivo aps este tempo.
O extrato de alecrim tambm retardou a perda de -tocoferol
em leo extrado de sardinha e armazenado a 30 C
54
.
OUTROS ANTIOXIDANTES
Suja et al.
55
avaliaram a atividade antioxidante de extrato
metanlico de gergelim em leo de soja e girassol, usando o mto-
do de estufa a 60 C. Os resultados mostraram que o extrato de
gergelim, em concentraes de 5, 10, 50 e 100 mg/kg nos leos
testados reduziu significativamente o ndice de perxido, dienos
conjugados e o valor de p-anisidina. O estudo tambm indicou um
melhor efeito antioxidante do extrato de gergelim que do BHT a
200 mg/kg. Menores concentraes de extrato de gergelim foram
efetivas na proteo de leos vegetais, independentemente de
insaturao e contedo de vitamina E.
Zainol et al.
56
avaliaram a atividade antioxidante dos extratos de
quatro espcies de centela asitica (Centella asitica (L.) Urban) atra-
vs de medidas usando os mtodos de tiocianeto frrico (FTC) e cido
tiobarbitrico (TBA), comparando a atividade antioxidante com a do
-tocoferol (natural) e BHT (sinttico). Os resultados mostraram que
a folha e a raiz da centela apresentaram alta atividade antioxidante,
to boa quanto a do -tocoferol. Os resultados tambm sugeriram que
os compostos fenlicos (3,23 a 11,7 g/100g amostra seca) so os prin-
cipais contribuintes para a atividade antioxidante da centela asitica.
ESTUDOS COMPARATIVOS ENTRE A EFICINCIA DE
DIVERSOS ANTIOXIDANTES
O ascorbil palmitato atua como antioxidante absorvendo o oxi-
gnio por reao direta ou reagindo com os hidroperxidos j for-
mados. Em estudo comparativo envolvendo esse antioxidante, BHA,
BHT, PG na dosagem de 0,01% e TBHQ na dosagem de 0,02% em
leo de soja com diferentes ndices de perxido (1,73 e 4,57 meq/
kg), observou-se que a ordem decrescente do efeito protetor foi:
TBHQ, PG, AP, BHT, BHA, para o leo com menor ndice de
perxido e TBHQ, BHT, AP, PG, BHA para o leo com maior ndi-
ce de perxido. A eficincia dos antioxidantes foi comparada em
termos de ndice de perxido aps 10 dias de estufa, a 60 C
11
.
Estudando o efeito de vrios antioxidantes, incluindo fosfoli-
pdios, ascorbil palmitato, alecrim, tocoferol e catequina sobre a
estabilidade do leo de amendoim, Chu e Hsu
57
, observaram que
entre estes antioxidantes, catequina sozinha e mistura de catequina
com outros antioxidantes aumentaram significativamente a estabi-
lidade do leo quando comparado com um controle, sendo seguida
por fosfolipdio, alecrim e tocoferol. O ascorbil palmitato no apre-
sentou resultado significativo.
Em outro estudo, o efeito da adio de antioxidante ao leo de
canola foi avaliado sob aquecimento do leo a 80 C e fritura de
batatas a 162 C. Segundo os resultados da estabilidade oxidativa
pelo Rancimat a 100 C do leo submetido fritura, o TBHQ foi
considerado o antioxidante mais potente, seguido do ascorbil
palmitato e extrato de alecrim, BHA e BHT, -tocoferol e lecitina.
No entanto, a ordem de atividade antioxidante do leo aquecido a
80 C mostrou-se diferente, sendo: TBHQ > lecitina > ascorbil
palmitato > extrato de alecrim > BHT, BHA e -tocoferol
58
.
Estudo comparativo envolvendo BHA, BHT, TBHQ, -tocoferol
e cido cafico em emulso leo/gua atravs da medida de forma-
o de perxidos durante oxidao a 37 C mostrou que BHA e
BHT foram mais efetivos em baixos nveis de adio. O -tocoferol
teve uma atividade intermediria. A ao pr ou antioxidante do
cido cafico dependeu da concentrao
59
.
ANTIOXIDANTES POTENCIAIS
Lima et al.
60
avaliaram a atividade antioxidante do extrato aquo-
so do broto de feijo-mungo (Vigna radiata L.) em sistema modelo
760 Quim. Nova Ramalho e Jorge
-caroteno/cido linolico. O extrato apresentou atividade oxidante
(48,07% de inibio da oxidao) embora tenha sido inferior ao
BHT usado como referncia. Os autores evidenciaram que a ao
antioxidante desse vegetal est relacionada ao teor de compostos
fenlicos, assim como aconteceu com o extrato aquoso de canela
com 60%
61
, germe de trigo e gensing com 64,9 e 69,1% de inibio
da oxidao, respectivamente
62
.
Tambm utilizando o sistema modelo -caroteno/cido lino-
lico, Melo et al.
63
avaliaram a atividade antioxidante de extratos
de coentro (Coriandrum sativum L.). O extrato aquoso exibiu
69,83% e o extrato etreo 51,89% de proteo contra a oxidao,
sendo essa habilidade atribuda, respectivamente, aos seus consti-
tuintes fenlicos e carotenides.
CONCLUSO
O desenvolvimento de compostos indesejveis oriundos da
oxidao lipdica um importante problema a ser resolvido a fim
de se obter um prolongamento da vida til de leos, gorduras e
alimentos gordurosos.
Como conseqncia, tem surgido uma srie de estudos para
avaliar o potencial antioxidante de vrios compostos para se co-
nhecer a concentrao adequada, a influncia do sistema lipdico e
da temperatura, existindo tambm forte tendncia de substituio
dos antioxidantes sintticos por antioxidantes naturais, visto que
as pesquisas tm demonstrado a possibilidade dos sintticos apre-
sentarem algum efeito txico.
Para gordura animal, o cido cafico e o extrato metanlico de
alecrim mostraram ser os antioxidantes mais adequados apresen-
tando inclusive efeito superior ao BHT e BHA, respectivamente.
Para os leos vegetais, as pesquisas indicaram o TBHQ como o
mais efetivo inclusive sob altas temperaturas, mas os antioxidantes
naturais demonstraram ter melhor efetividade que BHA e BHT, como
os extratos de organo, alecrim e gergelim para leo de soja, extrato
de gergelim, cidos clorognico, glico, protocatequnico e cafico
para leo de girassol, ascorbil palmitato e extrato de alecrim para
leo de canola e cido cafico para leo de oliva.
REFERNCIAS
1. Berset, C.; Cuvelier, M. E.; Sciences des aliments 1996, 16, 219.
2. Cosgrove, J. P.; Church, D. F.; Pryor, W. A.; Lipids 1987, 22, 299.
3. Kubow, S.; Nutritions Reviews 1993, 51, 33.
4. Nawar, W. W. Em Lipids; Fennema, O. R., ed.; Marcel Dekker: New York,
1985, p. 139.
5. Silva, F. A. M.; Borges, M. F. M.; Ferreira, M. A.; Quim. Nova 1999, 22,
94.
6. Barrera-Arellano, D.; leos e Gros 1993, 6, 10.
7. Halliwell, B.; Murcia, M. A.; Chirico, S.; Aruoma, O. I.; Crit. Rev. Food
Sci. Nutr. 1995, 35, 7.
8. Berger, K. G.; Hamilton, R. J. Em Developments in Oils and Fats;
Hamilton, R. J., ed.; Chapman & Hall: London, 1995, cap. 7.
9. Jadhav, S. J.; Nimbalkar, S. S.; Kulkarni, A. D.; Madhavi, D. L.;
Rajalakshmi, D.; Narasimhan, S. Em Food Antioxidants: Technological,
Toxicological, and Health Perspectives; Madhavi, D. L.; Deshpande, S. S.;
Salunkhe, D. K., eds.; Marcel Dekker Inc.: New York, 1996, p. 5.
10. Farmer, E. H.; Bloomfield, G. G.; Sundralingam, S.; Sutton, D. A.; Trans.
Faraday Soc. 1942, 38, 348.
11. Toledo, M. C. F.; Esteves, W.; Hartmann, E. M.; Cinc. Tecnol. Aliment.
1985, 5, 1.
12. Jorge, N.; Gonalves, L. A. G.; Boletim SBCTA 1998, 32, 40.
13. Mukai, K.; Morimoto, H.; Okauchi, Y.; Nagaoka, S.; Lipids 1993, 28, 753.
14. Bailey, A. E.; Baileys Industrial Oil and Fat Products, 5
th
ed., John Wiley:
New York, 1996, vol. 3.
15. Rafecas, M.; Guardiola, F.; Illera, M.; Codony, R.; Boatella, J.; J.
Chromatogr. 1998, 822, 305.
16. Simic, M. G.; Javanovic, S. V. Em Inactivation of oxygen radicals by
dietary phenolic compounds in anticarcinogenesis; Ho, C. T.; Osawa, T.;
Huang, T. M.; Rosen, R. T., eds.; Food Phytochemicals for Cancer
Prevention: Washington, 1994, p. 20.
17. Frankel, E. N.; Prog. Lip. Res.1980, 19, 1.
18. Namiki, M.; Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 1990, 29, 273.
19. Belitz, H. D.; Grosch, W.; Quimica de los Alimentos, Acribia: Zaragoza,
1988.
20. Kehrer, J. P.; Smith, C. V. Em Natural antioxidants in human health and
disease; Frei, B., ed.; Academic Press: San Diego, 1992, p. 25.
21. Labuza, T. P.; Crit. Rev. Food Technol. 1971, 3, 355.
22. Buck, D. F.; J. Am. Oil Chem. Soc. 1981, 58, 275.
23. Omura, K.; J. Am Oil Chem. Soc. 1995, 72, 1565.
24. Madhavi, D. L.; Salunkhe, D. K. Em Antioxidants; Maga, J.; Tu, A. T.,
eds.; Marcel Dekker: New York, 1995, p. 89.
25. Chahine, M. H.; Macneill, R. F.; J. Am. Oil Chem. Soc. 1974, 51, 37.
26. Dziezac, J. D.; Food Technol. 1986, 43, 66.
27. Botterweck, A. A. M.; Verhagen, H.; Goldbohm, R. A.; Kleinjans, J.; Food
Chem. Toxicol. 2000, 38, 599.
28. Cruces-Blanco, C.; Carretero, A. S.; Boyle, E. M.; Gutirrez, A. F.; Talanta
1999, 50, 1099.
29. Reishe, D. W.; Lilliard, D. A.; Eitenmiller, R. R. Em Antioxidants; Akoh,
C. C.; Min, D. B., eds.; Marcel Dekker: New York, 1997, p. 423.
30. http://www.anvisa.gov.br/legis, acessada em Maio 2004.
31. Soares, S. E.; Rev. Nutr. 2002, 15, 01.
32. ABIA Associao Brasileira das Indstrias da Alimentao; Compndio
da Legislao de Alimentos: Consolidao das Normas e Padres de
Alimentos, 7 ver., So Paulo, 1999, vol. 1.
33. Warner, K.; Neff, W. E.; Eller, F. J.; J. Agric. Food Chem. 2003, 51, 623.
34. Yoshida, H.; Tatsumi, M.; Kajimoto, G.; J. Am. Oil Chem. Soc. 1991, 68,
566.
35. Gottstein, T.; Grosch, W.; Fat Sci. Technol. 1990, 92, 139.
36. Frankel, E. N.; Food Chem. 1996, 57, 51.
37. Huang, S. W.; Frankel, E. N.; German, J. B.; J. Agric. Food Chem. 1994,
42, 2108.
38. Jung, M. Y.; Min, D. B.; J. Food Sci. 1990, 55, 1464.
39. Stell, C. J.; Tese de Doutorado, Universidade Estadual de Campinas, Brasil,
2002.
40. Ferguson, L. R.; Harris, P. J.; Eur. J. Cancer Prev. 1999, 8, 17.
41. Shahidi, F.; Janitha, P. K.; Wanasundara, P. D.; Crit. Rev. Food Sci. Nutr.
1992, 32, 67.
42. Durn, R. M.; Padilla, B.; Grasas y Aceites 1993, 44, 101.
43. Gadow, V. A.; Joubert, E.; Hansmann, C. F.; J. Agric. Food Chem. 1997,
45, 632.
44. Papadopoulos, G.; Boskou, D.; J. Am. Oil Chem. Soc. 1991, 68, 669.
45. Sotillo, D. R.; Hadley, M.; Holm, E. T.; J. Food Sci. 1994, 59, 1031.
46. Marinova, E. M.; Yanishlieva, N. V.; Fett-Wissenschaft Technol. 1992, 94,
428.
47. Yanishlieva, N. V.; Marinova, E. M.; Food Chem. 1995, 54, 377.
48. Nagen, T. J.; Albuquerque, T. T.; Miranda, L. C. G.; Arquivos de Biologia
e Tecnologia 1992, 35, 129.
49. Almeida-Doria, R. F.; Regitano-DArce, M. A. B.; Cinc. Tecnol. Aliment.
2000, 20, 01.
50. Vekiari, S. A.; Tzia, C.; Oreopoulo, V.; Thomopoulos, C. D.; Riv. Ital.
Sostanze Grasse 1993, 70, 25.
51. Wu, J. W.; Lee, M-N.; Ho, C-T.; Chang, S. S.; J. Am. Oil Chem. Soc. 1982,
59, 339.
52. Gordon, M. H.; Kourimsk, L.;. Food Chem. 1995, 52, 175.
53. Lolos, M.; Oreopoulo, V.; Tzia, C.; J. Sci. Food Agric. 1999, 79, 1524.
54. Fang, X.; Wada, S.; Food Research Int. 1993, 26, 405.
55. Suja, K.; Abraham, J. T.; Thamizh, S. N.; Jayalekshmy, A.; Arumughan,
C.; Food Chem. 2004, 84, 393.
56. Zainol, M. K.; Abd-Hamid, A.; Yusof, S.; Muse, R.; Food Chem. 2003, 81,
575.
57. Chu, Y.; Hsu, H.; Food Chem. 1999, 66, 29.
58. Antoniassi, R.; BCEPPA 2001, 19, 353.
59. Nenadis, N.; Zafiropoulou, I.; Tsimidou, M.; Food Chem. 2003, 82, 403.
60. Lima, V. L. A. G.; Melo, E. A.; Maciel, I. S.; Silva, G. S. B.; Rev. Nutr.
2004, 17, 53.
61. Mancini-Filho, J.; Van-Koiij, A.; Mancini, D. A. P.; Cozzolino, F. F.; Torres,
R. P.; Boll. Chim. Farma. 1998, 137, 443.
62. Velioglu, Y. S.; Mazza, G.; Gao, L.; Oomah, B. D.; J. Agric. Food Chem.
1998, 46, 4113.
63. Melo, E. A.; Mancini-Filho, J.; Guerra, N. B.; Maciel, G. R.; Cinc. Tecnol.
Aliment. 2003, 23, 195.
Você também pode gostar
- A Utilização De Material Lignocelulósico Na Produção De BioetanolNo EverandA Utilização De Material Lignocelulósico Na Produção De BioetanolAinda não há avaliações
- Biorremediação de Metais Pesados Utilizando Microalgas: Princípios e AplicaçõesNo EverandBiorremediação de Metais Pesados Utilizando Microalgas: Princípios e AplicaçõesAinda não há avaliações
- Apostila de EmbalagemDocumento79 páginasApostila de EmbalagemDanielle KolanskAinda não há avaliações
- Umami e glutamato: Aspectos químicos, biológicos e tecnológicosNo EverandUmami e glutamato: Aspectos químicos, biológicos e tecnológicosAinda não há avaliações
- Oxidação Lipídica E Antioxidantes Extraídos De Fontes NaturaisNo EverandOxidação Lipídica E Antioxidantes Extraídos De Fontes NaturaisAinda não há avaliações
- Espelho Da Lista de Exercícios de Óleos 2Documento21 páginasEspelho Da Lista de Exercícios de Óleos 2vitoriasmarques78Ainda não há avaliações
- Antioxidantes Revista Fi 2009Documento16 páginasAntioxidantes Revista Fi 2009Francine CorradoAinda não há avaliações
- Rancificação e Peroxidação de LipídeosDocumento7 páginasRancificação e Peroxidação de LipídeosTatiana Rocha100% (2)
- Peroxidacao Lipidica Mecanismos e Avaliacao em AmoDocumento12 páginasPeroxidacao Lipidica Mecanismos e Avaliacao em AmoCamila MarreirosAinda não há avaliações
- Processos Bioquímicos Aplicados Na Industrialização de AlimentosDocumento30 páginasProcessos Bioquímicos Aplicados Na Industrialização de AlimentosADRIANAAinda não há avaliações
- Seminário (Oxidação Dos Lipídeos)Documento20 páginasSeminário (Oxidação Dos Lipídeos)Alan OliveiraAinda não há avaliações
- 540 1013 1 PBDocumento8 páginas540 1013 1 PBsandyrieger@bol.com.brAinda não há avaliações
- Antioxidantes Naturais - Food IngredientsDocumento3 páginasAntioxidantes Naturais - Food Ingredientscamilakersten1Ainda não há avaliações
- Artigo - EspeciariasDocumento11 páginasArtigo - Especiariasqmatheusq wsantoswAinda não há avaliações
- A Rancidez Oxidativa em AlimentosDocumento6 páginasA Rancidez Oxidativa em AlimentosArthur SilvaAinda não há avaliações
- Antioxidantes e Mecanismo de AçãoDocumento7 páginasAntioxidantes e Mecanismo de AçãoDéborah FerrazAinda não há avaliações
- Especiarias Como Antioxidantes Naturais Aplicações em Alimentos e Implicções Na SaúdeDocumento11 páginasEspeciarias Como Antioxidantes Naturais Aplicações em Alimentos e Implicções Na SaúdeFábio Teixeira da SilvaAinda não há avaliações
- Radicais Livres e AntioxidantesDocumento6 páginasRadicais Livres e Antioxidantesdarosa_fAinda não há avaliações
- Simplex Aditivos SinteticosDocumento6 páginasSimplex Aditivos SinteticosLorraine OliveiraAinda não há avaliações
- Oxidação LipídicaDocumento28 páginasOxidação LipídicaLarissa FiorelliAinda não há avaliações
- Técnicas de Extração de AntioxidantesDocumento18 páginasTécnicas de Extração de AntioxidantesPriscilla Narciso JustiAinda não há avaliações
- Reações Dos Lipídeos Nos AlimentosDocumento5 páginasReações Dos Lipídeos Nos AlimentosPVRS1987Ainda não há avaliações
- Acido FerulicoDocumento2 páginasAcido Ferulicoiza.kloAinda não há avaliações
- Oxidação de Lipídeos 2.0 - Cta UfraDocumento28 páginasOxidação de Lipídeos 2.0 - Cta Ufra03ctadriveAinda não há avaliações
- RESUMO Estresse Oxidativo 3Documento2 páginasRESUMO Estresse Oxidativo 3Eulla Keimili F FerreiraAinda não há avaliações
- Acido Alfa LipoicoDocumento2 páginasAcido Alfa LipoicoLewis MullinsAinda não há avaliações
- NUTRIÇÃODocumento6 páginasNUTRIÇÃOJoão AlexandreAinda não há avaliações
- Formação de Toxinas Durante o Processamento de Alimentos e As Possíveis Consequencias para o Organismo HumanoDocumento11 páginasFormação de Toxinas Durante o Processamento de Alimentos e As Possíveis Consequencias para o Organismo HumanoLarissa SouzaAinda não há avaliações
- Anotações Sobre Rancidez OxidativaDocumento2 páginasAnotações Sobre Rancidez OxidativaSilvio SogliaAinda não há avaliações
- Estudo Dirigido LipideosDocumento8 páginasEstudo Dirigido LipideosFernanda Aline da SilvaAinda não há avaliações
- Extração 2Documento18 páginasExtração 2Vinicius SantosAinda não há avaliações
- Prova de (1) ..BioquimicaDocumento3 páginasProva de (1) ..BioquimicaAna RitaAinda não há avaliações
- Modulação Do Efeito Negativo Causado Pela Resposta ImuneDocumento14 páginasModulação Do Efeito Negativo Causado Pela Resposta ImuneTainá MeloAinda não há avaliações
- LipídeosDocumento6 páginasLipídeosRogério RosaAinda não há avaliações
- Aspectos Deteriorativos em AlimentosDocumento30 páginasAspectos Deteriorativos em AlimentosLeilaMoreiraAinda não há avaliações
- ARTIGO Reação Maillard No Organismo 09v24n6Documento10 páginasARTIGO Reação Maillard No Organismo 09v24n6Rosa RodriguesAinda não há avaliações
- Lista 3Documento5 páginasLista 3Gabriela Silva100% (1)
- Ranço Oxidativo e hidrolíticoFLSDocumento26 páginasRanço Oxidativo e hidrolíticoFLSMonise GarciaAinda não há avaliações
- Relatório - Carboidratos e LipídiosDocumento12 páginasRelatório - Carboidratos e LipídiosValeska Lorena100% (1)
- ATIVIDADE III - AntioxidantesDocumento3 páginasATIVIDADE III - AntioxidantesTony crossAinda não há avaliações
- Lipideo 1Documento20 páginasLipideo 1Queroganhar DinheiroAinda não há avaliações
- Aula 7 - Radicais LivresDocumento45 páginasAula 7 - Radicais LivresJosé Augusto CeronAinda não há avaliações
- Flavonóides Como AntioxidantesDocumento8 páginasFlavonóides Como AntioxidantesBethânia MansurAinda não há avaliações
- Aula 1 Química 3ano 3Documento47 páginasAula 1 Química 3ano 3Julia Pereira MartinsAinda não há avaliações
- Oxidação em Ração Animal PDFDocumento33 páginasOxidação em Ração Animal PDFCaroline Cunha CarreiroAinda não há avaliações
- Trabalho de Química As Aventuras de Super ManDocumento20 páginasTrabalho de Química As Aventuras de Super Manisaac mensageiroAinda não há avaliações
- Garrafas de PET para Óleo ComestívelDocumento6 páginasGarrafas de PET para Óleo ComestívelLorrayne CostaAinda não há avaliações
- Acido AscorbicoDocumento40 páginasAcido Ascorbicowiljow100% (2)
- AESA LayllaDocumento3 páginasAESA LayllaLAYLla edleuzaAinda não há avaliações
- Acido Alfa LipoicoDocumento2 páginasAcido Alfa LipoicoFernanda MarianyAinda não há avaliações
- Relatório de Reação de SaponificaçãoDocumento14 páginasRelatório de Reação de SaponificaçãoLyandraAinda não há avaliações
- Bromatologia - Vitamina CDocumento8 páginasBromatologia - Vitamina CMarcela SantanaAinda não há avaliações
- LipídiosDocumento40 páginasLipídiosDeniseAinda não há avaliações
- Ulva lactuca: Aspectos Químicos na Determinação da Atividade Antioxidante TotalNo EverandUlva lactuca: Aspectos Químicos na Determinação da Atividade Antioxidante TotalAinda não há avaliações
- Bioenergética - Tipos De Produção E Liberação De EnergiaNo EverandBioenergética - Tipos De Produção E Liberação De EnergiaAinda não há avaliações
- Qualea grandiflora Mart. (Vochysiaceae): uma análise proteômica dessa espécie acumuladora de alumínio nativa do CerradoNo EverandQualea grandiflora Mart. (Vochysiaceae): uma análise proteômica dessa espécie acumuladora de alumínio nativa do CerradoAinda não há avaliações