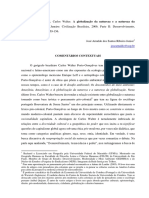Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Natureza e Cultura - Claude Lévi-Strauss
Natureza e Cultura - Claude Lévi-Strauss
Enviado por
Aluysio AthaydeTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Natureza e Cultura - Claude Lévi-Strauss
Natureza e Cultura - Claude Lévi-Strauss
Enviado por
Aluysio AthaydeDireitos autorais:
Formatos disponíveis
ANTROPOS Revista de Antropologia Volume 3, Ano 2, Dezembro de 2009 ISSN 1982-1050
17
De todos os princpios propostos pelos precursores da sociologia nenhum sem dvida foi
repudiado com tanta firmeza quanto o que diz respeito distino entre estado de natureza e
estado de sociedade. No se pode, com efeito, fazer referncia em contradio a uma fase da
evoluo da humanidade durante a qual esta, na ausncia de toda de organizao social, nem
por isso tivesse deixado de desenvolver formas de atividade que so parte integrante da
cultura. Mas a distino proposta pode admitir interpretaes mais vlidas.
Os etnlogos da escola de Elliot Smith e de Perry retomaram-na para edificar uma teoria
discutvel mas que, fora do detalhe arbitrrio do esquema histrico, deixa aparecer claramente
a profunda oposio entre dois nveis da cultura humana e o carter revolucionrio da
transformao neoltica. O homem de Neanderthal, com seu provvel conhecimento da
linguagem, suas indstrias lticas e ritos funerrios, no pode ser considerado como vivendo
no estado de natureza. Seu nvel cultural o ope, no entanto, a seus sucessores neolticos com
um rigor comparvel embora em sentido diferente - ao que os autores do sculo XVII ou do
sculo XVIII atribuam sua prpria distino. Mas, sobretudo, comeamos a compreender
que a distino entre estado de natureza e estado de sociedade[1], na falta de significado
histrico aceitvel, apresenta um valor lgico que justifica plenamente sua utilizao pela
sociologia moderna, como instrumento de mtodo.
O homem um ser biolgico ao mesmo tempo que um individuo social. Entre as respostas que
d as citaes exteriores ou interiores algumas dependem inteiramente de sua natureza,
outras de sua condio. Por isso no h dificuldade alguma em encontrar a origem respectiva
do reflexo pupilar e da posio tomada pela mo do cavaleiro ao simples contato das rdeas.
Mas nem sempre a distino to fcil assim. Freqentemente o estimulo fsico-biolgico e o
estimulo psicossocial despertam reaes do mesmo tipo, sendo possvel perguntar, como j
fazia Locke, se o medo da criana na escurido explica-se como manifestao de sua natureza
animal ou como resultado das historias contada pela ama[2].
Mais ainda, na maioria dos casos, as causas no so realmente distintas e a resposta do sujeito
constitui verdadeira integrao das fontes biolgicas e das fontes de seu comportamento.
Assim, o que se verifica na atitude da me com relao ao filho ou nas emoes complexas do
espectador de uma parada militar. que a cultura no pode ser considerada nem
simplesmente justaposta nem simplesmente superposta vida. Em certo sentido substitui-se
vida, e em outro sentido utiliza-a e a transforma para realizar uma sntese de nova ordem.
NATUREZA E CULTURA
Claude Lvi-Strauss
Artigo
Revista Antropos Volume 3, Ano 2, Dezembro de 2009
ISSN 1982-1050
ANTROPOS Revista de Antropologia Volume 3, Ano 2, Dezembro de 2009 ISSN 1982-1050
18
Se relativamente fcil estabelecer a distino de principio, a dificuldade comea quando se
quer realizar a anlise. Esta dificuldade dupla, de um lado podendo tentar-se definir, para
cada atitude, uma causa de ordem biolgica ou social, e de outro lado, procurando por que
mecanismo atitudes de origem cultural podem enxertar-se em comportamentos que so de
natureza biolgica, e conseguir integr-los a si. Negar ou subestimar a oposio privar-se de
toda compreenso dos fenmenos sociais, e ao lhe darmos seu inteiro alcance metodolgico
corremos o risco de converter em mistrio insolvel o problema da passagem entre as duas
ordens. Onde acaba a natureza? Onde comea a cultura? possvel conceber vrios meios de
responder a esta dupla questo. Mas todos mostraram-se at agora singularmente
decepcionantes.
O mtodo mais simples consistiria em isolar uma criana recm-nascida e observar suas
reaes a diferentes excitaes durante as primeiras horas ou os primeiros dias depois do
nascimento. Poder-se-ia ento supor que as respostas fornecidas nessas condies so de
origem psicobiolgicas, e no dependem de sntese culturais ulteriores. A psicologia
contempornea obteve por este mtodo resultados cujo interesse no deve levar a esquecer
seu carter fragmentrio e limitado. Em primeiro lugar, as nicas observaes vlidas devem
ser precoces, porque podem surgir condicionamentos ao cabo de poucas semanas, talvez
mesmo de dias.
Assim, somente tipos de reao muito elementares, como certas expresses emocionais,
podem na prtica ser estudados. Por outro lado, as experincias negativas apresentam sempre
carter equvoco . Porque permanece sempre aberta a questo de saber a questo de saber se a
reao estudada est ausente por causa de sua origem cultural ou porque os mecanismos
fisiolgicos que condicionam seu aparecimento no se acham ainda montados, devido
precocidade da observao. O fato de uma criancinha no andar no poderia levar concluso
da necessidade da aprendizagem, porque se sabe, ao contrrio, que a criana anda
espontaneamente desde que organicamente for capaz de faz-lo. [3]
Uma situao anloga pode apresentar-se em outros terrenos. O nico meio de eliminar estas
incertezas seria prolongar a observao alm de alguns meses, ou mesmo de alguns anos. Mas
nesse caso ficamos s voltas com dificuldades insolveis, porque o meio que satisfizesse as
condies rigorosas de isolamento exigido pela experincia no menos artificial do que o
meio cultural ao qual se pretende substitu-lo. Por exemplo, os cuidados da me durante os
primeiros anos da vida humana constituem condio natural do desenvolvimento do
individuo. O experimentador acha-se, portanto encerrado em um circulo vicioso.
verdade que o acaso parece ter conseguido s vezes aquilo que o artifcio incapaz de fazer.
A imaginao dos homens do sculo XVIII foi fortemente abalada pelo caso dessas crianas
selvagens, perdidas no campo desde seus primeiros anos, as quais, por um excepcional
concurso de possibilidades, tiveram a possibilidade de subsistir e desenvolver-se fora de toda
influncia do meio social. Mas, conforme se nota muito claramente pelos antigos relatos, a
maioria dessas crianas foram anormais congnitos, sendo preciso procurar na imbecilidade
ANTROPOS Revista de Antropologia Volume 3, Ano 2, Dezembro de 2009 ISSN 1982-1050
19
de que parecem, quase unicamente, ter dado prova, a causa inicial de seu abandono, e no,
como s vezes se pretenderia, ter sido o resultado. [4]
Observaes recentes confirmam esta maneira de ver. Os pretensos meninos-lobos
encontrados na ndia nunca chegaram a alcanar o nvel normal. Um deles Sanichar
jamais pde falar, mesmo adulto. Kellog relata que, de duas crianas descobertas juntas, h
cerca de vinte anos, o mais moo permaneceu incapaz de falar e o mais velho viveu at os seis
anos, mas com o nvel mental de uma criana de dois anos e meio e um vocabulrio de cem
palavras apenas. [5] Um relatrio de 1939 considera como idiota congnito uma criana-
baduino da frica do Sul, descoberta em 1903 com a idade provvel de doze anos. [6] Na
maioria das vezes, alis, as circunstncia da descoberta so duvidosas.
Alm disso, estes exemplos devem ser afastados por uma razo de princpio, que nos coloca
imediatamente no corao dos problemas cuja discusso o objeto desta Introduo. Desde
1811 Blumenbach, em um estudo dedicado a uma dessas crianas, o selvagem Peter, observa
que nada se poderia esperar de fenmenos desta ordem. Porque, dizia ele com profundidade,
se o homem um animal domstico o nico que se domesticou a si prprio. [7]
Assim, possvel esperar ver um animal domstico, por exemplo, um gato, um cachorro ou
uma ave de galinheiro, quando se acha perdido ou isolado, voltar ao comportamento natural
que era o da espcie antes da interveno exterior da domesticao. Mas nada de semelhante
pode se produzir com o homem, porque no caso deste ltimo no existe comportamento
natural da espcie ao qual o individuo isolado possa voltar mediante regresso. Conforme
dizia Voltaire, mais ou menos nestes termos, uma abelha extraviada longe de sua colmia e
incapaz de encontr-la uma abelha perdida, mas nem por isso se tornou uma abelha
selvagem. As crianas selvagens, quer sejam produto do acaso quer da experimentao,
podem ser monstruosidades culturais, mas em nenhum caso testemunhas fieis de um estado
anterior.
impossvel, portanto, esperar no homem a ilustrao de tipos de comportamento de carter
pr-cultural. Ser possvel ento tentar um caminho inverso e procurar atingir, nos nveis
superiores da vida animal, atitudes e manifestaes nas quais se possam reconhecer o esboo,
os sinais precursores da cultura? Na aparncia, a oposio entre comportamento humano e o
comportamento animal que fornece a mais notvel ilustrao da antinomia entre a cultura e a
natureza.
A passagem se existe no poderia, pois ser procurada na etapa das supostas sociedades
animais, tais como so encontradas entre alguns insetos. Porque em nenhum lugar melhor
que nesses exemplos encontram-se reunidos os atributos, impossveis de ignorar, da natureza,
a saber, o instinto, o equipamento anatmico, nico que pode permitir o exerccio do instinto,
e a transmisso hereditria das condutas essenciais sobrevivncia do individuo e da espcie.
No h nessas estruturas coletivas nenhum lugar mesmo para um esboo do que se pudesse
chamar o modelo cultural universal, isto , linguagem, instrumentos, instituies sociais e
sistema de valores estticos, morais ou religiosos.
ANTROPOS Revista de Antropologia Volume 3, Ano 2, Dezembro de 2009 ISSN 1982-1050
20
outra extremidade da escala animal que devemos nos dirigir, se quisermos descobrir o
esboo desses comportamentos humanos. Ser com relao aos mamferos superiores, mais
especialmente os macacos antropides.
Ora, as pesquisas realizadas h mais de trinta anos com os grandes macacos so
particularmente desencorajantes a este respeito. No que os componentes fundamentais do
modelo cultural universal estejam rigorosamente ausentes, pois possvel, custa de infinitos
cuidados, conduzir certos sujeitos a articularem alguns monosslabos ou disslabos, aos que
alis no ligam nunca qualquer sentido. Dentro de certos limites, o chimpanz pode utilizar
instrumentos elementares e eventualmente improvis-los. [8] Relaes temporrias de
solidariedade ou de subordinao podem aparecer e desfazer-se no interior de um
determinado grupo. Finalmente, possvel que algum se divirta em reconhecer em algumas
atitudes singulares o esboo de formas desinteressadas de atividade ou de contemplao.
Um fato notvel que so sobretudo os sentimentos que associamos de preferncia parte
mais nobre de nossa natureza, cuja expresso parece poder ser mais facilmente identificada
nos antropides, como o terror religioso e a ambigidade do sagrado. [9] Mas se todos estes
fenmenos advogam favoravelmente por sua presena, so ainda mais eloqentes e em
sentido completamente diferente - por sua pobreza. Ficamos menos impressionados por seu
esboo elementar do que pelo fato confirmado por todos os especialistas - da
impossibilidade, ao que parece radical, de levar esses esboos alm de sua expresso mais
primitiva.
Assim, o fosso que se poderia esperar preencher por mil observaes engenhosas na realidade
apenas deslocado, para aparecer ainda mais intransponvel. Quando se demonstrou que
nenhum obstculos anatmico impede o macaco de articular os sons da linguagem, e mesmo
conjunto silbicos, s podemos nos sentir ainda mais admirados pela irremedivel ausncia da
linguagem e pela total incapacidade de atribuir aos sons emitidos ou ouvidos o carter de
sinais. A mesma verificao impe-se nos outros terrenos. Explica a concluso pessimista de
um atento observador que se resigna, aps anos de estudo e de experimentao, a ver no
chimpanz um ser empedernido no estreito circulo de suas imperfeies inatas, um ser
regressivo quando comparado ao homem, um ser que no quer nem pode enveredar pelo
caminho do progresso. [10]
Porm, ainda mais do que pelos insucessos diante de tentativas bem definidas, chegamos a
uma convico pela verificao de ordem mais geral, que nos leva a penetrar mais
profundamente no mago do problema. Queremos dizer que impossvel tirar concluses
gerais da experincia. A vida social dos macacos no se presta formulao de nenhuma
norma.
Em presena do macho ou da fmea, do animal vivo ou morto, do jovem e do velho, do
parente ou do estranho, o macaco comporta-se com surpreendente versatilidade. No somente
o comportamento do mesmo sujeito no constante, mas no se pode perceber nenhuma
ANTROPOS Revista de Antropologia Volume 3, Ano 2, Dezembro de 2009 ISSN 1982-1050
21
regularidade no comportamento coletivo. Tanto no domnio da vida sexual quanto no que se
refere s outras formas de atividade, o estimulante, externo ou interno, e os ajustamentos
aproximativos por influncia dos erros e acertos, parecem fornecer todos os elementos
necessrios soluo dos problemas de interpretao.
Estas incertezas aparecem no estudo das relaes hierrquicas no interior de um mesmo
grupo de vertebrados, permitindo contudo estabelecer uma ordem de subordinao dos
animais uns aos outros. Esta ordem notavelmente estvel, porque o mesmo animal conserva
a posio dominante durante perodos de ordem de um ano. E no entanto a sistematizao
torna-se impossvel devido a freqentes irregularidades. Uma galinha subordinada a duas
congneres que ocupam um lugar medocre no quadro hierrquico ataca no entanto o animal
que possui a categoria mais elevada. Observam-se relaes triangulares, nas quais A domina
B, B domina C e C domina A, ao passo que todos os trs dominam o resto do grupo. [11]
O mesmo acontece no que diz respeito s relaes e gostos individuais dos macacos
antropides, entre os quais as irregularidades so ainda mais acentuadas. Os primatas
apresentam muito maior diversidade em suas preferncias alimentares do que os ratos, os
pombos e as galinhas. [12] No domnio da vida sexual, tambm, encontramos neles um
quadro que corresponde quase inteiramente ao comportamento sexual do homem... tanto nas
modalidades normais quanto nas manifestaes mais notveis habitualmente chamadas
anormais, porque se chocam com as convenes sociais. [13]
Por esta individualizao dos comportamentos, o orangotango, o gorila e o chimpanz
assemelham-se singularmente ao homem. [14] Malinowski est, portanto enganado quando
diz que todos os fatores que definem o comportamento sexual dos machos antropides so
comuns a todos os membros da espcie funcionando com uma tal uniformidade que, para
cada espcie animal, basta um grupo de dados e um s... as variaes so to pequenas e to
insignificantes que o zologo est plenamente autorizado a ignor-las.[15]
Qual , ao contrario, a realidade? A poliandria parece reinar entre os macacos gritadores da
regio do Panam, embora a proporo dos machos com relao s fmeas seja de 28 a 72. De
fato, observam-se relaes de promiscuidade entre uma fmea no cio e vrios machos, mas
sem se poder definir preferncias, uma ordem de prioridade ou ligaes durveis. [16] Os
gibes das florestas do Sio viveriam em famlias mongamas relativamente estveis.
Entretanto, as relaes sexuais ocorrem indiferentemente entre membros do mesmo grupo
familiar ou com um individuo pertencente a outro grupo, confirmando assim dir-se-ia a
crena indgena de que os gibes so a reencarnao dos amantes infelizes. [17]
Monogamia e poligamia existem lado a lado entre os rhesus [18], e os bandos de chimpanz
selvagens observados na frica variam entre quatro e quatorze indivduos, deixando aberta a
questo de seu regime matrimonial. [19] Tudo parece passar-se como se os grandes macacos,
j capazes de se libertarem de um comportamento especfico, no pudessem chegar a
estabelecer uma norma num plano novo. O comportamento instintivo perde a nitidez e a
ANTROPOS Revista de Antropologia Volume 3, Ano 2, Dezembro de 2009 ISSN 1982-1050
22
preciso que encontramos na maioria dos mamferos, mas a diferena puramente negativa e
o domnio abandonado pela natureza permanece sendo um territrio no ocupado.
Esta ausncia de regra parece oferecer o critrio mais seguro que permita distinguir um
processo natural de um processo cultural. Nada h de mais sugestivo a este respeito do que a
oposio entre a atitude da criana, mesmo muito jovem, para quem todos os problemas so
regulados por ntidas distines, mais ntidas e s vezes imperiosas do que entre os adultos, e
as relaes entre os membros de um grupo simiesco, inteiramente abandonadas ao acaso e dos
encontros, nas quais o comportamento de um sujeito nada informa sobre o seu congnere, nas
quais conduta do mesmo individuo hoje no garante em nada seu comportamento no dia
seguinte. que, com efeito, h um circulo vicioso ao se procurar na natureza a origem das
regras institucionais que supem mais ainda, que so j a cultura, e cuja instaurao no
interior de um grupo dificilmente pode ser concebida sem a interveno da linguagem. A
constncia e a regularidade existem, a bem dizer, tanto na natureza quanto na cultura. Mas na
primeira aparecem precisamente no domnio em que na segunda se manifestam mais
fracamente, e vice-versa. Em um caso, o domnio da herana biolgica, em outro, o da
tradio externa. No se poderia pedir a uma ilusria continuidade entre as duas ordens que
explicasse os pontos em que se opem.
Por conseguinte, nenhuma anlise real permite apreender o ponto de passagem entre os fatos
da natureza e os fatos da cultura, alm do mecanismo da articulao deles. Mas a discusso
precedente no nos ofereceu apenas este resultado negativo. Forneceu, com a presena ou a
ausncia da regra nos comportamentos no sujeitos s determinaes instintivas, o critrio
mais vlido das atitudes sociais. Em toda parte onde se manifesta uma regra podemos ter
certeza de estar numa etapa da cultura.
Simetricamente, fcil reconhecer no universal o critrio da natureza. Porque aquilo que
constante em todos os homens escapa necessariamente ao domnio dos costumes, das tcnicas
e das instituies pelas quais seus grupos se diferenciam e se opem. Na falta de anlise real,
os dois critrios, o da norma e o da universalidade, oferecem o principio de uma anlise ideal,
que pode permitir ao menos em certos casos e em certos limites - isolar os elementos
naturais dos elementos culturais que intervm nas snteses de ordem mais complexa.
Estabeleamos, pois, que tudo quanto universal no homem depende da ordem da natureza e
se caracteriza pela espontaneidade, e que tudo quanto est ligado a uma norma pertence
cultura apresenta os atributos do relativo e do particular.
Encontramo-nos assim em face de um fato, ou antes de um conjunto, que no est longe, luz
das definies precedentes, de aparecer como um escndalo, a saber, este conjunto complexo
de crenas, costumes, estipulaes e instituies que designamos sumariamente pelo nome de
proibio de incesto. Porque a proibio do incesto apresenta, em menor equivoco e
indissoluvelmente reunidos, os dois caracteres nos quais reconhecemos os atributos
contraditrios de duas ordens exclusivas, isto , constituem uma regra, mas uma regra que,
nica entre todas as regras sociais, possui ao mesmo tempo carter de universalidade. [20]
No h praticamente necessidade de demonstrar que a proibio do incesto constitui uma
ANTROPOS Revista de Antropologia Volume 3, Ano 2, Dezembro de 2009 ISSN 1982-1050
23
regra. Bastar lembrar que a proibio do casamento entre parentes prximos pode ter um
campo de aplicao varivel, de acordo com o modo como cada grupo define o que entende
por parente prximo. Mas esta proibio, sancionada por penalidades sem dvida variveis,
podendo ir da imediata execuo dos culpados at a reprovao difusa, e s vezes somente at
a zombaria, est sempre presente em qualquer grupo social.
Com efeito, no se poderia invocar neste assunto as famosas excees com que a sociologia
tradicional se satisfaz freqentemente, ao mostrar como so poucas. Porque toda sociedade
faz exceo proibio do incesto quando a consideramos do ponto de vista de outra
sociedade, cuja regra mais rigorosa que a sua. Treme-se ao pensar no nmero de excees
que um ndio paviotso deveria registrar a este respeito. Quando nos referimos s trs excees
clssicas, o Egito, o Peru, o Hava, a que alis preciso acrescentar algumas outras (Azande,
Madagscar, Birmnia, etc.), no se deve perder de vista que estes sistemas so excees
relativamente ao nosso prprio, na medida em que a proibio abrange ai um domnio mais
restrito do que entre ns . Mas a noo de exceo inteiramente relativa, e sua extenso seria
muito diferente para um australiano, um tonga ou um esquim.
A questo no consiste, portanto em saber se existem grupos que permitem casamentos que
so excludos em outros, mas, em vez disso, em saber se h grupos nos quais nenhum tipo de
casamento proibido. A resposta deve ser ento absolutamente negativa, e por dois motivos.
Primeiramente, porque o casamento nunca autorizado entre todos os parentes prximos,
mas somente entre algumas categorias (meia-irm com excluso da irm, irm com excluso
da me, etc.). Em segundo lugar, porque estas unies consangneas ou tm carter
temporrio e ritual ou carter oficial e permanente, mas neste ultimo caso so privilgio de
uma categoria social muito restrita. Assim que Madagscar a me, a irm e as vezes tambm
a prima so cnjuges proibidos para as pessoas comuns, ao passo que para os grandes chefes e
os reis somente a me mas assim mesmo a me fady, proibida. Mas h to poucas
excees proibio do incesto que esta objeto de extrema susceptibilidade por parte da
conscincia indgena. Quando um matrimnio estril, postula-se uma relao incestuosa
embora ignorada, e a cerimnias expiatrias prescritas so automaticamente celebradas.[21]
O caso do Egito antigo mais perturbador, porque descobertas recentes[22] sugerem que os
casamentos consangneos - particularmente entre irm e irmo representaram talvez um
costume espalhado entre os pequenos funcionrios e arteses, e no limitado, conforme se
acreditava outrora[23], casta reinante e s mais tardias dinastias. Mas em matria de incesto
no poderia haver exceo absoluta. Nosso eminente colega Ralph Linton observou-nos um
dia que na genealogia de uma famlia nobre de Samoa, estudada por ele, em oito casamentos
consecutivos entre irmo e irm somente se refere a uma irm mais moa, e que a opinio
indgena tinha condenado como imoral. O casamento entre o irmo e a irm mais velha
aparece, pois como uma concesso ao direito de primogenitura, e no exclui a proibio do
incesto, porque, alm da me e da filha, a irm mais moa continua sendo cnjuge proibida,
ou pelo menos desaprovado.
Ora, um dos raros textos que possumos sobre a organizao social do antigo Egito indica uma
interpretao anloga.
ANTROPOS Revista de Antropologia Volume 3, Ano 2, Dezembro de 2009 ISSN 1982-1050
24
Eis aqui, pois, um fenmeno que apresenta simultaneamente o carter distintivo dos fatos da
natureza e o carter distintivo teoricamente contraditrio dos precedentes dos fatos da
cultura. A proibio do incesto possui ao mesmo tempo a universalidade das tendncias e dos
instintos e o carter coercitivo das leis e das instituies. De onde provm ento? Qual seu
lugar e significao? Ultrapassando inevitavelmente os limites sempre histricos e geogrficos
da cultura, coextensiva no tempo e no espao com a espcie biolgica, mas reforando, pela
proibio social, a ao espontnea das foras naturais a que se ope por seus caracteres
prprios, embora identificando-se a elas quanto ao campo de aplicao, a proibio do incesto
aparece diante da reflexo sociolgica como terrvel mistrio.
Poucas prescries sociais preservaram, com igual extenso, em nossa sociedade a aurola de
terror respeitoso que se liga s coisas sagradas. De maneira significativa, e que teremos
necessidade de comentar e explicar mais adiante, o incesto, em forma prpria e na forma
metafrica de abuso de menor (conforme diz o sentimento popular, da qual se poderia ser o
pai), vem a encontrar-se mesmo, em certos pases, com sua anttese, as relaes sexuais inter-
raciais, que no entanto so uma forma extrema da exogamia, como os dois mais poderosos
estimulantes do horror e da vingana coletivas. Mas este ambiente de terror mgico no define
somente o clima no qual, ainda mesmo na sociedade moderna, a instituio evolui. Este
ambiente envolve tambm, no plano terico, debates aos quais, desde as origens, a sociologia
se dedicou com uma tenacidade ambgua: A famosa questo da proibio do incesto, declara
Lvy-Bruhl, esta vexata quaestio de que os etnlogos e os socilogos tanto procuraram a
soluo, no admite nenhuma.
No h oportunidade em coloc-la. Nas sociedades das quais acabamos de falar intil
perguntar por que razo o incesto proibido. Esta proibio no existe...; ningum pensa em
proibi-la. alguma coisa que no acontece. Ou, se por impossvel isso acontece, seria alguma
coisa inaudita, um monstrum, uma transgresso que espalha o horror e pavor. As sociedades
primitivas conhecem a proibio da autofagia ou do fratricdio? Essas sociedades no tm nem
mais nem menos razo para proibir o incesto. [25]
No nos espantaremos em encontrar tanto constrangimento em um autor que no hesitou
contudo diante das mais audaciosas hipteses, se considerarmos que os socilogos so quase
unnimes em manifestar, diante deste problema, a mesma repugnncia e a mesma timidez.
NOTAS E REFERNCIAS
[1] Diramos hoje preferivelmente estado de natureza e estado de cultura.
[2] Parece, com efeito, que o medo do escuro no aparece antes do vigsimo quinto ms. Cf. C.
W. Valentine, The Innate Basis of Fear, journal of Gentic Psychology, vol. 37, 1930.
[3] M. B. McGraw, The Neuromuscular Maturation of the Humen Infant, Nova Iorque 1944.
[4] J. M. G. Itard, Rapports et mmories sur le sauvage de lAveyron, etc., Paris 1894. A. Von
Feurbach, Caspar Hauser, Trad. Ingl. Londres 1883, 2 vols.
[5] G. C. Ferris, Sanichar, the Wolf-boy of ndia, Nova Iorque 1902. P. Squires, Wolf-
children of ndia. America Journal of psychology, vol. 38, 1927, p. 313. W. N. Kellog, More
about the Wolf-children of ndia. Ibid., vol. 43,1931, p. 508-509; A Futher Note on the
ANTROPOS Revista de Antropologia Volume 3, Ano 2, Dezembro de 2009 ISSN 1982-1050
25
Wolf-children of ndia. Ibid., vol. 46. 1934. p. 149. Ver tambm, sobre esta polmica, J. A.
L. Singh e R. M. Zingg. Wolf-children and Feral Men, Nova Iorque 1942, e A. Gessel, Wolf-
child and Human Child, Nova Iorque 1941.
[6] J. P. .Foley, Jr., The Baboon-boy of South frica. American Journal of Psychology, vol.
53, 1940. R. M. Zingg, More about the Baboon-boy of South frica, Ibid.
[7] J. F. Blumenbah, Beitrge zur Naturgeschichte, Gttingen 1811, em Anthropological
Treatises of J. F. Blumenbach, Londres 1865, p. 339.
[8] P. Guillaume e I. Meyerson, Quelques recherches sur lintelligens ds singes
(communication prliminaire), e: Recherces sur lusage de linstrument chez ls singes.
Journal de psychology, vol. 27, 1930; vol. 28, 1931; vol. 31, 1934; vol. 34, 1938.
[9] W. Knler, The Mentality of Apes, apndice segunda edio.
[10] N. Kont, La Conduite du petit du chimpanz et de lenfant de lhomme, Journal de
Psychology, vol. 34, 1937, p. 531; e os outros artigos do mesmo autor: Recherches sur
lintelligence du chimpanz par la mthode du choixdaprs modele. Ibid., vol. 25, 1928; Ls
aptitudes motrices adaptatives du singe infrieur. Ibid., vol. 27, 1930.
[11] W. C. Alles, Social dominance and Subordination among Vertebrates, em Levels of
ontegration in Biological and Social Systems, Biological Symposia, vol. VIII, Lancater 1942.
[12] A. H. Maslow, Comparaive Behavior of Primates, VI: Food Preferences of Primates,
Journal of Compartive Psychogy, vol. 16,1933, p. 196.
[13] G. S. Miller, The Primate Basis of Human Sexual Behavior. Quarterly Review of Biology,
vol. 6, n. 4 1931, p. 392.
[14] R. M. Yerkes, A Program of Anthropoid Research, American Journal de Psychology, vol.
39,1927, p. 181. R. M. Yerkes e S. H. Elder, Cestrus Receptivity and Mating in Chimpanz.
Comparative Psychogy Monographs, vol. 13, n. 5, 1936, sr. 65, p. 39.
[15] B. Malinowski, Sex and Repression in Savage Society, Nova Iorque-Londres 1927, p. 194.
[16] C. R. Carpenter, A Field Study of the Behavior and Social Relations of Howling Monkeys.
Comparative Psychogy Monographs, vol. 10-11, 1934-1935, p. 128.
[17] C. R. Carpenter, A Field Study in Siam of the Behavior and Social Relations of the gibbon
(Hylobates lar). Comparative Psychogy Monographs, vol. 16, n. 5, 1940, p. 195.
[18] C. R. Carpenter, Sexual Behavior of Free Range Rhesus Monkeys (Macaca mulatta)
Comparative Psychology Monographs, vol. 32, 1942.
[19] H. W. Nissen, A Field Study of the Chimpanzee. Comparative Psychology Monographs,
vol. 8, n. 1, 1931, sr. 36, p. 73.
[20] Se pedssemos a dez etnlogos contemporneos para indicar uma instituio humana
universal, provvel que nove escolhessem a proibio do incesto. Vrios deles j a
designaram formalmente como a nica instituio universal . Cf. A.L. Kroeber. Totem end
Taboo in Retrospect. American Jounal Sociology.Vol. 45, n. 3, 1939, p. 448.
[21] H. M. Dubois, S.J., Monographie ds Betsilo, Travaux et Mmoires de lInstitut
dEthnologie, Paris, vol. 34, 1938, p. 876-879.
[22] M. A. Murray, Marriage in Ancient Egypt, em Congrs international des Sciences
anthropologiques, Comptes rendus, Londres 1984, p. 282.
[23] E. Amelineau, Essai sur lvolution historique et philosophique desides morales dans
lEgypte ancienne. Bibliothque de lEcole Pratique des Hautes Etudes. Sciences religieuses.
ANTROPOS Revista de Antropologia Volume 3, Ano 2, Dezembro de 2009 ISSN 1982-1050
26
vol 6, 1895, p. 72-73 W. M. Flinders-Petrie, Social Life in Ancient Egypt, Londres 1923, p.
110ss.
[24] G. Maspero, contes populaires de lEgypt ancienne, Paris 1889. p. 171.
[25] L. Lvy-Bruhl, L Surnaturel er la Nature dans la mentalit primitive, Paris 1981, p. 247.
Você também pode gostar
- Elaboração de Um Pedido de PatenteDocumento3 páginasElaboração de Um Pedido de PatenteLeandro MartinsAinda não há avaliações
- A Música Que Incomoda - o Funk e o RolezinhoDocumento17 páginasA Música Que Incomoda - o Funk e o RolezinhoJoãoAugustoNevesAinda não há avaliações
- Guião de Od - Versão Final - pdf18.01.2022Documento21 páginasGuião de Od - Versão Final - pdf18.01.2022Jossias Moiane100% (2)
- Fases Do Capitalismo 3 AnoDocumento2 páginasFases Do Capitalismo 3 AnoCledson NahumAinda não há avaliações
- Efeitos de Lugar - Pierre BourdieuDocumento5 páginasEfeitos de Lugar - Pierre BourdieuMárcia Farsura de OliveiraAinda não há avaliações
- Escolas JurídicasDocumento25 páginasEscolas JurídicasNilvanete de Lima50% (4)
- DA MATTA, Roberto Relativizando - Uma Introdução À Antropologia Social (Parte I)Documento37 páginasDA MATTA, Roberto Relativizando - Uma Introdução À Antropologia Social (Parte I)Amanda Ribeiro Frade100% (1)
- Narrativas da Educação Ambiental e do Ambientalismo em um Contexto HistóricoNo EverandNarrativas da Educação Ambiental e do Ambientalismo em um Contexto HistóricoAinda não há avaliações
- As Imagens na História: o cinema e a fotografia nos séculos XX e XXINo EverandAs Imagens na História: o cinema e a fotografia nos séculos XX e XXIAinda não há avaliações
- JACOUD. MAYER. A Observação Direta e A Pesquisa Qualitativa.Documento21 páginasJACOUD. MAYER. A Observação Direta e A Pesquisa Qualitativa.Juliana LoureiroAinda não há avaliações
- PEIRANO, Marisa. Teoria VividaDocumento4 páginasPEIRANO, Marisa. Teoria VividarosamariasouzAinda não há avaliações
- Tempo e Narrativa Tomo III Paul RicoeurDocumento3 páginasTempo e Narrativa Tomo III Paul RicoeurLuciAraújoBeauvoirAinda não há avaliações
- James George Frazer O Escopo Da Antropologia SocialDocumento4 páginasJames George Frazer O Escopo Da Antropologia SocialInocêncio pascoal100% (1)
- Mentes Indigenas e Ecumeno AntropologicoDocumento22 páginasMentes Indigenas e Ecumeno AntropologicoJosé Maurício ArrutiAinda não há avaliações
- Neves 2002 Antropologia EcológicaDocumento15 páginasNeves 2002 Antropologia EcológicaLívia Marília50% (2)
- Consumo ConscienteDocumento115 páginasConsumo ConscienteAndrea Filik100% (1)
- Natureza e Cultura - Lévi-StraussDocumento11 páginasNatureza e Cultura - Lévi-Straussapi-3715322100% (3)
- Jornalistas e Revolucionarios - Bernardo KucinskiDocumento263 páginasJornalistas e Revolucionarios - Bernardo KucinskiEloisa CristinaAinda não há avaliações
- Colônias de Pescadores e Luta CidadaniaDocumento8 páginasColônias de Pescadores e Luta CidadaniaHenri E KarineAinda não há avaliações
- Fichamento Roberto Da MattaDocumento2 páginasFichamento Roberto Da MattaFernanda De Sá Meneses67% (3)
- Horizontes Das Ciencias Sociais No Brasil Antropol PDFDocumento4 páginasHorizontes Das Ciencias Sociais No Brasil Antropol PDFHugo MedeirosAinda não há avaliações
- DAMATTA Roberto. O Ofício de Etnólogo Ou Como Ter Anthopological BluesDocumento11 páginasDAMATTA Roberto. O Ofício de Etnólogo Ou Como Ter Anthopological BluesKyiaMirna100% (1)
- Aula Dia 25.03 - Pensar e Ser em Geografia Ruy MoreiraDocumento5 páginasAula Dia 25.03 - Pensar e Ser em Geografia Ruy MoreiraMarcelo SilvaAinda não há avaliações
- Resenha LATOUR Bruno Jamais Fomos Modernos PDFDocumento5 páginasResenha LATOUR Bruno Jamais Fomos Modernos PDFquelimoraisAinda não há avaliações
- LEACH, Edmund - Categorias Animais e Insulto VerbalDocumento15 páginasLEACH, Edmund - Categorias Animais e Insulto VerbalCamila FioravantiAinda não há avaliações
- O Dinheiro Na Cultura Moderna (Georg Simmel)Documento17 páginasO Dinheiro Na Cultura Moderna (Georg Simmel)Fernanda VinhasAinda não há avaliações
- Antropologia - Fraçois LaplatineDocumento5 páginasAntropologia - Fraçois LaplatineNádhina LemosAinda não há avaliações
- Resenha KuperDocumento6 páginasResenha KuperJosé GlebsonAinda não há avaliações
- Roteiro de Leitura - Margared Mead (FFLCH USP)Documento2 páginasRoteiro de Leitura - Margared Mead (FFLCH USP)Yana ChangAinda não há avaliações
- Análise Antropológica Do Texto Cosmologias Do Capitalismo de Marshall SahlinsDocumento12 páginasAnálise Antropológica Do Texto Cosmologias Do Capitalismo de Marshall SahlinsFrederico Custodio Pinheiro SilvaAinda não há avaliações
- Sociologia Do Corpo, Le Breton (Resenha)Documento3 páginasSociologia Do Corpo, Le Breton (Resenha)Alexandre Gomes100% (1)
- Transformações Socioespaciais No Bairro de Barra de Jangada, Jaboatão Dos Guararapes, PernambucoDocumento31 páginasTransformações Socioespaciais No Bairro de Barra de Jangada, Jaboatão Dos Guararapes, PernambucoAdrianno AlmeidaAinda não há avaliações
- Atividade 2Documento3 páginasAtividade 2Najara Alves33% (3)
- Radcliffe Brown. O Conceito de ''Função'' em Ciências SociaisDocumento9 páginasRadcliffe Brown. O Conceito de ''Função'' em Ciências SociaismarcosdadaAinda não há avaliações
- Fichamento Do Texto Do Ponto de Vista Dos NativosDocumento3 páginasFichamento Do Texto Do Ponto de Vista Dos NativosLaurene OliveiraAinda não há avaliações
- Plano de Curso - Antropologia BrasileiraDocumento6 páginasPlano de Curso - Antropologia BrasileiraVitor BritoAinda não há avaliações
- O Método GenealógicoDocumento17 páginasO Método GenealógicoQuentin Xquire100% (1)
- Conceito de Estrutura para Radcliffe Brown e EDocumento3 páginasConceito de Estrutura para Radcliffe Brown e EJúnior AlvesAinda não há avaliações
- A Transição para A HumanidadeDocumento2 páginasA Transição para A HumanidadeDê Benn Mend0% (1)
- Fichamento - Estrutura Ou Sentimento - A Relação Com o Animal Na Amazônia. Descola, PhilippeDocumento2 páginasFichamento - Estrutura Ou Sentimento - A Relação Com o Animal Na Amazônia. Descola, PhilippeTatiAinda não há avaliações
- CARLOS, Ana Fani Alessandri. Espaço e Indústria.Documento13 páginasCARLOS, Ana Fani Alessandri. Espaço e Indústria.tetas again100% (1)
- Existem Grupos Sociais Nas Terras Altas Da Nova Guiné PDFDocumento31 páginasExistem Grupos Sociais Nas Terras Altas Da Nova Guiné PDFadalton_marquesAinda não há avaliações
- Resenha - O Trabalho Do Antropólogo PDFDocumento2 páginasResenha - O Trabalho Do Antropólogo PDFVirgínia LopesAinda não há avaliações
- O Espaço Como Palavra Chave 18625-60953-2-PBDocumento27 páginasO Espaço Como Palavra Chave 18625-60953-2-PBSérgio Pereira de Souza Jr.Ainda não há avaliações
- Seeger, Anthony - Sociedades Dialéticas - As Sociedades Jê e Os Seus Antropólogos PDFDocumento8 páginasSeeger, Anthony - Sociedades Dialéticas - As Sociedades Jê e Os Seus Antropólogos PDFJuliano AlmeidaAinda não há avaliações
- MALINOWSKI, Bronislaw - Tema Método e Objetivo Desta PesquisaDocumento18 páginasMALINOWSKI, Bronislaw - Tema Método e Objetivo Desta PesquisaGabriel E Silva BordonalAinda não há avaliações
- Projecto CesarDocumento20 páginasProjecto CesarCésar Tito Gremo NotaAinda não há avaliações
- Espaço Genero e Poder - Joseli e Augusto CezarDocumento245 páginasEspaço Genero e Poder - Joseli e Augusto CezarCláudio SmalleyAinda não há avaliações
- Tipologias EvolutivasDocumento6 páginasTipologias EvolutivasBruno Rafael Matps PiresAinda não há avaliações
- HOMEM Natureza e Cultura - ArtigoDocumento15 páginasHOMEM Natureza e Cultura - ArtigoSocorro AlmeidaAinda não há avaliações
- EMENTA - Teoria Política Clássica Graduação UnBDocumento5 páginasEMENTA - Teoria Política Clássica Graduação UnBMauro Sérgio FigueiraAinda não há avaliações
- Resenha La EtnografiaDocumento3 páginasResenha La EtnografiaJanaína HallaisAinda não há avaliações
- Resenha Proibicao Do IncestoDocumento3 páginasResenha Proibicao Do IncestoPaulo HayashiAinda não há avaliações
- 3 - (Aula 9 Complementar) GEERTZ, Clifford - Estar Lá A Antropologia e o Cenário Da EscritaDocumento16 páginas3 - (Aula 9 Complementar) GEERTZ, Clifford - Estar Lá A Antropologia e o Cenário Da EscritaPedro Alb XavierAinda não há avaliações
- Seminário Writing Against CultureDocumento5 páginasSeminário Writing Against CultureEduardoAinda não há avaliações
- Hermenêutica LiteráriaDocumento7 páginasHermenêutica LiteráriaElielson FigueiredoAinda não há avaliações
- Livro - Geografia Regional Do Brasil - Parte 2Documento24 páginasLivro - Geografia Regional Do Brasil - Parte 2Paulo Aparecido Dos SantosAinda não há avaliações
- Resenha Porto Gonçalves A Globalização Da Natureza e A Natureza Da GlobalizaçãoDocumento18 páginasResenha Porto Gonçalves A Globalização Da Natureza e A Natureza Da GlobalizaçãoTaty BorgesAinda não há avaliações
- Fichamento As Limitações Do Método ComparativoDocumento3 páginasFichamento As Limitações Do Método ComparativoHinara BandeiraAinda não há avaliações
- A Epopéia Do Capitão CookDocumento2 páginasA Epopéia Do Capitão CookIaraEloane100% (3)
- Fichamento CLIFFORD James A Experiencia EtnograficaDocumento8 páginasFichamento CLIFFORD James A Experiencia EtnograficaKevin HayesAinda não há avaliações
- Saúde pública e pobreza em São Luís na Primeira República (1889/1920)No EverandSaúde pública e pobreza em São Luís na Primeira República (1889/1920)Ainda não há avaliações
- A Questão Alimentar e o Desenvolvimento dos Territórios: Diálogos a Partir da Experiência do Território Vertentes em Minas GeraisNo EverandA Questão Alimentar e o Desenvolvimento dos Territórios: Diálogos a Partir da Experiência do Território Vertentes em Minas GeraisAinda não há avaliações
- Arapiuns+5: O Ordenamento Territorial IncompletoNo EverandArapiuns+5: O Ordenamento Territorial IncompletoAinda não há avaliações
- Planejamento em Saude para Nao EspecialistaDocumento10 páginasPlanejamento em Saude para Nao EspecialistaEgydio CamargosAinda não há avaliações
- Artiigo Touraine e FoucaultDocumento38 páginasArtiigo Touraine e FoucaultArilda ArboleyaAinda não há avaliações
- Pacheco AlbertoJoseVieira MDocumento327 páginasPacheco AlbertoJoseVieira MSarah Nicoli100% (1)
- Prof Istvan Kasznar - CORONOMIA 2020Documento38 páginasProf Istvan Kasznar - CORONOMIA 2020Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do RJAinda não há avaliações
- QUITZAU GutsMuths Jahn PDFDocumento8 páginasQUITZAU GutsMuths Jahn PDFEvelise Amgarten QuitzauAinda não há avaliações
- Ebook Reprogramando Sua Mente PDFDocumento45 páginasEbook Reprogramando Sua Mente PDFMarcelampbtAinda não há avaliações
- O Poder Judiciário Na Perspectiva Da Sociedade Democrática o Juiz-Cidadão PDFDocumento14 páginasO Poder Judiciário Na Perspectiva Da Sociedade Democrática o Juiz-Cidadão PDFIlton OrnelasAinda não há avaliações
- Manual de Sobrevivência - IFMSA LC UFJF - 25-04-2013 PDFDocumento18 páginasManual de Sobrevivência - IFMSA LC UFJF - 25-04-2013 PDFIfmsa-Brazil Comitê Ufjf100% (2)
- O Conceito de Patrimonialismo e Suas Interpretações ContemporâneasDocumento17 páginasO Conceito de Patrimonialismo e Suas Interpretações ContemporâneasRakel de CastroAinda não há avaliações
- O Que É Comunidade - Sandel - Limites Do ComunitarismoDocumento15 páginasO Que É Comunidade - Sandel - Limites Do ComunitarismoDavid van den BruleAinda não há avaliações
- Revista Del Rey Jurídica - #15 - 2º Semestre de 2005Documento52 páginasRevista Del Rey Jurídica - #15 - 2º Semestre de 2005Marco Aurélio Vogel Gomes de MelloAinda não há avaliações
- Ciências Cognitivas Da EducaçãoDocumento7 páginasCiências Cognitivas Da EducaçãoAlyson Oliveira100% (1)
- Como É Denominada A Forma de Governo em Que o Indivíduo Governa Como Chefe de EstadoDocumento10 páginasComo É Denominada A Forma de Governo em Que o Indivíduo Governa Como Chefe de EstadoElza MariaAinda não há avaliações
- A Sociologia e O Mundo Moderno (Octavio Ianni)Documento17 páginasA Sociologia e O Mundo Moderno (Octavio Ianni)Leonardo MotaAinda não há avaliações
- 1-IPCA-Curso Inspeção Tributária-Direito Fiscal-Carlos Padrão RibeiroDocumento117 páginas1-IPCA-Curso Inspeção Tributária-Direito Fiscal-Carlos Padrão RibeiroTânia AmaralAinda não há avaliações
- Reflexoes Sobre A Guilhotina PDFDocumento35 páginasReflexoes Sobre A Guilhotina PDFJoão Pedro SousaAinda não há avaliações
- Direito Economico GrupoDocumento12 páginasDireito Economico Grupopatricio ValentinAinda não há avaliações
- Prova 1 Bimestre 803 HistóriaDocumento4 páginasProva 1 Bimestre 803 HistóriaTiago JaquesAinda não há avaliações
- Decretos N.º 46, 47 e 48 - 2021 - Inatro I.P.Documento12 páginasDecretos N.º 46, 47 e 48 - 2021 - Inatro I.P.Forex Moçambique OnlineAinda não há avaliações
- Wcms 211135Documento58 páginasWcms 211135Nelton Augusto LuisAinda não há avaliações
- Artigos - Zezinho.Documento5 páginasArtigos - Zezinho.JOÃO PEDRO CUBAS RAMIMAinda não há avaliações
- Luis Carlos Cantanhede Santos JuniorDocumento12 páginasLuis Carlos Cantanhede Santos JuniorCarlos AugustoAinda não há avaliações
- Senge Informa 178Documento8 páginasSenge Informa 178equipaengAinda não há avaliações
- Consagração Dos Direitos Fundamentais A Partir Da Promulgação Da ConstituiçãoDocumento22 páginasConsagração Dos Direitos Fundamentais A Partir Da Promulgação Da ConstituiçãoKaio EduardoAinda não há avaliações
- Anais Do II Simpósio História Do Direito UEMG Diamantina PDFDocumento286 páginasAnais Do II Simpósio História Do Direito UEMG Diamantina PDFLeniedersonAinda não há avaliações