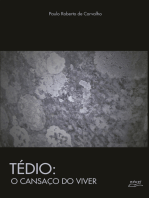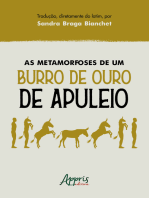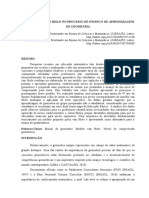Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Unidade Transcendente Das Religiões
A Unidade Transcendente Das Religiões
Enviado por
Tiago Leal0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
9 visualizações113 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
9 visualizações113 páginasA Unidade Transcendente Das Religiões
A Unidade Transcendente Das Religiões
Enviado por
Tiago LealDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 113
A UNIDADE TRANSCENDENTE DAS RELIGIes
Traduo de Pedro de Freitas Leal
PUBLICAES DOM QUIXOTE LISBOA 1991
Schuon, Frithjof, 1907 A Unidade Transcendente das Religies
Publicaes Dom Quixote, Lda. Rua Luciano Cordeiro, 116 - 2.' 1098 Lisboa Codex
- Portugal
Reservados todos os direitos de acordo com a legislao em vigor
Ttulo original: De Punit transcendente des refigions
1.0 edio: Julho de 1991 Depsito legal n.I 47 820191 Fotocomposio:
FOTOCOMPOGRAFICA, LDA.
Impresso e acabamento: Grfica Manuel Barbosa e Filhos, Lda
Digitalizao
Mediateca da Caixa Geral de Depsitos
Uso exclusivo para os seus utentes deficientes visuais
NDICE
Prefcio......................................................... 11 1 - Das
dimenses conceptuais................................ 17 II - A limitao do
exoterismo................................ 23 III - Transcendncia e
universalidade do esoterismo............ 45 IV -'A questo das formas de
arte.............................. 69 V - Dos limites da expanso
religiosa......................... 83 VI - O aspecto ternrio do
monotesmo.......................... 97
VII - Cristianismo e islo....................................... 105
VIII - Natureza particular e universalidade da tradio crist... 121 IX - Ser
homem conhecer...................................... 143
*O Esprito sopra aonde quer:
e ouves a sua voz, mas no sabes
de onde vem nem para onde vai;
assim todo aquele que nasceu
do Esprito (Joo, III, 8)+
PREFACIO
s consideraes deste livro procedem
de uma doutrina que no filosfica, mas sim metafsica. Tal distino
poder parecer ilegtima aos olhos de quem engloba a metafsica dentro
da filosofia. Mas, se j em Aristteles e nos seus continuadores escolsticos
encontramos tal assimilao, isso apenas demonstra que toda a filosofia tem
limitaes que, mesmo nos casos mais benignos como o que acabamos de citar,
excluem uma apreciao perfeitamente adequada da
metafsica. Esta possui, na verdade, um carcter transcendente, que a torna
independente de qualquer parecer humano. Para melhor definirmos a
diferena que existe entre os dois modos de pensar, diramos que a filosofia
procede da razo, como faculdade individual, enquanto a metafsica se
reporta em exclusivo ao Intelecto. Este ltimo, foi mestre Eckhart quem
melhor o definiu: *Existe na alma algo de incriado e de incrivel; se a alma
toda fosse isso, seria ento incriada e incrivel, e isso o Intelecto.+
Achamos no esoterismo, muulmano uma definio anloga, mas ainda
mais concisa e mais rica em valor simblico: *O sufi (ou seja: o homem
identificado com o Intelecto) no foi criado.+ Se o conhecimento puramente
intelectual ultrapassa, por definio, o indivduo; se esse conhecimento tem uma
essncia supra-individual, universal ou
divina, que procede da Inteligncia pura - isto , directa e no-discursiva
conclui-se que tal conhecimento no s ultrapassa o raciocnio, mas
tambm ultrapassa a prpria f, no sentido vulgar do termo. Por outras
Frithjof Schuon
palavras, o conhecimento intelectual ultrapassa o conhecimento especificamente
teolgico, j de si incomparavelmente superior ao conhecimento
filosfico, nacionalista, pois ele, como o conhecimento metafsico, emana
de Deus e no do homem. S que, enquanto a metafsica procede toda ela
da intuio intelectual, a religio procede da Revelao. Esta a Palavra
de Deus que se dirige s Suas criaturas, enquanto a intuio intelectual
participao indirecta e activa no Conhecimento Divino, no participao
indirecta e passiva como no caso da f. Por outras palavras, diramos que
na intuio intelectual no o indivduo enquanto tal que conhece, mas
sim o indivduo na sua essncia, indistinto do seu Princpio Divino. Assim,
tambm a certeza metafsica absoluta em razo da identidade entre
conhecedor e conhecido, no Intelecto. Se nos permitido um exemplo de
ordem sensvel para ilustrara diferena entre o conhecimento metafsico, e
o teolgico, podemos dizer que o primeiro - a que chamaremos *esotrico+ por se
manifestar mediante um simbolismo religioso - tem conscincia da essncia
incolor da luz e do seu carcter de pura luminosidade.
Uma crena religiosa admitir, pelo contrrio, que a luz vermelha e no
verde, enquanto qualquer outra afirmar o oposto: ambas tero razo ao
distinguirem as trevas da luz, mas no ao identificarem a luz com esta ou
aquela cor. Queremos mostrar, atravs deste exemplo to rudimentar, que
o ponto de vista teolgico ou dogmtico, pelo simples facto de se fundar
numa revelao e no num conhecimento acessvel a todos - facto alis
impensvel em termos da grande colectividade humana -, confunde necessariamente
o smbolo ou a forma com a Verdade nua e supraformal,
enquanto a metafsica - a que so a ttulo provisrio poderemos chamar
*ponto de vista+ - pode servir-se do -mesmo smbolo ou forma como simples meio
de expresso, sem ignorar o que nele h de relativo. E por esse
motivo que todas as grandes religies, intrinsecamente ortodoxas, podem,
atravs dos seus dogmas, ritos e outros smbolos, servir de meio de expresso de
toda a Verdade directamente conhecida pelo olho do Intelecto,
aquele rgo espiritual a que o esoterismo muulmano chama *o olho do
corao+. Acabmos de afirmar que a religio traduz as verdades metafsicas
ou
universais em linguagem dogmtica. Ora, se o dogma j no acessvel a
todos na sua Verdade intrnseca, pois s o, Intelecto a ela pode directa 12
A Unidade Transcendente das Religies
mente aceder, tambm no o mais pela f, nico modo de participao
possvel, para a maioria dos homens, nas verdades divinas. Quanto ao
conhecimento intelectual que, como vimos, no procede nem de uma crena
nem de um raciocnio, ele superior ao dogma, no sentido em que, sem
nunca o contrariar, penetra na sua dimenso interior, ou seja, a Verdade
infinita que domina todas as formas. Para sermos totalmente claros,
insistiremos ainda em que o modo racional de conhecimento jamais ultrapassa o
domnio das generalidades, nunca chegando a atingir qualquer verdade
transcendente. Pode, porm, servir de modo de expresso a um conhecimento
supra-racional, como foi o
caso da antologia aristotlica e escolstica, mas sempre ocorrer em detrimento
da integridade intelectual da doutrina. Alguns talvez objectem que
a metafsica mais pura se distingue por vezes pouco da filosofia; que, como
esta, faz recurso a argumentos e parece chegar a concluses. Mas tal
semelhana s se apoia no facto de que todo o conceito, desde que expresso, se
reveste forosamente dos modos do pensamento humano, que
racional e dialctico. O que distingue aqui essencialmente a proposio
metafsica da proposio filosfica que a primeira e simblica e descritiva -
no sentido em que se serve dos modos racionais como de smbolos
para descrever ou traduzir conhecimentos que comportam mais certeza do
que qualquer outro conhecimento de ordem sensvel -, enquanto a filosofia, a que
no foi em vo que se chamou ancilla theologiae, nunca
mais do que aquilo que exprime. No facto de a filosofia raciocinar para
resolver uma dvida v-se que o seu ponto de partida uma dvida que
ela quer ultrapassar; enquanto o ponto de partida do enunciado metafsico
sempre essencialmente uma evidncia ou uma certeza que se pretende
comunicar, aos que sejam aptos a receb-la, por meios simblicos ou dialcticos
capazes de actualizar neles o conhecimento latente que inconscientemente,
diramos *eternamente+, trazem em si. Tomemos a ideia de Deus, a ttulo de
exemplo dos trs modos de pensamento que j abordmos. O conhecimento
filosfico, quando no nega
pura e simplesmente a Deus - o que equivaleria a dar a este termo um
sentido que ele no tem -, tenta demonstrar Deus servindo-se de todo o
tipo de argumentos: por outras palavras, este conhecimento tenta provar
tanto a *existncia+ como a *inexistncia+ de Deus, como se a razo, que
13
Frithjof Schuon
no fonte mas apenas intermediria do conhecimento transcendente, pudesse
demonstrar fosse o que fosse; alis, tal pretenso autonomia da
razo, em domnios onde s a intuio intelectual ou a revelao podem
ser fonte de saber, caracteriza o conhecimento filosfico, pondo a descoberto
toda a sua insuficincia. Quanto ao conhecimento teolgico, ele no
se preocupa em demonstrar Deus - permite mesmo que se admita que
tal impossvel -, mas funda-se na crena; diga-se de passagem que a f
no se reduz, de modo algum, simples crena, ou Cristo no teria falado
da *f que desloca montanhas+, j que a crena religiosa no tem essa virtude.
Enfim, metafisicamente, no se tratar mais de uma *prova+ ou de
uma *crena+, mas s de evidncia directa, intelectual, que implica certeza
absoluta, mas que, no estado actual da humanidade, no acessvel seno ' a uma
elite espiritual cada vez mais restrita. Ora a religio, independentemente da
sua natureza e das veleidades dos seus representantes, que
podem no ter disto conscincia, contm e transmite, sob o vu dos seus
smbolos dogmticos e rituais, o Conhecimento puramente intelectual, como
referimos acima. Contudo, poderamos justamente perguntar por que razes,
humanas e
csmicas, que verdades, a que chamamos *esotricas+ num sentido muito geral,
so trazidas luz e explicitadas, precisamente, na nossa poca
to pouco dada especulao. H a, com efeito, algo de anormal, no
tanto no facto de se exporem as verdades, mas sim dadas as condies gerais da
nossa poca que, marcando o fim de um grande perodo cclico o fim de um
mah-yuga segundo a cosmologia hindu -, dever recapitular ou manifestar de
novo, de uma maneira ou de outra, tudo o que est
suposto nesse ciclo. Como diz o adgio: *os extremos tocam-se+. De modo que
coisas, que so anormais por si mesmas, podem tornar-se necessrias devido s
referidas condies. Dum ponto de vista mais individual,
o da simples oportunidade, concordaramos que a barafunda espiritual da
nossa poca atingiu um grau to elevado que os inconvenientes que, em
princpio, podem resultar, para alguns, do contacto com as verdades a que
aludimos, se acham compensados pelas vantagens que outros podero recolher das
ditas verdades. Por outro lado, o termo *esoterismo+ frequentemente usurpado
para esconder ideias to pouco espirituais quanto
perigosas, e o que conhecemos das doutrinas esotricas muitas vezes
14 A Unidade Transcendente das Religies
plagiado e deformado (para alm de a incompatibilidade exterior, de bom
grado amplficada, das diversas formas tradicionais lanar o maior descrdito na
mente de muitos dos nossos contemporneos, sobre qualquer tradio, religiosa ou
outra), de modo que no h somente vantagem, mas
at obrigao de definir o que e e o que no e o verdadeiro esoterismo e
de explicar em que consiste a profunda e eterna solidariedade de todas as
formas do esprito. Para regressarmos ao tema principal, que nos propomos
tratar neste livro, insistiremos em que a unidade das religies no s
irrealizvel no
plano exterior, o das formas, como no deve mesmo ser realizada - supondo que
isso fosse possvel neste plano - sem que as formas reveladas
se vejam desprovidas de razo suficiente; afirmar que so reveladas dizer que
so desejadas pelo Verbo Divino. Se falamos de *unidade transcendente+,
queremos com isso dizer que a unidade das formas religiosas
se deve realizar de maneira puramente interior e espiritual, sem traio de
qualquer das formas particulares. O antagonismo entre estas formas constitui
tanto uma ameaa Verdade una e universal quanto o antagonismo
entre as cores opostas ameaa a transmisso da luz una e incolor, para
retomarmos a imagem de ainda h pouco. E, assim como toda a cor, pela
sua negao da obscuridade e pela sua afirmao da luz, permite reencontrar o
raio que a toma visvel e remont-lo at sua fonte luminosa, assim
toda a forma, smbolo, religio ou dogma, pela sua negao do erro e a
sua afirmao da Verdade, permite remontar o raio da Revelao, que
no outro seno o do Intelecto, at sua fonte divina.
DAS DIMENSes CONCEPTUAIS
compreenso verdadeira e integral
de uma ideia ultrapassa em muito o primeiro assenso de inteligncia que
se impe em todo e qualquer acto de compreenso. Ora, se verdade que
a evidncia que uma ideia nos fornece , sua maneira, uma compreenso, no se
esgota a toda a extenso nem toda a perfeio do entendimento, pois tal forma
de evidncia para ns, sobretudo, sinal de uma
aptido para compreender integralmente tal ideia. Uma verdade pode,
com efeito, ser entendida em diversos graus e segundo diversas dimenses
conceptuais: portanto, segundo um sem-fim de modalidades, correspondentes aos
aspectos, numericamente indefinidos, da verdade, ou seja, todos os seus aspectos
possveis. Tal forma de encarar a ideia leva-nos, em
suma, ao problema da realizao espiritual, cujas expresses doutrinais
ilustram bem a indefinio dimensional da concepo terica. A filosofia, no
que tem delimitador - e isso, alis, que constitui o
seu carcter especfico -, funda-se na ignorncia sistemtica do que acabmos de
enunciar. Por outras palavras, ignora o que seria a sua-prpria
negao. Por isso, recorre a esquemas mentais que, na sua pretenso
universalidade, cr serem absolutos quando, do ponto de vista da realizao
espiritual, no passam de objectos puramente virtuais ou
potenciais no utilizados, dado o caso de as ideias serem verdadeiras. Mas
quando
isso no se verifica, como acontece geralmente na filosofia moderna, tais
esquemas reduzem-se a artifcios inutilizveis do ponto de vista especulativo,
portanto desprovidos de todo o valor real. Quanto s ideias verdadeiras - isto
, as que sugerem, de forma mais ou menos implcita, aspectos
da Verdade total e, consequentemente, a prpria Verdade -, elas so,
desse modo, chaves intelectuais e no tm qualquer outra razo de ser:
so o que s o pensamento metafsico capaz de atingir. Pelo contrrio,
quer na filosofia quer na teologia em sentido comum, existe uma ignorncia
respeitante no apenas natureza das ideias, que se cr terem sido
integralmente entendidas, mas sobretudo teoria enquanto tal: a compreenso
terica, com efeito, transitria por definio e a sua
delimitao ser alis, sempre, mais ou menos aproximada. A compreenso
puramente teorizante de uma ideia - compreenso assim definida devido ao
princpio limitador que a paralisa - poderia muito
bem ser caracterizada pelo termo *dogmatismo+. Com efeito, o dogma religioso
representa - no em si mesmo, mas enquanto suposto excluir
outras formas conceptuais - uma ideia concebida dentro do princpio teorizante,
havendo-se tal forma exclusiva tornado um dos aspectos do pensamento religioso
enquanto tal. Um dogma religioso deixa, porm, de ser
limitado, desde que entendido segundo a sua verdade interna, de ordem
universal, sendo isso, alis, o que se passa em todo o esoterismo. Por outro
lado, mesmo no esoterismo, como em toda a doutrina metafsica, as
ideias formuladas podem, por sua vez, ser entendidas dentro do princpio
dogmatizante ou teorizante, resultando da uma situao perfeitamente
anloga do dogmatismo religioso, a que nos acabmos de referir. Insistamos
ainda, a propsito, que o dogma religioso no , de maneira
alguma, um dogma em si mesmo. S o por ser entendido como tal, devido a uma
confuso entre a idia e a forma que ela reveste. Por outro lado, a dogmatizao
exterior de verdades universais perfeitamente justificada, visto que tais
verdades ou ideias, havendo de ser o fundamento de
uma tradio, devem estar ao alcance de todos, a um grau qualquer.
O dogmatismo, pelo contrrio, no a simples enunciaro de uma ideia,
nem a atribuio de uma forma intuio espiritual; , antes, uma interpretao
que, longe de ascender Verdade informal e total, parte de uma
das formas da Verdade, paralisando-a, negando-lhe as suas potencialidades
intelectuais e atribuindo-lhe um carcter absoluto que s a Verdade
mesma pode ter.
18
A Unidade Transcendente das Religies
O dogmatismo revela-se no s na sua inaptido para conceber a ilimitao
interna ou implcita do smbolo - aquela universalidade que resolve
todas as oposies exteriores -, mas tambm na sua incapacidade em reconhecer o
elo interior que une duas verdades aparentemente contraditrias, fazendo delas
dois aspectos complementares de uma s e mesma verdade. Tambm nos poderamos
exprimir da seguinte forma: aquele que
participa do Conhecimento Universal contempla duas verdades aparentemente
contraditrias como se considerasse dois pontos, situados num s e
mesmo crculo, o qual, unindo-os pela sua continuidade, os conseguisse
reduzir unidade. Se esses pontos se acham afastados, opostos, portanto,
um ao outro, existe contradio; esta levada ao seu limite quando os
dois pontos estiverem em duas extremidades, a todo o dimetro da circunferncia;
mas uma to extrema oposio ou contradio s se manifesta
porque isola do crculo os pontos em causa, fazendo abstraco dele, como se no
existisse. Podemos concluir que, se a afirmao dogmatizante
- que se confunde com a sua forma, sem admitir qualquer outra -
comparvel a um ponto que contradiz, por definio, todos os pontos,
o enunciado especulativo, pelo contrrio, ser comparvel a um elemento
do crculo que, pela forma que lhe prpria, aponta para a sua continuidade
lgica e ontolgica, logo, o crculo inteiro, ou, por transposio analgica,
toda a Verdade. Esta comparao traduzir talvez melhor aquilo
que separa a afirmao dogmatizante do enunciado especulativo. A contradio
exterior e intencional dos enunciados especulativos pode
aparecer no apenas numa s forma logicamente paradoxal, como o caso do Aham
Brahmsmi (*Eu sou Brahma+) vdico - a definio vedntica do yogi - ou do
Anal-Haqq (*Eu sou a Verdade+) hafiajiano ou ainda
das palavras de Cristo a respeito da sua divindade. Mas, com mais razo
ainda, entre formulaes diversas, onde cada uma pode ser logicamente
homognea em si mesma. Isto acontece em todas as Escrituras Sagradas,
nomeadamente no Alcoro. Recordemos apenas a aparente contradio
que existe entre as afirmaes feitas sobre a predestinao e o livre arbtrio,
que s se contradizem por exprimirem aspectos opostos da mesma
realidade. Mas existem teorias que, traduzindo a mais estrita ortodoxia,
apresentam contradies exteriores, pela diversidade dos respectivos pontos de
vista, que no foram escolhidos arbitrria e artificialmente, mas ad 19
Frithjof Schuon
quiridos espontaneamente, graas a uma verdadeira originalidade intelectual.
Para voltar ao que dizamos sobre a compreenso das ideias, podemos
comparar uma noo terica com a viso de um objecto: da mesma forma
que a viso no revela todos os aspectos possveis - a natureza integral
- do objecto, cujo conhecimento perfeito mais no do que a nossa
identidade com ele, tambm a noo terica no corresponde verdade
integral, da qual representa forosamente um s aspecto, seja ele essencial ou
no'. Neste exemplo, o erro seria a viso inadequada do objecto,
enquanto a concepo dogmatizante se poderia comparar viso exclusiva
de uma s faceta do objecto, supondo-se com isso a imobilidade do sujeito
vidente. Quanto concepo especulativa, intelectualmente ilimitada,
ela seria aqui comparvel ao conjunto indefinido das diversas vises do
objecto em causa, vises que pressuporiam a faculdade de deslocamento
ou de mudana de ponto de vista do sujeito, portanto um certo modo de
identidade com as dimenses do espao, que revelam precisamente a natureza
integral do objecto, pelo menos no respeitante forma, que o
que est em jogo neste exemplo. O movimento no espao , com efeito,
uma participao activa nas possibilidades deste, enquanto a extenso esttica
no espao - a forma do nosso corpo, por exemplo - uma participao passiva
nestas mesmas possibilidades. Destas consideraes, podemos facilmente passar a
um plano superior e falar de um *espao
intelectual+ - toda a possibilidade cognitiva que, no fundo, no mais
do que a Omniscincia Divina - e das *dimenses intelectuais+ - as mo
' Num tratado contra a filosofia nacionalista, Algazel fala de uns cegos que,
no tendo
qualquer conhecimento, nem mesmo terico, do elefante, se encontram um dia na
presena deste animal, pondo-se a tactear as diversas partes do seu corpo. Ora,
cada um
imagina o animal segundo as partes que tocou: para o primeiro cego, que apalpou
a pata, o elefante parecia uma coluna; para o segundo, que tocou um dos dentes,
o elefante
assemelhava-se a uma estaca, e assim por diante. Atravs desta parbola, Algazel
pretende demonstrar o erro que consiste em querer encerrar o universal em vises
fragmentrias, em aspectos ou pontos de vista isolados e exclusivos. Shri
Rmakrishna retoma a mesma parbola para mostrar a insuficincia do exclusivismo
dogmtico no que
este tem de negativo. Poderamos, contudo, expressar a mesma ideia servindo-nos
de
uma imagem ainda mais adequada: a de um objecto qualquer que, para uns, *+ tal
forma, para outros, *+ tal matria, para terceiros *+ tal nmero ou tal peso,
e assim
por diante.
20
A Unidade Transcendente das Religies
divindades *eternas+ desta Omniscincia. E o Conhecimento pelo Intelecto
no mais do que a participao perfeita do sujeito nestas modalidades,
o que, no mundo fsico, bem representado pelo movimento. Falando da
compreenso das ideias, podemos portanto distinguir uma compreenso
dogmatizante - comparvel viso que parte de um s ponto de vista
e uma compreenso integral, especulativa, comparvel srie indefinida
de vises do objecto, possibilitadas por modificaes indefinidamente
mltiplas na perspectivao do mesmo. E, assim como, no caso do olho
que se desloca, as diferentes vises de um objecto se encontram ligadas
por perfeita continuidade que representa, de algum modo, a realidade
determinante do objecto assim os diversos aspectos de uma verdade,
por muito contraditrios que possam parecer, contendo implicitamente toda uma
infinidade de aspectos possveis, mais no fazem do que descrever
a Verdade Integral que os ultrapassa e determina. Repetiremos o que dissemos
acima: a afirmao dogmatizante corresponde a um ponto que, como tal, contradiz,
por definio, qualquer outro ponto; enquanto o enunciado especulativo, elo
contrrio, sempre concebido como um
p
elemento do crculo que, pela sua forma, indica a continuidade que lhe
prpria e, assim, o crculo inteiro, a verdade total. Da resulta que, em
termos de doutrina especulativa, o ponto de vista
por um lado e o aspecto por outro que determinam a forma da afirmao,
enquanto, em termos dogmatistas, esta se confunde com um ponto de vista e com um
aspecto determinado, excluindo por isso mesmo todos os outros pontos de vista e
aspectos igualmente possveis.
Os Anjos so inteligncias limitadas a tal ou tal aspecto da Divindade; um
estado anglico , por consequncia, uma espcie de ponto de vista
transcendente. Alis, a *intelectualidade+ dos animais e das espcies
perifricas do estado terrestre, por exemplo
a das plantas, corresponde cosmologicamente - num plano muito inferior -
intelectualidade anglica: o que distingue uma de outra espcie vegetal mais no
do que o
modo da sua *inteligncia+. Por outras palavras, a forma ou natureza integral
de uma
planta que revela o estado - eminentemente passivo - de contemplao ou de
conhecimento da sua espcie; dizemos *da sua espcie+, pois, isoladamente
tomada, uma
planta no constitui um indivduo. Recorde-se aqui que o Intelecto - diferente
da razo, que no passa de uma faculdade especificamente humana, e da
inteligncia, quer
nossa quer de outros seres de ordem universal e acha-se em tudo o que
existe, de
qualquer ordem que seja.'
21
A LIMITAO DO EXOTERISMO
ponto de vista exotrico, que pelo menos no que tem de exclusivo face s
realidades superiores - s existe nas tradies monotestas, no fundo, apenas,
o do interesse individual
mais elevado, ou seja, estende-se a todo o ciclo de existncia do indivduo
e no se limita simplesmente vida terrestre. A verdade exotrica ou religiosa
acha-se assim limitada por definio, e isso deve-se limitao da
sua finalidade, sem que essa restrio chegue a ameaar a interpretao
esotrica de que a mesma verdade susceptvel graas universalidade do
seu simbolismo, ou antes, graas dupla natureza, *interior+ e *exterior+,
da prpria Revelao. Por consequncia, o dogma simultaneamente
uma ideia limitada e um smbolo ilimitado. Para darmos um exemplo, diramos que
o dogma da unicidade da Igreja de Deus deve excluir a existncia-de outras
formas de tradio ortodoxa, porque a ideia da universalidade das tradies no
s intil para a salvao como pode at
prejudic-la, pois levaria os que no conseguem elevar-se acima deste
ponto de vista individual, quase inevitavelmente, a um indiferentismo religioso
e negligncia dos seus deveres cujo cumprimento precisamente a
condio principal da salvao. Por outro lado, esta mesma ideia de
universalidade das tradies - ideia quase indispensvel ao caminho da Verdade
total e desinteressada - no se acha menos simblica e metafisicamente presente
na definio dogmtica ou teolgica da Igreja ou do
Corpo Mstico de Cristo. Ou ainda, para usar a linguagem das duas outras
23
c,
F -.
Frithiof Schuon
religies nionotestas, o judasmo e o islo, respectivamente na concepo de
*Povo Eleito+, Israel, e de *Submisso+, El-Islm, que se acha
simbolizada dogmaticamente a ortodoxia universal, a Santana-Dharma
dos hindus. No seria necessrio dizer que a limitao *exterior+ do dogma,
limitao que lhe confere precisamente o seu carcter dogmtico, perfeitamente
legtima, j que o ponto de vista individual, a que esta limitao
corresponde, uma realidade no seu prprio nvel de existncia. graas
a esta realidade relativa que o ponto de vista individual - no no que
tem de negativo em funo de uma perspectiva superior, mas no que tem
de limitado pela sua prpria natureza - pode e deve integrar-se, de qualquer
modo, em todas as vias de finalidade transcendente. Desta forma,
o exoterismo, ou antes, a forma enquanto tal, no implicar mais uma
perspectiva intelectualmente restrita, mas desempenhar o papel de um
meio espiritual acessrio, sem que a transcendncia da doutrina esotrica
seja por isso afectada, no lhe sendo imposta qualquer limitao por razes de
oportunidade individual. No preciso confundir, com efeito,
o papel do ponto de vista exotrico com o dos meios espirituais do exoterismo: o
ponto de vista em questo incompatvel, numa mesma conscincia, com o
Conhecimento Esotrico que o dissolve para o reabsorver
no centro de onde partiu; mas os meios exotricos no continuam a ser
menos utilizveis, e so-no de dois modos diferentes, seja por transposio
intelectual na ordem esotrica - e sero assim suportes de *actualizao+
intelectual -, seja pela aco reguladora que exercem sobre a poro individual
do ser. O aspecto exotrico de uma tradio , pois, uma disposio
providencial que, longe de ser censurvel, necessria, desde que a via
esotrica,
sobretudo nas condies actuais da humanidade terrestre, seja apenas a
estrada de uma minoria e nada haja de melhor, para o comum dos mortais, do que a
via ordinria da salvao. O que condenvel no a existncia do exoterismo,
mas sim a sua prepotncia autocrtica - talvez devida, no mundo cristo,
estreita *preciso+ do esprito latino - que faz
com que muitos dos que estariam aptos para a via do Conhecimento Puro
no s se detenham no aspecto exterior da tradio, mas cheguem mesmo
a rejeitar o esoterismo que s conhecem atravs de preconceitos ou defor 24
A Unidade Transcendente das Religies
maes. A menos que, no achando no exoterismo o que convm a sua
inteligncia, no se desviem por doutrinas falsas e artificiais, onde pretendem
encontrar o que aquele lhes no oferece e cr mesmo poder impedir-lho . O
ponto de vista exotrico - desde que no mais animado pela presena interior do
esoterismo de que ao mesmo tempo radiao exterior e
um vu - desemboca, com efeito, na sua prpria negao, no sentido em
que a religio, ao negar as realidades metafsicas e iniciticas e ao fixar-se
num dogmatismo literalista, gera inevitavelmente a descrena. A atrofia
provocado nos dogmas pela privao da sua *dimenso interna+ recai sobre eles
mesmos, do exterior, sob a forma de negaes herticas e ateias.
A presena do elemento esotrico numa religio de carcter especificamente
semtico garante a esta um desenvolvimento normal e um mximo
de estabilidade; esse elemento no alis uma parte, mesmo interior, do
exoterismo, representa pelo contrrio uma dimenso quase independente
em relao a este ltimo'. Desde que falte esta dimenso ou este elemento - o
que s pode ser efeito de circunstncias anormais, embora cosmologicamente
necessrias -, o edifcio tradicional fica abalado, acaba mesmo em parte por
ruir, ficando reduzido ao que tem de mais exterior, ou
seja, o literalismo e o sentimentalismo'. Por isso, os critrios mais reco
1 Lembremo-nos da maldio de Cristo: *Ai de vs, doutores da Lei, pois
roubastes a
chave do conhecimento; vs mesmos no entrastes e impedistes aqueles que
entravam.+ (Luc.,11:52). No que toca a tradio islmica, citemos a reflexo
de um prncipe muulmano da ndia: *A maioria dos no-muulmanos e mesmo muitos
muulmanos formados em ambiente e cultura europeia ignoram este elemento
particular do islo que constitui o seu
mago e centro, que d verdadeiramente vida e fora s suas formas e aces
exteriores e que, graas ao carcter universal do seu contedo, pode tomar por
testemunhas
os discpulos das demais religies. + (Nawab A. Hydari Hydar Nawaz Jung
Bahadur, no
seu prefcio aos Studies in Tasawwuf de Khaja Khan.)
' Da a preponderncia cada vez maior da *literatura+, em sentido pejorativo,
sobre a
verdadeira intelectualidade, por um lado, e a verdadeira piedade, por outro. Da
tambm a importncia exagerada que se d a todo o tipo de actividades mais ou
menos fteis que sempre tm o cuidado de negligenciar o *nico necessrios.
25
Frithjof Schuon
nhecveis de um tal processo so, por um lado, o desconhecimento e mesmo a
negao da exegese metafsica e inicitica, isto , do sentido *mstico+ das
Escrituras - exegese que se acha intimamente conexa com toda a intelectualidade
da forma tradicional em causa - e, por outro lado, a rejeio da arte sacra, ou
seja, das formas inspiradas e simblicas atravs das quais irradia esta
intelectualidade, para assim se comunicar, por uma linguagem imediata e
ilimitada, a todas as inteligncias. Mas tudo isto talvez no baste para
entendermos por que razo o exoterismo tem necessidade indirecta do esoterismo,
no para poder subsistir - pois no est em causa o simples facto da sua
subsistncia nem a incorruptibilidade dos seus meios de graa -, mas para poder
subsistir em condies normais. Ora a presena da *dimenso transcendentes no
seio da forma tradicional fornece ao seu lado exotrico uma seiva vivificante de
essncia universal, *paracltica+, sem o que este mais no faria do que
dobrar-se inteiramente sobre si mesmo, entregue aos seus recursos, por definio
limitados, tornando-se um corpo macio e opaco cuja densidade provoca fatalmente
brechas, como o mostra a moderna histria da cristandade. Por outras palavras,
quando o exoterismo se priva das complexas e subtis interferncias da dimenso
transcendente, acaba por se ver esmagado pelas consequncias exteriorizadas das
suas prprias limitaes, tornando-se estas, por as sim dizer, totais. Agora,
se partimos da ideia de que os exoteristas no entendem o esoterismo e tm at o
direito de o no entender - por exemplo, tomando-o como inexistente -, tambm
devemos reconhecer-lhes o direito de condenarem certas manifestaes de
esoterismo com que parecem esbarrar no seu caminho e que provocam neles o
*escndalo+, para usar a expresso do Evangelho. Mas como explicar que na
maioria dos casos, se no em todos, os acusadores no usem de tal direito, antes
procedam com iniquidade? No por certo a sua incompreenso mais ou menos
natural nem a defesa do seu direito real, mas apenas a perfdia dos -seus meios
que constitui neles um verdadeiro *pecado contra o Esprito'. Tal perfdia
'Assim, nem a incompreenso de tal autoridade religiosa nem um certo fundamento
da sua acusao perdoam a iniquidade do processo intentado contra o sufi
El-Hallj, no menos do que a incompreenso dos judeus desculpou a iniquidade do
processo contra Cristo. Muito analogamente, podemos interrogar-nos por que razo
existe tanta estupidez e
26
00~
A Unidade Transcendente das Religies
prova, -alis, que as acusaes que eles crem dever formular s servem de
pretexto para alimentar um dio instintivo contra tudo o que parea
ameaar o seu equilbrio superficial que, no fundo, no passa de uma forma de
individualismo e, portanto, de ignorncia.
Lembramo-nos de ter ouvido um dia algum dizer que *a metafsica
no necessria salvao+; ora isto radicalmente falso quando aplicado em
sentido genrico, pois o homem, que metafsico por natureza e j
disso tomou conscincia, no pode encontrar salvao na negao do que
o atrai para Deus. Alis, toda a vida espiritual deve fundar-se numa
predisposio natural que determina o seu modo - a isso chamamos vocao.
Nenhuma autoridade espiritual nos aconselharia a seguirmos um
caminho para o qual no somos feitos. o que ensina, entre outras coisas, a
parbola dos talentos; o mesmo sentido se acha ainda nas palavras
de So Tiago: *Quem tiver observado toda a Lei, se vier a faltar em um
s ponto, torna-se culpado de todos+ e *Aquele que, sabendo fazer o que
bem, no o faz, comete pecado+. Ora a essncia da Lei, segundo as prprias
palavras de Cristo, o amor de Deus permeando todo o nosso ser,
compreendida a a inteligncia, que a sua parte central. Por outras palavras,
como devemos amar a Deus com tudo aquilo que somos, devemos
am-lo tambm com a inteligncia, que o melhor de ns mesmos. Ningum
contestar que a inteligncia no um sentimento, mas infinitamente mais.
portanto bvio que o termo *amor+, que as Escrituras usam
para designar as relaes entre o homem e Deus, acima de tudo, entre
m-f nas polmicas religiosas, mesmo em homens que, de resto, so isentos.
Indcio
certo de que, em muitas dessas polmicas, existe uma percentagem de *pecado
contra
o Esprito+. Ningum repreensvel pelo simples facto de atacar, em nome da
sua f,
uma tradio estranha, se o faz por simples ignorncia. Mas quando no assim,
culpado de blasfmia, pois - ao ultrajar a Verdade Divina numa forma que lhe
estranha - mais no faz do que aproveitar-se de uma ocasio para ofender a Deus
sem problemas de conscincia. esse, no fundo, o segredo do zelo grosseiro e
impuro
daqueles que, em nome da sua convico religiosa, consagram a vida a tornar
odiosas
as coisas sagradas, o que no poderiam fazer se no se servissem de mtodos
desprezveis.
27
"as
Frithjof Schuon
Deus e o homem, no poderia ter um sentido puramente sentimental, designando
somente um desejo de atraco. Por outro lado, se o amor a
tendncia de um ser para outro ser, com vista sua unio, o Conhecimento que,
por definio, realizar a unio mais perfeita entre o homem
e Deus, pois s ela faz apelo ao que, no homem, j divino, a saber,
o Intelecto. Este modo supremo do *amor de Deus+ , pois, a possibilidade
humana, de longe a mais elevada, qual ningum voluntariamente se
pode subtrair sem *pecar contra o Esprito+. Pretender que a metafsica ,
por si mesma e para todo o homem, uma coisa suprflua, de modo algum
necessria salvao, equivale no apenas a desconhecer a sua natureza,
mas tambm a negar, pura e simplesmente, o direito de existncia aos homens que
foram dotados por Deus d o dom da inteligncia, a um grau
transcendente. Poderamos ainda observar o seguinte: a salvao merecida
pela aco, no sentido mais largo do termo, e isso explica como alguns chegam a
depreciar a inteligncia, que pode precisamente tornar a aco intil e cujas
possibilidades pem em evidncia a relatividade do mrito e da perspectiva que a
ele se refere. Por isso, o ponto de vista especificamente religioso tende a
considerar a pura intelectualidade - que no distingue alis
quase nunca da simples nacionalidade - com mais ou menos oposta ao
acto meritrio e, por consequncia, como perigosa para a salvao. por
isso que se atribui facilmente inteligncia um aspecto luciferiano e se fala
de um *orgulho intelectual+ como se no houvesse contradio de termos. Por
isso, tambm se exalta a *f de criana+ ou a *f do simples+,
que ns certamente muito respeitamos quando espontnea e natural,
mas no quando terica e afectada. Ouve-se formular com frequncia a seguinte
ideia: desde o momento
que a salvao implica um estado de perfeita beatitude e que a religio
no exige outra coisa, porqu escolher a via que tem por fim a *deificao+? A
esta objeco responderemos que a via esotrica no poderia ser,
por definio, objecto de uma *escolha+ para os seus seguidores, pois no
o homem que a escolhe, mas ela que escolhe o homem. Por outras palavras, a
questo da escolha no se pe, porque o finito no poderia escolher o Infinito:
trata-se mais de uma questo de *vocao+ e os que so
*chamados+, para empregar a expresso evanglica, no tm como se sub 28
A Unidade Transcendente das Religies
trair a esse apelo, sob pena de *pecado contra o Esprito+, no mais do
que um homem qualquer se poderia legitimamente subtrair s obrigaes
da sua religio. Se inadequado falarmos de escolha no que respeita ao
Infinito, tambm o falarmos de um desejo, pois no iniciado no se pode dizer
que
lhano desabo da ReaMade I)Mria,h @im uma tendncia lgica e ontolgica no
sentido da sua Essncia transcendente. Esta definio de importncia extrema.
A doutrina exotrica enquanto tal - ou seja, vista fora da influncia
espiritual que pode agir sobre as almas independentemente desta doutrina
- no possui, de modo algum, certezas absolutas. Por isso, o conhecimento
teolgico no pode excluir de si mesmo a tentao da dvida, nem
mesmo nos grandes msticos; e quanto' s graas que podem intervir em
semelhantes casos, estas no so consubstanciais inteligncia, de modo
que a permanncia daquela no depende de quem destas beneficia. Limitando-se a
um ponto de vista relativo, o da salvao individual - ponto
de vista interesseiro que influencia o prprio conceito da Divindade num
sentido restritivo -, a ideologia exotrica no dispe de qualquer meio
de prova ou de legitimaro doutrinal proporcional s suas exigncias.
O que , com efeito, caracterstico de toda a doutrina exotrica a
desproporo que existe entre as suas exigncias dogmticas e as suas garantias
dialcticas: as suas exigncias so absolutas, porque derivam de um
Querer Divino, portanto tambm de um Conhecimento Divino, enquanto
as suas garantias so relativas, porque independentes desse Querer e fundadas,
no nesse Conhecimento, mas num ponto de vista humano, o da
razo e sentimento. Se, por exemplo, nos dirigssemos aos brmanes para
exigir deles o abandono total de uma tradio milenar, de cuja experincia
espiritual inumerveis geraes houvessem usufrudo, que produziu
flores de sabedoria e santidade at aos nossos dias, os argumentos que
pudssemos aduzir para justificarmos to inaudita exigncia no conteriam
nada de logicamente concludente nem proporcionado amplitude da exigncia em
questo. A razo que tiverem os brmanes para permanecerem
29
Num
Frithjof Schuon
fiis ao seu patrimnio espiritual sero, pois, infinitamente mais slidas
para eles do que as razes pelas quais os queiramos levar a deixarem de
ser aquilo que so. A desproporo, do ponto de vista hindu, entre a
imensa realidade da tradio bramnica e a insuficincia dos contra-argumentos
religiosos tal que isso deveria bastar para provar que, se
Deus quisesse submeter o mundo inteiro a uma s religio, os argumentos
desta no seriam to fracos, nem os de alguns ditos *infiis+ seriam to
fortes. Por outras palavras, se Deus quisesse, de facto, uma s forma de
tradio, o poder persuasivo desta seria tal que nenhum homem, de boa-f, se
-poderia subtrair a ela. Alis, o prprio termo *infiel+, aplicado a
civilizaes - com uma ou outra excepo - muito mais antigas do que a
crist, civilizaes que tm todos os direitos espirituais e histricos de
ignorar esta ltima, faz ainda pressentir, pela falta de lgica da sua ingnua
pretenso, tudo o que h de abusivo nas reivindicaes religiosas por
referncia a outras formas de tradio ortodoxa. A exigncia absoluta de crer
em tal religio e no em outra no pode,
com efeito, tentar justificar-se seno por meios eminentemente relativos:
tentativas de provas filosfico-teolgicas, histricas ou sentimentais. Ora,
no existe qualquer prova em apoio de tais pretenses verdade nica e
exclusiva; e todo o esforo de demonstrao s se pode referir s disposies
individuais de cada homem, as quais, reduzindo-se no fundo a uma
questo de credulidade, so disposies extremamente relativas. Toda a
perspectiva exotrica pretende, por definio, ser a nica verdadeira e@
legtima e isso porque o ponto de vista exotrico, visando apenas um interesse
individual - a salvao -, no tem qualquer vantagem em conhecer a verdade das
outras formas de tradio. Desinteressando-se da sua
prpria verdade, desinteressa-se muito mais da dos outros, ou antes a nega,
porque a noo de uma pluralidade de formas tradicionais pode prejudicar a
simples busca da salvao individual. Isso pe precisamente a claro
o carcter relativo da forma que, ela sim, de uma necessidade absoluta
para a salvao do indivduo. Poderamos contudo interrogar-nos por que
motivo as garantias, as provas de veracidade ou de credibilidade, que a
polmica religiosa se esfora em produzir, no derivam espontaneamente
do Querer Divino, como no caso dos imperativos religiosos. bvio que
a questo s tem sentido quando referida a verdades, pois no se iriam
'30
A Unidade Transcendente das Religies
demonstrar os erros. Ora, precisamente os argumentos da polmica religiosa no
podem pertencer ao domnio intrnseco e positivo da f. Uma
ideia cujo alcance apenas extrnseco e negativo e que, no fundo, s resulta de
induo - como a ideia da verdade e legitimidade exclusiva de
tal religio ou da falsidade e ilegitimidade de todas as outras - no poderia
ser objecto de uma prova quer divina quer humana. No que respeita
aos dogmas verdadeiros - no derivados por induo, mas de alcance estritamente
intrnseco -, se Deus no forneceu as provas tericas da sua
verdade porque, em primeiro lugar, tais provas so inconcebveis e
inexistentes no plano em que o exoterismo se coloca, e exigi-Ias, como o fazem
os no-crentes, seria uma contradio pura e simples. Em segundo
lugar, como veremos mais adiante, se tais provas existem, num plano totalmente
diferente, e a Revelao divina supe-nas perfeitamente, sem
qualquer omisso. Em- terceiro lugar, para regressarmos ao plano exotrico, o
nico em que esta questo se pode colocar, a Revelao comporta,
no seu essencial, uma inteligibilidade suficiente para poder servir de veculo
aco da graa' que a nica razo suficiente plenamente vlida
para a adeso a uma religio. Se a graa for apenas concedida queles que
dela no possuam o equivalente sob outra forma revelada, os dogmas perdem o seu
poder persuasivo, demonstrativo, para os que possuem um tal
equivalente. Estes sero, por consequencial, *inconvertveis+ - abstraco
feita dos casos de converso devidos fora sugestiva de um psiquismo
colectivo, agindo a graa ento a posterior - j que a influncia espiri Um
exemplo de converso por influncia espiritual ou graa, sem recurso a
argumentos de ordem doutrinal, -nos facultado pela conhecida histria de Sundar
Singli. Este
sikh, de origem nobre e temperamento mstico, mas sem grandes qualidades
intelectuais, tinha jurado um dio implacvel no s contra os cristos, mas
contra o cristianismo e o Evangelho. Este dio, graas sua paradoxal
coincidncia com o carcter
nobre e mstico de Sundar Singli, chocou com a influncia espiritual de Cristo e
tornou-se desesperante. Sobreveio, ento, uma fulgurosa converso provocado por
uma viso.
Ora, no houve qualquer interveno da doutrina crist e o convertido no tinha
sequer em mente procurar a ortodoxia tradicional. O caso de So Paulo apresenta
alis,
ainda que a um nvel notavelmente superior quanto personagem e circunstncias,
certa analogia *tcnica+ com o exemplo citado. Em resumo, podemos afirmar que,
quando um homem de natureza religiosa odeia e persegue uma religio, porque
est muito perto de se converter, ajudando-o para isso as circunstncias. o
caso dos no-cristos que se convertem ao cristianismo precisamente como adop
31
Frithjof Schuon
tual no ter poder sobre eles, da mesma forma que uma luz no pode
iluminar outra luz. Isto , pois, conforme ao Querer Divino, que revestiu
a Verdade una de diferentes formas, repartindo-as por diferentes humanidades,
sendo cada uma simbolicamente a nica que existe. E acrescentaremos que, se a
relatividade extrnseca do exoterismo conforme ao Querer Divino, que assim se
afirma na prpria natureza das coisas, natural
que esta relatividade no possa ser abolida por um querer humano. Agora, se
no existe qualquer prova rigorosa em apoio de uma pretenso exotrica
deteno exclusiva da verdade, no devemos ser levados a
crer que a prpria ortodoxia de uma forma tradicional no pode ser demonstrada?
Essa seria uma concluso artificial e, em qualquer caso, completamente errnea:
pois toda a forma tradicional comporta uma prova
absoluta da sua verdade, portanto da sua ortodoxia. O que no pode ser
demonstrado, falta de prova absoluta, no a verdade intrnseca - e,
assim, a legitimidade tradicional de uma forma da Revelao Universal -,
mas somente o facto hipottico de tal forma particular ser a nica verdadeira e
legtima. E, se isso no pode ser provado, pela simples razo que
isso falso. Existem, pois, provas irrefutveis da verdade de uma religio.
Mas tais
provas - que so de ordem puramente espiritual -, sendo as nicas provas
possveis em apoio de uma verdade revelada, comportam ao mesmo
tempo a negao do exclusivismo pretensioso de cada forma. Por outras
palavras, quem quiser provar a verdade de uma religio, ou no tem provas -
porque estas no existem -, ou tem provas que afirmam toda a
verdade religiosa sem excepo, qualquer que seja a forma que esta possa
assumir.
A pretenso exotrica deteno exclusiva de uma verdade nica, ou
da Verdade sem eptetos, pois um erro puro e simples. De facto, toda a
tam quaisquer formas da moderna civiliza o ocidental. O que, entre os
Ocidentais,
sede de novidade, , entre os outros, sede de mudana, poderamos dizer, de
renegao. Dos dois lados, a mesma tendncia para realizar e esgotar
possibilidades que a civilizao tradicional havia excludo.
32
A Unidade Transcendente das Religies
verdade expressa reveste necessariamente uma forma a da sua expresso - e
metafisicamente impossvel que uma forma tenha um valor nico por excluso de
outras formas: porque uma forma, por definio, no
pode ser nica e exclusiva, no pode ser a nica possibilidade de expresso do
que ela exprime. Quem diz forma, diz especificaro ou distino; e o especfico
s concebvel como modalidade de uma espcie,
portanto de uma ordem que engloba um conjunto de modalidades anlogas. O
limitado, que o por excluso daquilo que os seus limites no contm, compensa
esta excluso reafirmando-se ou repetindo-se fora dos seus
limites prprios, o que equivale a dizer que a existncia de outras limitadas
est, em rigor, implicado na prpria definio do limitado. Pretender
que uma limitao - por exemplo, uma forma enquanto tal - seja nica
e'
e incomparvel no seu gnero, excluindo portanto a existncia de modalidades que
lhe so anlogas, equivale a atribuir-lhe a uncidade da prpria
Existncia. Ora, ningum poder contestar que uma forma sempre uma
limitao e que uma religio sempre e forosamente uma forma - no
obviamente pela sua verdade interna, que de ordem universal, supraformal, mas
pelo seu modo de expresso que, enquanto tal, no pode deixar
de ser formal, portanto especfico e limitado. Nunca de mais repetirmos
que uma forma sempre uma modalidade de uma ordem de manifestao
formal, portanto distintiva ou mltipla, e por consequncia, como atrs
referimos, uma modalidade entre outras, sendo apenas nica a sua causa
supraformal. E repita-se, pois no convm perder de vista, que a forma,
pelo facto mesmo de ser limitada, deixa necessariamente algo fora dela,
ou seja, tudo aquilo que os seus limites excluem; e esse algo, se pertence
mesma ordem, forosamente anlogo forma em causa. Porque a distino das
formas compensasse por uma indistino, uma identidade relativa, sem o que as
formas seriam absolutamente distintas umas das outras,
o que equivaleria a uma pluralidade de unicidades ou de Existncias. Cada forma
seria ento uma espcie de divindade sem qualquer relao com
outras formas, o que absurdo. A pretenso exotrica deteno exclusiva da
verdade esbarra, pois,
como acabmos de ver, com a objeco axiomtica de que no existe um
facto nico, pela simples razo que rigorosamente impossvel que um tal
facto exista, sendo apenas nica a prpria unicidade e no sendo o facto a
33
Frithjof Schuon
unicidade em si. o que ignora a ideologia *crente+ que, no fundo, no
passa de uma confuso interesseira entre o formal e o universal. As ideias
que se afirmam numa forma religiosa, tais como a ideia do Verbo ou da
Unidade Divina, no podem deixar de se afirmar, de uma forma ou de
outra, nas outras religies. Do mesmo modo, os meios de graa ou de realizao
espiritual de que dispe tal sacerdcio no podem deixar de encontrar
equivalente noutras partes. E, acrescentemos, e precisamente na
medida em que um meio de graa importante ou indispensvel, que ele
se acha necessariamente em todas as formas ortodoxas, de modo apropriado ao
contexto respectivo. Podemos resumir as consideraes precedentes nesta
frmula: a Verdade absoluta s se encontra alm de todas as suas expresses
possveis. As
expresses, enquanto tais, no pretendem ser atributos da Verdade.
O afastamento relativo daquelas por referncia a esta traduz-se na sua
diferenciao e multiplicidade, que forosamente as limitam.
A impossibilidade metafsica da deteno exclusiva da verdade, por
uma qualquer forma doutrinal, pode ainda formular-se da seguinte maneira, luz
dos dados cosmolgicos que permitem facilmente o recurso a
uma linguagem religiosa: no est em contradio com a natureza de
Deus que este tenha permitido o declnio e, portanto, o fim de certas
civilizaes, depois de lhes ter proporcionado milnios de florescimento
espiritual. Da mesma forma, o facto de toda a humanidade ter entrado num
perodo relativamente curto- de obscuridade, depois de milhares de anos
de uma existncia s e equilibrada, continua a ser conforme ao *modo de
agir+ de Deus. Pelo contrrio, que Deus, querendo o bem da humanidade, tivesse
permitido que a imensa maioria dos homens se corrompesse mesmo os mais dotados -
desde h milnios, sem qualquer esperana,
nas trevas de uma ignorncia mortal, e que, desejando salvar a humanidade,
tivesse escolhido um meio, material e psicologicamente to ineficaz
como uma nova religio que, muito antes de se dirigir a todos os homens,
no s assumisse um carcter muito local e particularizado, mas parcial 34
A Unidade Transcendente das Religies
mente se corrompesse no seu meio de origem, ou, enfim, que Deus pudesse ter
agido deste modo, eis uma concluso abusiva que no tem em
conta a natureza divina cuja essncia Bondade e Misericrdia. A natureza de
Deus pode ser terrvel, mas no monstruosa. A teologia est longe
de o ignorar. Deus permitir que a cegueira humana provoque heresias no
seio de civilizaes tradicionais, isso conforme s Leis Divinas que regem a
criao inteira. Mas Deus permitir a uma religio, inventada por
um homem, conquistar uma parte da humanidade e manter-se, durante
mais de um milnio, na quarta parte do Globo habitado, enganando o
amor, a f e a esperana de uma legio de almas sinceras e fervorosas,
tambm isso contrrio s Leis da Misericrdia Divina ou, por outras palavras,
s da Possibilidade Universal. A Redeno um acto eterno que -no podemos
situar nem no tempo
nem no espao. O sacrifcio de Cristo disso manifestao ou realizao
particular no plano humano. Os homens puderam e podem beneficiar da
Redeno tanto antes como depois da vinda de Jesus Cristo, tanto fora
como dentro da Igreja visvel. Se Cristo tivesse sido a nica manifestao do
Verbo, supondo que tal
unicidade de manifestao fosse possvel, o seu nascimento teria tido como
efeito reduzir num pice o universo a cinzas.
Vimos acima que tudo o que se pode afirmar sobre os dogmas se deve
aplicar igualmente aos meios de graa, como o so os sacramentos: se a
Eucaristia um meio de graa *primordial+, e portanto indispensvel,
porque emana de uma Realidade Universal, onde vai buscar toda a sua
realidade. Mas se assim, a Eucaristia, como qualquer outro meio de graa
correspondente em outras formas tradicionais, no pode ser nica, pois
uma Realidade Universal no pode ter apenas uma manifestao, excluso de
outras, sem o que no seria universal. Aos que objectam dizendo
que esse rito se reporta a toda -a humanidade pela simples razo de que,
segundo o Evangelho, deve ser levado a *todos os povos+, responderamos que, no
seu estado normal, pelo menos a partir de certa poca cclica, o mundo se compe
de vrias humanidades distintas, que mais ou menos se ignoram, sendo - sob
certos aspectos e em certos casos - a
35
Frithjof Schuon
delimitao exacta dessas humanidades uma questo bem complexa, devido
interveno de muitas condies cclicas excepcionais. Se sucedeu que grandes
Profetas ou Avatras, conhecendo o valor universal da Verdade, tivessem negado
exteriormente tal ou tal forma de tradio, h que considerar, por um lado, a
razo imediata de tal atitude e,
por outro, o seu sentido simblico, sobrepondo-se este quela: se Abrao,
Moiss e Cristo negaram os *paganismos+ do mundo que os cercava,
porque estes eram tradies que haviam perdido a sua razo de ser, sendo
formas sem verdadeira vida espiritual e servindo por vezes de suporte a
influncias tenebrosas. Ora aquele que *escolhido+, sendo ele mesmo o
tabernculo vivo da Verdade, no tem de se compadecer de formas mortas,
incapazes de desempenharem a sua primitiva funo. Por outro lado, a atitude
negativa dos arautos da Palavra de Deus simblica, e a
se acha o seu sentido mais profundo e mais perfeitamente verdadeiro.
Pois se tal atitude no pode evidentemente referir-se aos ncleos esotricos que
sobreviveram no meio de civilizaes gastas e vazias de esprito,
ela plenamente justificvel quando aplicada a um facto humano comum
- o da degenerescncia ou *paganismo+ que se difunde no mundo inteiro. Para
citar um exemplo anlogo: se o islo teve de negar de certa maneira as formas
monotestas que o precederam, isso teve uma razo imediata na limitao formal
dessas religies. Est fora de dvida que o
judasmo j no podia servir de base tradicional humanidade do Prximo
Oriente, visto que a forma desta religio havia atingido um grau de
particularizao que a tornava inapta a expandir-se. E, quanto ao cristianismo,
no s se particularizou muito rapidamente, em sentido anlogo,
sob a influncia do mundo ocidental - talvez sobretudo do esprito roma
' Algumas passagens do Novo Testamento demonstram que o *mundo+, para a
tradio crist, se identifica com o Imprio Romano, representando o domnio
providencial
de expanso e de vida para a civilizao crist. Foi assim que So Lucas pde
escrever
- ou melhor, que o Esprito Santo pde inspirar So Lucas a escrever - que
*naqueles dias foi promulgado um edicto de Csar Augusto para que todo o
universo fosse recenseado+, a que Dante faz aluso, no seu tratado sobre a
monarquia, ao falar do *recenseamento do gnero humano+ (in illa singulari
generis humani descriptione); e no
mesmo tratado: *Por estas palavras podemos compreender claramente que a
jurisdio
universal do mundo pertencia aos Romarios+ e ainda: *Portanto afirmo que o povo
romano... adquiriu... o imprio sobre todos os mortais.+
36
A Unidade Transcendente das Religies
no como tambm originou, na Arbia e em pases adjacentes, todo o
tipo de desvios que arriscavam inundar o Prximo Oriente, e mesmo a ndia, de
muitas heresias bem distintas do cristianismo primitivo e ortodoxo.
A Revelao islmica, em virtude da autoridade divina inerente a toda a
Revelao, tinha certamente o direito sagrado de pr de lado os dogmas
cristos, na medida em que estes dessem origem a desvios, que no passavam de
verdades esotricas vulgarizadas e no verdadeiramente adaptadas. Contudo, as
passagens cornicas referentes a cristos, judeus, sabeus
e pagos tinham sobretudo um valor simblico que no visava atingir, de
modo algum, a ortodoxia das tradies, servindo os respectivos nomes
apenas para designar determinadas situaes comuns da vida humana. Por
exemplo, quando se afirma no Alcoro que Abrao no era judeu nem
cristo, mas sim hanif (*ortodoxo+ por referncia Tradio Primordial),
evidente que os termos *judeu+ e *cristo+ s podem aplicar-se a atitudes
espirituais genricas, de que as limitaes formais do judasmo e do
cristianismo so apenas manifestaes particulares, portanto exemplos.
Falamos de *limitaes formais+ e no, como bvio, do judasmo e do
cristianismo em si mesmos, cuja ortodoxia no est em causa. Voltando
incompatibilidade relativa entre as formas religiosas - sobretudo algumas
delas -, acrescentaremos que foroso que umas, at certo ponto, interpretem
mal as outras, porque a razo de ser de uma religio reside, pelos
menos num certo sentido, no que a distingue das demais. A Providncia
Divina no admite amlgama entre as formas reveladas desde que a humanidade se
dividiu em *humanidades+ diferentes e se afastou da Tradio Primordial, a
Tradio nica possvel. Assim, por exemplo, a m interpretao muulmana do,
dogma cristo da Santssima Trindade
providencial, pois a doutrina encerrada neste dogma essencial e exclusivamente
esotrica e no susceptvel de *exoterizao+ em sentido especfico: o islo
devia portanto limitar a expanso deste dogma, o que no prejudicou de modo
algum a, presena, no islamismo, da verdade universal
expressa pelo dogma em questo. Por outro lado, no ser talvez intil
precisar aqui que a divinizao de Jesus e de Maria, atribuda indirectamente
aos cristos pelo Alcoro, d lugar a uma *Trindade+ que, de resto, este Livro
no identifica, em lugar nenhum, com a da doutrina crist,
mas que no menos repousa em realidades como em primeiro lugar a da
37
Iz@
Frithjof Schon
concepo da *Me de Deus+ *Corredentora+ doutrina no exotrica
que, enquanto tal, no podia encontrar lugar na perspectiva religiosa do
islo - e em seguida a do marianismo de facto que, do ponto de vista islmico,
constitui uma usurparo parcial do culto devido a Deus. Existiu,
em algumas seitas do Oriente, certa mariolatria, contra a qual o islo teve
de reagir tanto mais violentamente quanto ela se situava muito perto do
paganismo rabe. Mas, por outro lado, segundo o sufi Abd-el-Kati^m el-Jili, a
*Trindade+ mencionada no Alcoro susceptvel de uma interpretao esotrica -
os gnsticos concebiam, com efeito, o Esprito Santo
como *Me Divina+ - e s ento a exoterizao ou alterao deste sentido
censurada no s aos cristos ortodoxos como aos hereges adoradores da Virgem.
De outro ponto de vista, podemos afirmar - e a prpria
existncia dos referidos hereges o atesta - que a *Trindade cornica+
corresponde no fundo quilo em que os dogmas cristos - por inevitvel
erro de adaptao - se teriam tornado num meio rabe para o qual no
haviam sido feitos. Agora, no que respeita ao dogma da Santssima Trindade, tal
como o entende a ortodoxia crist, a sua rejeio pelo islo
motivada, para alm das razes de oportunidade tradicional, por uma razo de
ordem metafsica: que a teologia crist entende por Esprito Santo no apenas
uma Realidade puramente principial, metacsmica, divina,
mas tambm o reflexo directo desta Realidade na ordem manifesta, csmica,
criada. Na verdade, o Esprito Santo, segundo a definio da teologia,
compreende, para alm da ordem principial ou divina, o cume ou
centro luminoso da Criao total ou, por outras palavras, Ele abarca a
manifestao informal. Esta , para falar em termos hindus, o reflexo directo e
central do Princpio Criador, Purusha, na Substncia Csmica,
Prakriti; tal reflexo, que a Inteligncia Divina manifesta, Buddhi - no
sufismo Er-Rh e El-Aql, ou ainda os quatro Arcanjos que, anlogos aos
Devas e aos seus Shaktis, representam outros tantos aspectos ou funes
desta Inteligncia -, tal reflexo, como dizamos, o Esprito Santo na
medida em que ilumina, inspira e santifica o homem. Quando a teologia
identifica este reflexo com Deus, tem razo no sentido em que Buddhi ou
Er-Rh - o Metatron da Cabala - *+ Deus na sua relao essencial,
portanto *vertical+, ou seja, no sentido em que um reflexo *essencialmente+
idntico sua causa. Quando pelo contrrio a mesma teologia dis 38
A Unidade Transcendente das Religies
tingue os Arcanjos de Deus-Esprito Santo, vendo neles apenas criaturas,
tem ainda razo na medida em que distingue o Esprito Santo, reflectido
na Criao, do seu Prottipo principial e divino. Mas inconsequente ao
ignorar que os Arcanjos so aspectos ou funes deste centro. supremo da
Criao, que o Esprito Santo enquanto Paracleto. No possvel, do
ponto de vista teolgico, admitir, por um lado, a diferena entre um Esprito
Santo divino, principial, metacsmico, e um Esprito Santo manifesto
ou csmico, portanto *criado+, e, por outro, a identificao deste ltimo
com os Arcanjos. O ponto de vista teolgico no pode, com efeito, acumular duas
perspectivas diferentes em um s dogma, de onde a divergncia entre o
cristianismo e o islo: para este ltimo, a *divinizao+ crist
do Intelecto Csmico o mesmo que pr em *p de igualdades (shirk)
com Deus algo que *criado+, mesmo sendo a manifestao informal, anglica,
paradisaca, paracltica. Fora esta questo do Esprito Santo, o islo no se
oporia ideia de que existe na Unidade Divina um aspecto ternrio. O que
rejeita a ideia de que Deus exclusiva e absolutamente
uma Trindade, pois isso, do ponto de vista muulmano, atribuir a Deus
uma relatividade ou atribuir-lhe um aspecto relativo de modo absoluto. Quando
afirmarmos que uma forma religiosa feita, se no para tal raa, pelo menos
para uma colectividade humana determinada por condies particulares - condies
que podem ser, como no mundo muulmano, de natureza bem complexa -, no negamos
o facto de os cristos se
acharem entre quase todos os povos. Para compreendermos a necessidade
de uma forma tradicional, no se trata de sabermos se h ou no, no seio
da colectividade para a qual esta forma foi feita, indivduos ou grupos
susceptveis de se adaptarem a tiffia outra forma - o que nunca se poderia
discutir -, mas unicamente de sabermos se a colectividade total poderia
habituar-se a isso. Por exemplo, para poder pr em dvida a legitimidade
do islo, no basta verificar que h rabes cristos, pois a nica questo
que se coloca a de saber no que se tornaria um cristianismo professado
pela colectividade rabe no seu todo. Todas estas consideraes ajudaro a
compreender que a Divindade
manifesta a Sua Pessoalidade atravs de tal ou tal Revelao e a Sua Suprema
Impessoalidade atravs da diversidade de formas do Seu Verbo.
39
Frithjof Schuon
Chammos a ateno, mais acima, para o facto de, no estado normal da
humanidade, esta se compor de vrios mundos distintos. Ora, alguns obJectaro
sem dvida que Cristo jamais mencionou tal delimitao do mundo, nem mesmo a
existncia de um esoterismo, ao que responderemos
que tambm no explicou aos judeus como deveriam interpretar as suas
palavras, que todavia os escandalizavam. De resto, o esoterismo dirige-se
precisamente queles que tm ouvidos para ouvir+ e que, por isso, no
tm minimamente necessidade dos esclarecimentos ou provas que podem
desejar aqueles para quem o esoterismo no se dirige. Os ensinamentos
que Cristo quis reservar para os seus discpulos, ou para alguns deles, no
tiveram de ser explicitados nos Evangelhos, pois esto neles implcitos de
forma sinttica e simblica, a nica que as Escrituras Sagradas admitem.
Por outro lado, Cristo, na sua qualidade de Encarnao Divina, falava
necessariamente de modo absoluto, devido a uma certa subjectivao do
Absoluto, que prpria dos Homens de Deus e sobre a qual no -nos podemos
alargar neste momento.' No tinha, pois, de atender a contingncias fora do
domnio da sua misso, para especificar que existem mundos
tradicionais *sos+ - para nos servirmos de termos do Evangelho - para
alm do mundo *doente+ a que a sua mensagem se dirigia. Tambm no
havia de explicar que, ao designar-se como *o Caminho, a Verdade e a
Vida+, em sentido absoluto, principal, no queria desse modo limitar a
manifestao universal do Verbo; afirmava, sim, a sua identidade essencial com
este ltimo, cuja vida csmica vivia de modo subjectivo.' Da, a
Ren Gurion explica esta *subjectivao+ nos seguintes termos: *A vida de
alguns
seres, na sua aparncia individual, apresenta factos correspondentes aos da
ordem csmica, sendo aquela, de algum modo, do ponto de vista exterior, imagem
ou reproduo
destes. Mas, do ponto de vista interior, a relao inversa, pois, sendo estes
seres realmente o Mah-Purusha, os factos csmicos so realmente modelados sobre
a sua vida,
ou, mais exactamente, sobre aquilo de que a sua vida expanso directa, sendo
os factos csmicos por si mesmos apenas expresso por reflexo.+ (tudes
traditionnelles,
Maro 1939.) Citemos o adgio sufi: *Ningum pode encontrar Allh sem antes
ter encontrado o
Profeta+. Ou seja: ningum chega a Deus sem ser atravs do Seu Verbo, qualquer
que
seja o modo de revelao deste ltimo. Ou ainda, num sentido mais
especificamente
inicitico: ningum alcana o *Si+ divino seno atravs da perfeio do *Eu+
humano.
Importa sublinhar que, quando se diz *Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida+,
isso
uma verdade absoluta para o Verbo Divino (*o Cristo+) e relativa para a sua
manifes 40
A Unidade Transcendente das Religies
impossibilidade de um taX ser se considerar a si mesmo do simples ponto
de vista das existncias relativas, embora este ponto de vista se ache
compreendido em toda a natureza humana e se deva afirmar com incidncia.
Mas isso em nada contribui para a perspectiva especificamente exotrica.
'Para voltarmos s consideraes precedentes, teremos ainda de dizer
que, desde a expanso dos Ocidentais pelo mundo, a compreenso do
exoterismo se tornou um facto importante que evitava comprometer a religio
crist aos olhos de quem pensasse que. tudo fora desta religio no
passava de um triste paganismo. No se poderia censurar ao ensinamento
de Cristo uma qualquer omisso, pois ele dirigiu-se Igreja e no ao
mundo moderno, que vai buscar o que tem ruptura com essa Igreja,
a sua infidelidade a Cristo. Todavia, o Evangelho contm algumas aluses
aos limites da misso de Cristo e existncia de mundos tradicionais
no-assimilveis ao paganismo: *No so os sos que necessitam de mdico,
mas sim os doentes+, e ainda: *Pois no vim chamar os justos, mas sim os
pecadores+ (Mat.,9:12-13) e, por fim, estes versculos que pem em evidncia o
que o paganismo: *No vos preocupeis, portanto, dizendo:
Que comeremos ou que beberemos ou de que nos vestiremos? Pois so os
Gentios (os *pagos+) que buscam todas estas coisas+ (Mat.,6:31-32).'
Poderamos citar, no mesmo sentido, as seguintes palavras: *Em verdade vos
digo, nem mesmo em Israel encontrei uma f to grande. por isso que
vos digo que muitos viro do Oriente e do Ocidente e tomaro lugar no
banquete com Abrao, Isaac e Jacob, no Reino dos Cus, enquanto os filhos do
Reino (Israel, a Igreja) sero lanados s trevas exteriores+
(Mat.,8:10-12) e: *Quem no contra ns, por ns+ (Marc.,9:40). Dissemos
acima que Cristo, na sua qualidade de Encarnao divina e
conforme essncia universal do seu ensinamento, falava sempre de modo
absoluto, isto , identificando simbolicamente certos factos com os
princpios que eles traduzem e sem nunca se colocar no ponto de vista daquele
para quem os factos apresentam algum interesse em si mesmos .2 po_
tao humana (*Jesus+). Uma verdade absoluta no se pode limitar a um ser
relativo.
Jesus Deus, mas Deus no Jesus. O cristianismo divino, mas Deus no
cristo.
' De facto, o paganismo antigo, incluindo o dos rabes, caracterizava-se pelo
seu materialismo prtico, no sendo possvel em boa-f apontar o mesmo defeito
s tradies
orientais que se conservaram at aos nossos dias.
Na linguagem de Cristo, a destruio de Jerusalm identifica-se simbolicamente
com
41
Friffijof Schuon
demos ilustrar uma tal atitude com o exemplo seguinte: quando falamos
do Sol, quem vai pensar que o artigo definido colocado antes da palavra
*Sol+ implica a negao da existncia, no espao, de quaisquer outros
sis? O que permite falarmos no Sol, sem especificarmos que se trata de
um entre outros sis, precisamente o facto de, para o nosso mundo,
o nosso Sol ser *o Sol+ e s a esse ttulo reflectir a Unicidade Divina.
Ora, a razo suficiente de uma Encarnao Divina o carcter de unicidade que a
Encarnao recebe do que ela encarna e no o carcter de facto que ela
necessariamente recebe da manifestao?
o julgamento final, o que bem caracterstico do modo de ver sinttico e,
poderamos
dizer, *essencial+ ou *absoluto+ do Homem-Deus. O mesmo vale para as suas
profecias sobre a descida do Esprito Santo: englobam simultaneamente - mas no
ininteligivelmente - todos os modos de manifestao paracltica, donde
nomeadamente a do
profeta Maom, que foi a prpria personificao do Paracleto ou sua manifestao
cclica. Alis, o Alcoro chamado uma *descida+ (tanzil), como o a epifania
do Esprito Santo no Pentecostes. Poderamos chamar ainda a ateno para o facto
de que, se
a segunda vinda de Cristo, no fim do nosso ciclo, tiver para os homens um
alcance universal, no sentido de que no mais se referir a *uma humanidades na
comum aco
tradicional do termo, mas sim ao gnero humano como a um todo, o prprio
Paracleto, na sua grande epifania, dever manifestar esta universalidade por
antecipao, pelo
menos em relao ao mundo cristo, e por isso que a manifestao cclica do
Paracleto, ou a sua *personificao+ em Maom, teve de acontecer fora da
cristandade, quebrando assim uma certa limitao *particularista+.
' Foi o que Cristo quis dizer ao afirmar que *s Deus bom+. Implicando o,
termo
*bom+ todos os sentidos positivos possveis, portanto toda a Qualidade Divina,
devemos igualmente entender aqui que *s Deus nico+, o que se conjuga com a
afirmao doutrinal do islo: *No h outra divindade (ou realidade) seno (s)
Deus (a Realidade). *A quem quiser confirmar a legitimidade de tal interpretao
das Escrituras,
responderemos com mestre Eckhart que *o Esprito Santo ensina toda a verdade.
H,
de facto, um sentido literal que o autor tem em vista. Mas, como Deus o Autor
da
Sagrada Escritura, todo o sentido verdadeiro ao mesmo tempo sentido literal.
Pois
tudo o que verdadeiro provm da prpria Verdade, est nela contido, dela
deriva e
por ela desejado+. Citemos igualmente esta passagem de Dante por referncia ao
mesmo assunto: *As Escrituras podem ser entendidas e devem ser expostas segundo
quatro
sentidos. Um chamado literal... O quarto chamado anaggico, ou seja, que
ultrapassa o sentido (sovrasenso). o que acontece quando se expe
espiritualmente uma
Escritura que, sendo verdadeira em sentido literal, significa alm disso as
coisas superiores da Glria Eterna, como podemos ver no Salmo do Profeta onde se
diz que,
quando o Povo de Israel saiu do Egipto, a Judeia se tornou santa e livre. Embora
seja
claramente verdade que assim foi segundo a letra, o que se entende
espiritualmente
42
A Unidade Transcendente das Religies
As relaes entre o exoterismo e o esoterismo reduzem-se, em ltima
anlise, s que existem entre a *forma+ e o *esprito+, presentes em todo
o enunciado e em todo o smbolo. Tais relaes devem evidentemente
existir no interior do prprio esoterismo e podemos afirmar que s a autoridade
espiritual se coloca ao nvel da Verdade nua e integral. O *esprito+, ou seja,
o contedo supraformal da forma, que a *letra+, manifesta
sempre uma tendncia a quebrar as limitaes formais e a pr-se, por
consequncia, em contradio aparente com estas: assim que podemos considerar
toda a readaptao tradicional, portanto toda a Revelao, como
fazendo as funes de esoterismo face forma tradicional precedente, de
modo que, para citar um exemplo, o cristianismo esotrico por referncia
forma judaica e o islamismo por referncia s formas judaica e crist, o que,
bem entendido, s vale do ponto de vista particular em que
aqui nos colocamos e seria totalmente falso se o entendssemos literalmente.
Alis, se o islamismo se distingue, pela sua forma, das duas outras
tradies monotestas - enquanto formalmente limitado -, estas comportam
igualmente um aspecto de esoterismo em relao quele e a mesma reversibilidade
de relao existe entre o cristianismo e o judasmo,
embora a relao que indicmos antes seja mais directa que a segunda,
desde o momento que foi o islamismo quem quebrou, em nome do *esprito+, as
*formas+ precedentes e que foi o cristianismo quem desempenhou a mesma funo
face ao judasmo e no inversamente. Mas para voltarmos considerao puramente
principal das relaes entre a forma e o
esprito, nada faramos de melhor do que citar, a ttulo de ilustrao, uma
passagem do Tratado da Unidade (Ris1at-el-Ahadiyah) atribudo a Mohyiddin ibn
Arabi, mostrando precisamente esta funo esotrica que consiste em *quebrar a
forma em-nome do esprito+, como dizamos mais acima. Esta passagem a
seguinte: *A maioria dos iniciados diz que o
conhecimento de Allh vem na sequncia da extino da existncia (fan
el-wujd) e da extino desta extino (fan el-fan). Ora, esta opinio
totalmente falsa... O conhecimento no exige a extino da existncia (do
eu) ou a extino desta extino. Pois as coisas no tm existncia alguma
e o que no existe no pode deixar de existiras Ora, as ideias fundamentais
no menos verdade, ou seja, que quando a alma sai do pecado, ela se torna
santa e
livre, no seu poder.+ (Convvio, 11, l.)
43
Frithiof Schuon
tais que Ibn Arabi rejeita, de resto com inteno puramente especulativa
ou metdica, so contudo aceites por aqueles mesmos que consideram Ibri
Arabi como o maior dos mestres. E, de modo anlogo, todas as formas
exotricas so *ultrapassadas+ ou *quebradas+, portanto *negadas+ em
certo sentido pelo esoterismo que o primeiro a reconhecer a perfeita
legitimidade de todas as formas de Revelao e que tambm o nico a poder
reconhecer tal legitimidade. *O Esprito sopra aonde quer+ - e, em razo da
sua universalidade,
ele quebra a forma. Contudo, obrigado a revestir-se dela no plano formal.
*Se queres atingir o ncleo+, afirma mestre Eckhart, *quebra primeiro
a casca.+
44
TRANSCENDENCIA E UNIVERSALIDADE DO ESOTERISMO
Antes de entrrmos propriamente na
matria, pareceu-nos indispensvel darmos alguns esclarecimentos sobre as
expresses mais exteriores do esoterismo, embora tivssemos preferido deixar de
lado este aspecto contingente da questo para nos atermos unicamente ao
essencial. Mas como algumas contingncias podem dar origem a contestaes de
princpio, vemo-nos forados a debat-las um pouco, ainda que
demorando nisso o menos possvel. Com efeito, poderiam surgir dificuldades
pelo facto de, ao sabermos que o
esoterismo - por definio e natureza - reservado a uma elite intelectual
forosamente restrita, constatarmos que as organizaos iniciticas desde
sempre contaram com um nmero de membros relativamente elevado. Foi
esse, por exemplo, o caso dos pitagricos e continua a ser a fortiori o das
ordens iniciticas que, apesar do seu declnio, ainda subsistem nos nossos dias,
como acontece com as confrarias muulmanas. Tratando-se de organizaes
muito fechadas, sero quase sempre ramos ou ncleos de confrarias mais
vastas, e no confrarias no seu todo, salvo excepes sempre possveis em
condies particulares. A explicao desta participao mais ou menos popular no
que a tradio comporta de mais interior - e, como tal, de mais subtil - que o
esoterismo deve integrar-se para poder existir num dado mundo ou numa modalidade
desse mundo, o que pe inevitavelmente em causa
elementos muito numerosos da sociedade. Da que, em tais confrarias, haja
a distino entre crculos interiores e exteriores, sendo os membros destes l
45
Frithjof Schuon
timos quase impedidos de tomar conscincia do verdadeiro carcter da organizao
a que pertencem, dentro de certo grau, considerando-a simplesmente como uma
forma da tradio exterior, a nica que lhes vivel. Para
retomarmos o exemplo das confrarias muulmanas, o que explica a distino
entre o membro que tem simplesmente o grau de mutabrik (*abenoado+ ou
*iniciado+), quase no saindo da perspectiva exotrica que se prope
viver intensamente, e o membro de elite que tem o grau de slik (*viajante+)
e que segue o caminho traado pela tradio inicitica. verdade que, nos
nossos dias, os verdadeiros slikn (*viajantes+) que se acham em nmero
reduzidssimo, enquanto os mutabrikn (*abenoados+) so muito numerosos
dentro das confrarias, contribuindo para abafar a verdadeira espiritualidade,
atravs de incompreenses mltiplas. Em qualquer dos casos, os mutabrikn,
mesmo quando ignorantes da realidade transcendente da sua
confraria, no deixam, em condies normais, de tirar grande proveito da
barakah (*bno+ ou *influncia espiritual+) que os cerca e protege, na medida
do seu fervor. Pois, a expanso de graas no seio do esoterismo, pela
prpria universalidade deste, atinge todos os graus da civilizao tradicional
e no se detm no limite das formas, tal como a luz, que incolor, no deixa
de penetrar num corpo transparente s por ele ser colorido. Contudo, esta
participao do povo - homens que representam a mdia
da colectividade - na espiritualidade da elite no se explica unicamente por
razes de oportunidade, mas tambm, e sobretudo, pela lei da polaridade ou
da compensao segundo a qual *os extremos tocam-se+, e por isso se diz
que *a voz do povo a Voz de Deus+ (Vox populi, Vox Dei). O povo, enquanto
portador inconsciente e passivo dos smbolos, como que a periferia
ou o reflexo passivo-feminino da elite, que possui e transmite, ela sim, os
mesmos smbolos de modo activo e consciente. Isso explica tambm a curiosa e
quase paradoxal afinidade entre o povo e a elite. Por exemplo, o taosmo
esotrico e popular, enquanto o confucionismo simultaneamente exotrico e mais
ou menos aristocrtico e letrado, ou, dando ainda outro
exemplo, as confrarias sufi sempre tiveram, a par da sua faceta elitista, uma
conotao popular correlativa. Isso porque o povo no tem somente uma
funo perifrica, mas tambm uma funo de totalidade, correspondendo
esta analogicamente ao centro. Poderamos dizer que as funes intelectuais
do povo so o artesanato e o folclore, representando o primeiro o mtodo
46
A Unidade Transcendente das Religies
ou a realizao, e o segundo a doutrina. O povo reflecte assim passiva e
colectivamente a funo essencialmente da elite, ou seja, a transmisso do
aspecto propriamente intelectual da tradio, aspecto cujas vestes so o
simbolismo em todas as suas formas. Um outro ponto que devemos elucidar,
antes de entrarmos mais directamente na matria, o da universalidade das
tradies, ideia que, sendo de
ordem ainda muito exterior, est sujeita a todo o tipo de contingncias
histricas e geogrficas, embora haja quem no hesite em duvidar da sua
existncia. Assim, ouvimos contestar em algum lado que o sufismo admite esta
ideia. Mohyiddin ibn Arabi t-la-ia negado, pois foi ele quem escreveu que o
islo o eixo das outras religies. Ora, toda a forma de tradio superior
s outras de uma certa maneira, e tal maneira define mesmo a razo suficiente
dessa forma. sempre essa maneira que aquele que fala em nome da
sua religio tem em vista. O que conta, no reconhecimento das outras formas de
tradio, o facto - exotericamente inconcebvel - deste reconhecimento, e no
o modo ou o grau do mesmo. O Alcoro oferece alis o prottipo desta maneira de
viver: por um lado, afirma que todos os Profetas so
iguais e, por outro, diz que uns so superiores aos outros, o que significa,
segundo o comentrio de lbn Arabi, que cada Profeta superior aos outros
por uma particularidade que lhe prpria, portanto de uma certa maneira.
Ibn Arabi era de cultura muulmana e devia a sua realizao espiritual barakah
islmica e aos mestres do sufismo, numa palavra, forma islmica: teve,
portanto, de adoptar este ponto de vista, que esclarece como uma forma
comporta certa superioridade face s outras formas. Se tal superioridade
relativa no existisse, os hindus que se tomaram muulmanos no decurso dos
sculos jamais teriam tido qualquer razo positiva para agir desse modo.
O facto de o islo constituir a ltima forma do Santana-Marma neste mah-yuga -
para falar em termos hindus - implica que esta forma possui
uma certa superioridade contingente sobre as formas precedentes. Do mesmo modo,
o facto de o hindusmo ser a forma de tradio mais antiga actualmente viva
implica que possui certa superioridade ou *centralidade+ em relao s formas
posteriores. No h a qualquer contradio, pois as maneiras
de ver so diferentes de um lado e de outro. Igualmente, o facto de So
Bernardo ter pregado as Cruzadas, ignorando
a verdadeira natureza do islo, em nada contradiz o seu conhecimento esot 47
Frithjof Schuon
rico. No se trata de sabermos se So Bernardo entendia ou no o islo, mas
sim de sabermos se, em caso de contacto directo e seguido com esta forma
de Revelao, ele a teria entendido como a entendeu a elite dos Templrios,
quando colocada nas condies requeridos. A espiritualidade de um homem
no pode depender de conhecimentos histricos ou geogrficos ou de outros
conhecimentos *cientficos+ da mesma ordem. Podemos assim afirmar que o'
universalismo dos esoteristas virtual quanto s suas aplicaes possveis e
que no se torna efectivo sem que as circunstncias o permitam ou imponham uma
aplicao determinada. Por outras palavras, s atravs do contacto com outra
civilizao que este universalismo se actualiza. Mas no existe
a qualquer lei rigorosa, e os factores que determinaro em tal esoterista a
aceitao de tal forma estranha podem ser muito diferentes consoante os casos.
No evidentemente possvel definir com exactido o que constitui um
contacto com uma forma estranha, ou seja, o que suficiente para determinar a
compreenso de uma tal forma'.
Podemos tambm chamar a ateno para os espirituais que o sufismo designa
pelo termo
Afrad (*isolados+, sina. Fard): estes, sempre raros por definio,
caracterizam-se por possurem a iniciao efectiva de uma maneira espontnea e
sem que tenham de ser iniciados
de forma ritual. Ora, tais homens, por terem obtido o Conhecimento sem exerccio
nem
estudo, podem ignorar as coisas de que pessoalmente no necessitam. No tendo
sido iniciados, no importa que saibam o que significa a iniciao em sentido
tcnico. Por isso, falam ao jeito dos homens da *Idade de Ouro+ - poca em que
a iniciao ainda no era
necessria - mais do que maneira dos instrutores espirituais da Idade de
Ferro. De resto, no tendo seguido um cantinho de realizao, no podem assumir
o papel de mestres
espirituais. Da mesma forma, se Sh Rmakrislina no previu o desvio da sua
linhagem espiritual,
foi porque, ignorando o esprito ocidental moderno, lhe era impossvel
interpretar certas
vises num sentido que no fosse simplesmente o hindu. Acrescentemos alis que o
referido desvio, de natureza doutrinal e de inspirao ocidental moderna, no
desfez o efeito da
graa de Shri Rmakrishna, mas a esta se somou como simples e suprflua
*decorao+,
portanto como um nada espiritual. Por outras palavras, o facto de a bhakti do
santo ter sido transformada numa pseudo-jnna de estilo filosfico-religioso,
portanto europeia, em
nada impediu a influncia espiritual de ser aquilo que . Do mesmo modo, se Shri
Rmakrishna queria no fundo difundir a sua bhakti, de acordo com certas
condies particulares de fim cclico, isso independente das formas que pde
assumir o zelo de alguns dos
seus discpulos. Esta vontade de se entregar totalmente assemelha alis o santo
de Dakshineshwar famlia espiritual de Cristo, de modo que tudo o que pode ser
dito da natureza
particular da radiao crstica pode tambm aplicar-se radiao do
Paramahanua: E a
48
A Unidade Transcendente das Religies
Devemos agora responder mais explicitamente questo de quais as
principais verdades que o exoterista deve ignorar, sem ter expressamente
de as negar'. Ora, entre os conceitos inacessveis ao exoterismo, o mais
importante talvez, pelo menos em certo sentido, o da gradao da Realidade
Universal: a Realidade afirma-se por graus, sem deixar de ser una,
achando-se os graus inferiores desta afirmao absorvidos nos graus superiores,
por integraro ou sntese metafsica. a doutrina da iluso csmica
luz brilhou nas trevas, e as trevas no a compreenderam.
1 *O formalismo, instituio do homem mdio, permite a este atingir a
universalidade... justamente ele que objecto da shari'ah ou lei sagrada do
islamismo... O homem mdio estabelece em redor de cada um uma espcie de
neutralidade que garante
todas as individualidades, obrigando-as a trabalhar para todos... O islo como
religio
a via da unidade e da totalidade. O seu dogma fundamental chama-se Et-Tawhide,
isto , a unidade ou a aco de unir. Como religio universal, supe graus, mas
cada um
desses graus verdadeiramente o islo, ou seja, no importa que aspecto do
islo revela os mesmos princpios. As suas frmulas so extremamente simples,
mas o nmero
das suas formas incalculvel. Quanto mais numerosas as formas, mais perfeita
a lei.
-se muulmano quando se segue o destino, ou seja, a razo de ser... A sentena
ex
cathedra do mufti tem de ser clara, compreensvel a todos, mesmo a um negro
iletrado.
Ele no tem o direito de se pronunciar sobre outra coisa que no seja um
lugar-comum
da vida prtica. No o faz nunca, alis, tanto mais que pode iludir questes que
no
pertencem sua competncia. a clara e conhecida limitao entre as questes
sufitas
e charatas que permite ao islo ser esotrico e exotrico sem nunca se
contradizer.
por isso que nunca h conflitos srios entre a cincia e a f nos muulmanos
que entendem a sua religio. A frmula de Et-Tawhid ou do Monotesmo o
lugar-comum
charata. O alcance que se d a esta frmula uma questo puramente pessoal,
pois
deriva do sufismo. Todas as dedues que se possam fazer desta frmula so mais
ou
menos boas, desde momento que no destruam o sentido literal, Pois ento
estaremos
a destruir a unidade islmica, ou seja, a sua universalidade, a sua faculdade em
se
adaptar e convir a todas as mentalidades, circunstncias e pocas. O formalismo
rigoroso. No existe superstio, mas sim uma linguagem universal. Como a
universalidade
o princpio e a razo de ser do islo e como, por outro lado, a linguagem o
meio de
comunicao entre os seres dotados de razo, segue-se que as frmulas exotricas
so
to importantes no organismo religioso como as artrias no corpo fsico... A
vida no
de modo algum divisvel. O que a faz parecer assim o facto de ela ser
susceptvel de
gradao. Quanto mais a vida do eu se identifica com a vida do no-eu, tanto
mais intensamente se vive. A transfuso do eu em no-eu faz-se pelo dom mais ou
menos ritual, consciente ou voluntrio. Facilmente se compreende que a arte de
dar o principal arcano da Grande Obra+ (Abul-Hadi, *L'Universalit en
'Islam+, em Le Voile
d'Isis, Janeiro de 1934).
49
Frithjof Schuon
ca: o mundo no e apenas mais ou menos imperfeito ou efmero, e sim
desprovido de existncia face Realidade absoluta, pois a realidade do
mundo limitaria a de Deus, o nico que *+. Mas o Ser em si, que mais
no do que o Deus pessoal, por sua vez ultrapassado pela Divindade
impessoal ou suprapessoal, o No-Ser, de que o Deus pessoal ou o Ser
apenas uma primeira determinao a partir da qual se desenvolvem todas
as determinaes secundrias que constituem a Existncia Csmica. Ora,
o exoterismo no pode admitir nem a irrealidade do mundo nem a realidade
exclusiva do Princpio Divino nem sobretudo a transcendncia do
No-Ser em relao ao Ser, que Deus. Por outras palavras, o ponto de
vista exotrico no pode aceitar a transcendncia da Suprema Impessoalidade
Divina de que Deus a afirmao pessoal. Estas verdades so muito
elevadas e, por isso, muito subtis e complexas para o simples entendimento
racional. Tornam-se de difcil acesso a uma maioria e pouco susceptveis de
formulao dogmtica. Outra ideia que o exoterismo no admite
a da imanncia do Intelecto em todos os seres, Intelecto esse que mestre
Eckhart definia como *incriado e incrivel+'. Esta verdade no se pode
evidentemente integrar na perspectiva exotrica, no mais que a ideia da
realizao metafsica pela qual o homem toma conscincia do que na realidade
jamais deixou de ser, a saber: a identidade essencial como o Princpio Divino, o
nico que real. O exoterismo, por seu lado, v-se obri Sabe-se que alguns
textos eckhartianos, que ultrapassam o ponto de vista teolgico, escapando assim
ao controlo das autoridades religiosas, foram por esta condenados. Se este
veredicto podia ser, de algum modo, legtimo por razes de oportunidade, no o
era certamente pela sua forma; e, por um curioso feed-back, Joo XX11, que
emitiu essa bula, foi
obriga o por sua vez a retractar-se de uma opinio que ele mesmo avia prega n
a sua autoridade ameaada. Eckhart s se retractou por uma questo de
princpio, por
simples obedincia e antes ainda de conhecer a deciso papal. Por isso, os seus
discpulos
no fizeram muito caso da referida bula, e achamos oportuno acrescentar que um
deles, o
beato Henrique Suso, teve uma viso, depois da morte de Eckhart, do
*Bem-Aventurado
Mestre, transformado em Deus, em superabundante magnificncia.+
' O sufi Yahya Mu'adh Er~Rzi afirma que *o Paraso a priso do sbio assim
como o
mundo a priso do crente+. Por outras palavras, a manifestao universal
(el-khalq,
ou o samsra hindu), com o seu Centro Beatfico (Es-Samawt, ou o Brahma-loka),
metafisicamente uma (aparente) limitao (da Realidade no-manifesta: A11^
Brahma), tal como a manifestao formal uma limitao (da Realidade informal,
mas ainda manifesta: Es-Samawt, Brahma-loka) do ponto de vista individual ou
esoterista.
50
A Unidade Transcendente das Religies
gado a manter a distino entre o Senhor e o seu servo, para j no falarmos
das acusaes de pantesmo que os profanos fazem ideia Meta fsica da
identidade essencial, que os dispensa alis de qualquer esforo de
e compreenso Na verdade, o pantesmo consiste na admisso de uma
continuidade entre o Infinito e o finito, que no pode ser concebida sem
primeiro admitir mos uma identidade substancial entre o Princpio Ontolgico -
presente em todo o tesmo - e a ordem manifesta, concepo que pressupe uma
ideia substancial, portanto falsa, do Ser; ou, ento, sem confundirmos a
identidade essencial da manifestao e do Ser com uma identidade substancial.
nisso, e s nisso, que consiste o pantesmo. Mas parece que algumas
inteligncias so irremediavelmente refractrias a uma verdade to simples; a
menos que alguma paixo ou interesse as leve a agarrarem-se a um i instrumento
de polmica to cmodo como o termo pantesmo, que permite lanar uma dvida
geral sobre certas doutrinas consideradas incmodas sem que algum se d ao
trabalho de as examinar em si mesmas'.
De qualquer modo, uma tal formulao excepcional; o esoterismo est
normalmente implcito e no explcito, isto , a sua expresso normal tem o seu
ponto de partida nos smbolos da Escritura, de modo que, para retomarmos o
exemplo do sufismo, falamos de *Paraso+ servindo-nos da terminologia cornca,
para designar estados que se situam - como o *Paraso da Essncia+ (Jannat
edh-Dht) @ para alm de toda a realidade csmica e, mais ainda, de toda a
determinao individual. Se, portanto,*//* aquele sufi fala do *Paraso+ como
sendo a *priso do iniciado+, aborda-o do ponto de vista ordinrio e csmico,
que o da perspectiva religiosa, e obrigado a faz-lo quando quer pr em
evidncia a diferena essencial entre as vias *individual+ e *universal+ ou
*csmica+ e *metacsmica+. No podemos, pois, esquecer que o *Reino dos Cus+
do Evangelho, tal como o *Paraso+ (@nnah) do Alcoro, no designa apenas
estados condicionados, mas tambm aspectos do 1ncondicinado de que tais estados
so apenas os reflexos csmicos mais directos. Para voltarmos citao de
Yahya Mu'adh Er-Rzi, encontramos nas sentenas conde nadas de mestre Eckhart
um ensamento anlogo: *Os que no procuram nem a fortuna, nem as honras, nem a
utilidade, nem a devoo interior, nem a santidade, nem a recom pensa, nem o
reino dos Cus, mas a tudo renunciam, mesmo ao que lhes pertence, em tais
homens que Deus glorificados - Esta sentena, como a de Er-Rzi, no exprime
outra coisa seno a negao metafsica da individualidade na realizao da
Unio. O *pantesmo+ o grande recurso de todos os que querem sem esforo
iludir o esote rismo e pensam entender por exemplo um texto metafsico ou
inicitico s porque co nhecem gramaticalmente a lingua em que est escrito. Em
geral, que dizer do vazio das
51
Frithjof Schuon
Mesmo que a ideia de Deus mais no fosse do que uma concepo da
Substncia Universal (matria-prima) e o Princpio Ontolgico estivesse
assim fora de causa, a acusao de pantesmo seria ainda injustificada, visto
que a matria-prima permaneceria sempre transcendente e virgem por
referncia s suas produes. Se Deus concebido como a Unidade Primordial, a
Essncia Pura, nada lhe pode ser substancialmente idntico.
Mas, ao qualificar-se como pantesta o conceito da identidade essencial,
nega-se ao mesmo tempo relatividade s coisas, atribuindo-se-lhes uma
realidade autnoma em relao ao Ser ou Existncia, como se houvesse
duas realidades essencialmente distintas, duas Unidades ou Unicidades.
A consequncia fatal de um semelhante raciocnio o materialismo puro
e simples, pois desde que a manifestao deixa de ser concebida como
essencialmente idntica ao Princpio, a admisso lgica desse Princpio torna-se
uma mera questo de credulidade. E, se tal sentimentalismo vai
falncia, deixa de haver razo para admitirmos a existncia de algo que
ultrapassa a manifestao, mais particularmente a manifestao sensvel.
Mas voltemos Impessoalidade Divina. Em rigor, esta sobretudo uma
No-Pessoalidade: no pessoal nem impessoal, mas suprapessoal. No
entanto, no h que entendermos o termo *Impessoalidade+ no sentido
de uma privao, pois trata-se aqui, pelo contrrio, da Plenitude, da flimitao
absoluta, por nada determinada, nem mesmo por si prpria. a
Pessoalidade que, por referncia Impessoalidade, um tipo de privao
ou *determinao privativas, e no o inverso. Entendemos aqui por
*Pessoalidade+ apenas o *Deus Pessoal+ ou *Ego Divino+ - se assim se pode
falar -, e no o Si, que o Princpio transcendente do Eu e a que, sem
restries, poderamos chamar Pessoalidade por referncia individualidade. O
que aqui distinguimos , pois, a *Pessoa Divina+, Prottipo principal da
individualidade, e, por outro lado, a Impessoalidade, que a Es
dissertaes que pretendem fazer das doutrinas sagradas um tema de estudo
profano,
como se no existissem conhecimentos no acessveis a certas pessoas e como se
bastasse ter estado na escola para entender a mais venervel sabedoria, ainda
melhor do que
os sbios a entenderam? Pois se so *especialistas+ e *crticos+, nada est
fora do seu
,alcance. uma atitude que mais parece com a de crianas que, tendo encontrado
livros
para adultos, os julgassem segundo a sua ignorncia, o seu capricho ou a sua
preguia.
52
A Unidade Transcendente das Religies
sncia infinita dessa Pessoa. Tal distino entre Pessoa Divina - que
manifesta um querer particular, num mundo simblico nico - e Realidade Divina
Impessoal - que, pelo contrrio, manifesta a Vontade Divina
essencial e universal atravs das formas do Querer Divino particular ou
pessoal, por vezes em aparente contradio com ele - absolutamente
fundamental no esoterismo, no s pela importncia que assume na doutrina
metafisica, mas porque explica a eventual antinomia entre os domnios exotrico
e esotrico. Por exemplo, na pessoa do rei Salomo, h que
distinguir o seu conhecimento esotrico - referente ao que chammos a
*Impessoalidade divina+ - e a sua ortodoxia exotrica, a sua conformidade ao
Querer da *Pessoa Divina+. No foi contra tal Querer, mas em virtude desse
conhecimento, que o grande edificador do Templo de YHWH
reconheceu a Divindade em outras formas reveladas, ainda que decadas.
No foi a sua degradao nem o seu *paganismo+ que o Rei-Profeta abraou, mas
sim a sua pureza primitiva, reconhecvel atravs do simbolismo;
de modo que se pode dizer que as aceitou atravs do vu da sua degradao. No
ser, alis, a insistncia, feita no Livro da Sabedoria, sobre a
vaidade da idolatria, um desmentido da interpretao exotrica formulada
no Livro dos Reis? Seja como for, o Rei-Profta, ainda que situado para
alm das formas, havia de sofrer as consequncias do que o seu universalismo
tinha de contraditrio no plano formal. Afirmando essencialmente
uma forma - o monotesmo judaico - e fazendo-o no modo eminentemente formal do
simbolismo histrico - preso, por definio, aos acontecimentos -, a Bblia teve
de censurar a atitude de Salomo, pois esta
contradizia visivelmente a manifestao pessoal da Divindade. Mas, ao
mesmo tempo, fez constar que a infraco no comprometeu a pessoa
mesma do Sbio!. A atitude *irregular+ de Salomo atraiu sobre o seu
1 Assim, o Alcoro afirma que *Salorno no era um mpio+ (ou *herege+: m
kafara
Sulaymn; srat el-baqarah, 102) e exalta-o nestes termos: *Que servo excelente
foi Salorno! Na verdade, ele estava (no seu esprito) constantemente virado
para AIlh+ (os
comentadores acrescentam: *glorificando-o e louvando-o sem cessar+; srat ad,
30).
Todavia o Alcoro faz aluses a uma prova enviada a Salorno por Deus, depois de
uma orao de arrependimento do Rei-Profeta e enfim a resposta divina (ibid.,
34-36).
Ora, o comentrio desta passagem enigmtica concorda simbolicamente com a
narrao do Livro dos Reis, pois refere que uma das esposas de Salorno adorou
um dolo
contra sua vontade e no seu prprio palcio. Salomo perdeu o anel, e com ele o
reino
53
X
Frithjof Schon
Reino o cisma poltico: Esta, a nica sano reportada pela Escritura,
punio desproporcionada se o Rei-Profeta houvesse praticado um politesmo
verdadeiro, o que no foi, de modo algum, o caso. A sano mencionada refere-se
exactamente *irregularidade+ e no a mais do que isso. Por esse motivo, a
memria de Salomo permaneceu venerada no s
no judasmo, nomeadamente na Cabala, mas tambm no islo charata e
sufi. Quanto ao cristianismo, so conhecidos os Comentrios que o Cntico dos
Cnticos inspirou a So Gregrio de Nissa, a Teodoreto e a So
Bernardo, entre outros. Ora, se a antinomia entre as duas grandes *dimenses+
da tradio surge j na prpria Bblia, que todavia um livro
sagrado, porque o modo de expresso deste Livro, como a prpria forma do
judasmo, d preponderncia ao ponto de vista exotrico, quase diramos
*social+, e at *poltico+ - embora no em sentido profano. No
cristianismo, a relao inversa. E no islamismo, sntese dos gnios judaico e
cristo, as duas *dimenses+ tradicionais aparecem em equilbrio:
por isso, o Alcoro s considera Salomo (Seyidn Sulaymn) sob um
prisma esotrico e na sua dignidade de Profeta'. Mencionemos, por fim,
por uns dias, encontrando em seguida o anel e recuperando assim o reino. Depois,
pediu a Deus que lhe perdoasse e obteve dele um poder maior e mais maravilhoso
do que
dantes. O livro sagrado do islo enuncia a impecabilidade dos Profetas nos
seguintes termos:
*Eles no O (Allh) precedem pela palavra (no so os primeiros a falar) e agem
segundo o Seu mandamentos (srat el-anbiyah, 27). O que equivale a afirmar que
os Profetas no falam sem inspirao e no agem sem ordem divina. Ora, tal
impecabilidade
s compatvel com as *aces imperfeitas+ (dhunb) dos Profetas em virtude da
verdade metafsica das duas Realidades Divinas, uma pessoal e a outra impessoal,
cujas
manifestaes podem contradizer-se de facto nos grandes homens espirituais, mas
nunca no comum dos mortais. O termo dhanb tem igualmente o sentido de *pecado+,
sobretudo *pecado por inadvertncias, mas sobretudo e originariamente
*imperfeio na
acao+ ou *imperfeio resultante de uma aco+. E por isso que s se usa o
termo
dhanb quando se trata de Profetas, e no o termo ithm, que significa
exclusivamente
*pecado+ com carcter intencional. Se quisssemos encontrar uma contradio
entre a
impecabilidade dos Profetas e a imperfeio extrnseca de algumas das suas
aces, deveramos igualmente considerar incompatveis a perfeio de Cristo e a
sua palavra sobre a sua natureza humana: *Porque me chamas bom? Ningum bom
seno Deus.+
Esta palavra responde tambm questo por que David e Salomo no previram um
certo conflito entre tal grau da Lei Universal. porque a natureza individual
sempre
guarda certos *pontos cegos+ cuja presena entra na prpria definio dessa
natureza.
54
A Unidade Transcendente das Religies
uma passagem da Bblia onde YHWH ordena ao profeta Natan que leve a
David as seguintes palavras: *Quando os teus dias se cumprirem e fores
deitado com os teus pais, enaltecerei a tua posteridade depois de ti, aquele
(Salorno) que sair das tuas entranhas, e conformarei a sua realeza.
Ser ele quem construir uma casa para o Meu Nome e eu confirmarei para sempre o
trono do seu reino. Serei para ele um pai, e ele para Mim um
filho. Se praticar o mal, castig-lo-e com verga de homens e golpes de filhos
de homens. Mas a minha graa jamais se retirar dele, como a retirei
de Saul, que fiz sair de diante de ti+ (11 Sam.,7:12-15). Um exemplo muito
anlogo o de David, a quem o Alcoro reconhece
igualmente a dignidade de Profeta e que os cristos veneram como um
dos maiores santos da Antiga Aliana. Parece-nos evidente que um santo
no pode cometer os pecados - no queremos dizer: praticar as aces
-de que se acusa David. O que preciso entender que a transgresso,
que a Bblia do ponto de vista legal atribui ao Santo Rei, s surge em funo da
perspectiva essencialmente moral, portanto exotrica, que predomina neste livro
sagrado - o que explica alis a atitude de So Paulo,
e do cristianismo em geral, para com o judasmo, que permite encarar o
ponto de vista cristo como eminentemente *interior+; enquanto a impecabilidade
dos Profetas, afirmada entre outros pelo Alcoro, uma realidade mais profunda
da que o ponto de vista moral consegue alcanar.
Esotericamente, a vontade de David em desposar Betsab no podia ser
uma transgresso, pois a dignidade de Profeta s se concede a homens livres de
paixes, quaisquer que sejam as aparncias. O que preciso discernir, antes de
mais, na relao entre David e Betsab uma afinidade
ou complementaridade csmica e providencial cujo fruto e justificao foi
Salorno, aquele que *YHWH-amou+ (11 Sam., 12:24). A vinda deste se
Esta limitao necessria de toda a substncia individual no ameaa, de modo
algum,
a realidade espiritual qual esta substncia se acha unida de modo, por assim
dizer,
*acidental+. Pois no existe medida cormun entre o individual e o espiritual,
que simplesmente o divino. Citemos, para terminar, esta palavra do califa
Ali, representante por excelncia do
esoterismo no islo: *A quem vier a contar a histria de David como a contam os
contadores de histrias (isto , segundo uma interpretao exotrica ou
profana), darei
cento e sessenta chicotadas e isso ser a punio dos que proferirem falso
testemunho
contra os Profetas.+
55
Frithiof Schuon
gundo Rei-Profeta foi como que uma conformao divina e uma bno
da unio entre David e Betsab, pois Deus no sanciona nem recompensa
um pecado. Sgundo Mohyiddin ibn Arabi, Salomo foi para David muito
mais do que uma recompensa: *Salomo era o dom de Allh a David,
conforme a Palavra divina: E fizemos dom a David de Salomo (Alcoro,
srat ad, 30). Ora, recebe-se um presente por favor, no como recompensa de um
mrito. por isso que Salomo a graa superabundante, e
a prova evidente, e o golpe aterradoras (Fu el-hikam, Kalimah sulaymniyah).
Mas consideremos agora a narrativa no que diz respeito a Urias
o Heteu: de novo, a atitude de David no dever ser julgada do ponto de
vista moral, pois - j sem falarmos no que a morte herica representava
para um guerreiro e, tratando-se de uma Guerra Santa como a dos Israelitas, tal
morte assumia carcter sacrificial imediato - o mbil desta atitude s podia ser
uma intuio proftica. Contudo, a escolha de Betsab e a
condenao de Urias morte, ainda que cosmolgica e providencialmente
justificados, chocavam com o Princpio exotrico. E David - continuando
a desfrutar, pelo nascimento de Salomo, do que a sua atitude tinha de
intrinsecamente legtimo - teve de suportar as consequncias deste choque.
Ora disto encontramos eco nos Salmos, Palavra de Deus e prova de que
David era Profeta: as aces de David, se comportam um aspecto negativo numa
dimenso exterior, no constituem porm pecados em si mes
mas; poderamos mesmo dizer que Deus as inspirou tendo em vista a Revelao dos
Salmos que deveriam cantar, de um canto divino e imortal,
no apenas os sofrimentos e a glria da alma, sedenta de Deus, mas tambm os
sofrimentos e a glria do Messias. A atitude de David no foi evidentemente
contrria ao Querer Divino, pois Deus no s *perdoou+ a
David - para usar o termo algo antropomrfico da Bblia -, como no
lhe retirou de imediato Betsab, causa e objecto do pecado, antes confirmou a
unio dos dois, fazendo-lhes dom de Salorno. E, se em David, como em Salomo, a
irregularidade exterior - simplesmente extrnseca de certas aces provocou uma
reaco, importa reconhecer que esta se limita estritamente ao domnio dos
factos terrestres. Este dois aspectos um exterior ou negativo, outro interior ou
positivo - da histria da mulher de Urias manifestam-se ainda em dois factos:
primeiro, na morte do
seu primognito e, depois, na vida, grandeza e glria do seu segundo filho,
aquele que *YHWH amou+.
56
A Unidade Transcendente das Religies
Esta digresso pareceu-nos necessria para ajudar a entender que os
dois domnios, exotrico e esotrco, so profundamente distintos em natureza e
que qualquer incompatibilidade s pode derivar do primeiro e
nunca do segundo, que se encontra alm das oposies, porque alm das
formas. Existe um dito sufi que esclarece com tanta limpidez quanta conciso as
diferenas de ponto de vista entre as duas grandes vias: *A via
exotrica : eu e Tu. A via esotrica : eu sou Tu e Tu s eu. O Conhecimento
esotrico : nem eu nem Tu, mas Ele.+ O exoterismo funda-se, por
assim dizer, no dualismo *criatura-Criador+ ao qual atribui uma realidade
absoluta, como se a realidade divina, que metafisicamente nica, no
absorvesse ou anulasse a realidade da criatura, portanto toda a realidade
relativa e aparentemente extradivina. Se verdade que o esoterismo admite a
distino entre o eu individual e o Si universal ou divino, s o faz
provisoria e metodicamente, no em sentido absoluto. Partindo desta dualidade,
que corresponde a uma realidade relativa, chega a ultrapass-la
metafisicamente, o que seria impossvel para o exoterismo, cuja limitao
consiste precisamente em atribuir uma realidade absoluta ao que contingente.
Chegamos assim prpria definio da perspectiva exotrica: duafismo
irredutvel e procura exclusiva de salvao individual - dualismo
que implica que Deus seja considerado apenas sob o ngulo das suas relaes com
o criado, e no na sua Realidade total e infinita, a sua Impessoalidade que
aniquila toda a realidade aparentemente distinta dele. No o dualismo
dogmtico que em si mesmo censurvel - Pois corresponde ao ponto de vista
individual em que a religio se coloca -, mas
sim as indues que implicam a atribuio de uma realidade absoluta ao
relativo. Metafisicamente, a realidade humana reduz-se Realidade Divina e ,
em si mesma, apenas'ilusria. Teologicamente, a Realidade Divina
reduz-se aparentemente realidade humana, no sentido em que no a ultrapassa em
qualidade existencial, mas s em qualidade causal.
A perspectiva das doutrinas esotricas manifesta-se de maneira particularmente
clara no seu modo de encarar aquilo a que ordinariamente chamamos o mal.
Atribuiu-se-lhes muitas vezes a negao pura e simples do
57
Frithjof Schon
mal, mas tal interpretao rudimentar e imperfeita. A diferena entre'as
concepes religiosa e metafisica do mal no consiste no facto de uma ser falsa
e a outra verdadeira, mas simplesmente em a primeira ser parcial e individual,
enquanto a segunda integral e universal. O mal ou o Diabo na perspectiva
religiosa s corresponde por consequncia a uma viso par cial e no de modo
algum equivalente fora csmica negativa aborda da pelas doutrinas
metafisicas e que a doutrina hindu designa pelo termo camas: se camas no o
Diabo - mas mais propriamente o derniurgo co mo a fora que d consistncia
manifestao csmica, atraindo-a para baixo e afastando-a do Princpio-Origem -,
a verdade que o Diabo uma forma de camas, considerada unicamente nas suas
relaes com a al ma humana. Sendo o homem um ser individual consciente, a
fora csmi ca, em contacto com ele, assume necessariamente uma feio
individual, consciente e pessoal. Fora da esfera humana, esta mesma fora poder
to mar aspectos perfeitamente impessoais e neutros, por exemplo, quando se
manifesta como peso fsico ou densidade material, ou sob a aparncia de um
animal hediondo ou de um metal vulgar e pesado como o chumbo. Mas a perspectiva
religiosa, por definio, s se ocupa do homem e no v a cosmologia seno em
funo dele. escusado, pois, criticar esta
4 perspectiva por encarar camas de forma personificada, ou seja, naquilo que
atinge precisamente o mundo do homem. Se, portanto, o esoterismo parece negar a
existncia do mal, no que ignore ou se recuse a admitir a natureza das coisas
tais quais so na realidade. Pelo contrrio, penetra -as inteiramente, e por
isso que lhe impossvel isolar da realidade um ou outro dos seus aspectos,
encarando um deles do ponto de vista exclusi vo do interesse individual humano.
demasiado evidente que a tendncia csmica de que o Diabo a personificao
quase humana no um *mal+, pois esta tendncia que condensa os corpos
materiais e, se por absurdo desaparecesse, todos os corpos ou compostos fsicos
e psquicos instantaneamente se volatilizariam. Mesmo o objecto mais sagrado
neces sita desta fora para poder existir materialmente. Ningum ousaria, por
exemplo, afirmar que a lei fsica que condensa a matria de uma hstia uma
fora diablica ou um mal de qualquer espcie. Ora,. devido ao carc ter
*neutro+ - sem distino de *bem+ e *mal+ - da tendncia demirgica que as
doutrinas esotricas, reportando todas as coisas sua realidade essen cial,
parecem negar aquilo a que chamamos humanamente o mal.
58
A Unidade Transcendente das Religies
Poderamos todavia perguntar-nos que consequncias implica para o
iniciado uma tal concepo *no-moral+ - embora no *imoral+ - do
*mal+. A isso, responderemos que, na conscincia e na vida do iniciado,
a ideia de pecado d lugar ao conceito de dissipao - ou seja, tudo o que
contrrio concentrao espiritual, digamos, unidade. Trata-se sobretudo
de uma diferena de princpio e de mtodo, que no intervm do mesmo
modo em todos os indivduos. Alis, o que moralmente pecado , do ponto de
vista inicitico, quase sempre dissipao. Tal concentrao - ou tendncia
unidade (tawhid) - exprime-se, no islo exotrico, no acto de f na
Unidade de Deus: a maior transgresso consiste em associar outras divindades a
A11^ o que para o iniciado (o faqir) tem um alcance universal, pois
toda a afinnao individual traz consigo a mcula de uma falsa divindade.
E se, do ponto de vista religioso, o maior mrito consiste em professar
sinceramente a Unidade Divina, para o faqir trata-se de realiz-la de um modo
espiritual, portanto num sentido que abarca todas as dimenses do universo,
e isso precisamente pela concentrao de todo o seu ser na nica Realidade
Divina. Para tornar mais clara a analogia entre pecado e dissipao, diramos,
por exemplo, que a leitura de um bom livro jamais ser considerada no
exoterismo como um acto repreensvel, mas poder s-lo no esoterismo, caso
se trate de uma distraco ou sempre que esta leve a melhor sobre a utilidade.
Inversamente, algo sempre considerado pela moral religiosa como tentao, como
via para o pecado e, portanto, comeo deste, poder no esoterismo desempenhar um
papel totalmente oposto, no sendo uma dissipao
*pecadora+, mas pelo contrrio um factor de concentrao em virtude da
inteligibilidade imediata do seu simbolismo. H mesmo casos, por exemplo no
tantrismo ou em alguns cultos da Antiguidade, em que coisas por si mesmas
pecaminosas - no apenas contra a moral religiosa, mas contra as leis da
civilizao em que se produzem - servem de suporte para a inteleco, o que
pressupe uma forte predominncia do elemento contemplativo sobre o elemento
passional. Ora, uma moral religiosa nunca existe s para os contemplativos, mas
sim para todos os homens. Ter-se- entendido que no se trata, de modo algum,
de depreciar a
moral, que uma instituio divina. Mas o facto de ser divina no impede
que seja limitada. No percamos de vista que, na . maioria dos casos, as
leis morais, fora do seu domnio ordinrio, se tornam smbolos e veculos
59
Frithjof Schuon
de conhecimento. Toda a virtude traz a marca de uma conformidade *atitude
divina+, portanto um modo indirecto, como que existencial, de conhecimento de
Deus. O que equivale a dizer que, se podemos descortinar um objecto pela sua
simples viso, a Deus s podemos conhec-Lo pelo *ser+.
Para conhecer a Deus, preciso assemelhar-se-Lhe, ou seja, conformar o
nosso microcosmo ao Metacosmo, Divino - e assim tambm ao macrocosmo - como o
ensina expressamente a doutrina hesiciasta. Dito isso, h que
sublinhar com veemncia que a amoralidade da posio espiritual uma
supramoralidade mais do que uma no-moralidade. A moral, no sentido mais
lato do termo, ao seu nvel o reflexo da verdadeira espiritualidade e deve
ser integrada, com as verdades ou erros parciais, no ser total. Por outras
palavras, do mesmo modo que o homem mais santo no est totalmente dispensado de
agir neste mundo, pois dispe de um corpo fsico que a isso o
obriga, tambm no est nunca totalmente liberto da distino entre *bem+
e *mal+, a forosamente em toda a aco.
ja que esta se insinu Poder-se-iam, se no definir, pelo menos descrever
as duas grandes dimenses tradicionais - o exoterismo e o esoterismo -
caracterizando a
primeira com o auxilio dos termos *moral, aco, mrito, graa+; a segunda com
a ajuda dos termos *simbolismo, concentrao, conhecimento,
identidades. Donde: o homem passional aproximar-se- de Deus atravs
da aco, cujo suporte uma moral; o homem contemplativo unir-se-
sua Essncia Divina atravs da concentrao cujo suporte um simbolismo que,
naturalmente, no exclui a atitude precedente dentro dosSmites
que lhe so prprios. A moral um princpio de aco, portanto, de mrito,
enquanto o simbolismo um suporte de contemplao e um meio de
inteleco. O mrito, que se adquire por um modo de aco, tem como
fim a graa de Deus, enquanto o objectivo da inteleco, se que a podemos
dissociar deste, a unio ou identidade com o que nunca deixmos
de ser na nossa Essncia existencial ou intelectual. Por outras palavras, o fim
supremo a reintegrao do homem na Divindade, do contingente no Absoluto, do
finito no Infinito. A moral, em si mesma, no tem sentido fora do
domnio restrito da aco e do mrito, e no atinge portanto, de modo
algum, realidades como o simbolismo, a contemplao, a inteleco, a
identidade pelo Conhecimento. Quanto ao *moralismo+, que, no podemos confundir
com a moral, ele no passa de uma tendncia a substituir
qualquer outro ponto de vista pelo da simples moralidade. Da resulta,
60
A Unidade Transcendente das Religies
pelo menos no cristianismo, uma espcie de finca-p ou suspeita contra
tudo o que tem um carcter agradvel e o erro de crer que todas as coisas
agradveis so apenas agradveis e nada mais. Esquece-se que a
qualidade positiva, e portanto o valor simblico e espiritual, de uma
coisa agradvel pode, no caso do verdadeiro contemplativo, compensar
o inconveniente do deleite momentneo da natureza humana, pois toda
a qualidade positiva se identifica essencialmente - mas no existencialmente -
com uma qualidade ou perfeio divina, que o seu prottipo
eterno e infinito. Se pode haver, nas consideraes precedentes, alguma
aparncia de contradio, esta deve-se ao facto de termos encarado a
moral, e, por um lado, em si mesma, como oportunidade social u psicolgica, por
outro, como elemento simblico, na sua qualidade de suporte da inteleco. Neste
ltimo contexto, a oposio entre moral e
simbolismo ou intelectualidade j no faz evidentemente sentido. Agora,
quanto ao problema da existncia do mal, o ponto de vista religioso s nos
fornece respostas indirectas e'evasivas@ ao afirmar que a Vontade divina
insondvel e que todo o mal acabar, um dia, por ser vencido pelo bem. Ora, esta
segunda afirmao no explica o mal. E, quanto '
primeira, dizer que IYeus insondvel significa que ns no podemos rsolver
qualquer aparncia de contradio nos Seus *modos de agir+. Esotericamente, o
problema do mal reduz-se a duas questes: a primeira, por
que motivo o criado implica necessariamente imperfeio? A segunda, por
que razo existe o criado? -A primeira destas questes preciso responder
que, se no houvesse imperfeio no criado, nada o poderia distinguir do
Criador. Ou, por outras palavras, aquele no -seria efeito ou manifestao,
mas sim Causa ou Princpio. E, segunda questo, responderemos que a
Criao ou manifestao est rigorosamente imphcada na infinitude do Princpio,
no sentido em que aquela um aspecto ou consequncia deste, o que
equivale a dizer que, se o mundo no existisse, o Infinito no seria o Infinito,
pois, para ser o que , o Infinito deve negar-se aparente e simbolicamente a Si
mesmo, e o que acontece com a manifestao universal. O mundo
no pode no existir, pois um aspecto possvel, portanto necessrio, da
necessidade absoluta do Ser; a imperfeio tambm no pode no existir, pois
um aspecto da prpria existncia do mundo; esta acha-se rigorosamente
implicado na infinidade do Princpio Divino e tambm a existncia do
mal est implicado na existncia do mundo. Deus Todo-Bondade e o
61
Frithjof Schwn
mundo disso imagem. Mas como a imagem no pode ser, por definio,
aquilo que representa, o mundo tem de ser limitado por referncia Bondade
Divina, donde se explica a imperfeio na existncia. As imperfei-'
es por consequncia mais no so do que rupturas na imagem da Perfeio Total
da Divindade. Evidentemente no provm dessa Perfeio, mas
do carcter necessariamente relativo ou secundrio da imagem. A manifestao
implica por definio a imperfeio, como o Infinito implica por
definio a manifestao: esta trade *Infinito, manifestao, imperfeio+
co nstitui a frmula explicativa de tudo o que o esprito humano pode encontrar
de problemtico nas vicissicutes da existncia. Quando somos capazes de ver com
o olho do Intelecto as causas metafisicas de toda a aparncia, deixamos de nos
fixar em contradies insolveis, como
forosamente acontece na perspectiva exotrica, cujo antropomorfismo
incapaz de abranger todos os aspectos da Realidade Universal.
Um outro exemplo de impotncia do esprito humano face aos seus prprios
recursos o problema da predestinao. Esta ideia no traduz outra
coisa, na linguagem da ignorncia humana, seno o Conhecimento Divino
que engloba, na sua perfeita simultaneidade, todas as possibilidades sem
qualquer restrio. Por outras palavras, se Deus omnisciente, conhece
as coisas futuras, ou antes, as que assim o parecem aos seres limitados pelo
tempo: se Deus no conhecesse essas coisas, no seria omnisciente.
Desde momento que as conhece, elas aparecem como predestinadas por
referncia ao indivduo. A vontade individual livre na medida em que
real, Se no fosse, em algum grau e de alguma maneira, livre, seria irrealidade
pura e simples, portanto, coisa nenhuma. E, de facto, aos olhos da
Liberdade Absoluta, no passa disso, ou seja, ela no existe de modo algum.
Contudo, do ponto de vista individual, o do ser humano, a vontade
real e -o na medida em que este participa da Liberdade Divina, de onde a
liberdade individual tira toda a sua realidade, em virtude da sua relao
causal. Da resulta que a liberdade, como toda a qualidade positiva,
divina enquanto tal e humana enquanto no perfeitamente ela mesma,
assim como um reflexo do Sol idntico a este no como reflexo mas enquanto
luz, sendo a luz una e indivisvel na sua essncia.
62
A Unidade Transcendente das Religies
Poderamos exprimir a relao metafisica entre a predestinao e a liberdade
comparando esta a um lquido que penetra todas s sinuosidades
de um recipiente, sendo este a predestinao: o movimento do lquido
equivale ao exerccio livre da nossa vontade. Se no podemos querer outra coisa
seno o que nos predestinado, isso no impede a nossa vontade
de ser aquilo que , ou seja, uma participao relativamente real no seu
prottipo universal. E precisamente tal participao que faz com que
experimentemos e vivamos a nossa vontade como livre. A vida do homem - e, por
extenso, todo o ciclo individual, de que a vida e a condio de homem mais no
so do que modalidades - est, de facto, contida no Intelecto Divino como um
todo finito, ou seja, como uma
possibilidade determinada que, sendo aquilo que , no em nenhum dos
seus aspectos outra coisa seno ela mesma, pois uma possibilidade mais no
do que uma expresso da absoluta necessidade do Ser. Da deriva a unidade ou
homogeneidade de tudo o que possvel, de tudo o que no pode no
ser. Dizer que um ciclo individual est definitivamente includo no Intelecto
Divino equivale a afirmar que uma possibilidade est includa na Possibilidade
Total, e esta verdade que fornece a resposta mais decisiva questo da
predestinao. A vontade individual aparece ento como um processo que
realiza, de modo sucessivo, o encadeamento necessrio das modalidades da
sua possibilidade inicial, simbolicamente descrita ou recapitulada. Tambm
podemos dizer que, sendo a possibilidade de um ser uma possibilidade de
manifestao, o processo cclico desse ser o conjunto dos aspectos da sua
manifestao e, portanto, da sua possibilidade; o ser mais no faz do que
manifestar em diferido, por meio da sua vontade, a sua manifestao csmica e
simultnea. Por outras palavras, o indivduo retraa de uma maneira
analtica a sua possibilidade sinttica e primordial, que encontra o seu lugar
inexpugnvel, porque necessrio, na hierarquia das possibilidades. E a
necessidade de cada possibilidade metafisicamente fundada, como vimos, na
absoluta necessidade da Possibilidade Divina Total.
Para concebermos a universalidade do esoterismo, que no mais do
que a da prtica metafsica, importa acima de tudo entendermos que o I1,1
63
Frithjof Schon
meio ou rgo do Conhecimento metafsico ele mesmo de ordem uni versal, e
no de ordem individual como a razo. Por consequncia, esse meio ou rgo, que
o Intelecto, deve encontrar-se em todos os esca Ies da natureza e no apenas
no homem como o caso do pensamento discursivo. Se quisermos responder agora
questo de como o Intelec to se manifesta nos reinos perifricos da natureza,
h que recorrermos a consideraes algo complexas para quem no tiver o hbito
das espe culaes metafsicas e cosmolgicas. O que vamos explicar , em si,
uma verdade fundamental e evidente. Diramos pois que, num estado perifrico de
existncia, na medida em que ele se encontra afastado do estado central do mundo
ao qual estes dois estados pertencem - e o estado humano, como qualquer outro
estado anlogo, central em re lao aos outros estados perifricos,
terrestres ou no, portanto, no
A, somente em relao aos estados animais, vegetais e minerais, mas tam bm aos
estados anglicos, donde a adorao de Ado pelos anjos no Alcoro - na medida,
dizamos, em que num estado perifrico, o Inte lecto se confunde com o seu
contedo - uma planta no sabe o que quer, nem progride em conhecimento,
achando-se passivamente ligada e identificado com o conhecimento que lhe
imposto por natureza e determina essencialmente a sua forma. Por outras
palavras, a forma de um ser perifrico - um animal, um vegetal, um mineral -
revela tudo o que esse ser conhece e identifica-se de algum modo com esse
conheci mento. Poderamos portanto dizer que a forma de um tal ser define o seu
estado ou sonho contemplativo. O que distingue os seres, medida que eles em
estados cada vez mais passivos ou inconscientes, o seu modo de conhecimento ou
a sua inteligncia. Humanamente falando, seria absurdo afirmar que o ouro mais
inteligente do que o cobre e que o chumbo pouco inteligente. Mas,
metafisicamente, no haveria nisso nada de anormal: o ouro representa um estado
de conhecimento solar, e isso que permite que o associemos s influncias
espirituais, conferindo-lhe assim um carcter eminentemente sagrado. O objecto
do conhecimento ou da inteligncia sempre e por definio o Princ pio Dvino
e no pode deixar de o ser, pois metafisicamente a nica Realidade. Mas esse
objecto ou contedo pode mudar de forma, con 64
A Unidade Transcendente das Religies
soante os modos e graus indefinidamente diversos da Inteligncia reflectida nas
criaturas. Acrescente-se ainda que o mundo manifesto, ou criado,
possui uma dupla raiz: a Existncia e a Inteligncia, a que correspondem
analogicamente, nos corpos gneos, o calor e a luz. Ora, todo o ser revela
estes dois aspectos ao nvel da realidade contingente. O que diferencia os
seres so os seus modos ou graus de Inteligncia. Mas o que os une, entre
si, e a sua Existncia que a mesma em todos. A relao inverte-se quando
deixamos de olhar para a continuidade csmica e *horizontal+ dos elementos do
mundo manifesto e observamos a sua relao *vertical+ com o
Princpio Transcendente: o que une o ser, e mais particularmente o espiritual
*realizado+, ao seu Princpio Divino, o Intelecto. O que separa o
mundo - o microcosmo - desse Princpio a Existncia. No homem, a
inteligncia interior, e a existncia, exterior. Como esta ltima no
coniporta em si qualquer diferenciao, os homens formam apenas uma s espcie,
mas as diferenas de tipos e de espiritualidade so extremas. No ser
de um reino perifrico, pelo contrrio, a existncia que quase interior,
pois a sua indiferenciao no aparece em primeiro plano, e a inteligncia
ou modo de inteleco exterior, aparecendo a sua diferenciao nas prprias
formas, donde a indefinida diversidade de espcies em todos esses
reinos. Tambm poderamos dizer que o homem , por definio primordial, puro
conhecimento, e o mineral, pura existncia. O diamante, que se
acha no topo do reino mineral, integra na sua existncia ou manifestao,
de modo passivo e inconsciente, a inteligncia em si, donde a sua dureza,
transparncia e luminosidade. O homem espritualizado, que se encontra
no cume da espcie humana, integra no seu conhecimento, de modo activo e
consciente, a existncia: total, donde a sua universalidade.
A negao exotrica da presena, virtual ou actualizada, do Intelecto
incriado no ser criado, est bem patente no erro que exclui, fora da Revelao,
qualquer conhecimento sobrenatural possvel. Ora, arbitrrio pretender que no
temos neste mundo qualquer conhecimento imediato de
Deus ou que impossvel que tenhamos algum. o mesmo oportunismo
que, por um lado, nega a realidade do Intelecto e, por outro, nega aos
65
Frithjof Schuon
que dela usufruem a possibilidade de conhecerem o que ela os deixa co
nhecer. E isso porque, em primeiro lugar, a participao directa no que
poderamos chamar a *faculdade paracltica+ no acessvel a todos, pelo
menos de facto; e, em segundo lugar, porque a doutrina do Intelecto in criado
presente na criatura seria prejudicial f do homem simples, pois choca com a
noo de mrito. O que o ponto de vista exotrico no pode admitir, nem no
islo nem no cristianismo nem no judasmo, a existn cia *natural+ de uma
faculdade *sobrenatural+ que o dogma cristo toda via prev para a pessoa de
Cristo. Parece esquecer que a distino entre natural e sobrenatural no
absoluta - a no ser no sentido do *relativa
112 mente absoluto+ - e que o sobrenatural pode tambm ser chamado natu ral por
agir segundo certas leis.'Tambm o natural no est desprovido de
A carcter sobrenatural, na medida em que manifesta a Realidade Divina,
sem a qual a natureza no passaria de um puro nada. Dizer que o Conhe
cimento sobrenatural de Deus, isto , a viso beatifica no Alm, um co
nhecimento puro da Essncia Divina, de que goza a alma individual, equi vale
a dizer que o Conhecimento Absoluto pode ser objecto de um ser relativo como
tal, quando na verdade esse Conhecimento, sendo absoluto, no e mais do que o
Absoluto que se conhece a Si mesmo. Ora se o Inte lecto, sobrenaturalmente
presente no homem, pode fazer o homem parti cipar do Conhecimento que a
Divindade tem de Si mesma, isso acontece graas a certas leis a que o
sobrenatural, por assim dizer, livremente obe dece, em virtude das suas
possibilidades. Ou ainda, se o sobrenatural difere do natural em grau eminente
obedece, ele tambm, ou antes ele em pri meiro lugar, a Leis imutveis.
O Conhecimento essencialmente santo - e, se assim no fosse, como poderia
Dante ter falado da *venervel autoridades do Filsofo? -, de uma santidade
que propriamente *paracltica+: *Conhecer-Te a justi a perfeita+ - diz
o Livro da Sabedoria (15:3) - *e conhecer o Teu Po der a raiz da
imortalidades. Esta sentena de uma extrema riqueza doutrinal, pois trata-se
de uma das mais claras e explcitas formulaes da realizao pelo
Conhecimento, ou seja, precisamente, da via intelectual que conduz santidade
*paracltica+. Em outras sentenas, igualmente excelentes, o mesmo livro de
Salomo enuncia as virtudes da pura intelec tualidade, essncia de toda a
espiritualidade. Este texto deixa alis trans 66
A Unidade Transcendente das Religies
parecer de maneira notvel, para alm da maravilhosa preciso metafisica
e inicitica das suas frmulas, a unidade universal da Verdade, e isso pela
prpria linguagem que lembra em parte as Escrituras da ndia, em parte
as do taosmo: *Nela (Sabedoria), com efeito, existe um esprito inteligente,
santo, nico, mltiplo, imaterial, activo, penetrante, sem mancha, infalvel,
impassvel, bondoso, sagaz, ilimitado, benfeitor, filantrpico, imutvel,
seguro, tranquilo, todo-poderoso, vigilante, penetrando todos os
espritos, os inteligentes, os puros e os mais subtis. Porque a Sabedoria
mais gil que todo o movimento. Penetra e introduz-se em toda a parte
graas sua pureza. Ele o sopro do Poder de Deus, pura emanao da
Glria do Omnipotente. Por isso, nenhuma mancha a pode atingir. Ela
o resplendor da Luz eterna, o espelho imaculado da aco de Deus e a
imagem da Sua bondade. Sendo nica, tudo pode. Permanecendo a mesma, tudo
renova. Difundindo-se de idade em idade pelas almas santas, faz
delas amigos de Deus e profetas. Deus, na verdade, s ama quem vive
com a Sabedoria. Pois Ela mais bela do que o Sol e do que a disposio
das estrelas. Comparada luz, leva a melhor sobre ela. Pois a luz d lugar
noite, mas o mal no prevalece contra a Sabedoria. A Sabedoria chega
velozmente de um canto ao outro do mundo, e tudo dispe com doura+
(Livro da Sabedoria, 7:22-30). Falta prevenirmo-nos contra uma objeco
frequentemente formulada:
h quem acuse de orgulho a inteligncia transcendente, consciente de si
mesma, como se, por existirem estpidos que se crem inteligentes, se devesse
impedir os sbios desabarem o que sabem. O orgulho, *intelectual+
ou outro, s possvel no ignorante que no sabe que, ele mesmo, nada .
Assim, tambm a humildade, na acepo psicolgica do termo, s faz sentido a
quem cr ser aquilo que no . Os que querem explicar tudo o que
os ultrapassa pelo orgulho, que no seu esprito corresponde ao pantesmo,
ignoram que, se Deus criou tais almas para ser conhecido e realizado por
elas e nelas, os homens nada tm a ver com isso nem podem alterar coisa
alguma. A Sabedoria existe porque corresponde a uma possibilidade: a da
manifestao humana da Cincia Divina. *Ela o sopro do Poder de Deus, pura
emanao da Glria do Omnipotente. Por isso, nada de maculado cai sobre ela... A
luz'd lugar noite, mas o mal no prevalece contra a Sabedoria.+
67
N
IV
A QUESTO DAS FORMAS DE ARTE
deria algum admirar-se de nos ver
fxtratar um tema que no so parece no ter qualquer relao com os temas
dos captulos precedentes, mas que em si mesmo parece no ter seno
uma importncia muito secundria. De facto, se nos propusemos examinar aqui esta
questo das formas de arte precisamente porque est longe
de poder ser negligenciada, apresentando relaes estreitas com realidades com
que deparamos neste livro de um modo geral. Antes de mais, temos de elucidar uma
questo terminolgica: ao falarmos de *formas de
arte+, e no simplesmente de *formas+, queremos especificar que no se
trata de formas *abstractas+, mas sim de coisas sensveis por definio. Se
evitamos falar de *formas artsticas+, porque a isso se associa correntemente
a ideia de luxo, de algo suprfluo, que exactamente o contrrio
do que temos aqui. No nosso 6entido, a expresso *formas de arte+ um
pleonasmo, pois impossvel dissociar tradicionalmente a forma da arte,
sendo esta ltima o princpio de manifestao daquela. Tivemos porem de
empregar este pleonasmo pelas razes que acabmos de referir. O que preciso
saber, para entendermos a importncia das formas,
que a forma sensvel a que corresponde simbolicamente, de modo mais
directo, ao Intelecto. Isso em razo da analogia inversa que existe entre as
ordens principial e manifesta.' Assim, as realidades mais elevadas mani
*A arte+ - diz So Toms de Aquino - *est associada ao conhecimento.+
69
Frithjof Schuon
festam-se de forma mais patente no seu mais distante reflexo, ou seja, na
ordem sensvel ou material; esse alis o sentido mais profundo do adgio: *os
extremos tocam-se+. Pelo mesmo motivo, a Revelao desce ao
corpo e no apenas alma dos Profetas, o que pressupe de resto a
perfeio fsica desse corpo.' As formas sensveis correspondem pois,
exactamente, a inteleces e, por essa mesma razo, a arte tradicional
possui regras que aplicam ao domnio das formas as leis csmicas e os
princpios universais que, sob o seu aspecto exterior mais genrico, revelam o
estilo de uma civilizao, exprimindo este o seu modo de intelectualidade.
Quando tal arte deixa de ser tradicional e se torna humana, individual,
arbitrria, infalivelmente sinal, e causa, de um declnio espiritual
que, aos olhos de quem sabe *discernir os espritos+ e ser imparcial, se
exprime pelo carcter mais ou menos incoerente, espiritualmente insignificante,
quase ininteligvel, das formas? Para evitar qualquer objeco, im Ren
Gunon (Les Deux Nuits, em tudes traditionnelles, Abril e Maio 1939), falando
da laylat el-qadr, noite da *descida+ (tanzil) do Alcoro, chama a ateno para
o
facto de *essa noite, segundo o comentrio de Mohyiddin ibri Arabi, se
identificar com
o prprio corpo do Profeta. O que particularmente notrio que a *revelao+
seja
recebida no no plano mental, mas no corpo do ser que *enviado+ a anunciar o
Princpio: E o Verbo se fez carne, como diz o Evangelho (came, e no mente), a
expresso prpria da tradio crist daquilo que representa laylat el-qadr na
tradio islmica+. Esta verdade est em estreita conexo com a relao que
encontramos entre as
formas e as inteleces.
' Fazemos aqui aluso ao declnio de certos ramos da arte religiosa desde a
poca gtica, sobretudo tardia, e de toda a arte ocidental a partir do
Renascimento. A arte crist
(a arquitectura, a escultura, a pintura, a ourivesaria litrgica, etc.), que era
uma arte
sacra, simblica, espiritual, acabou por ceder perante a invaso da arte
neo-clssica e
naturalista, individualista e sentimental. Tal arte, que nada tem de
*milagroso+ - no
importa o que digam os defensores do *milagre grego+ -, totalmente inapta a
transmitir as intuies intelectuais e j s responde s aspiraes psquicas
colectivas. tambm o que h de mais contrrio contemplao intelectual,
entregando-se exclusivamente ao sentimentalismo. Este vai-se alis degradando
medida que se adapta s
necessidades das massas, para acabar numa vulgaridade pattica e adocicada.
curioso
verificar que parece nunca nos termos dado conta de quanto esta barbrie de
formas,
que atingiu o seu auge de profunda e miservel fanfarronada no estilo Lus XV,
contribuiu - e contribui ainda - para afastar da Igreja tantas almas, e no das
piores. Estas
sentem-se verdadeiramente sufocados por um ambiente que j no permite sua
inteligncia respirar.
Notemos a propsito que as relaes histricas entre o acabamento da nova
baslica
70
A Unidade Transcendente das Religies
porta referir aqui que, nas civilizaes intelectualmente ss, por exemplo
a cristandade medieval, a espiritualidade se afirma muitas vezes atravs de
uma indiferena em relao s formas e por vezes atravs de uma tendncia a
desviar-se delas, como o mostra o exemplo de So Bernardo proscrevendo as
imagens nos mosteiros, o que no significa a aceitao da barbrie e da feiura,
assim como a pobreza no significa a posse de muitas
coisas ignbeis. Mas, num mundo em que a arte tradicional morreu, em
que a forma se v invadida por tudo o que contrrio espiritualidade e
onde quase toda a expresso formal se acha corrompida na sua raiz, a
regularidade tradicional das formas reveste uma importncia espiritual muito
particular, que lhe era originariamente alheia, pois a ausncia de esprto nas
formas era ento algo de inexistente e inconcebvel. O que dissemos da
qualidade intelectual das formas sensveis no nos
deve levar a esquecer que, quanto mais remontamos s origens de uma
tradio, menos as formas aparecem em estado de desenvolvimento.
A pseudoforma, a forma arbitrria, est sempre excluda; mas a forma enquanto
tal pode tambm estar ausente, pelo menos em dominios perifricos. Pelo
contrrio, quanto mais nos aproximamos do fim de um cicio tradicional, mais o
formalismo adquire importncia,' mesmo do ponto de
vista artstico, pois as formas tornam-se ento canais quase indispensveis
para a actualizaro do depsito espiritual da tradio. O que nunca devemos
esquecer e que a ausencia do aspecto formal no equivale, de modo
algum, presena do informe e vice-versa; o informe e o brbaro no
atingiro nunca a majestosa beleza do vazio, pense o que pensar quem
justifica as deficincias de um sistema como sinal de superioridade.' Esta
de So Pedro em Roma - em estilo renascena, portanto exibicionista,
antiespiritual
e, *humano+, se quisermos - e a origem da Reforma so factos que esto
infelizmente
longe de ser fortuitos.
1 o que ignoram alguns movimentos pseudo-hindus, de origem indiana ou no, que
vo para alm das formas sagradas do hindusmo, pensando representar a sua
essncia
mais pura. Na verdade, intil conferir a um homem um meio espiritual sem lhe
dar
antecipadamente uma mentalidade que se harmonize com esse meio, isso
independentemente da vincularo obrigatria a uma linhagem inicitica. Uma
realizao espiritual
inconcebvel fora do clima psicolgico apropriado, isto , conforme ao
ambiente tradiconal do meio espiritual em questo.
1 Alguns crem poder afirmar que o cristianismo, achando-se para alm das
formas,
no se pode identificar com uma civilizao determinada. compreensvel
querermo 71
Frithiof Schon
lei da compensao, em virtude da qual certas relaes de proporcionalidade, do
princpio ao fim de um ciclo, so alvo de uma interveno mais
ou menos acusada, faz-se sentir alis a todos os nveis. Assim, chegou at
ns esta palavra (hadith) do profeta Maom: *Nos primeiros tempos do
islo, quem omitir um dcimo da Lei est condenado. Mas, nos ltimos
tempos, quem puser em prtica um dcimo da Lei ser salvo.+ A relao
analgica entre as inteleces e as formas materiais explica
como o esoterismo se pode implantar a nvel profissional, nomeadamente
na arquitectura. As catedrais, que os iniciados cristos deixaram aps si
do o testemunho mais explcito e vigoroso da elevao espiritual da
Idade Mdia.' Tocamos aqui num ponto muito importante da questo
que nos ocupa: o da aco do esoterismo sobre o exoterismo, atravs
das formas sensveis, cuja produo precisamente apangio da iniciao
artesanal. Atravs destas formas, que graas ao seu simbolismo se
tornam veculos da doutrina tradicional numa linguagem imediata e
universal, o esoterismo infunde no domnio propriamente exotrico da
tradio uma qualidade intelectual e, desse modo, um equilbrio, cuja ausencia
levaria dissoluo de toda a civilizao, como aconteceu no mundo cristo. O
abandono da arte sacra roubou ao esoterismo o seu meio de
aco mais directo. A tradio exterior insistiu cada vez mais no que tem
de particular, de limitador. Enfim, a ausncia da corrente de universalidade ,
que havia vitalizado e estabilizado a civilizao religiosa atravs,da linguagem
das formas, provocou reaces em sentido inverso. As limitaes
formais, em vez de se compensarem e estabilizarem por aco supraformal do
esoterismo, suscitaram, pela sua opacidade e massa, negaes infraformais,
provenientes do arbitrrio individual que, longe de ser uma
forma da verdade, no passa de um caos informe de opinies e fantasias. Para
voltarmos ideia inicial, acrescentaremos que a Beleza de Deus
corresponde a uma realidade mais profunda do que a Sua Bondade. Isso
talvez surpreenda primeira vista, mas recordemo-nos da lei metafisica
em virtude da qual a analogia entre as ordens principial e manifesta in
-nos consolar da perda da civilizao crist, incluindo a sua arte, mas a
opinio que
acabamos de citar no passa tambm de uma brincadeira de mau gosto. Perante
uma catedral, sentimo-nos realmente no centro do mundo. Perante uma igreja, de
estilo renascena, barroco ou rococ, apenas nos sentimos na Europa.
72
A Unidade Transcendente das Religies
versa: o que principialmente grande manifestamente pequeno, o que
interior no Princpio aparecer como exterior na manifestao, e vice-versa.
Ora, graas a esta analogia inversa que a beleza no homem exterior, e a
bondade, interior - pelo menos no uso ordinrio dos termos
-, contrariamente ao que acontece na ordem principial onde a bondade
como que expresso da beleza.
Muitas vezes nos admiramos de os povos orientais, mesmo os que tm
fama de veia artstica, carecerem quase sempre de discernimento esttico
em relao ao que vem do Ocidente. Todas as coisas feias, produzidas por
um mundo cada vez mais desprovido de espiritualidade, expandem-se com
incrvel facilidade no Oriente, no s sob a presso de factores
poltico-econmicos, o que nada teria de surpreendente, mas sobretudo pelo livre
consentimento daqueles que aparentemente haviam criado um mundo de
beleza, uma civilizao onde todas as expresses, mesmo as mais modestas,
traziam a marca de um mesmo gnio. Desde o comeo da infiltrao
ocidental pudemos ver com surpresa os objectos de arte mais perfeitos
lado a lado com as piores trivialidades de fabrico industrial. Tais contradies
desconcertantes no s se produziram entre os ob ectos de arte, mas
em quase tudo, abstraindo o facto de, numa civilizao normal, tudo o
que feito pelo homem pertencer ao domnio da arte, pelo menos em algum
sentido. A resposta a este paradoxo contudo muito simples e j a
esbomos acima: e que precisamente as formas, at as mais nfimas, s
so obra humana de modo secundrio. Elas derivam da mesma fonte supra-humana
donde provm tQda a tradio, o que equivale a dizer que o
artista, que vive num mundo tradicional sem rupturas, trabalha sob a disciplina
ou inspirao de um gnio que o ultrapassa. Ele no fundo apenas
instrumento deste, quanto mais no seja pela sua qualificao artesanal.'
*Uma coisa no apenas o que para os sentidos, mas tambm o que
representa. Os
objectos, naturais ou artificiais, no so ... 'smbolos' arbitrrios de tal
realidade diferente e superior. So sim ... a manifestao efectiva dessa
realidade: a guia ou o leo,
por exemplo, no so tanto um smbolo ou uma imagem do Sol, so antes o Sol sob
uma das suas aparncias (sendo a forma essencial mais importante do que a
natureza
em que se manifesta). Da mesma forma, toda a casa o mundo em efgie e todo o
altar
73
Frithjof Schuon
Daqui se deduz que, na produo de tais formas de arte, o gosto ndividual
desempenha apenas um papel muito apagado e nada quando o indivduo se v
perante uma forma estranha ao esprito da sua prpria tradio. o que acontece
entre povos estranhos civilizao europeia, no
referente s formas de importao ocidental. Para que isso suceda, porm
necessrio que o povo, que aceita tais misturas, no tenha plenamente
conscincia do seu prprio gnio espiritual ou, por outras palavras, j no
esteja altura das formas de que ainda se faz rodear e no meio das quais vive.
Isso prova que esse povo j sofreu um certo declnio e, por isso, aceita
as feiuras modernas com tanto maior facilidade quanto elas respondem a
possibilidades inferiores que ele procura realizar espontaneamente, no
importa como, talvez de modo inconsciente. Por isso, a pressa irracional
com que um grande nmero de orientais, sem dvida a imensa maioria,
aceita tudo o que h de mais incompatvel com o esprito da sua tradio
explica-se talvez pelo fascnio que exerce sobre o homem ordinrio algo
que responde a uma possibilidade ainda no esgotada, e tal possibilidade
, nesse caso, simplesmente a do arbitrrio ou a da ausncia de princpios.
Mesmo sem querer generalizar esta explicao do que parece ser uma
completa falta de gosto, existe um facto que absolutamente certo: muitos
orientais j no entendem o sentido das formas que eles prprios herdaram, com
toda a tradio, dos seus antepassados. Tudo o que acabmos
de dizer vale em primeira linha e a fortiori para os Ocidentais que, depois
1
est situado no centro da Terra ... (Ananda K. Coomaraswamy,'*Sobre a
Mentalidade
Primitiva+ em tudes traditionnelles, Ag.-Set.-Out. 1939). No sentido mais lato
- implicando nisso tudo o que de ordem exterior e formal, portanto a Jortiori
tudo o que
de algum modo pertence ao domnio ritual -, s a arte tradicional, transmitida
com e
pela tradio, pode garantir a correspondncia analgica adequada entre as
ordens divina e csmica, por um lado, e a ordem humana e artstica, por outro.
Da resulta que
o artista tradicional no se detenha a imitar pura e simplesmente a natureza,
mas *imi.te a natureza no seu modo de agir+ (S. Toms de Aquino, Suma
Teolgica, 1, q. 117,
a. 1). claro que o artista no pode improvisar, com os seus meios individuais,
uma tal
operaao propriamente cosmolgica. a conformidade perfeita e adequada do
artista
a este *modo de agir+, subordinada s regras da tradio, que faz a obra-prima
ser o
que . Essa conformidade pressupe essencialmente um conhecimento, seja pessoal,
directo ou activo, seja herdado, indirecto e passivo, sendo este ltimo o caso
dos artesos
que, inconscientes enquanto indivduos do contedo metafisico das formas que
aprenderam a fabricar, no conseguem resistir influncia corrosiva do Ocidente
moderno.
74
A Unidade Transcendente das Religies
de terem criado - no dizemos *inventado+ - uma arte tradicional perfeita, a
renegaram perante os vestgios da arte individualista e vazia dos
Greco-Rbmanos, desembocando finalmente no caos artstico do mundo
moderno. Sabemos que quem no quer reconhecer a ininteligibilidade ou
a feiura do mundo actual emprega de bom grado o termo *esttica+
com uma nuance pejorativa muito prxima da dos termos *pitoresco+ e
*romntico+ - para, partida, no ter de se preocupar com as formas e
se fechar mais vontade no sistema da sua prpria barbrie. Uma tal atitude
nada tem de surpreendente vinda de um modernista convicto, mas
ilgica, para no dizer miservel, para quem se reclama da civilizao crist.
Pois reduzir a linguagem espontnea da arte crist - a que no poderamos
censurar a beleza - a uma mundana questo de *gosto+, como se
a arte medieval pudesse ser produto de um capricho, equivale a admitir
que a marca dada pelo gnio do cristianismo a todas as suas expresses directas
e indirectas no foi seno uma contingncia sem referncia a esse
gnio e sem intenes serias ou se deveu a qualquer tipo de inferioridade
mental. Pois *s o esprito conta+, segundo a ideia de alguns ignorantes
imbudos de puritanismo hipcrita, iconoclasta, impotente e blasfemo,
que preferem pronunciar a palavra *espinito+ a reconhecerem o que , de
facto, o esprito. Para entendermos melhor as causas do declnio da arte no
Ocidente, h
que termos presente que, na mentalidade europeia, existe um certo idealismo,
perigoso, nada estranho a este declnio, nem ao da civilizao ocidental no seu
todo. Esse idealismo encontrou a sua expresso mais brilhante e inteligente em
certas formas da arte gtica onde predomina um
dinamismo que parece querer roubar pedra o seu peso real. Quanto
arte bizantina e romnica - e tambm certa arte gtica que desta conservou o
poder esttico -, trata-se de uma arte essencialmente intelectual,
portanto realista. A arte gtica flamejante, por muito apaixonada, contudo
ainda arte tradicional - excepo feita da escultura e da pintura j
muito decadentes - ou, mais exactamente, o canto do cisne deste tipo de
arte. A partir do Renascimento, verdadeira vingana pstuma da Antiguidade
Clssica, o idealismo europeu debruou-se sobre os sarcfagos desenterrados da
civilizao greco-romana. Neste gesto de suicdio, ps-se
ao servio de um individualismo em que creu descobrir o seu prprio g 75
Frithjof Schon
nio, para, atravs de uma srie de etapas, acabar nas suas afirmaes mais
grosseiras e quimricas. Houve aqui alis um duplo suicdio: em primeiro
lugar, o abandono da arte medieval, ou simplesmente da arte crist, e em
segundo, a adopo das formas greco-romanas. Ao adopt-las, intoxicou
o mundo cristo do veneno da sua prpria decadncia. H todavia que
responder a uma objeco muito possvel: no era a arte dos primeiros
cristos precisamente a arte romana? A tal h que responder que o verdadeiro
comeo da arte crist so os smbolos inscritos nas catacumbas e no
as formas que os cristos, muitos deles de cultura romana, foram provisoriamente
buscar decadncia clssica. O cristianismo foi chamado a substituir a
decadncia por uma arte sada espontaneamente de um genio espiritual original.
Se, de facto, certas influncias romanas persistiram na arte
crist, foi em pormenores mais ou menos superficiais. Dissemos mais acima que
o idealismo europeu se enfeudou no individualismo para descer por fim s formas
mais grosseiras deste ltimo.
Quanto ao que o Ocidente acha de grosseiro nas outras civilizaes, isso
so quase sempre aspectos mais ou menos perifricos de um realismo despido de
vus ilusrios e hipcritas. Importa todavia no perder de vista
que o idealismo no mau em si mesmo, pois encontra o seu lugar na
mentalidade do heri, sempre inclinado sublimao. O que mau, e ao
mesmo tempo especificamente ocidental, a introduo desta mentalidade em todos
os domnios, mesmo aqueles a que deveria ter sido alheia.
Foi este idealismo desnorteado, to frgil e to perigoso, que o islo quis
evitar a todo o custo com a sua preocupao de equilbrio e estabilidade
- ou realismo -, tendo em conta as possibilidades restritas da poca cclica, j
muito distante das origens. Da aquele aspecto terra-a-terra que
os cristos crem dever censurar civilizao muulmana.
Para darmos uma ideia dos princpios da arte tradicional, assinalaremos
alguns dos mais gerais e rudimentares: preciso antes de mais que a obra
seja conforme ao uso a que destinada e traduza esta conformidade. Se
existe um simbolismo acrescentado, preciso que este seja conforme ao
simbolismo inerente ao objecto. No deve haver conflito entre o essencial
76
A Unidade Transcendente das Religies
e o acessrio, mas sim harmonia hierrquica, que resulta alis da pureza
do simbolismo. preciso que o tratamento da matria seja conforme a essa
matria, como por seu lado a matria deve ser conforme ao emprego
do objecto. preciso enfim que o objecto no d a iluso de ser outra
coisa seno aquilo que , transmitindo a desagradvel sensao de inutilidade
que, quando a finalidade da obra - como o caso de toda a arte
clssica -, se torna com efeito na marca de uma inutilidade demasiado
real. As grandes inovaes da arte naturalista reduzem-se em suma a outras
tantas violaes de princpios da arte normal: em primeiro lugar, no
que se refere escultura, violao da matria inerte, seja da pedra, do
metal ou da madeira, e, em segundo lugar, no que se refere pintura,
violao da superfcie plana. No primeiro caso, trata-se a matria inerte
como se dotada de vida, quando ela essencialmente esttica, s permitindo, por
isso, a representao de corpos imveis ou de fases essenciais e
esquemticas do movimento - no de movimentos arbitrrios, acidentais
ou quase instantneos. No segundo caso, o da pintura, trata-se a superfcie
plana como se fosse um espao de trs dimenses, e isso tanto nos escoros como
nas sombras. claro que tais regras no so ditadas por simples razes de
ordem esttica. Trata-se sim de aplicaes de leis csmicas e divinas. A beleza
ser
o resultado necessrio disso mesmo. Quanto beleza na arte naturalista,
ela no reside na obra enquanto tal, mas s no objecto dessa obra, enquanto na
arte simblica e tradicional a obra em si que ,bela, seja abstracta ou v
buscar a beleza em maior ou menor grau a um modelo da natureza. Nada saberia
exprimir melhor o que acabmos de dizer do que a
comparao da arte grega dita clssica com a arte egpcia: a beleza desta
ltima no est apenas no objecto representado, mas simultaneamente e a
fortiori na obra'enquanto tal, ou seja, na realidade interna que a obra
manifesta. Que a arte naturalista tenha podido por vezes exprimir uma nobreza de
sentimentos ou uma inteligncia vigorosa demasiado evidente e
explica-se por razes cosmolgicas cuja ausncia seria inconcebvel, mas
isso totalmente independente da arte enquanto tal. De facto, nenhum
valor individual 'oderia compensar a falsificao desta.
p A maioria dos modernos, que crem compreender a arte, esto convencidos de
que a arte bizantina ou romnica no tem qualquer superioridade
77
Frithjof Schuon
sobre a arte moderna e que uma Virgem bizantina ou romnica no se parece mais
com Maria do que as imagens naturalistas. A resposta, porm,
fcil: a Virgem bizantina - que tradicionalmente remonta a So Lucas e
aos Anjos - est infinitamente mais perto da verdade de Maria do que a
imagem naturalista, que forosamente sempre a de outra mulher. Pois,
das duas, uma: ou se apresenta da Virgem uma imagem fisicamente muito
semelhante, sendo para isso necessrio que o pintor tenha visto a Senhora,
condio que evidentemente no pode ser preenchida e portanto a
pintura naturalista perde toda a legitimidade, ou se apresenta da Virgem
um smbolo perfeitamente adequado e a questo da parecena fsica, sem
estar absolutamente excluda, no se coloca prioritariamente. esta segunda
soluo, a nica sensata, que os cones realizam: o que no exprimem pela
parecena fsica, exprimem-no pela linguagem abstracta, mas
imediata, do simbolismo, feita ao mesmo tempo de preciso e de imponderveis. O
cone transmite assim, pela fora beatifica inerente ao seu carcter
sacramental, a santidade da Virgem, a sua realidade interior e a
realidade universal de que a prpria Virgem expresso. O icone, ao consentir
num estado contemplativo e numa realidade metafisica, torna-se suporte de
inteleco, enquanto a imagem naturalista no transmite, para
alm da sua mentira evidente e inevitvel, seno o facto de que Maria era
uma mulher. Poderia acontecer que, num cone, as propores e as formas do rosto
fossem as mesmas da prpria Senhora, mas tal parecetia, se
se produzisse realmente, seria independente do simbolismo da imagem e
apenas consequncia de uma inspirao particular, sem dvida ignorada
do prprio artista. A arte naturalista teria certa legitimidade se servisse para
reter as feies dos Santos, j que a contemplao dos Santos (o darshan dos
hindus) ajuda preciosa na via espiritual, sendo a sua aparncia externa
como que o perfume da sua espiritualidade. Todavia, essa funo limitada
de um naturalismo parcial e disciplinado corresponde a uma possibilidade
muito precria. Mas voltemos qualidade simblica e espiritual do cone. A
percepo
de semelhante qualidade fruto de inteligncia contemplativa e de *cincia
sagrada+. Para legitimar o naturalismo, certamente falso pretender
que o povo tenha necessidade de uma arte acessvel, pois no foi o *povo+
quem fez o Renascimento, e a arte deste, como toda a *grande arte+ que
78
A Unidade Transcendente das Religies
da derivou, pelo contrrio um desafio piedade do simples. O ideal artstico
da Renascena e de toda a arte moderna est pois muito longe daquilo de que o
povo necessita e, de resto, quase todas as Virgens milagrosas para as quais o
povo aflui so biztinas ou romnicas. Quem ousaria
dizer que a cor negra de algumas delas corresponde ao gosto popular ou
lhe particularmente acessvel? Alis, as Virgens feitas pelo povo, quando no
danificados pela, influncia da arte acadmica, so objectivamente
mais verdadeiras do que as desta ltima. Admitindo mesmo que as multides
precisem de imagens ocas e insensatas, ser que as necessidades da
elite no tm direito existncia? Pelo que precede, j respondemos
implicitamente questo se a arte se
destina elite intelectual em exclusivo ou se tem tambm algo a transmitir
ao homem de inteligncia mdia. Esta questo resolve-se por si mesma
tendo em conta a universalidade de todo o simbolismo, que faz com que a
arte sacra - para alm de verdades metafisicas e factos da histria sagrada -
no s comunique estados espirituais, mas tambm atitudes psquicas acessveis a
qualquer pessoa. Em linguagem moderna, diramos que
esta arte , a um tempo, profunda e ingnua. Ora, esta simultnea profundidade e
ingenuidade so precisamente caracteres muito notrios da
arte sacra. A ingenuidade, a candura, longe de serem uma inferioridade
espontnea ou afectada, revelam o estado normal da alma hum@na, seja
do homem mdio ou superior. Pelo contrrio, a aparente inteligncia do
naturalismo, a sua habilidade quase satnica para reprimir a natureza, no
transmitindo seno as aparncias e as emoes, s pode corresponder a
uma mentalidade deformada, desviada da simplicidade, da inocncia primordial.
claro que uma tal deformao, feita de superficialidade intelectual e de
virtuosidade mental, incompatvel com o esprito da tradio, no encontrando
por isso lugar na civilizao fiel a esse esprito. Se,
portanto, a arte sacra se dirige inteligncia contemplativa, ela orienta-se
igualmente para a sensibilidade humana normal. S essa arte parece possuir uma
linguagem universal e nenhuma melhor do que ela pode voltar-se
ao mesmo tempo para a elite e para o povo. No que se refere ao aspecto
aparentemente infantil da mentalidade tradicional, pensemos nas exortaes de
Cristo a sermos *corno crianas+ e *sim les como pombas+, palap
vras que, seja qual for o seu sentido espiritual, correspondem evidentemente
tambm a realidades psicolgicas.
79
Frithjof Schuon
Os Padres do sc. viii, muito diferentes da autoridade religiosa dos
scs. xv e xvi - que traram a arte crist, abandonando-a impura paixo
dos mundanos e ignorante imaginao dos profanos -, tinham plena conscincia
da santidade de todos os modos de expresso tradicional. Por isso,
estipularam, no segundo Conclio de Niceia, que *s a arte (a perfeio
integral do trabalho) do pintor; a ordenao (ou seja, a escolha do tema) e
a disposio (o tratamento do tema do ponto de vista simblico, assim como
tecnico e material) cabem aos Padres+ (Non est pictoris - ejus enim sola ars
est - verum ordinao et disposio Patrum nostrorum), o que significa pr toda a
iniciativa artstica sob a autoridade directa e activa dos chefes espirituais
da cristandade. Assim sendo, como explicar que na maioria dos meios religiosos
se verifique, desde h sculos, uma lamentvel incompreenso para
com tudo o que, sendo de ordem artstica, na opinio desses apenas algo
de *exterior+? Admitindo a priori a eliminao da influncia esotrica, existe
antes de mais uma perspectiva religiosa que tende a identificar-se com o ponto
de vista moral que s aprecia o mrito e cr dever ignorar a qualidade
santificante do conhecimento intelectual e, assim, o valor dos suportes desse
conhecimento. Ora a perfeio da forma sensvel no moralmente *meritna+ -
no mais do que a inteleco que esta forma reflecte e transmite - e
lgico que a forma simblica, quando j no compreendida, seja relegada
para segundo plano para ser substituda por uma forma que fala no j
inteligncia, mas s imaginao sentimental, prpria a inspirar o acto
meritrio no homem limitado. Este modo de especular sobre as reaces com
auxlio de meios superficiais e grosseiros revelar-se- em ltima anlise
-ilusrio,
pois na verdade nada melhor do que uma arte sacra para influenciar as
disposies profundas da alma. A arte profana, mesmo quando dotada de certa
eficcia psicolgica em almas pouco inteligentes, esgota os seus meios
superficiais e grosseiros, acabando por provocar as reaces de desprezo j
nossas
conhecidas, que so como que o ricochete do desprezo que a arte profana
manifestou inicialmente perante a arte sacra'. de experincia corrente que
' Da mesma forma, a hostilidade dos esoteristas perante tudo o que ultrapasse o,
seu
modo de ver traz consigo um exoterismo sempre mais duro, que no pode no sofrer
rupturas. Mas, uma vez perdida a *porosidade espiritual+ da tradio - a
imanncia
na substncia do exoterismo de uma dimenso transcendente que compensa tal
dureza
as ditas rupturas no podem seno produzir-se a partir de baixo: a
substituio
dos mestres do esoterismo medieval pelos protagonistas da descrena moderna.
so
A Unidade Transcendente das Religies
nada poderia fornecer ao atesmo um alimento mais imediatamente tangvel do que
a hipocrisia das imagens religiosas. O que se destina a estimular nos crentes a
piedade, confirma nos descrentes a impiedade. Ora,
preciso reconhecer que a arte sacra no tem de modo algum o carcter de
uma espada de dois gumes, pois, sendo mais abstracta, d menos azo a
reaces psicolgicas hostis. Independentemente das especulaes que fazem
supor nas massas uma necessidade de imagens ininteligveis e radicalme ' nte
falseados, as elites existem e tm necessidade de outra coisa. A linguagem
que lhes convm a que evoca, no coisas humanas e comezinhas, mas as
profundezas divinas. Ora, tal linguagem no pode emanar do simples gosto
profano, nem do gnio, mas procede essencialmente da tradio, o que
implica que a obra de arte seja executada por um artista santificado ou
*em estado de graa +. Alm de servir para instruo e edificao superficial
das massas, o cone, como o yantra hindu e qualquer outro smbolo
visvel, estabelece uma ponte do sensvel ao espiritual: *Pelo aspecto visvel+
- diz So Joo Damasceno - *o nosso pensamento deve ser arrastado num lan
espiritual e subir invisvel majestade de Deus.+ Mas voltemos aos erros do
naturalismo: a arte, desde que no determinada, iluminada, guiada pela
espiritualidade, encontra-se merc
dos recursos individuais e puramente psicolgicos do artista, acabando
tais recursos por se esgotar devido miopia do principio naturalista que
pretende um decalque da natureza visvel. Chegado ao ponto morto do
seu prprio aviltamento, o naturalismo gerar inevitavelmente as
mons-truosidades do *surrealsmo+. Este no passa do cadver em decomposio da
arte e sobretudo um *infra-realismo+. na verdade a concluso
satnica do luciferianismo naturalista. O naturalismo verdadeiramente
luciferiano ao querer imitar as criaes de Deus, sem falar da sua afirmao do
psiquico em detrimento do espiritual ou do invidual em detrimento'
do universal, do facto bruto em detrimento do smbolo. Normalmente o
homem deve imitar o acto criador, no a coisa criada. o que faz a arte,
simbolista. Da resultam *criaes+ que, longe de copiarem as de Deus,
Os pintores de cones eram monges que, antes de se prem ao trabalho, se
preparavam atravs de jejuns, orao, confisso e comunho. Chegavam mesmo a
misturar as
tintas com gua benta e o p das relquias, o que no seria possvel se o cone
no tivesse um carcter verdadeiramente sacramental.
81
Frithjof Schon
reflectem-nas em conformidade com uma analogia real, revelando o aspecto
transcendente das coisas. nisso que consiste a razo suficiente da
arte, abstraco feita da utilidade prtica dos seus objectos. Existe a uma
inverso metafsica, uma relao que j assinalmos: para Deus, a criatura
reflecte um aspecto exteriorizado de si mesmo; para o artista, a obra reflecte
pelo contrrio uma realidade *interior+ de que ele apenas um aspecto
exterior. Deus cria a sua prpria imagem, enquanto o homem molda de certa
maneira a sua prpria essncia, pelo menos simbolicamente.
No plano principal, o interior manifesta-se pelo exterior; no plano manifesto, o
exterior molda o interior. Ora a razo suficiente de toda a arte
tradicional que a obra seja em certo sentido mais do que o artista' e
reconduza este, pelo mistrio da criao artstica, s margens da sua prpria
essncia divina.
o que explica o perigo que havia, entre os Semitas, de pintarem sobretudo
esculpirem a figura de seres vivos. Se o hindu e o Oriental adoravam a
Realidade Divina atravs de um smbolo e sabemos que um smbolo , na
perspectiva da realidade essencial, aquilo mesmo que simboliza -, o Semita era
levado a divinizar o prprio smbolo.
A proibio da arte plstica e pictrica entre os povos semticos tinha
certamente a inteno de impedir o desvio naturalista, perigo muito real entre
homens cuja mentalidade mais individualista e sentimental.
82
v
DOS LImites DA EXPANSO RELIGIOSA
epois desta digresso, voltemos aos
aspectos mais directos da questo da unidade das formas religiosas: propomo-nos
agora mostrar como a universalidade simblica de cada uma
dessas formas im lca limitaes da universalidade em sentido absoluto.
Afirmaes verdadeiras, tendo por objecto factos sagrados e verdades
transcendentes como a pessoa de Cristo, podem com efeito tornar-se mais
ou menos falsas quando artificialmente retiradas do seu enquadramento
providencial; este , para o cristianismo, o mundo ocidental, onde Cristo
*a Vida+, com artigo definido e sem eptetos. Este enquadramento foi
quebrado pela desordem moderna, havendo-se *a humanidades alargado
exteriormente de modo artificial e quantitativo. Da resultou que uma
parte no quis aceitar outros *Cristos+ e outra parte negou a Jesus qualquer
qualidade crstica. Foi cojno se, perante a descoberta de outros sistemas
solares, uns defendessem que s existe um sol - o nosso -, enquanto outros
negassem a existncia de qualquer sol, por nenhum deles ter
direito exclusividade. Ora a verdade situa-se entre ambas as teses:
o nosso sol , de facto, *o Sol+; mas s nico por referncia ao sistema
de que o centro. Como existem muitos sistemas solares, h muitos sis,
o que no impede que cada um seja nico por definio. O Sol, o leo,
a guia, o girassol, o mel, o mbar, o ouro so vrias manifestaes naturais do
princpio solar, cada uma nica e simbolicamente absoluta na sua
ordem. Ao deixarem de ser nicas - porque subtradas aos limites das res 83
Frithjof Schuon
pectivas ordens que as transformavam em sistemas fechados ou microcos~
mos - e ao manifestar-se o que nessa unicidade h de relativo - nem
por isso tais manifestaes perdem a sua identificao com o princpio solar,
embora revestindo modos apropriados s possibilidades de cada ordem. Seria falso
afirmar que Cristo no *o Filho de Deus+ mas apenas
*um Filho de Deus+, pois o Verbo nico e cada uma das suas manifestaes
reflecte, em essncia, a divina unicidade. Algumas passagens do Novo
Testamento permitem entrever que o
*mundo+ de que Cristo *o sol+ se identifica com o Imprio Romano que
representava o domnio providencial de expanso e de vida para a civilizao
crist: quando, nestes textos, se fala de *todos os povos debaixo do
cu+ (Act.,2:541), trata-se com efeito apenas dos povos conhecidos do
mundo romano'. Do mesmo modo, quando se diz que *no existe debaixo
do cu outro Nome pelo qual os homens possam ser salvos+ (Act., 4:12),
no h razo para admitir que esse *cu+ deva ser interpretado de modo
diverso. A menos que se entenda o nome de *Jesus+ como designao
simblica do prprio Verbo, o que equivale a dizer que no mundo existe
um s Nome, o do Verbo, pelo qual os homens podem ser salvos, qualquer que seja
a manifestao divina que esse nome particularmente designe ou, por outras
palavras, qualquer que seja a forma particular desse Nome eterno: *Jesus+,
*Buda+ ou outro. Tais consideraes levantam um problema que no podemos
aqui silenciar: ser ento a actividade dos missionrios, que trabalham fora dos
li Ao falar de *judeus piedosos de todos os povos debaixo do cu+, a
Escritura no tem
certamente em vista os Japoneses ou os Peruanos, embora pertenam tambm a este
mundo terrestre *debaixo do cu+. O rilesmo texto precisa alis mais longe o
que era,
para os autores neotestamentrios, este conjunto de *todos os povos debaixo do
cu+:
*Ns, partos e medos e elamitas, habitantes da Mesopotmia, da Judeia e-da
Capadcia, do Ponto, da Asia (Menor), da Frgia, da Panfilia, do Egipto e das
regies da Lbia
em direco a Grene, ns, peregrinos de Roma, judeus e proslitos, cretenses e
rabes, ouvimo-los proclamar nas nossas lnguas os prodgios de Deus.+
(Act.,2:541).
A mesma concepo necessariamente restrita do mundo geogrfico e tnico acha-se
implicada nestas palavras de So Paulo: *Antes de mais, dou graas a Deus por
Jesus
Cristo por vs todos (da Igreja de Roma); pois a vossa f conhecida no Mundo
inteiro+. Ora, evidente que o autor no quis dizer que a f da primitiva
Igreja de Roma
era conhecida entre todos os povos que, segundo os conhecimentos geogrficos
actuais,
fazem parte do *mundo inteiro+.
84
A Unidade Transcendente das Religies
in tes normais do cristianismo, inteiramente ilegtima? A isso h que responder
que, embora beneficiando materialmente de circunstncias
anormais pelo facto de a expanso ocidental se ter devido superioridade
material resultante do actual desvio, os missionrios trilham uma vida
que tem, pelo menos em princpio, um carcter sacrificial. Por consequncia, a
realidade subjectiva dessa via conservar sempre o seu sentido
mstico, independentemente da realidade objectiva da aco missionrio
enquanto tal. O factor positivo, que esta actividade vai buscar sua raiz
evanglica, no pode desaparecer totalmente, pois os limites do mundo
cristo foram ultrapassados - o que j havia acontecido antes da era moderna em
condies bem diferentes e excepcionais - e foram invadidos
mundos que no precisavam de ser convertidos, j que, no sendo *cristos+ em
Jesus Cristo, eram-no no Cristo universal, que o Verbo inspirador de toda a
Revelao. Mas esse aspecto positivo da aco missionrio
s se manifestar no mundo objectivo em casos mais ou menos pontuais,
seja porque a graa que emana de um santo ou de uma relquia ultrapassa
uma influncia espiritual autctone, seja porque a religio crist se adapta
melhor mentalidade particular de certos indivduos, o que faz supor que
estes no compreenderam a prpria tradio ou que o cristianismo corresponde
melhor s suas aspiraes, espirituais ou no. A maior parte destas
reflexes vale tambm, como bvio, em sentido inverso e em benefcio
das tradies no-crists, com a diferena de, nesse caso, as converses
serem muito mais raras, por razes que em nada abonam o Ocidente: em
primeiro lugar, porque os Orientais no tm colnias nem *protectorados+ no
Ocidente nem mantm a misses poderosamente protegidas; em
segundo, porque os Ocidentais so mais propensos descrena pura e
simples do que a uma espiritualidade que lhes estranha'. As reservas
que se podem formular, quanto aco missionrio, no se referem por
certo evangelizao enquanto tal - embora esta tenha sofrido certa diminuio
e declnio devido s circunstncias anormais j por ns assinaladas -, mas
apenas sua solidariedade activa com a moderna barbrie
ocidental. Aproveitaremos a ocasio para notar que, na poca em que se
iniciou a
Todavia, desde meados do sc. xx, verificamos que um nmero crescente de
ocidentais se vira para formas de espiritualidade oriental, sejam elas falsas ou
verdadeiras.
85
Frithjof Schuon
expanso a oriente, j estas paragens haviam entrado em profunda decadncia, por
certo no comparvel ao declnio ocidental moderno cujo
princpio inverso daquele. De facto, enquanto o declnio oriental pssivo,
como o de um organismo fsico desgostado pela idade, o declnio
moderno activo, voluntrio, cerebral. Isso d ao Ocidental a iluso de
uma superioridade que - se efectivamente existe a nvel psicolgico, graas
divergncia de modos que acabmos de referir - no deixa de ser
muito relativa e tanto mais ilusria quanto se reduz a nada perante a
superioridade espiritual do Oriente. Poderamos tambm dizer que a deca
dncia deste toda feita de *inrcia+, enquanto a do Ocidente se edifica
sobre o *erro+. S a predominncia do elemento passional os torna solidrios, e
alis tal predominncia que caracteriza a *idade sombria+ em
que o mundo se acha mergulhado e cujo aparecimento foi previsto por todas as
doutrinas sagradas. Se a diferena no modo de declnio explica, em
parte, o desprezo que muitos ocidentais sentem por certos orientais muitas vezes
mais do que um simples preconceito, tornando-se um dio s
tradies orientais - e, em parte, a admirao cega que muitos orientais
sentem por alguns aspectos positivos de mentalidade ocidental, claro
que o desprezo que o velho Oriente sente pelo Ocidente moderno tem
uma razo no apenas psicolgica - relativa e discutvel -, mas total,
porque fundada em razes espirituais decisivas. Aos olhos de um Oriente,
fiel ao seu esprito, o *progresso+ dos Ocidentais ser sempre um crculo
vicioso tentando em vo eliminar misrias inevitveis ao preo do que pode dar
sentido vida. Mas voltemos questo missionrio: o facto de a passagem de
uma a
outra forma tradicional poder ser legtima no impede que, em certos casos,
possa haver verdadeira apostasia. apstata quem muda de forma
tradicional sem razo vlida. Pelo contrrio, quando existe *converso+
de uma a outra tradio ortodoxa, as razes invocados tm pelo menos
certo valor subjectivo. Podemos passar de uma a outra forma tradicional
sem nos termos propriamente *convertido+, apenas por razes de oportunidade
esotrica ou espiritual. Nesse caso, as razes que determinaro a
passagem sero objectiva e subjectivamente vlidas, ou antes, deixaremos
de,poder falar de razes verdadeiramente subjectivas. Vimos que a atitude do
exoterismo face s formas religiosas que lhe so
86
A Unidade Transcendente das Religies
estranhas determinada por dois factores, um positivo, outro negativo,
o primeiro referente ao carcter de uncidade inerente a toda a Revelao
e o segundo consequencia extrnseca dessa unicidade, a rejeio de um
*paganismo+ particular. Por exemplo, no que se refere ao cristianismo,
bastar situ-lo nos seus normais limites de expanso - que jamais haveria
transposto, salvo raras excepes, no fosse o desvio moderno - para
entender que esses dois factores j no so literalmente aplicveis fora dos
seus limites naturais, devendo pelo contrrio ser universalizados, transpostos
para o plano da Tradio Primordial que permanece viva em todas as
formas ortodoxas. Por outras palavras, preciso entender que cada forma
tradicional estranha pode reivindicar semelhante unicidade e a negao de
um *paganismo+. como dizer que, pela sua ortodoxia intrnseca, cada
uma forma daquilo a que poderamos chamar, em linguagem crist,
a *Igreja Eterna+. Nunca ser de mais insistirmos no facto de o sentido
literal ser, por definio, um sentido limitado, que se detm nos confins do
domnio particular a que se aplica, segundo inteno divina - situando-se o
critrio
desta, em condies normais, na natureza das coisas -, quando s o sentido
puramente espiritual pode reivindicar um alcance absoluto. A exortao de
*ensinar a todas as naes+ no constitui excepo, assim como
outras expresses onde se torna patente a limitao natural da literalidade, sem
dvida porque no existe interesse em conferir a essas um sentido
incondicionado. Recordemo-nos, por exemplo, da proibio de matar, da
ordem de dar a face esquerda, de no *multiplicar as palavras ao rezar+
ou de no nos preocuparmos com o dia de amanh. O Divino Meste jamais explicitou
os limites em@que tais ordens so vlidas, de modo que
logicamente lhes poderamos conferir um alcance incondicional, como
se faz para a ordem de *ensinar a todas as naes+. Importa porm acrescentar
que o sentido directamente literal se acha presente, em certa medida, no apenas
na ordem de pregar as naoes, mas tambm nas outras palavras de Cristo, a que
fizemos aluso. Tudo consiste em sabermos por
este sentido no seu devido lugar, sem excluirmos outros sentidos possveis.
Se verdade que a ordem de ensinar a todas as naes no se pode limitar, de
modo absoluto, ao propsito de constituir o mundo cristo, mas
deve poder implicar a pregao entre todos os povos alcanveis, tam 87
N
Frithjof Schuon
bm verdade que a ordem de dar a face esquerda se pode igualmente entender de
modo literal em certos casos de disciplina espiritual. Mas claro
que esta ltima interpretao ser to secundria quanto a interpretao
literal de pregar a todos os povos. Para definirmos claramente a diferena
entre os sentidos directo e indirecto desta exortao, recordaremos o que
j acima deixmos entrever: ou seja, que, no primeiro caso, o fim sobretudo
objectivo, pois trata-se de constituir o mundo cristo, enquanto no
segundo caso, o da pregao entre povos de civilizao estranha, o fim
sobretudo subjectivo e espiritual, levando o plano interior a melhor sobre
o plano exterior, que no mais do que um suporte da realizao sacrificial.
Poderia algum objectar citando as palavras de Cristo: *Este Evangelho do Reino
ser pregado em todo o mundo, para servir de testemunho a
todas as naes. Ento vir o fim+. Ao que responderemos que, se tal palavra se
refere ao mundo inteiro e no apenas ao Ocidente, porque no
se trata de uma ordem, mas sim de uma profecia que se reporta a condies
cclicas em que a separao entre os diferentes mundos tradicionais
ser abolida. Significa, por outras palavras, que *Cristo+ - que para os
hindus o Kalki-Avatra e para os budistas o Bodhisattwa-Maitreya restaurar a
TradioTrimordial.
Dissemos mais acima que a ordem dada por Cristo aos Apstolos se
restringia aos limites providenciais do mundo romano. claro que uma
tal limitao no particular ao cristianismo: a expanso muulmana, por
exemplo, detm-se forosamente em fronteiras anlogas, e isso pelas mesmas
razoes. O princpio, que colocou os politestas rabes perante a alternativa
islo ou morte, foi to logo abandonado, mal as fronteiras da Arbia se viram
ultrapassadas. Assim, os hindus, que no so propriamente
*monotestas+', foram governados por muulmanos durante vrios sculos, sem que
estes tivessem aplicado, depois das suas conquistas, a alter Os monotestas
so as *gentes do Livro+ (ahl el-Kitb), ou seja, os judeus e os cristos, que
receberam revelaes de esprito abramico. Parece-nos quase suprfluo
acrescentar que os hindus, se no so monotestas em sentido especificamente
semtico
tambm no so politestas, pois a conscincia da Unidade metafsica atravs da
multi'
plicidade indefinida das formas precisamente uma das caractersticas mais
evidentes
do seu esprito.
88
A Unidade Transcendente das Religies
nativa dantes imposta aos rabes pagos. Um outro exemplo o da delimitao
tradicional do mundo hindu. Contudo, a reivindicao de
universalidade por parte do hindusino, conforme ao carcter metafisico e
contemplativo desta tradio, repleta de uma serenidade que no se encontra
nas religies semticas. A concepo de Santana-Narma, *Lei
eterna+ ou *primordial+, esttica, e no dinmica, sendo uma constatao de
factos, e no uma aspirao, como o a correspondente concepo
semtica: esta parte da ideia de que preciso levar aos homens de F verdadeira
que eles ainda'no possuem, enquanto, segundo a concepo hindu, a tradio
bramnica a Verdade e a Lei Original que os estrangeiros
perderam, conservando dela apenas vestgios, tendo-a alterado ou mesmo
substitudo pelo erro. todavia intil convert-los porque, mesmo decados do
Santana-Dharma, nem por isso se deixam de salvar, achando-se
apenas em condies espirituais menos favorveis do que os hindus. Este
ponto de vista no probe que *brbaros+ sejam Yogis ou Avatras-, e
um facto que os hindus veneram indiferentemente santos muulmanos,
budistas ou cristos, sem o que a expresso Mlechha-Avatra (*descida divina
entre os brbaros+) no teria sentido -, mas a santidade ocorrer
Sem dvida muito mais raramente nos no-hindus do que no seio do
Santana-Dharma, cujo ltimo refgio a terra sagrada da ndia'. Poderamos
igualmente interrogar-nos se a penetrao do islo em terras da ndia no
deveria ser vista como uma usurparo tradicionalmente
ilegtima, podendo a mesma questo estender-se as partes da China e da
Insulndia que se vieram a tornar muulmanas. Para responder a esta
questo, h que nos determos em consideraes que parecero talvez algo
longnquas, mas que so aqui indispensveis. Antes de mais, preciso ter
em conta o seguinte: se o hindusmo, no que respeita a sua vida espiritual,
sempre se adaptou s condies cclicas com que teve de se defrontar no
decurso da sua existncia histrica, nem sempre porm conservou o carc
Existiu, no Sul da ndia, um *intocvel+ que foi um Avatra de Shiva: o grande
mestre espiritual Tiruvalltivar, o *divino+, cuja memria ainda venerada na
regio e que
nos deixou um livro inspirado, o Kural. O equivalente da concepo hindu do
Santana-Dharma encontra-se nas passagens
cornicas que afirmam que no existe povo a que Deus no tivesse suscitado um
Profeta; a afirmao exotrica segundo a qual todos os povos teriam rejeitado ou
esquecido
a Revelao que respectivamente lhes dizia respeito no poderia fundar-se no
Alcoro.
89
kI,
Frithjof Schon
ter *primordial+ que lhe prprio; nomeadamente, na @sua estrutura formal,
apesar das modificaes secundrias que sobrevieram por fora das
circunstncias, como por exemplo a fragmentao quase indefinida das
castas. Ora, tal primordialidade, plena de serenidade contemplativa, deu
lugar, a partir de certo *mornento+ cclico, a uma maior preponderncia
do elemento passional na mentalidade genrica, segundo a lei do declnio
que rege todo o ciclo da humanidade terrestre. O hindusmo acabou por
perder em actualidade e em vitalidade, medida que se afastou das origens, e
nem as reformulaes espirituais, como a ecloso das vias tntricas
e bhkticas, nem as readaptaes sociais, como a j aludida fragmentao
das castas, bastaram para eliminar a desproporo entre a primordialidade
inerente tradio e uma mentalidade sempre mais passional'. Contudo,
a substituio do hindusmo por outra forma tradicional, mais adaptada s
' Um dos sinais deste obscurecimento parece ser a interpretao literal dos
textos simblicos sobre a transmigrao que. deram origem teoria da
reencarnao. O mesmo literalismo, aplicado s imagens sagradas, gerou uma
idolatria de facto. Sem este aspecto real de paganismo, patente no culto de
muitos hindus de casta baixa, o islo no
poderia ter causado uma fenda to profunda na realidade indiana. Se, para
defender a
interpretao reencarnacionista das Escrituras hindus, h quem se reporte ao
sentido literal dos textos, tudo deveria ento interpretar-se de modo literal,
chegando-se assim a
um antropomorfismo grosseiro e a uma adorao grosseira e monstruosa da natureza
sensvel, quer se trate de elementos, animais ou objectos. O facto de muitos
hindus interpretarem actualmente letra o simbolismo de transmigraao s prova
o declpio intelectual prprio de kali-yuga e previsto nas Escrituras. Alis, j
nem nas religies ocidentais os textos sobre a vida depois da morte so
entendidos literalmente. O fogo do
Inferno no um fogo fsico, o seio de Abrao no o seu seio corporal, o
banquete
de que Cristo fala no constitudo de alimentos terrestres, ainda que o
sentido literal
tenha tambm os seus direitos, sobretudo no Alcoro. Por outro lado, se a
reencarnao fosse uma realidade, todas as doutrinas monotestas seriam falsas,
pois nunca situam os estados pstumos neste mundo. Mas todas estas consideraes
so vs se pensarmos na impossibilidade metafsica da reencarnao. Mesmo
admitindo que uin
mestre espiritual hindu possa fazer sua uma interpretao literalista das
Escrituras, no
que diz respeito a uma questo cosmolgica como a da transmigrao, isso nada
prova
contra a sua espiritualidade, pois podemos conceber nele uma sabedoria que nada
tem
a ver com realidades puramente csmicas, consistindo numa viso puramente
sinttica
e interior da Realidade Divina; o caso seria diferente num mestre espiritual
cuja vocao consistisse em expor ou comentar uma doutrina especificamente
cosmolgica, mas
tal vocao quase de excluir na nossa poca, devido s leis espirituais que a
regem no
quadro de uma tradio determinada.
90
A Unidade Transcendente das Religies
condies particulares da segunda metade do kali-yuga, no chegou a estar em
causa; o mundo hindu, no seu conjunto, no tem necessidade de
transformaes drsticas, j que a Revelao de Manu Vaivaswata conserva
suficiente actualidade e vitalidade para justificar a persistncia de uma
civilizao. Em qualquer dos casos, h que reconhecer que se produziu
uma situao paradoxal no hindusmo, que poderamos caracterizar dizendo que ele
vivo e actual no seu conjunto, mas no em alguns aspectos
secundrios. Cada um destes aspectos teve a suas consequncias no mundo
exterior: consequncia da vitalidade do hindusmo foi a resistncia invencvel
que ele ops ao budismo e ao islo; consequncia do seu enfraquecimento foi
precisamente a vaga budista, que apenas passou por ele,
e o alastramento e estabilizao da civilizao islmica em solo indiano.
Mas a presena do islo na ndia no se explica unicamente pelo facto
de, sendo a mais jovem das grandes Revelaes', estar melhor adaptada
do que o hindusmo s condies gerais deste ltimo milnio da *idade
sombria+ - tendo em maior conta o elemento passional nas almas
mas ta mbm pela seguinte razo: o declnio cclico traz consigo um
obscurecimento geral, a par de um aumento mais ou menos considervel das
populaes, sobretudo as suas camadas inferiores. Ora, tal declnio assistido
por uma fora csmica compensadora que actua no interior da colectividade social
a fim de restaurar, pelo menos simbolicamente, a sua
qualidade primitiva. Em primeiro lugar, a colectividade ser como que
atravessada por excepes, paralelamente ao seu crescimento quantitativo, como
se o elemento qualitativo (ou *sttwico+, do Ser puro) nela contido se
concentrasse para compensar, em casos especiais, a dilatao quantitativa. Em
segundo lugar, os'meios espirituais tomam-se de mais fcil acesso
para quem for qualificado e tiver aspiraes srias; isso, por uma lei csmica
da compensao que intervm, j que o ciclo humano, para o qual as
castas so vlidas, chega ao fim. Por isso, a referida compensao tende
no apenas a restaurar, simbolicamente e dentro de certos limites, aquilo
O islo a ltima Revelao deste ciclo da humanidade terrestre, como o
hindusmo
representa a Tradio Primordial, sem se identificar com ela pura e
simplesmente, sendo apenas o seu ramo mais directo. Existe, portanto, entre
estas duas formas tradicionais uma relao cclica ou csmica que, como tal,
nada tem de fortuita.
91
Frithjof Schuon
que as castas eram na sua origem, mas o que era a humanidade antes da
constituio das castas. Todas estas consideraes permitiro entrever qual o
papel positivo e providencial do islo na ndia: em primeiro lugar, absorver
os elementos que, pelo facto das novas condies cclicas j refe ridas, no
encontram *o seu lugar+ na tradio hindu - pensemos aqui particularmente em
elementos das castas superiores, os Dwijas; em segun do lugar, absorver os
elementos de elite das castas inferiores, assim reabi litadas numa espcie de
indiferencao primordial. O islo, com a simplicidade sinttica da sua forma e
meios espirituais, um instrumento
N@
providencialmente apto a preencher rupturas que se produzam em civili
zaes mais antigas e arcaicas ou a captar e neutralizar, pela sua presena,
germes de subverso de que essas civilizaes sejam portadoras nas di tas
rupturas. Ora foi sob esse aspecto - e apenas esse - que certas ci vilizaes
entraram parcialmente no dominio providencial de expanso islmica.
Para no negligenciarmos nenhum aspecto desta questo, precisaremos ainda
estas consideraes do seguinte modo, mesmo que nos tenhamos de repetir um
pouco: a possibilidade bramnica deve manifestar-se, em todas as castas e
entre os prprios Shdras, no apenas de maneira analgica, como sempre foi o
caso, mas de maneira directa, e isso porque de *par te+, que inicialmente
era, a casta inferior tornou-se um *todo+, nos finais do ciclo, sendo esse
todo comparvel a uma totalidade social: os elemen tos superiores dessa
totalidade sero, de algum modo, *excepes nor mais+. Por outras palavras,
o estado actual das castas parece copiar, sim bolicamente e em certa medida,
a indistino primordial, sendo as diferenas intelectuais entre as castas
cada vez mais diminutas. As castas inferiores, tornando-se muito numerosas,
representam de facto todo um povo, comportando por consequncia todas as
possibilidades humanas, enquanto as castas superiores, que no se
multiplicaram nas mesmas pro pores, sofreram um declnio tanto mais
sensvel quanto *a corrupo do melhor a pior+ (corruptio oprimi pssima).
Sublinhemos todavia, para evitar qualquer equvoco, que os elementos de elite
das castas inferiores conservam, do ponto de vista colectivo e hereditrio, o
seu carcter de *excepes que confirmam a regra+, no podendo por isso
misturar-se le gitimamente com as castas superiores, o que no os impede de
modo al 92
A Unidade Transcendente das Religies
gum de serem individualmente aptos a vias reservadas normalmente s
castas nobres. Assim, o sistema de castas, que foi durante milnios um
factor de equilbrio, manifesta forosamente certas rupturas no fim do
mah-yuga, semelhana dos desequilbrios no ambiente terrestre. Ouanto
ao aspecto positivo que estas rupturas implicam, ele tem origem na mesma lei
csmica de compensao que tinha em vista Ibri Arabi quando afirmava,de acordo
com diversos ditos do Profeta, que no fim dos tempos as
chamas do Inferno esfriariam. ainda a mesma lei que faz dizer ao Profeta que,
no fim do mundo, se salvar quem cumprir um dcimo do que o
islo exigia de incio. Tudo o que acabmos de expor no s diz respeito
s castas hindus, mas tambm humanidade no seu todo. Por outro lado,
quanto s rupturas na estrutura exterior do hindusmo, em todas as formas
tradicionais encontramos factos anlogos, em um ou outro grau. No que diz
respeito analogia funcional entre budismo e islamismo por
referncia ao findusmo - tendo ambas as tradies o mesmo papel negativo e
positivo face a este ltimo -, os budistas mahynistas ou hinaynistas tm dela
plena conscincia, pois vem nas invases muulmanas, sofridas pelos hindus, o
castigo pelas perseguies que eles mesmos
tiveram de sofrer por parte dos hindus.
Depois desta digresso, indispensvel para mostrar um aspecto importante da
expanso muulmana, voltamos a uma questo mais fundamental, a da dualidade de
sentido inerente s exortaes divinas quando referidas s coisas humanas. Tal
dualidade acha-se prefigurada no prprio
nome de *Jesus Cristo+: *Jes'us+ - como *Gutama+ e *Maom+ - indica o que h
de limitado e relativo na manifestao do Esprito, e designa
o suporte desta manifestao; *Cristo+ - como *Buda+ ou *Rassul AIlah+
(Apstolo de Deus) - indica a realidade universal da manifestao,
ou seja, o Verbo enquanto tal. Embora a teologia no se coloque numa
perspectiva capaz de esgotar as suas consequncias, tal dualidade de aspectos
volta a encontrar-se na distino entre a *natureza humana+ e a
*natureza divina+ de Cristo. Ora, se os Apstolos concebiam Cristo e a sua
misso em sentido abso 93
Frithjof Schuon
luto, isso no se devia a limitaes de tipo intelectual: de facto, no mundo
romano, Cristo e a sua Igreja tinham um carcter nico, portantosrelativamente
absoluto+. Esta expresso, que parece ser e logicamente uma
contradio de termos, corresponde todavia a uma realidade: o Absoluto
deve reflectir-se *corno tal+ no relativo; e esse reflexo ser, por referncia
s outras relatividades, *relativamente absoluto+. A diferena entre dois
erros ser sempre relativa por referncia sua falsidade, sendo uma
simplesmente mais falsa - ou menos falsa - do que a outra. A diferena entre o
erro e a verdade ser, pelo contrrio, absoluta, mas apenas de modo
relativo, sem sair das relatividades, pois o erro no poderia ser absolutamente
independente da verdade, no sendo mais do que uma negao
mais ou menos confessada da mesma. Por outras palavras, o erro, nada
tendo de positivo, no poderia opor-se verdade de igual para igual e
com plena autonomia. Isto permite entender porque no poderia haver a
um *absolutamente relativo+: esse seria o nada, e o nada nada de modo
algum. Dizamos que Cristo e a sua Igreja tinham um carcter nico,
*relativamente absoluto+, no mundo romano. Por outras palavras, a unicidade
principal, metafsica e simblica de Cristo, da Redeno, da Igreja, exprimiu-se
necessariamente numa unicidade de facto a nvel terrestre. Se os
Apstolos no explicitaram os limites metafisicos que todo o facto naturalmente
supe e a experincia os levou a descorarem o sentido da universalidade
tradicional, isso no significa que a sua Cincia espiritual no englobasse, no
estado principal, o conhecimento dessa universalidade, ainda
que no-actualizado quanto s suas aplicaes a contingncias determinadas. Da
mesma forma, o olho que v um crculo v todas as outras formas, ainda que
actualmente ausentes e mesmo que a viso se exera apenas sobre esse crculo. A
questo do que teriam dito os Apstolos, ou o
prprio Cristo, se tivessem encontrado um ser como Buda perfeitamente
intil, pois esse tipo de coisas jamais acontece por ser contrrio s leis
csmicas. Dificilmente teremos ouvido falar de encontros entre grandes
santos pertencentes a civilizaes diferentes. Os Apstolos eram, no seu
mundo, um grupo nico. Mesmo admitindo, no seu raio de aco, a presena de
iniciados assnicos, pitagricos ou outros, a luz de to pequenas
minorias acabaria por se diluir na radiao de luz crstica. Alm disso, os
Apstolos no teriam de se preocupar com estes *homens rectos+, pois
94
A Unidade Transcendente das Religies
disse Jesus: *No vim chamar os justos, mas sim os pecadores+ (Mat.,9:13).
De um ponto de vista algo diferente, mas respeitando o mesmo princpio
da delimitao tradicional, notaremos que So Paulo que, no cristianismo,
foi o arteso primordial da expanso, como Omar o ser mais tarde no isIo,
evitar penetrar no domnio providencial desta ltima forma da Revelao,
segundo uma passagem muito enigmtica dos Actos dos Apstolos
(16:6-8). Sem insistirmos no facto de os limites da expanso desconhecerem por
certo o rigor das fronteiras polticas - as objeces fceis, que
previmos, no voltem no terreno em que se situa o nosso pensamento
limitar-nos-emos a notar que a vinda do Apstolo dos Gentios para ocidente tem
um valor simblico, mais por referncia ao islo do que por referncia
delimitao do mundo cristo. Por outro lado, o modo como
este episdio foi relatado mencionando a interveno do Esprito Santo
e do *Esprito de Jestis+ e passando em silncio as causas destas inspiraes -
no permite admitir que a absteno de pregar a volta brusca do
Apstolo s tivesse sucedido por motivos exteriores, sem alcance principaI, nem
permite comparar este episdio a uma qualquer peripcia das
viagens apostlicas'. Por fim, o facto de a provncia onde ocorreu esta
interveno do Esprito ser chamada *Asia+ acrescenta-se ainda ao carcter
simblico das ditas circunstncias.
Permita-se-nos notar que, se nos referimos a exemplos concretos em vez de
conjecturarmos sobre princpios e generalidades, nunca com a inteno de
convencer, mas
unicamente para revelar alguns aspectos da realidade a quem assim os quiser
entender.
s para esses que escrevemos, recusando-nos desde j a polmicas que no
teriam interesse nem para os nossos eventuais contraditores nem, sobretudo, para
ns mesmos.
Devemos igualmente acrescentar que no como historiadores que abordamos os
factos, citados a ttulo de exemplo, visto que eles no interessam em si mesmos,
mas apenas na medida em que podem ajudar compreenso de verdades
transcendentes, verdades essas jamais merc dos factos.
95
vi O ASPECTO TERNRIO DO Monotesmo
unidade transcendente das formas
religiosas revela-se de forma particularmente instrutiva na relao recproca
entre as trs grandes religies ditas monotestas e isso porque s estas
fazem questo em se apresentar como exoterismos inconciliveis. Mas,
antes de mais, h que estabelecermos uma clara distino entre aquilo a
que poderamos chamar *verdade simblicas e *verdade objectivas. Citaremos, a
ttulo de exemplo, os argumentos do cristianismo e do budismo
no referente s formas tradicionais que, de algum modo, lhes deram origem, a
saber: o judasmo e o hindusmo, respectivamente. Tais argumentos so
simbolicamente verdadeiros, pois as formas abandonadas no so
vistas em si mesmas, na sua verdade intrnseca, mas unicamente nos seus
aspectos contingentes e negativos, produtos de um declnio parcial. A reJeio
dos Vedas corresponde, portanto, a uma verdade quando esta Escritura tida
exclusivamente como smbolo de uma erudio estril, muito
comum no tempo de Buda, tal como a rejeio paulina da Lei judaica
plenamente justificado quando no passa de um formalismo farisaico sem
vida espiritual prpria. Se uma nova Revelao tem autoridade para depreciar
valores tradicionais de origem mais remota por ser independente
e no fazer uso dos mesmos, j que, possuindo o equivalente desses valores, se
basta totalmente a si mesma. Esta verdade aplica-se ainda ao foro interno de
uma mesma forma tradicional, por exemplo, antinomia entre as Igrejas Grega e
Latina: o *cisma+
97.
Frithjof Schuon
uma contingncia que no pode afectar a realidade intrnseca e essencial
das Igrejas. O cisma entre Igrejas, como o cisma entre muulmanos, que originou
a corrente chiita, no depende apenas de vontades individuais: tem a
ver com a prpria natureza da religio que exteriormente, e no interiormente,
divide. O esprito da religio pode exigir adaptaes diversas, mas
sempre ortodoxas, de acordo com contingncias tnicas ou outras. O mesmo
no acontece com as heresias, que dividem a religio por dentro e por fora
sem poderem realmente dividi-Ia, pois o erro no parte da verdade
e que, no apenas so incompatveis, no plano formal, com outros aspectos
de uma mesma verdade, mas so em si mesmas falsas. Consideremos agora a
questo da homogeneidade espiritual e cclica
das religies no seu conjunto: o monotesmo - que engloba as religies judaica,
crist e islmica, ou seja, as religies de esprito semtico - funda-se
essencialmente na concepo dogmtica da Unidade (ou No-Dualidade) divina. Ao
dizermos que esta concepo dogmtica, especificamos que ela
exclui qualquer outro ponto de vista, sem o que se tornaria impossvel a
aplicao exotrica que d aos dognias toda a sua razo de ser. Vimos que esta
restrio, to necessria vitalidade das formas religiosas, que subjaz
limitao inerente ao ponto de vista exotrico enquanto tal. Por outras
palavras,
este caracteriza-se precisamente pela incompatibilidade entre concepes dotadas
de formas aparentemente opostas, quando nas doutrinas puramente
metafisicas ou iniciticas os enunciados aparentemente contraditrios no se
excluem nem se perturbam entre si'.
1 A unilateralidade com que certos factos das Escrituras so interpretados pelos
exoteristas prova que o interesse que aqueles tm no alheio s suas
especulaes limitadoras, como mostrmos no captulo sobre o exoterismo. Na
verdade, a interpretao esotrica de uma Revelao admitida pelo exoterismo,
sempre que tal interpretao
sirva para o confirmar, e arbitrariamente omitida quando susceptvel de
prejudicar o
dogmatismo exterior por detrs do qual se esconde um individualismo sentimental:
assim, h quem se sirva da verdade crstica, que pela sua forma um esoterismo
judaico,
para condenar o formalismo excessivo do judasmo; mas no faz a aplicao
universal
dessa verdade, projectando luz sobre toda a forma sem excepo, incluindo a sua.
Segundo a Epstola de So Paulo aos Romanos (3:27 - 4:17), o homem justificado
pela
f, e no pelas obras; para a Epstola Catlica de So Tiago (2:14-26), o homem
justificado pelas obras e no apenas pela f. Ambos citam Abrao como exemplo.
Ora, se
esses dois textos pertencessem a religies diferentes, ou a dois ramos
reciprocamente
*cismticos+ de uma mesma religio, no h dvida de que os telogos de cada
uma
98
A Unidade Transcendente das Religies
Esta tradio monotesta pertencia originariamente a todo o ramo nmada do
grupo semtico, sado de Abrao, e que se subdividia em dois
grupos, o de Isaac e o de Ismael. S a partir de Moiss o monotesmo se
torna realmente judaico. Moiss foi chamado a dar ao monotesmo um
forte contributo, associando-o de algum modo ao povo@ de Israel, que se
tornava assim seu guardio, enquanto a tradio abramica se ia obscurecendo
entre os ismaelitas. Mas tal gesto, por muito necessrio e providencial,
conduziu fatalmente a uma restrio da forma exterior, devido tendncia
particularista inerente a cada povo. Podemos dizer que o judasmo
anexou o monotesmo, tornando-o coisa de Israel, fazendo com que a herana de
Abrao se tornasse, desde ento, inseparvel de qualquer adaptao secundria,
de qualquer consequncia ri tual ou social implicado na
Lei mosaica. O monotesmo, canalizado e cristalizado no judasmo, adquiriu,
assim,
um carcter histrico, embora no em sentido exclusivamente genrico e
exterior, o que seria incompatvel com o carcter sagrado de Israel. Foi
esta absoro da tradio primitiva por parte do povo judeu que permitiu
distinguir exteriormente o monotesmo mosaico do dos Patriarcas, sem
que tal distino atingisse a esfera doutrinal. Esse carcter histrico do
judasmo teve como consequncia natural a ideia messinica, no inerente
ao monotesmo primitivo, mas ligada, enquanto tal, ao mosasmo. Estas
reflexes sobre o monotesmo original, a sua adaptao por Moiss, a sua
anexao pelo judasmo e a sua concretizaro em ideia messinica bastaro para
passarmos considerao do papel orgnico do cristianismo dentro do ciclo
monotesta. Diramos que o cristianismo absorveu,
na afirmao messinica, toda a herana doutrinal do monotesmo, e f-lo
de pleno direito, sendo ele o legtimo ponto de chegada da forma judaica.
delas se afadigariam em demonstrar a incompatibilidade destes textos. Mas como
estes
pertencem a uma nica e mesma religio, os esforos tendem pelo contrrio a
demonstrar a sua perfeita compatibilidade. Porque no aceitar ento as
Revelaes diferentes
daquela a que se adere? *Deus no pode cntradizer-se+, diro, ainda que isso
no
passe de uma petio de princpio. Ora, das duas uma: ou admitimos que Deus se
contradiz, e no aceitamos nenhuma Revelao; ou admitimos, por impossibilidade
cntrria, que h em Deus aparncias de contradio, mas a j no temos o
direito de rejeitar uma Revelao estranha pela simples razo de ela ser,
primeira vista,
contraditria por referncia Revelao que admitimos a priori.
99
Frithjof Schwn
O Messias, pelo facto de realizar na sua pessoa a Vontade Divina que originou o
monotesmo, vai necessariamente alm da forma que no lhe permite realizar
plenamente a sua misso. Para dissolver uma forma transitria, preciso que, na
sua qualidade de Messias, goze eminentemente da
autoridade inerente tradio de que se faz ltima palavra. Por isso
mais do que Moiss e anterior a Abrao: tais afirmaes do Evangelho
demonstram uma identidade *de fora maior+ entre o Messias e Deus,
que permitem entender que um cristianismo que negue a divindade de
Cristo nega a sua prpria razo de ser. Afirmmos que a pessoa *avattica+
do Messias absorveu inteiramente
a doutrina monotesta, o que significa que Cristo devia ser no apenas o
termo do judasmo histrico, mas o ponto de apoio do nionotesmo e o
templo da Presena Divina. Esta extrema positividade histrica de Cristo
arrastou consigo uma limitao da forma tradicional, como acontecera no
judasmo, onde Israel tinha o papel preponderante que deveria mais tarde
caber ao Messias, papel forosamente restritivo e limitador da realizao
do nionotesmo inte ral. Aqui intervm o islo, cuja posio e significado
9
no ciclo monotesta nos falta ainda precisar'. Antes de abordarmos este
assunto, consideremos ainda um outro aspecto da questo que acabmos de tratar.
O Evangelho refere esta palavra de
Cristo: *A Lei e os Profetas vo at Joo. Depois de Joo, anunciado o
Reino de Deus, e cada um se esfora por entrar nele+ (Luc.,15:16)., Alm
disso, o Evangelho refere que, no momento da morte de Cristo, o vu do
templo se rasgou de alto a baixo, facto que, como a palavra acima citada,
indica que a chegada de Cristo ps fim ao mosasmo. Ora, poderamos
objectar que o mosasmo, enquanto Palavra Divina, no susceptvel de
1 A perspectiva que acabmos de enunciar poderia lembrar a descrita por Joaquim
de
Fiori que atribua a cada pessoa da Santssima Trindade uma preponderncia
particular
em cada diviso do ciclo tradicional na perspectiva crist: o Pai dominava a
Antiga Lei,
o Filho a Nova Lei e o Esprito Santo a ltima fase do ciclo cristo que
comeava com
as novas ordens monsticas fundadas por So Francisco e So Domingos. Podemos
detectar facilmente a assimetria destas correspondncias: o autor desta teoria
devia ignorar, real ou formalmente, o islo, que corresponde, segundo o dogma
islmico, ao reino do Paracleto. Mas no menos verdade que a pocaque Joaquim
de Fiori colocava
sob a especia1,ipu@Ucia do Esprito Santo, conheceu no Ocidente uma renovao
espiritual. -x P, PA
100
A Unidade Transcendente das Religies
anulao, pois *a nossa Torah para a eternidade: nada lhe podemos somar ou
subtrair+ (Maimnides). Como conciliar ento a abolio do mosasmo, ou do
ciclo glorioso da sua existncia terrestre, com a *eternidade
da Revelao mosaica? H, antes de mais, que entendermos que esta abolio, se
real na ordem que lhe cabe, no deixa por isso de ser relativa;
mas a realidade intrnseca do mosasmo absoluta, porque divina. essa
qualidade divina que necessariamente se ope supresso de uma Revelao, pelo
menos por tanto tempo quanto a forma doutrnal e ritual desta
permanecer intacta - o que era o caso do mosasmo, sem o qual Cristo
no se teria podido conformar a ele.' A abolio do mosasmo, levada a
cabo por Cristo, remonta a um Querer Divino; a permanncia intangvel
do mosasmo todavia de ordem mais profunda, no sentido que remonta
prpria essncia divina, de que este Querer apenas uma manifestao
particular - tal como a vaga manifestao particular da gua de que
no pode modificar a natureza. O Querer Divino, manifestado por Cristo,
s podia afectar um modo particular do mosasmo e no a sua qualidade
Importa notar que o declnio do esoterismo judaico na poca de Cristo -
Nicodemos,
doutor em Israel, ignorava o mistrio da ressurreio! - permitia ver o mosasmo
na
sua totalidade, e por referncia Nova Revelao, como um exoterismo exclusivo
e
macio, viso essa de valor acidental e provisrio, porque limitada origem do
cristianismo. Em todo o caso, a Lei mosaica no devia condicionar o acesso aos
novos Mist~
rios como faria um exoterismo por referncia a um esoterismo, de que
complemento.
Mas foi um outro exoterismo que se constituiu para a nova religio, com
vicissitudes de
adaptao e interferncias que continuaram durante sculos. Paralelamente, por
seu Iado, o judasmo reconstitua e readaptava o seu exoterismo no novo ciclo da
sua histria, a dispora; e parece que houve a um processo de algum modo
correlativo ao do
cristianismo, precisamente graas ao amplo influxo de espiritualidade que
representava
a manifestao do Verbo crstico. Todos os elementos vizinhos dessa manifestao
sofreram directa ou indirectamente, aberta ou encobertamente, a sua influncia,
e foi assim que se deu, no primeiro sculo do ciclo cristo, por um lado, o
desaparecimento
dos antigos mistrios, uma parte dos quais foi absorvida pelo esoterismo
cristo, e por
outro lado, uma irradiao de foras espirituais nas tradies mediterrnicas,
por
exemplo, no neoplatonismo. No que se refere ao judasmo, existiu at aos nossos
dias,
e existe sem dvida ainda hoje, uma verdadeira tradio esotrica, no importa a
poca exacta em que se operou essa transformao depois da manifestao de
Cristo
e do comeo do novo ciclo tradicional, a dispora, e qual tenha sido mais tarde
o
papel aparentemente anlogo do islo face ao judasmo, assim como face ao
cristianismo.
101
IL
Frithjof Schon
*eterna+. Portanto, embora a presena real (Shekhinah) j no habite no
Santo dos Santos no Templo de Jerusalm, a Divina Presena permanece
sempre em Israel, no j como um fogo ininterruptojocalizado num santurio, mas
como uma pedra ardente que, sem manifestar o fogo de modo
constante, o contm virtualmente, podendo manifest-lo em certos perodos ou
ocasies.
No judasmo e no cristianismo, o monotesmo conheceu duas expressoes
antagnicas, que o islo, antagnico por referncia a estas formas, de
algum modo recapitulou, harmonizando o antagonismo judaico-cristo numa sntese
que marcou o termo de expanso e realizao integral do monotesmo. Isso acha-se
expresso no facto de o islo ser o nmero 3 desta
corrente tradicional, ou seja, representar o nmero da harmonia, enquanto o
cristianismo, o nmero 2, o da alternativa, no se basta a si mesmo,
devendo ou ser reconduzido unidade, por absoro de um dos seus termos pelo
outro, ou recriar a unidade, pela produo de uma unidade nova. O modo de
realizao da unidade precisamente o islo, que resolve
o antagonismo judaico-cristo de que, em parte, surgiu e que, em parte,
anula, por reduo ao monotesmo puro de Abrao. Poderamos comparar o islo a
um judasmo que no rejeitou o cristianismo ou a um cristianismo que no renegou
o judasmo. Mas se, por ser produto de ambos, a
sua atitude pode ser caracterizada deste modo, o islo coloca-se porm fora da
dualidade ao rejeitar por um lado o *desenvolvimento+ judaico e
por outro a *transgresso+ crist, pondo em relevo no o povo judaico ou
a pessoa de Cristo, mas a afirmao fundamental do monotesmo, a Unidade de
Deus. Para ultrapassar o messianismo foi preciso que o islo se
colocasse num ponto de vista diferente deste, e o reduzisse, para o integrar, ao
seu prprio ponto de vista, donde se explica a integraro de Cristo na linhagem
dos Profetas, de Ado a Maom. claro que o islo, como as duas religies
precedentes, nasceu por interveno directa da
Vontade Divina, da qual surgiu o monotesmo, e que o Profeta reflectia a
verdade messinica essencial, inerente ao monotesmo original ou abramico. O
islo pode ser considerado como uma *reaco+ abramica ane 102
A Unidade Transcendente das Religies
xao do monoteismo por Israel, por um lado, e pelo Messias, por outro.
Se metafisicamente estes dois pontos de vista no se excluem de modo algum, o
dogmatismo no pode entend-los simultaneamente nem afirm-los seno por dogmas
antagnicos que dividem o aspecto exterior do monotesmo integral. Se o
judasmo e o cristianismo representam, em certa medida, uma
frente nica face ao islo, o cristianismo e o islo opem-se por seu lado ao
judasmo, pela sua tendncia plena realizao da doutrina monotesta. Mas
vimos que essa tendncia foi limitada, na forma crist, pela preponderncia
da ideia messinica, que secundria para o monotesmo puro. O elemento
legislativo do judasmo foi quebrado por uma *exteriorizao+, necessria e
legtima, das concepes esotricas, e absorvido pelo *Alm+, de acordo
com a frmula: O meu reino no deste mundo. A ordem social foi substituda
pela ordem espiritual, sendo os sacramentos da Igreja a legislao
correspondente a esta ordem. Mas como a legislao espiritual no responde s
exigncias sociais, houve que recorrer a elementos de legislaoheterogneos, o
que gerou um dualismo cultural nefasto para o mundo
cristo. O islo restabeleceu uma legislao sagrada para *este mundo+,
juntando-se assim ao judasmo, sem deixar de reafirmar a universalidade
que o cristianismo antes dele havia reposto ao quebrar a casca da Lei mosaica.
Tambm poderamos dizer que o equilbrio entre os dois aspectos divinos, Rigor e
Clemncia, constituiu a essncia da Revelao maometana,
que nisso se harmonizou com a Revelao abramica. Se a Revelao crstica
afirma a sua superioridade face Revelao mosaica, porque a Clemncia
principal e ontologicamente *anterior+ ao Rigor, como o confirma a inscrio do
Trono de A11h: *Na verdade, a Minha Clemncia
precedeu a Minha Clera+ (Inna Rahmati sabagat Ghadabi). O monotesmo revelado
a Abrao possua em perfeito equilbrio o esoterismo e o
exoterismo, primordialmente indistintos nas religies de cepo semtico.
Com Moiss, o exoterismo que, por assim dizer, se torna tradio, determinando
a forma desta, sem prejudicar a sua essncia. Com Cristo,
inversamente o esoterismo que se torna tradio. Com Maom, o equlbrio
inicial restabelecido e o ciclo da Revelao monotesta encerrado.
Tais alternncias na Revelao integral do monotesmo procedem da sua
103
Frithjof Schon
prpria natureza, no sendo exclusivamente imputveis s vicissitudes da
contingncia. Sendo a *letra+ e o *esprito+ sinteticamente entendidos no
monotesmo integral ou abramico, deveriam cristalizar-se sucessivamente
ao longo da Revelao monotesta, devendo o abraamismo manifestar o
equilbrio indiferenciado do *esprito+ e da *letra+; o mosasmo, a *letra+;
o cristianismo, o *esprito+; e o islo, o equili 'brio diferenciado destes
dois
aspectos da Revelao. Toda a religio forosamente uma adaptao, uma
limitao. Se isso
vale para as tradies puramente metafisicas, vale muito mais para os
dogmatismos que representam adaptaes a mentalidades mais limitadas.'
Tais limitaes no devem encontrar-se, de algum modo, nas origens das
formas tradicionais; manifestam-se, antes, no decurso do seu desenvolvimento,
tornando-se mais notrias no fim e concorrendo para esse fim. Se
tais limitaes so necessrias para a vitalidade das religies, nem por isso
deixam de ser limitaes com todas as consequencias. As heterodoxias so
consequncia indirecta desta necessidade de restringir a amplitude da forma
tradicional, limitando-a, medida que se avana para a idade sombria.
E no pode ser de outra maneira, mesmo para os smbolos sagrados, pois
s a Essncia infinita, eterna e informal, pura e inviolvel, devendo a
sua transcendncia manifestar-se na dissoluo das formas e na sua irradiao
atravs das mesmas.
Se temos fundamentos para afirmar que a mentalidade dos povos ocidentais,
incluindo os do Prximo Oriente, tem qualquer coisa de mais limitado que a da
maioria dos
povos orientais, isso deve-se a uma certa intruso, nos Ocidentais, do elemento
passional na esfera da inteligncia, donde a sua propenso a ver as coisas
criadas sob um nico aspecto, a do *facto bruto+, e a sua inaptido
contemplao intuitiva das essncias
csmicas e universais que se insinuam nas formas. E o que explica a necessidade
de um
tesmo abstracto que se deve acautelar perante o perigo de idolatria, assim como
de
pantesmo. Trata-se de uma mentalidade que se expande, h j vrios sculos e
por razes cclicas, cada vez mais entre todos os povos, que permite entender
por um lado a
facilidade relativa das converses religiosas de povos de civilizao
no-dogintica, mitolgica ou metafsica, e por outro lado o carcter
providencial da expanso muulmana nessas civilizaes.
104
Vil
CRISTIANISMO E ISLO
mos que, de entre as religies que
do testemunho mais ou menos directo da Verdade primordial, o cristianismo e o
islo representam, dentro da herana espiritual dessa Verdade,
dois pontos de vista diferentes. Isso levanta-nos a questo do que , em si
mesmo, um ponto de vista. Nada mais simples do que consider-lo ao nvel da
viso fsica, em que o ponto de vista determina uma perspectiva
coordenada e necessria, onde tudo muda de figura segundo a posio
de quem v, ainda que os elementos da viso sejam os mesmos - os
olhos, a luz, as cores, as formas, as propores, a situao no espao.
Altera-se o ponto de partida da viso, no a viso em si mesma. Se admitimos
isso no mundo fsico, que reflexo das realidades espirituais, como
podemos negar a existncia ou preexistncia de semelhantes relaes em
tais realidades? O olho o corao, o rgo da Revelao; o Sol, Princpio
Divino, o dispensador da'luz; a luz, o Intelecto; os objectos, as Realidades ou
Essncias Divinas. Mas se nada nos impede de mudar de ponto
de vista, a nvel fsico, o mesmo no se passa naquele plano espiritual que
ultrapassa o indivduo, tornando a sua vontade determinada e passiva. Para
entendermos um ponto de vista espiritual ou religioso, no basta a
nossa boa inteno em estabelecermos correspondncias entre elementos
religiosos extremamente comparveis. Tal poderia tornar-se uma sntese
superficial e pouco til, mesmo se as comparaes tm legitimidade quando no
tomadas como ponto de partida e antepostas a uma anlise da
105
Frithjof Schuon
constituio interna das religies. Para chegar ao ponto de vista religioso,
h que entrever a unidade em que todos os seus elementos constitutivos se
acham necessariamente coordenados. Tal unidade a do ponto de vista
espiritual, em si mesmo, que germe da Revelao. A causa primeira da
Revelao no , de modo algum, assimilvel a um ponto de vista, tal como a luz
nada significa para a situao espacial do olho. Mas o que constitui toda a
Revelao precisamente o encontro entre a nica Luz e uma
ordem contingente e limitada que representa como que um plano de refraco
espiritual fora do qual no h Revelao. Antes de considerarmos a relao
que existe entre cristianismo e islamismo, seria oportuno notarmos que o
esprito ocidental quase todo de
essncia crist no que tem de verdadeiramente positivo. No est no poder do
homem desfazer-se de uma hereditariedade to profunda, servindo-se de meros
artifcios ideolgicos. A sua inteligncia exerce-se segundo
hbitos seculares, mesmo quando inventa erros. No podemos esquecer a
sua formao intelectual e mental, por muito diminuda que seja. Se assim
e se algo do ponto de vista tradicional subsiste inconscientemente em
quem pensa ter-se libertado de todos os seus elos ou, por imparcialidade,
se coloca fora do ponto de vista cristo, como podemos esperar que elementos de
outra religio sejam interpretados no seu verdadeiro sentido?
No flagrante que opinies correntes sobre o islamismo sejam sensivelmente as
mesmas na maior parte dos Ocidentais, digam-se cristos ou se
gabem de j no o serem? Nem os prprios erros filosficos seriam concebveis se
no representassem a negao de certas verdades e tais negaes
no fossem reaces directas ou indirectas a limitaes formais da religio. Por
a se v que nenhum erro, seja qual for a sua natureza, pode aspirar a uma
perfeita independncia face concepo tradicional que rejeita ou desfigura.
Uma religio comparvel a um organismo vivo, que se desenvolve segundo leis
necessrias e precisas. Poderamos, portanto, chamar-lhe um
organismo espiritual, ou social no seu aspecto mais exterior; mas sempre
um organismo, e no uma construo de convenes arbitrrias. No podemos, pois,
legitimamente considerar os elementos constitutivos de uma
religio fora da sua unidade interna, como se fossem factos sem importncia.
Esse erro frequentemente cometido, mesmo pelos mais imparciais,
106
A Unidade Transcendente das Religies
ao estabelecerem correspondncias externas sem terem em conta que o
elemento tradicional determinado pelo ponto de partida da religio integral e
um mesmo elemento, personagem ou livro, pode ter significados diferentes de uma
religio para outra. Ilustrmos tais observaes, considerando paralelamente
elementos fundamentais das tradies crist e muulmana. A incompreenso
habitual e
recproca dos representantes das duas religies revela-se nos mais nfimos
pormenores, como ao chamar *maometano+ a um muulmano, transposio imprpria
da apelidaro de *cristo+. Se esta ltima convm perfeitamente,aos fii; da
religio que, fundada por Cristo, o perpetua na Eucaristia e no Corpo Mstico,
no correcta quando aplicada aos islamitas,
cuja f no assenta imediatamente no Profeta, mas sim no Alcoro, afirmao da
Unidade Divina, que no consiste numa perpetuao de Maom, mas na conformidade
ritual e espiritual do homem e da sociedade
Lei cornica, Unidade. Por outro lado, o termo rabe mushrikn,
*aqueles que associam (falsas divindades a Deus)+, referido aos cristos,
esquece que o cristianismo apenas no repousa imediatamente na ideia de
Unidade, j que o seu fundamento essencialmente o mistrio de Cristo,
mas sendo mushrikn um termo sagrado - no seu sentido cornico -
evidentemente o suporte de uma verdade que ultrapassa o facto histrico
da religio crist. Os factos tm alis no islo um papel muito menos relevante
do que no cristianismo, cuja base essencialmente um facto, e no
uma ideia, como acontece no islo. a que se manifesta, em suma, a divergncia
fundamental entre as duas formas tradicionais. Para o cristo,
tudo gira em torno da Encarnao e na Redeno. Cristo absorve tudo
mesmo a ideia de Princpio Divino, que aparece sob um aspecto trinitrio,
e de humanidade, que se torna seu Corpo Mstico ou Igreja militante, padecente e
triunfante. Para o muulmano, tudo se centra em A11^ o Princpio Divino visto no
Seu aspecto de Unidade' e Transcendncia, e na
conformidade, no abandono a ele: el-Islm. No centro da doutrina crist
est o Homem-Deus: o homem universalizado o Filho, a segunda Pessoa
da Santssima Trindade. Deus individualizado Cristo Jesus. O islo no
atribui tal importncia ao intermedirio. No ele que absorve tudo: s a
Afirma-se expressamente, neste credo islmico, que o Fikh el-akbar de Abu
Hanifa,
que Allh no um em sentido numrico, mas por no ter quem se lhe compare.
107
119
Frithjof Schuon
concepo monotesta da Divindade est no centro da doutrina islmica e
a comanda inteiramente. A importncia dada pelo islo ideia de Unidade pode
parecer, do
ponto de vista cristo, suprflua e estril, ou mesmo um pleonasmo da
tradio judaico-crist. Esquece-se que a espontaneidade e a vitalidade da
religio islmica no pode ser efeito de um emprstimo e que a originalidade
intelectual dos muulmanos s pode provir de uma Revelao. Se no
islo a ideia de Unidade suporte da espiritualidade e, em certa medida,
de aplicao social, o mesmo no se passa com o cristianismo: o seu ponto
central, como j dissemos, a doutrina da Encarnao e da Redeno,
concebida de modo universal na Santssima Trindade, no tendo aplicao
humana a no ser nos Sacramentos e na participao no Corpo Mstico de
Cristo. O cristianismo, tanto quanto a histria nos permite julgar, jamais
teve uma aplicao social no sentido pleno do termo. Nunca integrou em
si inteiramente a sociedade dos homens. Colocou-se, como Igreja, acima
dos homens, sem os envolver nem lhes atribuir funes que lhes permitissem
participar mais directamente na sua vida interna. No consagrou os
factos humanos de modo suficiente. Deixou os elementos laicos fora de si,
reservando-lhes uma participao mais o menos passiva na tradio. assim que
se apresenta a organizao do mundo cristo segundo a perspectiva muulmana. No
islo, cada homem padre de si mesmo, pelo simples
facto de ser muulmano. o patriarca, o imm ou o califa da sua famlia.
Esta reflexo de toda a sociedade islmica. O homem uma unidade,
ima em do Criador, de quem *vigrio+ (khalifah) na Terra. No poderia
9
portanto ser leigo. Tambm a famlia una: uma sociedade dentro da sociedade,
um bloco impenetrveV, semelhana do homem responsvel e
submisso, o muslim, e do mundo muulmano, que de uma homogeneidade e
estabilidade quase incorruptveis. O homem, a famlia e a sociedade so forjados
na ideia de Unidade como suas mltiplas adaptaes. So
unidades como Affih e a Sua Palavra, o Alcoro. Os cristos no podem
O smbolo supremo do islo, a ka'bah, um bloco quadrado, exprimindo o
nmero
quatro, o da estabilidade. O muulmano pode constituir famlia at quatro
esposas: estas representam a substncia da famlia, ou a prpria substncia
social, e so excludas
da vida pblica. O homem , na sociedade islmica, uma unidade fechada. A casa
rabe traada segundo a mesma ideia: quadrada, uniforme, fechada para o
exterior,
ornada no interior e aberta sobre um ptio.
108
A Unidade Transcendente das Religies
reclamar-se da ideia de Unidade ao mesmo ttulo que os muulmanos.
O conceito de Redeno no se associa necessariamente ao de Unidade
Divina. Poderia subsistir numa doutrina politesta. A Unidade Divina,
que o cristianismo teoricamente admite, no aparece nele como um elemento
*dinmico+. A santidade crist, a participao perfeita no Corpo
Mstico de Cristo, s indirectamente procede desta ideia. Tal como a doutrina
islmica, a doutrina crist parte de uma noo testa, mas insiste expressamente
no aspecto trinitrio de Deus. Ele quem encarna e resgata
o mundo. o Princpio que desce ao manifesto para restabelecer nele o
equilbrio interrompido. Na doutrina islmica, Deus afirma-se pela Unidade. Ele
no encarna por uma distino intrnseca. Ele no resgata o mundo. Ele absorve-o
pelo islo. Ele no desce ao manifesto, projecta-se nele, como o sol se projecta
pela luz. essa projeco que permite
humanidade participar nele. Acontece que certos muulmanos, para quem o
Alcoro significa tanto
como Cristo para os cristos, acusam estes de no possurem um Livro
equivalente ao seu, ou seja, um nico compndio doutrinal e legislativo,
escrito na lngua em que foi revelado. Na pluralidade dos Evangelhos e
dos textos neotestamentrios vem a marca de uma diviso, agravada pelo
facto de esses escritos no se conservarem na lngua em que Jesus falava,
mas numa lngua no-semtica, ou traduzidos desse para outro idioma,
igualmente estranho aos povos sados de Abrao, e apontam o facto de
esses textos serem traduzidos para qualquer lngua estrangeira. Postura
to confusa como censurar o Profeta por ser um simples mortal. De facto,
se o Alcoro Palavra Divina ' tambm Cristo, vivo na Eucaristia, o
Verbo Divino, e no o Novo Testamento. Este desempenha somente uma
funo de suporte da mensagem divina, no sendo ele a mensagem em si.
A lembrana, o exemplo e a intercesso -do Profeta esto subordinados ao
Livro revelado. O islo um bloco espiritual, religioso e social.' A Igreja
um centro,
e no um bloco. O cristo leigo , por definio, um ser perifrico. O
muulmano, pelo seu carcter sacerdotal, um ser central dentro da sua tra
' Um bloco, imagem da unidade. A unidade simples e, por consequncia,
indivisvel.
Como nota um antigo alto funcionrio ingls no Egipto, *o islo no pode ser
reformado. Um slo reformado j no seria o islo. Seria outra coisa+.
109
Frithjof Schon
dio e pouco importa que esteja exteriormente separado da comunidade
a que pertence. Ele padre de si mesmo e unidade autnoma, pelo menos do ponto
de vista religioso. Da deriva a convico profunda do muulmano. A f do
cristo de outra natureza: ela *atrai+ e *absorve+ a alma, mais do que a
*engloba+ e *penetra+. O cristo, segundo o ponto de
vista muulmano, s pelos Sacramentos se liga tradio. Acha-se sempre
relativamente excludo, conservando uma atitude de receptividade. Na
Cruz, seu smbolo supremo, os ramos afastam-se indefinidamente do centro, embora
a ele sempre ligados. Na ka'bah, smbolo do islo, o todo reflecte-se na mais
nfima parte que, pela sua coeso interna, permanece
idntica s restantes partes e ka'bah em si mesma. As correspondncia entre
os elementos tradicionais acima referidos no
excluem outras de pontos de vista diferentes. Assim, a analogia entre o
Novo Testamento e o Alcoro permanece real na sua ordem, tal como
Cristo e o Profeta correspondem analogicamente um ao outro. Se negar
tais correspondncias afirmar que existem semelhanas desprovidas de
sentido, tambm proceder de modo exterior ou sincretista s mesmas,
quase sempre em prejuizo de um dos elementos em presena, tirar valor
real ao resultado de tais comparaes. Existem, com efeito, dois tipos de
correspondncias tradicionais: por um lado, as fundadas na natureza fenoinnica
dos elementos; por outro, as derivadas da estrutura interna de cada religio. No
primeiro sentido, ser algo como um livro, um rito, uma
instituio, uma personagem; no segundo, um ou outro significado orgnico dentro
de uma tradio. a analogia que existe entre os pontos de vista fsico e
espiritual: para o, primeiro, um objecto permanece sempre o
mesmo, podendo mudar de aspecto ou de importncia segundo as vrias
perspectivas - lei facilmente transponvel para a ordem espiritual.
Importa precisar que, em todas estas consideraes, abordamos exclusivamente
as religies enquanto tais, ou seja, enquanto organismos, no
nos referindo s suas possibilidades puramente espirituais, que so em
princpio idnticas. evidente que a no pode intervir qualquer questo
de preferncia. Se o islo, enquanto organismo tradicional, mais homogneo e
mais intimamente coerente do que a forma crist, esse um fac 110
A Unidade Transcendente das Religies
tor muito contingente. Note-se, por outro lado, que o carcter solar de
Cristo no confere ao cristianismo superioridade sobre o islamismo. Mais
tarde explicaremos porqu, limitando-nos agora a recordar que cada forma
tradicional necessariamente superior s outras, sob um aspecto determinado
quanto sua manifestao - no quan ' to sua essncia ou
possibilidades espirituais. Aos que, para julgar a forma islmica, se querem
apoiar em comparaes superficiais e forosamente arbitrrias, partindo da forma
crist, diremos que o islo, por corresponder a uma possibilidade espiritual,
tem tudo o que necessita para manifestar tal
possibilidade. Do mesmo modo, o Profeta, longe de ter sido apenas um
imitador imperfeito de Cristo, foi tudo o que devia ser para realizar a
possibilidade espiritual representada pelo islo. Se o Profeta no Cristo ou
se aparece sob um aspecto mais humano, porque a razo de ser do islamismo no
assenta numa ideia crstica ou *avatrica+, mas numa noo
que deve mesmo excluir aquela. A ideia, realizada pelo islamismo e pelo
Profeta, a da exclusiva Unidade Divina, cujo carcter de absoluta
transcendncia implica - para o mundo criado ou manifesto - um correlativo
aspecto de imperfeio. Foi o que permitiu aos muulmanos servirem-se,
desde o incio, de meios humanos como a guerra para constituir o seu
mundo tradicional, enquanto para o cristianismo foi preciso uma distncia
de sculos, desde os tempos apostlicos, para que se servisse do mesmo
meio, to indispensvel na propagao da f. As guerras, levadas a cabo
pelos Companheiros do Profeta, foram ordlios tendo em vista a elaborao ou
cristalizao dos aspectos formais de um mundo novo. O dio nada tem a ver com
isso e os santos homens, que assim combateram, longe
de lutarem contra indivduospr interesses humanos, agiram dentro do
esprito da Bhagavad-Gita: Krishna quem incita Arjuna a combater; no
a odiar nem a vencer, mas a cumprir o seu destino, como instrumento do
plano divino, sem se apegar ao fruto das obras. Tal luta de pontos de vista,
quando se constitui um mundo tradicional, reflecte a concorrncia
principal das possibilidades de manifestao que ocorre quando do caos
surge um cosmos. Era da natureza do islo ou da sua misso colocar-se,
desde incio, em terreno poltico, no que respeita sua afirmao exterior, o
que teria sido no apenas contrrio natureza ou misso do cristianismo
primitivo, mas totalmente irrealizvel num ambiente to slido e
Frithjof Schuon
to estvel como o Imprio Romano. Mas, desde que o cristianismo se tornou
religio do Estado, no apenas pde como teve de se colocar em terreno poltico,
tal como fez o islamismo. As vicissitudes que se deram, no,islo, a partir da
morte do Profeta, no so certamente imputveis a uma insuficincia espiritual,
so sim imperfeies inerentes poltica enJ@ quanto tal. O facto de o islo se
ter imposto exteriormente por meios hu manos tem como nico fundamento o Querer
Divino que no quis interfe rncias esotricas na estruturao terrestre da
nova forma tradicional. Quanto diferena entre Cristo e o Profeta, podemos
adiantar que os grandes mestres espirituais, independentemente dos respectivos
graus, manifestaram quer uma sublimao quer uma norma. A primeira, no caso de
Buda ou de Cristo, como em todos os santos mon es ou eremitas; a se gunda, no
caso de Abrao, de Moiss ou Maorn, como em todos os san tos que viveram no
mundo, por exemplo os santos, monarcas ou guerrei ros. A atitude de uns
corresponde palavra de Cristo: *O Meu Reino no deste mundo+; a atitude dos
outros, palavra: *Venha a ns o Vosso Reino+. Os que crem deve negar ao
Profeta do islo qualquer legitimidade, in vocando argumentos de ordem moral,
esquecem-se de que a nica ques to que se coloca saber se Maorn foi ou no
inspirado por Deus, no se comparvel a Cristo ou se agiu de acordo com uma
moral estabelecido. Quando se nos pe o problema de Deus ter permitido aos
Hebreus,a poli gamia ou ordenado a Moiss que passasse o povo de Cana ao fio
da es pada, a questo da moralidade de tais modos de agir no se coloca de ma
neira alguma. O que conta exclusivamente a Vontade Divina, cujo fim
invarivel, mas cujos meios ou modos variam em razo da Infinidade da sua
Possibilidade ou, secundariamente, em razo da indefinida diversida de das
contingncias. Do outro lado cristo, censuram-se frequentemente ao Profeta
factos como a destruio da tribo dos Coraiditas. Mas esquece -se que qualquer
Profeta de Israel teria agido mais duramente do que ele. Seria bom lembrarmo-nos
de como Samuel, por ordem de Deus, agiu pa ra com os Amalecitas e o seu rei.
Tanto o caso dos Coraiditas como o dos Fariseus oferece um exemplo de
*discernimento dos espritos+, quase au tomtico para quem em contacto com
manifestaes de Luz. Por muito neutro que possa parecer um indivduo colocado
no meio do caos ou da
112
A Unidade Transcendente das Religies
indiferena de que o Prximo Oriente do tempo de Maom fornece uma
imagem bem caracterstica - igual de todos os meios em que se d uma
reforma religiosa -, o seu estado de esprito actualiza-se espontaneamente
perante a alternativa de contacto com a Luz. Isso explica por que motivo se
abrem as portas do Inferno, sempre que as portas dos Cus se descerram para
derramar a Revelao; tambm na ordem sensvel, toda a luz
projecta uma sombra. Se Maom fosse um falso profeta, no entendemos porque
Cristo no
falaria dele, como falou do Anticristo. Mas se um verdadeiro Profeta, as
passagens sobre o Paracleto devem - no exclusivamente, mas eminentemente -
respeitar-lhe, pois impossvel que Cristo, ao falar do futuro, tivesse passado
em silncio sobre um fenmeno de tais dimenses. isso
tambm que exclui a priori que Cristo, nas suas predies, tenha podido
englobar Maom no nmero dos *falsos profetas+. Maom no foi de modo algum, na
histria da nosssa era, um exemplo entre outros do gnero.
Foi, pelo contrrio, nico e incomparvel'. Se fosse um dos falsos profetas
*Se a grandeza do desgnio, a exiguidade dos meios e a imensido dos
resultados so
as trs medidas do gnio humano, quem ousaria comparar um grande vulto da
histria
moderna a Maom? De entre estes, os mais famosos apenas moveram armas, leis e
imprios. Se algo fundaram, foi poderios materiais que, multas vezes, desabaram
antes
deles. Aquele moveu exrcitos, legislaes, imprios, povos, dinastias, milhes
de homens, num tero do globo habitado. Moveu ainda ideias, crenas, almas.
Fundou uma
nao espiritual sobre um livro, de que cada letra se tornou lei. Entre povos de
todas
as lnguas e raas imprimiu com carcter indelvel o dio s falsas divindades e
a paixo pelo Deus uno, imatera1.+ (Lamartine, Histore de la Turquie.) *A
conquista rabe desencadeado simultaneamente sobre a Europa e a Asia no conhece
precedentes. A rapidez dos seus sucessos somente comparvel quela com que
se constituram os Imprios Mongis de um Atila, ou mais tarde de um Gengisco
ou
de um Tamerlo. Estes, porm, foram muito efmeros, enquanto a conquista do
islo
foi duradoura. Esta religio conta com fiis em quase toda a parte onde se imps
desde
os primeiros califas. Foi um verdadeiro milagre a sua difuso fulminante,
comparada
lenta progresso do cristianismos (H. Pirenne, Mahomet et Charlemagne.) *A
fora de nada serviu na propagao do Alcoro, pois os Arabes sempre concederam
aos vencidos liberdade de religio. Se os povos cristos se converteram f dos
vencedores, foi porque os novos conquistadores se mostraram mais justos para com
eles do que os antigos mestres e porque a nova religio era mais simples do que
a que
lhes havia sido ensinada at ento... Longe de se impor pela fora, o Alcoro
difundiu-se pela persuaso... S esta poderia levar povos que mais tarde
venceram os Arabes,
113
Frithjof Schon
anunciados, ter-se-iam seguido outros e, nos nossos dias, haveria uma
grande quantidade de falsas religies posteriores a Cristo, comparveis,
pela sua importncia e extenso, ao islamismo. A espiritualidade, patente
no islamismo, desde as origens at aos nossos dias, um facto inegvel:
e *pelos seus frutos os reconhecereis+. Recordemo-nos alis de que o
Profeta deu testemunho, na sua prpria doutrina, da segunda vinda de
Cristo, sem atribuir a si mesmo qualquer glria, que no seja a de ltimo
Profeta deste ciclo. E a histria demonstra que falou verdade, pois no
houve depois dele manifestao igual sua. Enfim, indispensvel agora
dizer algo sobre o modo como o islo encara a sexualidade: se a moral muulmana
difere da crist - no quanto
Guerra Santa nem quanto escravatura, mas s quanto poligamia e ao
divrcio' -, porque deriva de um outro aspecto da Verdade Total.
O cristianismo, como alis o budismo, v na sexualidade apenas o lado
carnal, substancial ou quantitativo. O islo, pelo contrrio, semelhana
do judafsmo e da tradio hindu e chinesa - no de certas vias espirituais
que rejeitam o amor sexual por razes de mtodo -, v na sexualidade o
aspecto essencial, qualitativo, csmico; a santificaro confere ao sexo uma
qualidade que ultrapassa a sua dimenso carnal, neutralizando-a ou mesmo
abolindo-a, como no caso das cassandras e das sibilas, na Antiguida
como os Turcos e os Mongis, a adoptar o islamismo. Na ndia, onde os Arabes no
se
chegaram a instalar, o Alcoro espalhou-se de tal modo que conta hoje (1884) com
mais de cinquenta milhes de adeptos. O seu nmero aumenta cada dia... A difuso
do
Alcoro na China no foi menos considervel. Embora os Arabes no hajam nunca
conquistado uma parcela mnima do imprio Celeste, os muulmanos formam hoje a
uma populao de mais de vinte milhes.+ (G. Le Bon, La Civilisation des
Arabes.)
1 A poligamia entre os povos do Mdio Oriente - povos, por sinal, guerreiros -
era
factor determinante para a subsistncia das mulheres, quando os homens morriam
dizimados pela guerra. A isso acrescia ainda a grande mortalidade infantil, de
modo que a
poligamia se impunha mesmo para a conservao da raa. O divrcio deve-se
separao entre ambos os sexos que no permite que os cnjuges se conheam
suficientemente bem antes do casamento. Tal separao justifica-se pelo
temperamento sensual dos
Arabes e dos povos meridionais em geral. O que acabmos de dizer explica o uso
do
vu por parte das muulmanas e tambm o purdah das hindus de casta alta. O facto
de
o vu ser usado apenas no islo, a tradio mais tardia, e o purdah s
tardiamente ter
sido institudo no hindusmo mostra bem que tais medidas s se explicam pelas
condies particulares do fim da *idade de ferro+. Pela mesma razo, as
mulheres foram excludas de certos ritos bramnicos a que primitivamente tinham
acesso.
114
A Unidade Transcendente das Religies
de, do Shri Chakra tntrico e de grandes mestre espirituais, de que convm
citar o exemplo de Salomo e Maom. Por outras palavras, a sexualidade
pode ter uma conotao de nobreza como de impureza, um sentido vertical como
horizontal, para falarmos em simbolismo geomtrico. A carne ,
por si mesma, impura, quer haja ou no sexualidade, e o sexo, nobre em
si mesmo, tanto na carne como fora dela. A nobreza na sexualidade deriva do seu
Prottipo Divino: *Deus Amor+. Em termos islmicos, diramos que *Deus
Unidade+, e que o amor, sendo um modo de unio
(tawhid), conformidade natureza divina. O amor pode santificar a carne, como
a carne aviltar o amor. O islo insiste na primeira destas verdades, enquanto o
cristianismo insistir de preferncia na segunda, exceptuando, como bvio, o
Sacramento do Matrimnio, onde forosa e
pontualmente ele se associa perspectiva judaico-islmica.
Propomo-nos agora mostrar em que consiste na verdade a diferena entre a
manifestao crstica e a inaornetana. Importa todavia sublinhar que
tais diferenas dizem respeito apenas manifestao dos homens de Deus,
e no sua realidade interior e divina que idntica, e que mestre Eckhart
enuncia nestes termos: *Tudo o que a Sagrada Escritura afirma sobre
Cristo verifica-se igualmente, na totalidade, em todo o homem bom e divino+, ou
seja, em todo o homem que possua a plenitude da realizao espiritual, segundo a
*amplitude+ e a *exaltao+. E Shri Rmakrishna:
*No Absoluto, eu no sou, e tu no s, e Deus no , porque Ele (o Absoluto)
est alm da palavra e do pensamento. Mas, enquanto existir algo
fora de mim, devo adorar Brafima, nos limites do mental, como algo fora
de mim+. Este ensinamento explica, por um lado, como Cristo foi capaz
de rezar sendo divino e, por outro, como o Profeta, manifestando-se
expressamente como homem, pde ser divino na sua realidade interior. Nesta ordem
de ideias, devemos atender ao seguinte: o dogmatismo funda-se
essencialmente num *facto+ a que atribui carcter absoluto; por exemplo,
a perspectiva crist assenta no estado espiritual supremo, realizado por
Cristo e inacessvel ao individualismo mstico, mas atribui-o s a Cristo,
donde a negao, pela teologia, da Unio metafisica ou da Viso beatfica
115
Frithjof Schuon
j nesta vida. O esoterismo, pela voz de mestre Eckhart, reconduz o Mistrio da
Encarnao ordem das leis espirituais, atribuindo ao homem
que atingiu a santidade suprema as caractersticas de Cristo, excepto a
misso proftica, ou antes, redentora. Um exemplo anlogo o de certos
sufis que reivindicam para alguns dos seus escritos inspirao idntica do
Alcoro. Ora, tal grau de inspirao no atribudo, no islo exotrico,
seno ao Profeta, conforme a perspectiva dogmatista que sempre se funda
num *facto transcendentes que reivindica exclusivamente para tal ou tal
manifestao do Verbo. Aludimos j ao facto de o Alcoro, que corresponde ao
Cristo-Eucaristia, constituir a grande manifestao paracltica, a *descida+
(tanzio do Esprito Santo (Er-Rh, designado pelo nome de Jibril na sua funo
reveladora). O papel do Profeta pode assim ser entendido como
anlogo ou simbolicamente idntico ao da Virgem Santssima, ela tambm
receptara do Verbo de Deus. E tal como a Vir em, fecundada pelo Esp9
rito Santo, *Corredentora+ e *Rainha do Cu+, criada antes de toda a
Criao, tambm o Profeta, inspirado pelo mesmo Paracleto, *Apstolo
de Misericrdia+ (Rasl Er-Rahmah) e *Senhor das duas existncias+
(Sayid el-kawnayn) - do *aqum+ e do *alm+ -, criado antes de todos
os seres. Esta *criao anterior+ significa que a Virgem e o Profeta encarnam
uma realidade principal ou metacsmica'. Eles identificam-se -- no
seu papel receptivo, no no seu Conhecimento Divino nem, no que respeita a
Maorn, na sua funo proftica - com o aspecto passivo da Existncia Universal
(Prakriti, em rabe: El-Lawh el-mahfzh, *a Mesa Guardada+). Por isso, a Virgem
*imaculada+, *Virgem+ do ponto de vista
puramente fsico, e o Profeta *iletrado+ (ummi), como o eram alis os
Apstolos, puros da mcula do saber humano ou de um saber humana A opinio
que faz de Cristo a nona encarnao de Vishnu - a Mleccha-Avatra, *descida
divina entre (ou para) os Brbaros+ - de rejeitar, primeiro por uma razo de
facto tradicional e depois por uma razo de princpio: Buda sempre foi
considerado pelos hindus como um Avatra, mas como o hindusmo devia excluir o
budismo, explicava-se a aparente heresia budista pela necessidade de abolir os
sacrifcios sangrentos e
de induzir em erro os homens corrompidos a fim de precipitar a chegada fatal do
kali-yuga. Em segundo lugar, impossvel que um ser, que encontra o seu lugar
*orgnico+
no sistema hindu, pertena a um mundo que no a ndia, sobretudo um mundo to
distante como o mundo judaico.
116
A Unidade Transcendente das Religies
mente adquirido. Tal pureza condio primordial para a recepo do
Dom paracltco e, ainda na ordem espiritual, a castidade, a pobreza, a
humildade e outras formas de simplicidade ou unidade, indispensveis para a
recepo da Luz Divina. Para precisar ainda a relao de analogia entre a Virgem
e o Profeta, acrescentaremos que este ltimo, no estado em
que se achava mergulhado ao receber as Revelaes, podia ser directamente
comparvel Virgem, carregando em si ou dando luz o Menino-Deus. Mas, devido
sua funo proftica, Maorn realiza uma dimenso
nova e activa, pela qual - ao proclamar os versos do Alcoro ou ao deixar o *Eu
Divino+ falar pela sua boca - se identifica directamente com
Cristo, que o que para o Profeta a Revelao e de quem, por consequncia,
cada palavra Palavra Divina. No Profeta, s as *palavtas do
Santssimo+ (ahdith quddsiyah) apresentam, fora do Alcoro, este carcter
divino. As duas outras palavras tm um grau de inspirao secundrio (nafath
Er-Rh, a Smriti hindu), como certas partes do Novo Testamento, nomeadamente as
Epstolas'. Mas voltemos *pureza+ do
Profeta: encontramos nele o equivalente exacto da *Imaculada Concei~
o+. Segundo a narrao tradicional, dois Anjos fenderam o peito do
menino Maom e lavaram-lhe, com neve, o *pecado original+, que apareceu sob a
forma de uma mancha negra sobre o corao. Maom, como
Maria ou a *natureza humana+ de Jesus, no portanto um homem comum, e por
isso se diz que *Maom um homem (simples), no como um
homem (vulgar), mas como uma jia entre as pedras (vulgares)+ (Muhammadun
basharun l kal-bashari bal hua kal-yaqti bayn al-hajar). O que
nos faz pensar na frmula da Ave-Maria: *Bendita sois entre as mulheres+,
indicando que a Virgem, em si mesma e independentemente da aco do Esprito
Santo, uma *'jia+ em relao s outras criaturas, portanto algo como uma
*norma sublime+. Em certo sentido, a Virgem e o Profeta *encarnam+ o aspecto
- ou o
*plo+ - passivo/*feminino+ da Existncia Universal (Prakriti). Encarnam, por
isso, a fortiori, o lado benfico e misericordioso de Prakriti',
o que explica a sua importante funo *intercessora+ e os ttulos como
Opinio do autor, no partilhada por nenhuma igreja crist (N. do T.). A
Kwan-Yin do budismo extremo-oriental, derivada do Bodhisattva Avalokiteshvara,
o *Senhor de olhar misericordiosos
117
Il@
Frithjof Schuon
*Me de Misericrdia+ (Mater Misericordiae.), *Nossa Senhora do Perptuo
Socorro+ ou, no que respeita ao Profeta, *Chave da Misericrdia de
Deus+ (Mifth Rahmat Allh), *Misericordioso+ (Rahim), *Curador+
(Shafi'), *Consolador+ (Kshif el-kurab), *O que tira os pecados+
(Afuww) ou a *mais bela criao de Deus+. (Ajmalu khalq Allh). Que
relao existe entre a misericrdia, o perdo, o benefcio e a Existncia
Universal? Sendo a Existncia indiferenciada, virgem e pura, em relao
s suas produes, capaz de reabsorver na indiferenciao as qualidades
diferenciadas das coisas. Por outras palavras, os desequilbrios da manifestao
podem sempre ser integrados no equilbrio principal. Todo o *mal+
provm de uma qualidade csmica (guna), de uma ruptura no equilbrio:
com ' o a Existncia traz em si todas as qualidades em equilbrio
indiferenciado, pode dissolver na sua infinidade todas as vicissitudes do mundo.
A existncia realmente *Virgem+ e *Me+, j que, por um lado, nada a
determina, a no ser Deus, e, por outro, d luz o Universo manifesto:
Maria *Virgem-Me+ pelo Mistrio da Encarnao. Maorn *virgem+,
*iletrado+, porque s de Deus recebe inspirao, nada recebendo dos homens;
*me+, pelo seu poder intercessor junto de Deus. As personificaes, humanas ou
anglicas, da divina Prakriti comportam essencialmente
aspectos de pureza e amor. Os aspectos de Graa ou de Misericrdia da
Divindade, virginal e materna, explicam o gosto desta em se manifestar
de modo sensvel, sob a forma de uma apario humana, acessvel aos homens: as
aparies da Virgem so conhecidas de todos no Ocidente, e
quanto s do Profeta, so frequentes e quase regulares entre os muulmanos mais
espiritualizados. Existem mesmo mtodos para obter essa graa,
que equivale, em suma, a uma concretizo da viso beatfica'. O Profeta,
no ocupando no Islo o lugar que Cristo ocupa no cristianismo, no tem uma
situao menos central na perspectiva islmica. Resta-nos precisar por que
motivo pode e deve ser assim e de que maneira o
islo integra, na sua perspectiva, a Cristo, reconhecendo-lhe, atravs do
1 Lembremo-nos a propsito das aparies da Shakti no hindusmo - em Shri
Rmakrishna e Shri Srad Devi, por exemplo - ou a de Kwan-Yin ou Kwannon nas
tradies do Extremo Oriente, por exemplo em Shonin Shinran, grande santo
budista do
Japo. Sabemos, por outro lado, que no judasmo a Shekhinah aparece sob a forma
de
uma mulher bela e clemente.
118
A Unidade Transcendente das Religies
nascimento virginal, o seu carcter solar: o Verbo, nesta perspectiva, no
se manifesta num homem isolado, mas sim na funo proftica - no sentido mais
elevado do termo - e sobretudo nos Livros revelados. Ora,
sendo real a funo proftica de Maom, e o Alcoro uma verdadeira Revelao, os
muulmanos, que s admitem estes dois critrios, no vem
razo para preferir Jesus a Maoin. Do, pelo contrrio, ao ltimo a
precedncia, pela simples razo que, sendo o ltimo representante da funo
proftica, recapitula e sintetiza todos os modos desta e fecha o ciclo da
manifestao do Verbo, donde o nome de *Selo dos Profetas+ (Khtam el-anbiy).
esta situao nica que confere a Maom a posio central
que o islamismo lhe reconhece e que permite chamar ao prprio Verbo,
Luz maometana (Nr muhammadi). O facto de a perspectiva islmica s encarar a
Revelao enquanto tal e
no os seus modos possveis explica por que motivo esta perspectiva no
atribui aos milagres de Cristo a importncia que lhes atribui o cristianismo: de
facto, todos os *Enviados+, incluindo Maoin, fizeram milagres
(mu'jizt)'; a diferena, neste aspecto, entre Cristo e os restantes *Enviados+
que s em Cristo o milagre tem uma importncia central e operado por Deus
*no+ suporte humano, e no apenas *atravs+ desse suporte.
O papel do milagre em Cristo e no cristianismo explica-se pelo carcter
particular que constitui a razo de ser desta forma de Revelao e que
explicaremos no captulo seguinte. No que respeita ao ponto de vista islmico,
no so os milagres que importam acima de tudo, mas o carcter divino da misso
do Enviado, independentemente do grau de importncia que
o milagre tenha nessa misso. Poderamos dizer que a particularidade do
cristianismo que este se funda no milagre, perpetuado na Eucaristia, enquanto
o islo se funda numa ideia, apoiada em meios humanos, com a
A maior parte dos arabistas, se no todos, deduz falsamente a partir de
diversas passagens cornicas que o Profeta no teria feito qualquer milagre, o
que contrariado
no s pelos comentadores tradicionais do Alcoro, mas tambm pela Sunnah que
constitui o pilar da ortodoxia islmica. Quanto ao carcter *avatrico+ do
Profeta, para alm dos critrios infalveis de ordem mais profunda, ele
evidencia-se a partir dos sinais que, segundo a Sunnah, precederam e
acompanharam o seu nascimento, e que so iguais aos que a tradio faz constar a
respeito de Cristo ou de Buda.
119
Frithjof Schuon
ajuda divina, perpetuando-se na Revelao cornica, onde a orao ritual
de algum modo a actualizaro incessantemente renovada. J demos a entender
mais acima que, na sua realidade interior, Maorn
se identifica com o Verbo, tal como Cristo e - fora da perspectiva
especificamente dogmatista - todo o ser que atinge a plenitude da realizao
metafisica. Donde, estes ahdith: *Quem me viu, viu a Deus (no seu aspecto de
verdade absoluta)+ (Man ra'ni faqad r' al-Haqq), e: *Ele
(Maom) era Profeta (Verbo) quando Ado estava ainda entre a gua e a
lama+ (Fakna nabiyen wa Adamu baynal-m'i wat-tin), palavras que podemos
comparar s de Cristo: *Eu e o Pai somos um s+, e: *Na verdade,
antes de Abrao ser, Eu sou+.
120
VIII NATUREZA PARTICULAR E UNIVERSALIDADE DA TRADIO CRIST
Aquilo que, falta de melhor, somos
obrigados a designar por exoterismo cristo no estritamente anlogo
aos exoterismos judaico e muulmano, tanto na origem como na estrutura. Enquanto
estes foram institudos como tais desde o princpio, fazendo
parte da Revelao e a se distinguindo claramente do elemento esotrico,
o que viria a tornar-se o exoterismo cristo no aparece como tal na Revelao
crstica ou manifesta-se a pontualmente. verdade que os textos mais
antigos, nomeadamente as Epstolas de
So Paulo, deixam entrever um modo exotrco ou dogmatista. o que
acontece quando a relao hierrquica entre o esoterismo e exoterismo
como se apresenta como uma relao histrica entre a Nova e a Antiga
Aliana, identificando-se uma com a *letra que mata+ e a outra com o
*esprito que d vida'+. Tal distino no tem em conta a realidade integral da
Antiga Aliana, nem o que equivale Nova Aliana que apenas
uma sua variante ou adaptao. Este exemplo mostra como o ponto de
vista dogmatista ou teolgico', em vez de abranger integralmente a verda A
interpretao exotrica desta expresso equivale a um verdadeiro suicdio, pois
acaba por se voltar inevitavelmente contra o exoterismo que a anexou. Foi o que
demonstrou a Reforma, que avidamente se apoderou de tal palavra (11 Cor., 3:6)
para fazer
dela a sua principal arma, usurpando assim o lugar que deveria normalmente
pertencer
ao esoterismo. O cristianismo herdeiro do judasmo, cuja forma coincide com
a origem deste ponto
121
Frithjof Schuon
de, escolhe, por razes de oportunidade, um s aspecto da mesma, atribuindo -lhe
um carcter exclusivo e absoluto. No devemos esquecer que,
sem esse carcter do mtico, a verdade religiosa seria ineficaz quanto ao
9
fim particular a que o seu ponto de vista se prope em virtude das ditas
razes de oportunidade. Existe pois aqui uma dupla restrio da verdade
pura: por um lado atribui-se a um aspecto da verdade o carcter de verdade
integral; por outro, atribui-se ao relativo um carcter absoluto. Para
alm disso, tal perspectiva oportunista traz consigo a negao de tudo o
que, no sendo acessvel nem indispensvel a todos sem distino, ultrapassa a
razo de ser do ponto de vista teolgico, ficando fora deste, donde
as simplificaes e snteses simblicas prprias ao exoterismo'. Mencione-se
ainda, como caracterstica destas doutrinas, a assimilao de factos histricos
a verdades principais e as confuses inevit@eis que da resultam:
por exemplo, quando se afirma que todas as almas, de Ado aos defuntos
contemporneos a Cristo, tiveram de esperar que este descesse aos Infer
de vista. A sua presena no cristianismo primitivo em nada atingiu a essncia
inicitica
do mesmo. Afirma Orgenes que *h diversas formas de o Verbo se 'revelar aos
seus
discpulos, conformando-se ao grau de luz de cada um, segundo o grau do seu
progresso na santidades (Contra Cels., 4:16) Assim, os exoteristas semticos
negam a transmigrao da alma, e, por consequncia,
a existncia de uma alma imortal nos animais, ou ainda, o fim cclico total a
que os hindus chamam mah-pralaya, fim que implica a aniquilao de toda a
criao (samsra).
Tais verdades no so de modo algum indispensveis salvao e comportam mesmo
alguns perigos para as mentalidades a que as doutrinas exotricas se dirigem. Um
exoterismo v-se sempre forado a passar em silncio ou rejeitar elementos
esotricos incompatveis com a sua forma dogmtica. Todavia, para prevenir
qualquer objeco contra os exemplos que acabmos de citar,
devemos formular duas reservas: quanto imortalidade da alma nos animais, a
negao
teolgica tem razo na medida em que um ser no pode com efeito alcanar a
imortalidade quando sujeito ao estado animal, j que este, tal como o estado
vegetal ou mineral, perifrico, e a imortalidade e a libertao no podem ser
alcanados seno a partir de um estado central como o humano. V-se, por este
exemplo, que uma negao
religiosa do carcter dogmtico nunca desprovida de sentido. Por outro lado,
no que
respeita negao da mah-pralaya, devemos acrescentar que esta no
estritamente
dogmtica e que o fim cclico total, que completa uma *vida de Brahm+, se acha
claramente atestado em frmulas como as seguintes: *Pois, em verdade vos digo,
mesmo
que passem o Cu e a Terra, no passar um s iota nem um s trao da Lei antes
que
tudo se cumpra+ (Mat.,5:18). *Eles permanecero a (khlidin) enquanto durarem
os
122
A Unidade Transcendente das Religies
nos para as poder libertar, confunde-se o Cristo histrico com o Cristo
csmico e representasse uma funo eterna do Verbo como um facto temporal por
Jesus ter sido manifestao desse Verbo. O que dizer que, no
mundo em que esta manifestao se produziu, ele foi a encarnao nica
do Verbo. Um outro exemplo o da divergncia entre cristos e muulmanos quanto
morte de Cristo: o Alcoro nega-a aparentemente, para
no fundo afirmar que Cristo no foi morto - o que evidente pela natureza
divina do Homem-Deus e pela natureza humana que ressuscitou: os
muulmanos recusam-se a admitir a Redeno histrica e os factos que
para a cristandade so a nicia expresso terrestre da Redeno Universal,
o que significa em ltima anlise que Cristo no morreu para os *justos+,
que so aqui os muulmanos, que beneficiam de outra forma terrestre de
Redeno una e eterna. Por outras palavras, se em princpio Cristo morreu por
todos os homens - do mesmo modo que a Revelao islmica se
dirige em princpio a todos eles -, de facto s morreu pelos que beneficiam dos
meios de graa que perpetuam a sua obra redentora'. Ora a distncia tradicional
do islo, em relao ao Mistrio crstico, deve revestir
exotericamente a forma de uma negao, tal como o exoterismo cristo
Cus e a Terra, a menos que o teu Senhor decida de ' outro modo+ (Alcoro, XI,
107).
' Recordemos igualmente, nesta ordem de ideias, a frase de Santo Agostinho:
*Aquilo
a que hoje se chama religio crist existi j entre os Antigos e jamais deixou
de existir
desde as origens do gnero humano. At que, vindo Cristo, se comeou a chamar
crist verdadeira religio que j existia antes+ (Retract., I, XIII, 3). Esta
passagem foi
comentada por sua vez pelo padre P.4. Jallabert no seu livro Le Catholicisme
avant Jsus-Christ: *A religio catlica mais no do que a continuao da
religio primitiva
restaurada e generosamente enriquecido por aquele que conhecia a sua obra desde
o
princpio. o que explica que. o apstolo So Paulo apenas se considerasse
superior
aos Gentios por conhecer Jesus crucificado. Com efeito, aos Gentios s faltava
que adquirissem o conhecimento da Encarnao e da Redeno enquanto factos
consumados.
Pois j haviam recebido o depsito de todas as outras verdades... oportuno
notar
que esta divina revelao, desfigurada pela idolatria, se conservou porm na sua
pureza, e -talvez em toda a sua perfeio, nos antigos mistrios de Elusis, de
Leninos e de
Samotrcia.+ Tal *conhecimento da Encarnao e da Rendeno+ implica, antes de
mais, o conhecimento da grande renovao operada por Cristo, de um meio de graa
que , em si mesmo, eterno, como o a Lei que Cristo veio cumprir e no abolir.
Tal
meio de graa essencialmente sempre o mesmo e o nico que existe, no importa
as
diferenas de modo, dependentes dos meios tnicos e culturais em que se revela.
A Eucaristia uma realidade universal como o prprio Cristo.
123
Frithiof Schuon
deve negar a possibilidade de salvao fora da Redeno operada por Jesus. Uma
perspectiva religiosa, que pode ser contestada ab extra, ou seja,
a partir de outra faceta da verdade, no menos contestvel ab intra,
pois, podendo servir de meio de expresso da verdade total, chave desta. Por
isso nunca se deve perder de vista que as restries inerentes ao
ponto de vista dogmtico so, na sua devida ordem, conformes Bondade
Divina que impede os homens de se perderem, dando a todos o que lhes
acessvel e indispensvel, tendo sempre em conta as predisposies mentais da
colectividade humana em causa'. Estas consideraes permitem-nos compreender
que tudo o que, nas
palavras de Cristo e nos ensinamentos dos Apstolos, parece contradizer
ou depreciar a Lei mosaica, mais no faz no fundo do que exprimir a
superioridade do esoterismo sobre o exoterismo', no se pondo a priori no
terreno da Lei', desde que tal relao hierrquica no seja concebida de
em sentido anlogo que se afirma no islo que *a divergncia dos exegetas
uma
bno+ (ffitilf el'ulam'i rahamah).
' Isto muito claro nas palavras de Cristo sobre So Joo Baptista: do ponto de
vista
exotrico, evidente que o Profeta mais prximo de Cristo-Deus o maior dos
homens, mas, por outro lado, o menor dos Bem-Aventurados no reino dos Cus
maior
do que qualquer ser humano na Terra, devido a essa proximidade de Deus.
Metafisicamente, esta palavra enuncia a superioridade do principal sobre o
manifesto e, iniciaticamente, a do esoterismo sobre o exoterismo, sendo So Joo
Baptista considerado como o auge e o expoente deste ltimo, o que alis explica
por que motivo o seu nome
idntico ao de So Joo Evangelista, que representa o aspecto mais interior do
cristianismo.
' Encontramos em So Paulo esta passagem: *A circunciso til se observares a
Lei.
Mas, se transgredires a Lei, a tua circunciso torna-se incircunciso. Ora se o
incircunciso observar os preceitos da Lei, no ser a sua incircunciso
considerada circunciso?
Muito mais o homem, incircunciso por nascimento, se observa a Lei, te julgar a
ti que
com a letra (da Lei) e a circunciso transgrides a Lei. No judeu o que o
exteriormente e no circunciso a que se manifesta na carne. Mas judeu quem
o interiormente e circunciso a do corao, no esprito, e no na letra.
Esse recebe o seu louvor, no dos homens, mas de Deus+ (Rom. 2:25-29). A
mesma ideia volta a surgir, de forma mais concisa, na seguinte passagem do
Alcoro: *E eles dizem: Tornai-vos judeus ou nazarenos, para que sejais guiados.
Responde: No, (ns seguimos) a via de Abrao que era puro (ou *primordial+,
hanif) e que
no era dos que associam (criaturas a A11^ efeitos Causa ou manifestaes ao
Princpio), - (Recebei) o baptismo de Allh. (e no o dos homens). E quem
baptiza melhor do que Allh? a ele que adoramos+ (Alcoro, srat el-baqarah,
135 e 138). 124
A Unidade Transcendente das Religies
modo dogmtico. evidente que os ensinamentos de Cristo ultrapassam
portanto tambm a Lei e s assim se pode explicar a atitude de Cristo perante a
lei do talio, a mulher adltera e o divrcio. De facto, dar a face
esquerda a quem bate na direita no algo que possa ser posto em prtica
por uma colectividade social que tem em vista o seu equilbrio', s fazendo
sentido como atitude espiritual. S o espiritual se acha decisivamente
alm do encadeamento lgico das reaces individuais, pois para ele a
participao nessas reaces equivale a um declnio,'pelo menos quando
envolve a parte central ou alma do indivduo, no como acto exterior e
impessoal de justia da Lei mosaica. Quando o carcter impessoal da lei
do talio deixou de ser compreendido, e foi substitudo pelas paixes,
Cristo veio exprimir uma verdade espiritual que, limitando-se a condenar
a pretenso, parecia condenar a prpria Lei. Isso patente na resposta
aos que se dispunham a apedrejar a mulher adltera, os quais, em vez de
agirem impessoalmente em nome da Lei, queriam agir pessoalmente em
nome da sua hipocrisia. Cristo no se colocava, @pois, do lado da Lei, mas
do das realidades interiores, suprassociais, espirituais, Foi esse tambm o
seu ponto de vista na questo do divrcio. O que, no ensinamento de
Cristo, pe talvez mais claramente em evidncia o carcter puramente espiritual,
supra-social e extra moral da doutrina crstica a seguinte palavra: *Se algum
vem a mim sem odiar o seu pai e a sua inae, a sua esposa
e os seus filhos, os seus irmos e as suas irms, e at a prpria vida, no
pode ser meu discpulos (Luc.,14:26) evidentemente impossvel opor
um tal ensinamento Lei mosaica.
Tal *baptismo+ significa, do ponto de vista da ideia fundamental, o que So
Paulo exprime por *circunciso+. Isso de tal modo verdade que os cristos
nunca fizeram dessa exortao de Cristo
uma obrigao legal, o que prova que ela no se situa no mesmo terreno da Lei
judaica
e no queria nem podia consequentemente substitu-Ia. Existe um hadith que
demonstra a compatibilidade entre o ponto de vista espiritual,
afirmado por Cristo, e o ponto de vista social, que o da Lei mosaica: o
primeiro Iadro da comunidade muulmana foi levado diante do Profeta para que a
mo lhe fosse
amputada segundo a Lei cornica. Mas o Profeta empalideceu. Perguntaram-lhe:
*Tens
algo a objectar?+ Ele respondeu: *Como no teria algo a objectar! Deverei eu
ajudar
Satans na inimizade contra os meus irmos? Se quereis que Deus vos perdoe o
vosso
pecado e o cubra, tambm vs deveis cobrir o pecado dos outros. Pois, quando o
pecador for conduzido presena do monarca, o castigo h-de cumprir-se.+
125
Frithjof Schon
O cristianismo no tem portanto as caractersticas normais de um exoterismo
institudo como tal, mas apresenta-se antes como uma espcie de
exoterismo de facto, no de princpio. Alis, mesmo sem recorrermos a
passagens das Escrituras, o carcter essencialmente inicitico do cristianismo e
sempre reconhecvel em indcios de primeira ordem, como a doutrina da Santssima
Trindade, o Sacramento da Eucaristia e particularmente
o uso do vinho nesse ritual, assim como em expresses puramente esotricas como
*Filho de Deus+ e sobretudo *Me de Deus+. Se o exoterismo
se pode definir como *o que indispensvel e acessvel a todos sem distino',
o cristianismo no poderia ser um exoterismo no sentido habitual do
termo, pois no acessvel a todos, embora de facto - em virtude da sua
aplicao religiosa - a todos se imponha. em suma essa inacessibilidade
exotrica dos dogmas cristos que exprimimos ao qualific-los de *mistrios+,
termo que s recebe sentido positivo na ordem inicitica, a que
alis pertence, mas que, aplicado de modo religioso, parece querer justificar ou
velar o facto de os dogmas cristos no possurem qualquer evidncia intelectual
directa. Por exemplo, a Unidade Divina uma evidncia
imediata, susceptvel de formulao exotrica ou dogmtica, pois tal evidncia
, na sua expresso mais simples, acessvel a todo o homem de esprito so. Pelo
contrrio, a Trindade, por corresponder a um ponto de
vista mais diferenciado e representar um desenvolvimento particular da
doutrina da Unidade, entre outros desenvolvimentos igualmente possveis,
no e, em rigor, susceptvel de formulao exotrica, pela simples 'razo
de uma concepo metafisica diferenciada ou derivada no ser acessvel a
todos. Alis, a Trindade corresponde forosamente a um ponto de vista
mais relativo do que a Unidade, como a *Redeno+ uma realidade
mais relativa do que a *Criao+. Qualquer pessoa normal pode conceber,
a qualquer nvel, a Unidade Divina, j que esta o aspecto mais universal
e mais simples da Divindade. Pelo contrrio, s compreende a Trindade
quem compreende a Divindade ao mesmo tempo sob outros aspectos mais
ou menos relativos, ou seja, quem, por participao espiritual no Intelecto
Divino, se sabe mover de algum modo na dimenso metafisica. Essa porm uma
possibilidade longe de ser acessvel a todos, pelo menos no esta Definio
dada por Gurion no seu artigo *Cration et Manifestation+ (tudes
tradi'tionnelles, Out. 1937).
126
A Unidade Transcendente das Religies
do actual da humanidade terrestre. Quando Santo Agostinho afirma que a
Trindade incompreensvel, coloca-se necessariamente - sem dvida devido aos
hbitos do mundo romano - no ponto de vista racional, que o
indivduo, e que, aplicado s verdades transcendentes, so gera a ignorancia. A
luz da pura intelectualidade, s absolutamente incompreensvel o
que no tem realidade, o nada identificado com o impossvel que, nada
sendo, no pode ser objecto de incompreenso. Poderamos acrescentar que o
carcter esotrico dos dogmas e dos sacramentos cristos a causa profunda da
reaco islmica contra o cristianismo. Ao misturar a haqiqah (Verdade
Esotrca) com a shari'ah (Lei
Exotrica), o cristianismo comportava - certos perigos de desequilbrio que
de facto se manifestaram no decurso dos sculos, contribuindo indirectamente
para a terrvel subverso que o mundo moderno, segundo a palavra de Cristo:
*No deis coisas santas aos ces nem prolas a porcos, para
que no as pisem e, voltando-se contra vs, vos agridam.+
Se o cristianismo confunde os dois domnios que deveriam estar separados,
como confunde as duas Espcies eucarsticas que respectivamente os
figuram, perguntamos: teria podido ser de outra maneira, sendo tal confuso
produto de erros individuais? Certamente que no. Mas preciso dizer que a
verdade interior ou esotrica por vezes se deve manifestar luz
do dia, em virtude de uma possibilidade de manifestao espiritual que
no tem em conta as deficincias do meio humano. Por outras palavras,
esta *confuso' consequncia negativa de algo que , em si mesmo, positivo e
que mais no do que a prpria manifestao crstica. A ela se refere a palavra
inspirada: *E a luz brilhou nas trevas, e as trevas no a
A expresso mais geral desta *confuso+, a que tambm poderamos chamar
*vacilao+, a mistura, nas Escrituras do Novo Testamento, dos dois graus de
inspirao que
os hindus designam respectivamente pelos termos Shruti e Smriti e os muulmanos
pelos termos nafath Er-Rh e ilq Er-Rahmniyah: este ltimo termo, como o de
Smitri,
designa a inspirao derivada ou secundria, enquanto o primeiro, como o de
Shruti, se
refere Revelao propriamente dita, ou seja, Palavra Divina em sentido
directo.
Nas epstolas, tal mistura aparece mesmo explicitamente vrias vezes. O stimo
captulo da primeira epstola aos Corntios particularmente instrutivo a este
propsito.
127
Frithjof Schon
compreenderam+. Cristo devia, por definio metafisica ou cosmolgica,
quebrar a casca que era a Lei mosaica, sem todavia a negar. Sendo ele
mesmo o ncleo vivo dessa casca, tinha todos os direitos do seu lado. Era,
portanto, *mais verdadeiros do que aquela, que um dos sentidos da sua
palavra: *Antes de Abrao ser, Eu sou+. O facto de o esoterismo no se
dirigir a toda a gente comparvel luz que penetra certas matrias e no
outras. Se esse por vezes se deve manifestar em pleno dia - como aconteceu com
Cristo, e, em menor grau de universalidade, num El-HaIlj porque analogamente
tambm o Sol tudo ilumina sem distino. Portanto, se *a Luz brilha nas
trevas+, em sentido principal ou universal, porque manifesta uma das suas
possibilidades: e uma possibilidade por definio algo que no pode no ser,
enquanto aspecto da absoluta
necessidade do Princpio Divino. Estas consideraes no devem fazer-nos
perder de vista um aspecto
complementar da questo, mais contingente todavia que o primeiro: deve
haver igualmente do lado humano, ou seja, no meio em que tal manifestao divina
se produz, uma razo suficiente para essa produo. Ora, para
o mundo a que a misso de Cristo se dirigia, tal manifestao desvelada
de verdades que normalmente deveriam permanecer encobertas - pelo
menos, em certas condies de espao e de tempo - era o nico meio
possvel de operar o ordenamento de que o mundo necessitava. Isto basta
para justificar o que, na radiao crstica tal como a definimos, seria anormal,
e legtimo em circunstncias normais. Um tal desnudamento do *esprito+
escondido na *letra+ no poderia contudo abolir inteiramente certas leis
inerentes a todo o esoterismo, sob pena de retirar a este a sua
prpria natureza. Assim, Cristo *nada lhes dizia sem parbolas, para que
se cumprisse a palavra do Profeta que diz: Abrirei a minha boca em parbolas,
proferirei coisas escondidas desde a criao do mundo+ (Mat.,
13:34-35). Apesar disso, um tal modo de radiao, sendo inevitvel neste
caso particular, no deixa de ser uma *espada de dois gumes+. Mas h outro
aspecto: a via crstica, anloga nesse ponto s vias *bhkticas+ da ndia a a
certas vias budistas, essencialmente uma *via de Graa+. Ora,
nestes mtodos, em razo da sua natureza especfica, a distino entre aspecto
exterior e interior acha-se atenuada e por vezes ignorada, j que a
128
A Unidade Transcendente das Religies
*Graa+, que de ordem inicitica no seu ncleo ou essncia, tende a
dar-se na maior medida possvel, o que pode fazer devido simplicidade
e universalidade do seu simbolismo e meios. Tambm poderamos dizer
que, se a separao entre a *via do mrito+ e a *via do Conhecimento+
forosamente profunda por se referir respectivamente ao acto meritrio e
contemplao intelectual, a *via da Graa+ ocupa, de certa maneira,
uma posio intermdio, As aplicaes interior e exterior associam-se a
numa mesma radiao de Misericrdia, de modo que surgem, no domnio
da realizao espiritual, mais diferenas de grau do que diferenas de
princpio. Toda, a inteligncia e vontade pode participar, na medida do
possvel, numa mesma e nica Graa, o que faz pensar no Sol que a todos
sem distino ilumina, agindo porm diferentemente sobre as diversas matrias.
Abstraindo-se de que o desvelamento de verdades, que deveriam ter ficado
encobertas, era o nico meio possvel para operar o reordenamento
espiritual de que o mundo ocidental necessitava, temos porm de acrescentar que
esse modo tinha um carcter providencial face evoluo cclica, achando-se
compreendido no Plano Divino do desenvolvimento final
de dado ciclo da humanidade. Poderamos tambm reconhecer na desproporo entre
a qualidade puramente espiritual do Dom crstico e o seu
meio por demais heterogneo de recepo o indcio de um modo excepcional da
Misericrdia Divina que se renova constantemente na criatura:
Deus, para salvar *uma humanidades, consente em ser profanado. Por
outro lado, manifestando a Sua Impessoalidade, serve-se dessa profanao
pois * preciso que haja escndalos - para levar a cabo o fim do referido ciclo,
fim to necessrio para esgotar as possibilidades que nele esto
dadas, necessrio ao equilbrio e cumprimento da gloriosa radiao universal de
Deus. O ponto de vista dogmatista, quando os no pode negar, forado a
qualificar os actos aparentemente contraditrios da Divindade impessoal
como *misteriosos+ e *insondveis+, atribuindo naturalmente tais *mistrios+ ao
Querer do Deus pessoal.
129
Frithjof Schuon
A existncia de um esoterismo cristo, ou antes, o carcter eminentemente
esotrico do cristianismo primitivo, no ressalta apenas do Novo
Testamento, onde certas palavras de Cristo no fazem qualquer sentido a
nvel exotrico, nem se deduz apenas da natureza dos seus ritos - para s
falar do que, na Igreja Ocidental, nos exteriormente acessvel. Tambm
o testemunho dos autores antigos d prova disso. Assim, So Baslio, no
seu Tratado sobre o Esprito Santo fala de uma *tradio tcita e mstica
mantida at aos nossos dias+ e de *uma instruo secreta que os nossos
Pais observaram sem discusso e que ns seguimos permanecendo na simplicidade do
seu silncio. Pois eles aprenderam quanto o silncio foi necessrio
para guardar o respeito e a venerao devidos aos nossos santos mistrios.
E, com efeito, no era conveniente divulgar por escrito uma doutrina contendo
coisas que aos catecmenos no permitido contemplaras. *S so aptos
salvao os espritos deificados+ - afirma So Dinis,
o pseudo-areopagita - *e a deificaro a unio e semelhana que nos esforamos
por ter com Deus... O que uniforme e abundantemente repartido pelas Essncias
Bem-Aventuradas nos Cus a ns transmitido em
fragmentos e na multiplicidade dos smbolos por orculos divinos. Pois estes so
a base da nossa hierarquia. E por isto h que entender no s o
que os nossos mestres inspirados nos deixaram nas Sagradas Letras e nos
escritos teolgicos, mas o que transmitiram aos seus discpulos por um
ensinamento espiritual, quase celeste, iniciando-os esprito a esprito, de '
modo corporal, pois falavam, mas tambm de modo imaterial, pois no escreviam.
Ora, devendo tais verdades ser traduzidos para uso da Igreja, os
Apstolos expuseram-nas sob o vu dos smbolos e no na sua sublime
nudez. Pois nem todos so santos e, como diz a Escritura, a Cincia no
para todos'.
Permita-se-nos citar tambm um autor catlico muito conhecido, Paul Vulhaud:
*O processo de enunciaro dogmtica foi durante os primeiros sculos o da
Iniciao
sucessiva. Existia, numa palavra, um esoterismo na religio crist. Por muito
que isso
desagrade aos historiadores, encontramos incontestavelmente o vestgio da *lei
do arcano+ nas origens da nossa religio... Para entender com clareza o
ensinamento doutrinal da Revelao crist, h que admitir um duplo grau na
pregao evanglica. A lei
que mandava que os dognias s fossem revelados aos iniciados perpetuou-se por
muito
tempo, facto que impede os cegos ou refractrios de negarem a sua existncia.
Sozmeno, um historiador, escreve a propsito do Conclio de Niceia que era sua
inteno en 130
A Unidade Transcendente das Religies
Dissemos mais acima que o cristianismo representa uma *via de Graa+
ou de *Amor+ (o bhakti-mrga dos hindus). Tal definio requer ainda algumas
precises de ordem geral que formularemos do seguindo modo: o
que mais profundamente distingue a Nova Aliana da Antiga que nesta
o aspecto divino de Rigor predominava, enquanto naquela o aspecto de
Clemncia que prevalece. Ora, a via de Clemncia em certo sentido
mais fcil que a de Rigor, porque, sendo de ordem mais profunda, benefi
trar no pormenor *para deixar posteridade um monumento pblico de verdade+.
Foi
porm aconselhado a omitir *o que s os padres e os fiis deveriam saber+. A
*lei do
segredo+ perpetuou-se certamente em alguns lugares depois da divulgao
universal do
dogma conciliar... So Baslio, na sua obra Sobre a F Verdadeira e Piedosa,
conta que
se abstinha de se servir dos termos Trindade ou Consubstancialidade, que no se
acham nas Escrituras, embora a se encontrem as coisas que estes significam...
Tertuliano, contra Praxeias, afirma que no necessrio falar claramente da
Divindade de Jesus Cristo e que se deve chamar Deus ao Pai e Senhor ao Filho...
Tais locues habituais no parecero indcios de uma conveno, j que esta
forma de linguagem
reticente se acha em todos os autores dos primeiros sculos, sendo de uso
cannico?
A disciplina primitiva do cristianismo comportava uma sesso de exame em que os
competentes (os que pediam o Baptismo) eram admitidos eleio. Tal sesso era
chamada escrutnio. Traava-se o sinal da cruz sobre as orelhas dos catecmenos
pronunciando-se as palavras de Jesus: Ephpheta, o que fazia com que a cerimnia
se chamasse
o *escrutnio da abertura das orelhas+. Os ouvidos eram abertos recepo
(cablh),
tradio das verda6 divinas... O problema sinptico-jonico... s se resolve
recorrendo existncia do duplo ensinamento, exotrico e acroamtico, histrico
e teolgico-mstico... Existe uma teologia parablica. Esta faz parte daquele
patrimnio a que
Teodoreto chama, no Prefcio do seu Comentrio ao Cntico dos Cnticos, a
*herana
paterna+, que significa a transmisso do sentido que se aplica interpretao
das Escrituras... O dogma, na sua parte divina, constitua a revelao reservada
aos Iniciados,
sob *a disciplina do arcano+. Tentzlio queria fazer remontar a origem desta
*lei do segredo+ aos finais do sc. ii... Emnianuel ScheIstrate, bibliotecrio
do Vaticano, constatava-a com razo nos sculos apostlicos. Na verdade, o modo
esotrico de transmisso
das verdades divinas e de interpretao dos textos existiu entre os judeus,
entre os gentios, por fim tambm entre os cristos... Se nos obstinarmos em no
estudar os processos iniciticos de Revelao, jamais chegaremos a ter uma
assimilao inteligente e
subjectiva do do ma. As litur ias antigas no so suficientemente consideradas e
a pr 9 9
pria erudio hebraica absolutamente negligenciada... Os Apstolos e os Padres
conservaram em segredo e em silncio a *Majestade dos Mistrios+; So Dinis, o
Pseudo-Areopagita, buscou com afectao o emprego de termos obscuros. Como
Cristo, que
se autodesignava como *Filho do Homem+, ele chamou ao baptismo: a Iniciao
Teognese... A disciplina do arcano era muito legtima. Os profetas e o prprio
Cristo
131
Frithjof Schwn
cia de uma Graa particular: a *justificao pela F+ cujo *jugo doce e
o fardo, ligeiro+ e que torna intil o *jugo do Cu+ da Lei mosaica. Esta
*justificao pela F+ , de resto, anloga *libertao pelo Conhecimen
to+, o que lhe confere o seu alcance esotrico, sendo tanto um quanto ou
no revelaram os divinos arcanos com clareza tal que se tornassem
compreensveis a to dos+ (Paul Vulliaud, tudes d'sotrisme catholique).
Por fim, permita-se-nos citar, a ttulo documental e apesar da extenso do
texto, um autor de princpios do sc. xix. *Nas origens, o cristianismo foi
uma iniciao semelhante dos pagos. Falando desta religio, Clemente de
Alexandria exclama: * mistrios verdadeiramente sagrados! pura luz! A luz
incandescente perde o vu que cobre Deus e o Cu. Sou santo desde que
iniciado. O prprio Senhor o hierofante. Pe o seu selo no adepto que ilumina.
E, para recompensar a sua f, recomendado eternamente ao Pai. Eis as orgias dos
meus mistrios. Vinde e recebemos vs tambm.+ Poderamos tomar estas
palavras por @im ples metfora. Mas os factos provam que as devemos
interpretar letra. Os Evange lhos esto cheios de reticncias calculadas,
de aluses iniciao crist. A se l: *Quem pode adivinhar, adivinhe. Quem
tem ouvidos, oua.+ Jesus, dirigindo-se s massas, emprega sempre parbolas:
*Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos- ... + As assemblias eram
secretas, S se era admitido em condies determinadas. S se chegava ao pleno
conhecimento da doutrina passando por trs graus de instruo. Os iniciados
eram por consequncia divididos em trs classes. A primeira era a dos,ouvin
tes, a segunda a dos catecmenos ou competentes, a terceira a dos fiis. Os
ouvintes eram uma espcie de novios que eram preparados, atravs de certas
prticas e instru es, para receber a comunicao dos dogmas do
cristianismo. Uma parte desses dog mas era revelada aos catecmenos, que,
depois das purificaes ordenadas, recebiam o baptismo ou a iniciao da
teognese (gerao divina), como lhe chama So Dinis na sua Hierarquia
Eclesistica. Tornavam-se desde ento domsticos da f e tinham acesso s
igrejas. Para os fiis, nada havia de secreto ou de escondido nos mistrios.
Tudo se
4 fazia na sua presena. Tudo podiam ver e ouvir. Tinham direito a assistir a
toda a litur gia. Era-lhes prescrito que se examinassem atentamente para que
no penetrasse ent re eles gente profana ou iniciados de grau inferior. E o
sinal da cruz servia para se reco nhecerem uns aos outros. Os mistrios
dividiam-se em duas partes. A primeira era cha mada a Missa dos Catecmenos
porque os membros dessa classe podiam assistir a ela. Compreendia tudo o que
se diz desde o comeo do ofcio divino at recitao do Cre do. A segunda
chamava-se Missa dos Fiis. Compreendia a preparao do sacrifcio, o
sacrifcio em si, e a subsequente aco de graas. Quando comeava essa missa,
um dicono dizia em alta voz: *As coisas santas aos santos. Que os ces se
retirem!+ Ento
132
A Unidade Transcendente das Religies
tra relativamente independentes da *Le+, ou seja, das obras'. Com efeito, a F
no mais do que o modo *bhktico+ do Conhecimento e da
certeza intelectual, o que significa que ela um acto passivo de inteligncia,
tendo por objecto no imediatamente a verdade enquanto tal, mas
um smbolo desta. Tal smbolo revela os seus segredos medida que a F
aumenta, e esta s aumenta atravs de uma atitude confiante de certeza
emocional, de um elemento de bhak, que amor. A F, sendo uma atitu
mandavam-se embora os catecmenos e os penitentes - estes ltimos eram fiis
que,
tendo cometido falta grave, eram submetidos expiao ordenada pela Igreja -,
no
podendo assistir celebrao, dos terrveis mistrios, como lhes chamava So
Joo Crisstomo. Os fiis, uma vez ss, recitavam o Credo, para se assegurarem
de que todos
os assistentes tinham recebido a iniciao e que se podia falar diante deles
abertamente
e sem enigmas sobre os grandes mistrios da religio e sobretudo da Eucaristia.
Mantinha-se a doutrina e a celebrao deste Sacramento em segredo inviolvel. E,
se os doutores falavam deles nos seus sermes ou livros, s o faziam com grandes
reservas, por
meias palavras, enigmaticamente. Quando Diocleciano ordenou aos cristos que
entregassem aos magistrados os seus livros sagrados, os que de entre eles, com
medo da
morte, obedeceram ao edicto imperial, foram expulsos da comunho dos fiis e
considerados traidores e apostaras. Podemos ver em Santo Agostinho que dor
sentiu ento a
Igreja ao ver as Sagradas Escrituras serem entregues s mos dos infiis. Aos
olhos da
Igreja, era uma horrvel profanao que um homem no iniciado entrasse num
templo
e assistisse aos Sagrados Mistrios. So Joo Crisstorno assinala um facto
desse gnero ao papa Inocncio 1. Soldados brbaros haviam entrado na Igreja de
Constantinopla
na viglia de Pscoa. "As catecmenas, que se haviam despido para serem
baptizadas,
foram obrigadas a fugir nuas com o medo. Esses brbaros no lhes deram tempo de
se
cobrirem. Entraram nos lugares onde se conservam com profundo respeito as coisas
santas, e alguns deles, ainda no iniciados aos nossos mistrios, viram tudo o
que a havia de mais sagrado". O nmero de fiis, que aumentava cada dia, levou
a Igreja, no
sc. vii, a instituir as ordens menores, entre as quais a dos porteiros, que
sucederam
aos diconos e aos subdiconos na funo de guardar as portas das igrejas. Cerca
do
ano 700, toda a gente foi admitida a assistir liturgia. E, de todo o mistrio
que nos
primeiros tempos cercava o cerimonial sagrado, s se conservou o uso de recitar
secretamente o Cnone da Missa. Contudo, no rito grego o oficiante celebra ainda
hoje o
ofcio divino por detrs de uma cortina, que s aberta no momento da elevao.
Mas,
nesse momento, os assistentes devem prostrar-se ou inclinar-se de tal modo que
no
possam ver o Santssimo Sacramento.+ (F.-T.-B. Claver, Histoire pittoresque de
la
Franc-Maonnerie et des Socits secrtes anciennes et modernes.)
' Uma diferena anloga que ope a *F+ e a *Lei+ encontra-se dentro do
prprio
campo inicitico: *F+ correspondem aqui os diversos movimentos espirituais
fundados na invocao do Nome Divino (o japa hindu, o buddhnusmriti, nien-fo ou
nembut 133
Frithjof Schuon
de contemplativa, tem como sujeito a inteligncia. Pode-se pois dizer que
um Conhecimento virtual. Mas, como o seu modo passivo, tal passividade deve
ser compensada por uma atitude activa complementar, ou seja,
por uma atitude voluntria cuja substncia precisamente a confiana e o
fervor, graas aos quais a inteligncia recebe certezas espirituais. A F a
priori uma disposio natural da alma para admitir o sobrenatural. pois
essencialmente uma intuio do sobrenatural, ocasionada pela Graa,
su budista e o dhikr muulmano); um exemplo muito tpico o de Shri Chaitanya
deitando fora todos os seus livros para se consagrar apenas invocao
*bliktica+ de
Krishna, atitude semelhante dos cristos que rejeitaram a *Lei+ e as *obras+
em nome da *F+ e do *Amor+. Da mesma forma, para citar um outro exemplo, as
escolas
budistas japonesas Jdo e Jdo-Shinshu, cuja doutrina fundada nos stras de
Amithaba
anloga a certas doutrinas do budismo chins e procede como estas do *voto
original
de Amida+, rejeitam as meditaes e,as austeridades das outras escolas
budistas, praticando apenas a invocao do Nome sagrado Amida: o esforo
asctico substitudo pela simples confiana na Graa do Buddha-Amida, que este
concede na sua compaixo a
quem o invoca, sem qualquer *mrito+ da parte do orante. *A invocao do Nome
sagrado deve ser acompanhada de absoluta sinceridade de corao e da f mais
completa
na bondade de Amida que quis que todas as criaturas se salvassem. Amida, tendo
piedade dos homens dos "Ultimos Tempos", permitiu que as virtudes e o saber
fossem
substitudos, para os livrar dos sofrimentos do mundo, pela f no valor
salvfico da sua
Graa.+ *Somos iguais devido nossa f comum, nossa confiana na Graa de
Amida-Buddha.+ *Toda a criatura, por muito pecadora que seja, pode estar
certa'da'sua
salvao na luz de Amida e de obter um lugar na Terra eterna e imperecvel da
Felicidade, se simplesmente crer no Nome de Amida-Buddha e, abandonando as
preocupaes presentes e futuras deste mundo, se refugiar nas Mos Libertadoras,
to misericordiosamente estendidas a toda a criatura, recitando o Seu Nome com
toda a
sinceridade de corao.+ *Conhecenios o Nome de Amida pela pregao de
Shkya-Muni e sabemos que, nesse Nome, est a fora do desejo de Amida em salvar
toda a
criatura. Escutar esse Nome, escutar a voz da salvao, que diz: Tende
confiana em
mim e certamente vos salvarei, palavras que Amida nos dirige directamente. Este
sentido acha-se presente no Nome de Amida. Enquanto todas as nossas outras
aces so
mais ou menos manchadas de impureza, a repetio do Namu-Amida-Bu um acto
isento de qualquer impureza, pois no somos ns que o recitamos, mas o prprio
Amida que, dando-nos o Seu Nome, no-lo faz repetiras *Quando a nossa f na
salvao de
Amida desperta e se fortalece, o nosso destino fixado: renascemos na Terra
Pura,
tornando-nos Budas. Ento se diz que somos totalmente abarcados pela Luz de
Amida
e, vivendo sob a Sua direco, cheia de amor, a nossa vida preenchida por
indescritvel alegria, dom de Buddha+ (vide Les sectes bouddhiques japonaises
por E. Steinilber 134
A Unidade Transcendente das Religies
a actualizar atravs de uma atitude de fervorosa confiana'. Quando, pela
Graa, a F se completa, ela dissolve-se no Amor, que Deus. por isso
que, do ponto de vista teolgico, os Bem-Aventurados no Cu j no conservam a
F, pois contemplam o seu objecto: Deus, que Amor ou Beatitude. Acrescente-se
que, do ponto de vista inicitico, tal viso pode e deve obter-se j nesta vida,
como o ensina alis a tradio hesicasta. Mas h
outro aspecto da F que convm aqui mencionar: referimo-nos relao
-Oberlin e Kuni Matsuo). *O voto original de Amida o de receber na sua Terra
de felicidade quem quer que pronuncie o Seu Nome com confiana absoluta: felizes
pois os
que pronunciam o Seu Nome! Um homem pode ter f, mas se no pronuncia o Nome,
a sua f de nada lhe servir. Outro pode pronunciar o Nome pensando apenas em
si,
mas se a sua f no bastante profunda, o seu renascimento no ocorrer. Mas o
que
cr firmemente no renascimento como fim da nembutsu (invocao) e pronuncia o
Nome, esse sem dvida h-de renascer na Terra da recompensam (vide Essais sur le
Bouddhisme Zen, vol. 111, por Daisetz Teitaro Suzuki). Reconhece-se com
facilidade a
analogia sobre a qual queramos atrair as atenes: Amida mais no do que o
Verbo
Divino. Amida-Buddha pode pois transcrever-se, em termos cristos, por *Deus
Filho,
Jesus Cristo+. O Nome de *Cristo Jesus+ equivale pois ao de Buddha Shkya-Muni;
o Nome salvfico de Amida corresponde exactamente Eucaristia; e a invocao
desse
Nome, Comunho. A distino entre o jiriki (poder individual, ou seja, esforo
em
vista do mrito) e o tariki (*poder do outro+, ou seja, graa sem mrito) -
sendo este
ltimo precisamente a via do Jdo-Shinshu - anloga distino paulina entre
a
*Lei+ e a *F+. Acrescentemos ainda que, se o cristianismo moderno sofre de
certa regresso do elemento intelectual, precisamente porque a sua
espiritualidade original
era *bhktica+ e a exoterizao da bhakti traz consigo inevitavelmente uma
regresso
da intelectualidade em proveito do sentimentalismo.
' A vida do grande bhakta Shri Rmakrishna oferece um exemplo bem instrutivo do
modo *bhktico+ do Conhecimento: em vez de partir de um dado metafsico, que
lhe teria
permitido entrever a vaidade das riquezas, como teria feito um jnnin, ele orou
a K1i para o fazer entender por revelao a identidade entre o outro e a
argila: *Todas as manhs,
durante longos meses, segurei na inao uma moeda de ouro e um pedao de argila, e
repeti: O ouro argila e a argila ouro. Mas este pensamento no fazia em mim
qualquer efeito espiritual. Nada vinha demonstrar-me a verdade de tal assero.
Ao fim de meses de
meditao, estava eu sentado de manhzinha, beira do rio, suplicando nossa
Me que
me concedesse luz quando, repentinamente, todo o universo me apareceu revestido
de um
vu de ouro brilhante... Depois a paisagem tomou um tommais escuro, cor de
argila castanha, mais bela do que o ouro. E enquanto tal viso se gravava
profundamente na minha
alma, ouvi como que o rumor de mais de dez mil elefantes gritando aos meus
ouvidos: Argila e ouro so o mesmo para ti. As minhas oraes tinham sido
ouvidas, e eu lanava para
longe, no Ganges, a moeda de ouro e o pedao de argila.+
135
Frithjof Schon
entre F e milagre, relao que explica a importncia capital que este ltimo
desempenha no s em Cristo, mas tambm no cristianismo enquanto
tal. Contrariamente ao que acontece no islo, o milagre desempenha no
cristianismo um papel Central, quase orgnico, que no deixa de ter relao com
o carcter bhakti, prprio via crist. O milagre seria inexplicvel.sem o
papel que desempenha no domnio da F. No tendo qualquer
valor persuasivo em si mesmo, sem o que os milagres satnicos seriam critrios
de.verdade, existe porm um extremo em relao a todos os outros
factores que intervm na Revelao crstica. Por outras palavras, se os milagres
de Cristo, dos Apstolos e dos Santos so preciosos e venerveis,
e unicamente porque se acrescentam a outros critrios que permitem a
priori atribuir a tais milagres o valor de *sinais+ divinos. A funo essencial
e primordial do milagre desencadear, seja a graa da F - o que
pressupe no homem, tocado por essa graa, uma disposio natural,
consciente ou inconsciente, para admitir o sobrenatural -, seja a perfeio de
uma F j adquirida. Para precisar ainda melhor o papel do milagre no apenas no
cristianismo mas em todas as formas religiosas - pois
nenhuma delas ignora os factos milagrosos -, diremos que o milagre,
abstraindo-nos da sua qualidade simblica que o aparenta ao prprio objecto da
F, est apto a suscitar uma intuio que ser, na alma do crente,
um elemento de certeza. Enfim, se o milagre desencadeia a F, esta pode
por sua vez desencadear o milagre, que ser assim uma confirmao dessa
*F que desloca montanhas+. Tal relao recproca mostra ainda que esses
dois elementos se acham cosmologicamente associados e que a sua relao
nada tem de arbitrrio, estabelecendo o milagre um contacto imediato entre a
Omnipotncia Divina e o mundo, e a F, por sua vez, um contacto
anlogo, mas passivo, entre o microcosmo e Deus. O simples raciocnio, a
mera operao discursava do mental, est to longe da F como as leis na
Citemos nesta ordem de ideias as reflexes de um telogo ortodoxo: *Exprimindo
o dogma uma verdade revelada, que nos aparece como um mistrio insondvel, deve
ser vivido por ns num processo, ao longo do qual, em vez de assimilarmos o
mistrio ao nosso modo de entender, h, pelo contrrio, que aspirarmos a uma
mudana
profunda, a uma transformao interior do nosso esprito, para nos tornarmos
aptos
a experincia mistica+ (Viadimir Lossky, Essai sur Ia thologie mystique de
VEglise
d'Orient).
136
A Unidade Transcendente das Religies
turais o esto do milagre, enquanto o conhecimento intelectual capaz de
ver milagre no natural, e inversamente. A Caridade, que a maior das trs
virtudes teologais, comporta dois
aspectos, um passivo e outro activo. O Amor espiritual uma participao
passiva em Deus, que Amor infinito. Mas o amor ser, pelo contrrio, activo em
relao s coisas criadas. O amor ao prximo, como expresso necessria do
amor de Deus, e um
complemento indispensvel da F. Estes dois modos da Caridade acham-se
presentes no ensinamento evanglico de que s Deus Beatitude e Realidade e o
segundo a conscincia de que o ego apenas ilusrio, identificando-se o *eu+
dos outros, na verdade, *comigo mesmo'+. Se deve amar
o *prximo+ porque ele sou *eu+, isso significa que devo amar-me a priori, j
que mais no sou do que o meu *prximo+. E, se me devo amar, seja em *mim
mesmo+ seja no meu *prximo+, porque Deus me ama e
devo amar o que ele ama. E, se ele me ama, porque ama a sua criao
ou, por outras palavras, porque a prpria Existncia Amor e o Amor
como que o perfume do Criador inerente a toda a criatura. Tal como o
Amor de Deus, a Caridade que tem como objecto as Perfeies divinas e
no o nosso bem-estar, o Conhecimento da nica Realidade Divina na
qual se dissolve a realidade aparente do criado - conhecimento que implica a
identificao da alma com a sua Essncia incriada', o que ainda
um aspecto do simbolismo do Amor -., tambm o amor ao prximo no
fundo mais no do que o conhecimento da indiferenciao do criado perante
Deus. Antes de se passar do criado ao Criador, ou do manifesto ao
Princfpio, necessrio ter-se realizado a indiferenciao ou o *nada+ desse
manifesto. a isso que visa a moral de Cristo, no s pela indistino
que estabelece entre o *eu>; e o *no-eu+, mas tambm secundariamente
' Esta realizao do *no-eu+ explica o papel importante que a humildade
desempenha
na espiritualidade crist, a que corresponde na espiritualidade islmica a
*pobreza+
(faqr) e na espiritualidade hindu a *infncia+ (blya). Recordamo-nos aqui do
simbolismo da infncia nos ensinamentos de Cristo.
2 *SOMOS totalmente transformados em Deus+ - afirma mestre Eckhart - *e mudados
nele. Da mesma forma que, no sacramento, o po se transforma em Corpo de
Cristo, tambm eu sou transformado nele, de modo que ele faz de mim o seu Ser
uno e no apenas uma semelhana. Pelo Deus vivo, verdade que no h a
qualquer distino.+
137
Frithjof Schon
pela sua indiferena para com a justificao individual e o equilbrio social. O
cristianismo situa-se, pois, fora das *aces e reaces+ de ordem
humana. No primeiramente exotrico na sua definio. A caridade
crist no tem nem pode ter qualquer interesse no *bem-estar+ em si, pois
o verdadeiro cristianismo, como toda a religio ortodoxa, cre que a unica
verdadeira felicidade de que pode usufruir a sociedade humana o bem-estar
espiritual, na presena do Santo: esse o fim de toda a civilizao.
Pois *grande nmero de sbios a salvao da Terra+ (Sab.,6:24). Uma
verdade que os moralistas ignoram que quando a obra de caridade est
concluda pelo amor de Deus, ou em virtude do conhecimento de que
*eu+ sou o *prximo+ e que o *prximo+ *eu mesmo+ -,conhecimento
que alis implica esse amor -, a obra de caridade ter para o prximo
no s o valor de uma beneficncia exterior, mas tambm a de uma bno. Pelo
contrrio, quando a caridade no exercida nem por amor de
Deus, nem em virtude do dito conhecimento, mas unicamente em vista do
simples *bem-estar+ humano, 'considerado como fim em si, a bno inerente
verdadeira caridade no acompanha a aparente beneficncia, nem
em quem a exerce nem em quem a recebe.
A presena das ordens monsticas s se pode explicar pela existncia de
uma tradio inicitica, na Igreja do Ocidente, tal como n ' a 1grej a do
Oriente, tradio que remonta - confirmam-no So Bento e os hesicastas
- aos Padres do Deserto, aos Apstolos e a Cristo. O facto de o cenobitismo da
Igreja Latina remontar s mesmas origens do da Igreja Grega formando este
ltimo, alis, uma comunidade nica e no vrias ordens
distintas - prova precisamente que tanto o primeiro quanto o segundo
so de essncia esotrica. E, do mesmo modo, o eremitismo considerado por
ambas as partes como o expoente da perfeio espiritual - afirma-o So Bento
explicitamente na sua Regra -, o que nos permite concluir
que o desaparecimento dos eremitas marca o declnio do florescimento
crstico. A vida monstica, longe de constituir uma via que se basta a si
mesma, designada na Regra de So Bento como *um comeo de vida
religiosas. Para *o que apressa os seus passos na perfeio da vida monstica,
existem os ensinamentos dos Santos Padres, cuja observncia conduz
138
A Unidade Transcendente das Religies
o homem ao fim supremo da religio'. Ora, so tais ensinamentos que
constituem a prpria essncia doutrinal do hesicasmo. O rgo do esprito,
principal centro de vida espiritual, o corao.
Tambm aqui a doutrina hesicasta est de perfeito acordo com o ensinamento de
todas as outras tradies iniciticas. notrio o que o hesicasmo fornece
ensinamentos acerca do meio de realizar a participao natural do micrososmo
humano no Metacosmo Divino, transmutando-a em
participao sobrenatural e, finalmente, em unio e identidade: esse meio
a *orao interior+ ou *orao de Jesus+. Essa *orao+ ultrapassa em
princpio todas as virtudes, pois um acto divino em ns e, como tal,
o melhor acto possvel. S atravs dessa orao a criatura se pode unir
realmente ao Criador. O fim dessa orao por consequncia o estado espiritual
supremo, em que o homem ultrapassa tudo o que pertence criatura e, unindo-se
intimamente Divindade, iluminado pela Luz Divina.
Esse estado o *santo silncio+, simbolizado alis pela cor negra de certas
imagens da Virgem'. Aos que julgam que a *orao espiritual+ coisa fcil e
mesmo gratuita, o palamismo responde que ela constitui pelo contrrio a via mais
es Citemos igualmente a seguinte passagem do ltimo captulo do livro
intitulado: *Que
a prtica da justia no est toda contida nesta regra+: *Oual com efeito a
pgina,
qual a palavra de autoridade divina no Antigo e no Novo Testamento, que no seja
uma regra muito segura para a conduta do hornem9 Ou ainda, qual o livro dos
Santos
Padres catlicos que no nos ensina elevadamente o caminho recto para chegar ao
nosso Criador? Alm disso, as Conferncias dos Padres (do Deserto), as suas
Instituies e
Vidas, a Regra do Nosso Pai So Baslio, que outra coisa so seno o exemplar
dos
monges que vivem na obedincia,e documentos autnticos de virtudes? Para ns,
relaxados, de m vida, cheios de negligncia, existe a matria para corarmos de
vergonha.
Tu, que apressas o teu passo para a ptria celeste, cumpre primeiro, com a ajuda
de
Cristo, este fraco esboo da regra que tramos. Chegars, enfim, sob a
proteco de
Deus, s mais sublimes alturas da doutrina e das virtudes, que acabmos de
recordaras
' Este *silncio+ o equivalente exacto do nirvna hindu e budista e do fan
sufita.
Ao mesmo simbolismo se refere a *pobreza+ (faqr) em que se realiza a *unio+
(tawhid). Mencione-se igualmente, a propsito desta unio real ou reintegrao
do
finito no Infinito, o ttulo de um livro de So Gregrio Palamas: *Testeinunhos
dos
santos, mostrando que os que participam na Graa divina se tornam, conforme a
Graa, sem origem e infinitos.+ Recorde-se aqui o adgio do esoterismo
muulmano: *O sufi no criado+.
139
Frithjof Schwn
treita que existe, conduzindo aos mais altos cumes da perfeio, na condio
essencial de o acto de orao se achar de acordo com os restantes
actos humanos! Por outras palavras, as virtudes - a conformidade Lei
Divina - so a condio sine qua non para a orao espiritual ter qualquer
eficcia. Estamos portanto bem longe da iluso ingnua dos que pensam poder
chegar a Deus atravs de prticas simplesmente maquinais e
sem qualquer outro empenhamento ou obrigao. *A virtude - ensina
a doutrina palamita - dispe-nos para a unio com Deus, mas a Graa
realiza esta unio inexprimvel.+ Se as virtudes desempenham o papel
dos modos de conhecimento porque representam, por analogia, *atitudes
divinas+. No h na verdade virtudes que no derivem de um
Prottipo Divino, sendo esse o sentido mais profundo das mesmas.
*Ser+ *conhecer+. Chamaremos enfim a ateno para o alcance fundamental e
universal
da invocao do Nome Divino. Este no cristianismo - como no budismo e em
certas linhagens iniciticas do hindusmo - o Nome do Verbo
Encarnado', portanto, o Nome de *Jesus+ que, como todo o Nome Divino revelado e
ritualmente pronunciado, se identifica misteriosamente com
a Divindade. no Nome Divino que ocorre o misterioso encontro entre o
criado e o Incriado, o contingente e o Absoluto, o finito e o Infinito.
O Nome Divino assim uma manifestar o do Princpio Supremo que se
manifesta. No , primeiramente, manifestao, mas o prprio princpio'.
*O Sol mudar-se- em trevas e a Lua em sangue antes de chegar o grande
e terrvel Dia do Senhor+ - diz o profeta Joel -, *mas todo o que invocar o
Nome do Senhor ser salvo'. Recordemos igualmente o comeo da
Primeira Epstola de So Paulo aos Corntios, dirigida *a todos os que invocam,
onde quer que seja, o Nome de Nosso Senhor Jesus Cristo+ e,
tambm, na Primeira Epstola aos Tessalonicenses, a exortao nestes termos: *H
que aprender a invocar o Nome de Deus mais do que se respi
' Queremos referir-nos aqui invocao de Amida Buddha e frmula Om mani
padm hum e, no que respeita ao hindusmo, s invocaes de Rma e de Krishna.
1 Do mesmo modo, Cristo, segundo a perspectiva crist, no primeiramente
homem,
mas Deus.
Os Salmos contm vrias referncias invocao do Nome de Deus: *Invoco o Se
140
A Unidade Transcendente das Religies
ra, a todo o momento, em todo o lugar e durante qualquer ocupao.
O Apstolo diz: Orai sem cessar; ou seja, ele ensina que nos devemos
lembrar de Deus a todo o momento, em todo o lugar e durante qualquer
ocupao'. No portanto sem razo que os hesicastas consideram a invocao do
Nome de Jesus como herana deste aos seus Apstolos: * assim - afirma a
Centria dos monges Calisto e Incio - que o nosso misericordioso e bem-amado
Senhor Jesus Cristo, ao chegar a hora da Sua
Paixo, livremente aceite por ns, e depois da Sua Ressurreio ao mostrar-Se
visivelmente aos Apstolos, preparando-Se para ascender junto do
Pai... legou aos seus estas trs coisas (a invocao do Seu Nome, a Paz e
o Amor, que correspondem respectivamente F, Esperana e Caridade)... O
comeo de todo o acto de amor divino a invocao confiante
do Nome salvfico de Nosso Senhor Jesus Cristo, tal como ele prprio o
disse (Jo.,15:5): Sem mim, nada podeis fazer... Pela invocao confiante
do Nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, esperemos firmemente obter a
Sua Misericrdia e a verdadeira Vida oculta nele. Esta assemelha-se
Fonte Divina inesgotvel (Jo.,4:14), que jorra os seus dons sempre que o
Nome do Nosso Senhor Jesus Cristo invocado, sem imperfeies, no corao.+
Citemos ainda esta passagem de uma epstola (Epistola ad Monachos) de So Joo
Crisstomo: *Ouvi dizer aos Padres: quem este monge que abandona a regra, e a
negligencia? Quando come, bebe, se senta
nhor com a minha voz e Ele ouve-me desde a Sua montanha santa.+ - *Mas eu
invoquei o Nome do Senhor: Senhor, salva a minha alma!+ - *O Senhor est perto
de todos os que O invocam, dos que O invocam em verdade.+ - Duas passagens se
referem
ainda ao modo eucarstico: *Abre a tua boca, quero ench-la.+ - *O que faz
feliz a
tua boca para que voltes a ser jovem como a guia.+ - E Isaas: *No temas,
pois te
salvei, chamei-te pelo teu nome, 'tu pertences-Me.+ - *Buscai ao Senhor, pois
pode
ser encontrado. Invocai-o, porque est prximo.+ - E Salorno, no Livro da
Sabedoria: *Invoquei, e o Esprito da Sabedoria veio a mim.+ Neste
comentrio de So Joo Damasceno, os termos *invocar+ e *recordar-se+ aparecem
para descrever ou ilustrar uma mesma ideia. Ora, sabe-se que o termo rabe
dhikr significa ao mesmo tempo *invocao+ e *lembrana+. Igualmente no budismo
*pensar em Buddha+ e *Invocar+ a Buddha exprime-se com uma s palavra
(buddhnusmriti; o nienfo chins e o nembutsu 'apons). Por outro lado, de
notar que os hesicastas e os dervixes designam a invocao pelo mesmo termo: os
primeiros chamam
*trabalho+ recitao da *Orao de Jesus+, enquanto os segundos chamam *ocupa
o+ ou *tarefa+ (Augh0 a qualquer invocao. @I
141
Frithjof Schuon
ou serve os outros, quando caminha ou faz o que fizer, deve invocar sem
cessar: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim'... Persevera sem
cessar no Nome de Nosso Senhor Jesus, para que o teu corao
beba o Senhor e o Senhor beba o teu corao, e assim os dois se tornem
Um!+
Esta frmula reduz-se frequentemente, sobretudo em homens mais
espiritualizados,
ao simples Nome de Jesus. - *O meio mais importante na vida de orao o Nome
de
Deus, invocado na orao. Os ascetas e todos os que levam uma vida de orao,
desde
os anacoretas da Tebalda e os hesicastas do monte Atos... insistem sobretudo
nesta importncia do Nome de Deus. Fora dos Ofcios, existe para todos os
ortodoxos uma regra de orao, composta por salmos e diferentes rezas. Para os
monges muito mais
considervel. Mas o que mais importa na orao, o que constitui o corao da
orao,
aquilo a que se chama a orao de Jesus: *Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus
Vivo
tem piedade de mim, pecador! Esta orao, repetida centenas de vezes ou
indefinidamente, forma o elemento essencial de qualquer regra de orao
monstica. Pode, em
caso de necessidade, substituir os Ofcios e demais oraes, pois o seu valor
universal. A fora desta orao no est no seu contedo, que simples e claro
( a orao
do caminheiro), mas no Nome duIcssimo de Jesus. Os ascetas do testemunho de
que
este Nome encerra a fora da presena de Deus. No apenas Deus que invocado
por este Nome: est sim presente na invocao. Podemos afirm-lo certamente de
todo
o Nome de Deus. Mas h que diz-lo sobretudo do Nome divino e humano de Jesus,
que o Nome prprio de Deus e do homem. Em suma, o Nome de Jesus, presente no
corao humano, comunica-lhe a fora da deificaro que o Redentor nos concedeu+
(S. Boulgakoff, L'Orthodoxie). *O Nome de Jesus+ - diz So Bernardo - *no
apenas luz. tambm alimento.
Qualquer alimento demasiado seco para ser assimilado pela alma se no for
suavizado por este condimento. demasiado inspido, se este sal no lhe der
sabor. No gosto
dos teus escritos, se no puder ler neles este Nome. No gosto dos teus
discursos, se
no o ouvir ressoar. mel para a minha boca, melodia para o meu ouvido, alegria
para o meu corao, mas tambm um remdio. Algum de vs se sente oprimido pela
tristeza? Que experimente Jesus com a boca e com o corao, e eis que luz do
Seu Nome toda a nuvem se dissipa e o cu fica sereno. Algum se deixou levar
pelo erro ou
sente a tentao do desespero? Que invoque o Nome da Vida e a Vida o reanimars
(Sermo 15 sobre o Cntico dos Cnticos).
142
IX
SER HOMEM CONHECER
evidncia da unidade transcendente
das religies deriva no s da unidade da Verdade, mas tambm da unidade do
gnero humano. A razo suficiente da criatura humana saber pensar. No pensar
ao acaso, mas pensar no que importa e, no fundo, na nica coisa que importa. O
homem o nico ser sobre a Terra capaz de
prever a morte e desejar sobreviver. quem deseja e quem pode saber o
porqu do mundo, da alma e da existncia. Ningum pode negar que da
natureza humana pr essas perguntas, ter direito a respostas e acesso s
mesmas, seja por Revelao ou por Inteleco, agindo cada uma dessas
fontes segundo leis prprias e no quadro de condies correspondentes.
Queramos talvez desculpar-nos por parecer que *arrombamos portas
abertas+, no vivssemos ns num mundo em que as portas habitualmente
abertas so sabiamente fechadas. Isso, cada vez mais, graas aos cuidados
de um relativismo psicologist, subjectivista, biologista, que ainda ousa
designar-se por *filosofia+. Com efeito, vivemos numa poca em que a
inteligncia metodicamente arruinada nos seus prprios fundamentos e em
que se torna cada vez mais oportuno falar da natureza do esprito. Nem
que fosse a ttulo de *consolao+ ou para fornecer argumentos+ para os
devidos efeitos+. Dizendo isto, recordamo-nos de uma passagem do Alcoro em
que
Abrao pede a Deus para lhe mostrar de que maneira ressuscita os mortos. Deus
responde-lhe, pondo a questo: *No crs ainda?+ Abrao res 143
Frithiof Schuon
ponde: *Sim, mas peo-o para que o meu corao fique tranquilo. + nesse
sentido que sempre permitido recordar verdades evidentes,
conhecidas de todos, tanto mais que as verdades conhecidas so muitas
vezes as mais desconhecidas.
O sinal distintivo do homem a inteligncia total, objectiva, capaz de
conceber o absoluto. Dizer que possui tal capacidade equivale a dizer que
objectiva ou total. A objectividade, pela qual a inteligncia humana se
distingue da inteligncia animal, seria desprovida de razo suficiente no
fosse a capacidade de conceber o absoluto ou o infinito ou o sentido da
perfeio. Afirmou-se que o homem um animal racional, j que a razo o
seu
sinal distintivo. Mas essa no poderia existir sem a inteligncia
supra-racional, que o Intelecto, que a prolonga no mundo dos fenmenos
sensoriais. Do mesmo modo, a linguagem o sinal distintivo do homem,
pois prova a presena da razo e, a fortiori, a do Intelecto. A linguagem,
como a razo, a prova do Intelecto, tendo tanto uma como a outra a sua
motivao profunda no conhecimento das realidades transcendentes e dos
nossos fins ltimos. A inteligncia como tal prolonga-se na vontade e no
sentimento: se a
inteligncia objectiva, a vontade e o sentimento s-lo-o igualmente.
O homem distingue-se do animal por uma vontade livre e um sentimento
generoso porque se distingue dele por uma inteligncia total: a totalidade
da inteligncia d lugar, extensivamente, liberdade da vontade e
generosidade do sentimento e do carcter. Pois s o homem pode querer o que
contrrio aos seus instintos ou aos seus interesses imediatos. S ele se
pode colocar no lugar dos outros, sentindo com eles e neles. E s ele capaz de
sacrifcio e piedade. A vontade est presente para realizar, mas a sua
realizao determinada pela inteligncia. O sentimento est presente para amar
- quanto
sua natureza intrnseca e positiva -, mas o seu amor tambnI determinado pela
inteligncia, tanto racional como intelectual, sem o que seria
cego. O homem a inteligncia, a objectividade, e tal inteligncia objectiva
determina tudo o que ele e fez.
144
A Unidade Transcendente das Religies
lgico que os que se reclamam da Revelao e no da Inteleco tendam a
desacreditar a inteligncia, donde a noo de *orgulho intelectual+.
Tm razo se se trata da *nossa+ inteligncia *por si s+, mas no quando
se trata da inteligncia em si e inspirada pelo Intelecto que, afinal, divino.
Pois o pecado dos filsofos consiste no em fiar-se na inteligncia enquanto
tal, mas em fiar-se na sua inteligncia. E em fiar-se apenas na inteligncia
desligada das suas razes sobrenaturais. H que entender duas coisas:
primeiro, que a inteligncia no- nos pertence e que o que nos pertence no
toda a inteligncia. Segundo, que a
inteligncia, se nos pertence, no se basta a si mesma, precisa da nobreza
de alma, da piedade e da virtude para poder ultrapassar a sua particularidade
humana, unindo-se Inteligncia em si. A inteligncia, no acompanhada da
virtude, carece de sinceridade e a falta de sinceridade limita forosamente o
seu horizonte. preciso sermos aquilo em que nos queremos
tornar ou, dito de outra maneira, preciso antecipar moralmente -
*esteticamente+ - a ordem transcendente que queremos conhecer, pois
Deus perfeito em todos os sentidos. A integridade moral intrnseca no
certamente uma garantia de conhecimento metafsico, mas e uma condio de
funcionamento integral da inteligncia com base em dados doutrinais suficientes.
O orgulho intelectual - ou, mais propriamente, intelectualista - est
excludo da inteligncia em si e da inteligncia acompanhada da virtude.
Esta faz supor o sentido da nossa pequenez, assim como o sentido do sagrado.
Seria necessrio acrescentar que, se existe uma inteligncia conceptual
ou doutrinal, existe outra existencial ou moral: preciso ser inteligente no
apenas no pensamento, mas tambm no ser, que fundamentalmente uma
adequao Realidade Divifia. A inteligncia tanto individual como
universal. Ela razo ou Intelecto. A individual deve inspirar-se na sua raiz
universal se pretende ultrapassar a ordem das evidncias materiais. Mas tambm
conceptual e existencial, devendo ligar-se ao seu complemento moral, de modo a
ser
plenamente conforme quilo de que pretende dar-se conta. A vontade do
Bem e o amor do Belo so as concomitncias necessrias s repercusses
incalculveis do conhecimento do Verdadeiro. Em princpio, a inteligncia
infalvel. Mas -o por Deus, no por ns.
145
Frithjof Schuon
Por Deus: pela sua raiz transcendente, sem a qual fragmentria; e pelas
suas modalidades volitivas e afectavas, sem as quais se condena a no ser
mais do que um jogo do esprito. Inversamente e a fortiori jamais se pode
dissociar a vontade ou o sentimento da inteligncia que os ilumina, determinando
as suas aplicaes e operaes.
Disse-se que a razo uma enfermidade, o que justo se a compararmos
viso directa que a Inteleco. A razo uma enfermidade, mas a
contingncia tambm o , embora no sob o seu aspecto positivo de adequao. A
adequao discursava necessria ao homem, desde que situada entre o exterior e
o interior, entre o contingente e o absoluto. Toda a
discusso sobre a capacidade ou incapacidade do esprito humano em conhecer a
Deus resolve-se no seguinte: a nossa inteligncia s pode conhecer a Deus *por
Deus+, portanto Deus que Se conhece em ns. A razo
pode participar, instrumental ou provisoriamente, nesse conhecimento se
permanecer unida a Deus. Pode participar na Revelao por um lado e na
Inteleco por outro, derivando a primeira de Deus *acima de ns+ e a
segunda de Deus *em ns+. Se entendermos por *esprito humano+ a razo cortada
da Inteleco ou da Revelao - sendo esta em princpio necessria para
actualizar aquela -, bvio que este esprito no capaz
nem de nos iluminar nem a fortiori de nos salvar.
. Para o fidesta, s a Revelao *sobrenatural+. A Inteleco, cuja natureza
ele ignora, reduzindo-a simples lgica, para ele *natural+. Para
o gnstico, pelo contrrio, tanto a Revelao como a Inteleco so
sobrenaturais, dado que Deus - ou o Esprito Santo - opera em uma como em outra.
O fidesta tem todo o interesse em crer que as convices
do gnstico resultam de silogismos e cr-o tanto mais quanto de facto uma
operao lgica, como um qualquer simbolismo, pode provocar a centelha
da Inteleco e levantar o vu do esprito. De resto, o fidesta no pode
negar totalmente o fenmeno da intuio intelectual, mas evitar associ-lo a
essa Revelao *naturalmente sobrenatural+ e imanente, que o Intelecto.
Atribu-lo- *inspirao+ e ao Esprito Santo, que no fundo o
mesmo, salvaguardando porm o axioma da incapacidade do *esprito humano+.
146
A Unidade Transcendente das Religies
O tomismo distingue o conhecimento *obtido pela razo natural+ do
*obtido pela graa+, o que sugere que as certezas metafisicas seriam dons
pontualmente concedidos', embora haja tambm no homem aquilo a que
paradoxalmente chamaramos uma *graa naturalmente sobrenatural+,
que o Intelecto. Pois uma coisa uma luz que nos vem por inspirao
subtil e outra coisa uma luz a que temos acesso pela nossa *natureza
sobrenatural+. Todavia, poderamos designar essa natureza como *imanncia
divina+, dissociando-a assim do humano, como fazemos ao afirmarmos
que s Deus pode conhecer a Deus, seja em ns ou fora de ns. Em qualquer dos
casos, o receptculo *natural+ que concedido ao *sobrenatural+ tem j algo de
sobrenatural ou de divino'.
A essncia da epistemologia constitui a razo de ser e a prpria
possibilidade de inteligncia, a saber: a adequao, o *conhecimento+, por
muito
que isso desagrade aos agnsticos. E quem diz adequao, diz prefigurao e
mesmo imanncia do cognoscvel no sujeito cognoscente ou chamado a conhecer.
O motivo da polarizao do real em sujeito e objecto acha-se no Ser.
No no puro Absoluto, o Sobre-Ser, mas na sua primeira autodeterminao. A Maya
divina a *confrontao+ de Deus enquanto Sujeito ou
Conscincia e de Deus enquanto Objecto ou Ser. o conhecimento que
Deus tem de si mesmo, da sua perfeio e das suas possibilidades.
Tal polarizao principal refracta-se inumeravelmente no universo, mas
Do ponto de vista gnosiolgico So Toms sensualista, portanto quase
nacionalista
e empirista. Todavia, segundo ele, os princpios da lgica situam-se em Deus,
embora
uma contradio entre o nosso conhecimento e a Verdade Divina seja impossvel. E
esse um dos axiomas de toda a metafsica e de toda a epistemologia. Por
analogia, poderamos dizer que Maria *divina+ no apenas por Jesus, mas
tambm e a priori pela sua receptividade na Encarnao, donde a sua *linaculada
Conceio+, que uma qualidade intrnseca da Virgem. Assim sendo, o Logos
*encarnou+
nela ainda antes do nascimento de Cristo, o que indicado pelas expresses
cheia de
graa e o Senhor est consigo e que explica que ela tenha podido ser apresentada
tanto pelos cristos como pelos,muulmanos - como a *Me de todos os Profetas+.
O Lotus (Padma) no poderia trazer a Jia (Mani) se no fosse ele mesmo uma
teofania.
147
Frithjof Schuon
de modo desigual - segundo o que exige a Possibilidade manifestante
e por isso as subjectividades no so epistemologicamente equivalentes.
Mas dizer que o homem *feito imagem de Deus+ significa precisamente que ele
representa uma subjectividade central, no perifrica e por consequncia um
sujeito que, emanando directamente do Intelecto Divino,
participa em princpio no poder deste. O homem pode conhecer tudo o
que real, portanto cognoscvel, sem o que no seria essa divindade terrestre
que de facto . O conhecimento relativo limitado subjectivamente por um
ponto de
vista e objectivamente por um aspecto. Sendo o homem relativo, o seu
conhecimento tambm o , pois humano. E -o na razo, no no Intelecto
intrnseco. -O'no *crebro+, no no *corao+ unido ao Absoluto. E
nesse sentido que, segundo um hadfth, *o Cu e a Terra no se podem
conter (diz Deus), mas o corao do crente, esse contm-me+ - esse corao que,
graas ao prodgio da Imanncia, desemboca sobre o *Si+ Divino e sobre a
infinidade extintiva e unitiva do cognoscivel, portanto do
Real. Poderamos perguntar: porqu este desvio pela inteligncia humana?
Por que motivo Deus, que Se conhece a Si mesmo, Se quer ainda conhecer no homem?
Como nos ensina um hadith, *Eu era um tesouro oculto e
quis ser conhecido. Por isso, criei o mundo.+ O que significa que o Absoluto
quer ser conhecido a partir do relativo. Porqu? Porque isso um
possibilidade que deriva da ilimit ao do Possvel Divino. Uma possibilidade,
portanto algo que jamais pode no ser, e cujo porqu reside no
Infinito.
148
59
FRITHJOF SCHUON
DADOS BIOGRAFICOS
thjof Schuori nasceu em BIe, no
ano de 1907, e filho de um alemo do Estado de Wurtemberg e de uma
francesa natural da Alscia. Obteve a nacionalidade francesa graas ao
Tratado de Versailles; trinta anos mais tarde, depois de haver-se casado
com a filha de um diplomata suo, recebeu a nacionalidade helvtica.'De
1930 a 1932, trabalhou como desenhador de arte em Paris, sem com isso
haver negligenciado os estudos orientalistas, incluindo a aprendizagem do
rabe; pouco depois esteve no Norte de Africa para aprofundar o conhecimento do
Sufismo. Fez em seguida toda uma srie de viagens a diversos pases do
Oriente.
Visitou Ren Gunon, por duas vezes, no Cairo; e encontrava-se na ndia, quando
teve incio a Segunda Guerra Mundial. Mais tarde, em 1959 e
em 1963, Schuon viveu bastante tempo junto dos ndios da Amrica do
Norte, tendo inclusivamente sido adoptado pela tribo Sioux. Durante cerca de
vinte anos colaborou com Gunon na revista tudes Traditionnelles.
Enfim, aps ter vivido durante quatro dcadas junto do lago Leman, retirou-se
para os Estados Unidos da Amrica.
149
OUTRAS OBRAS DE FRITHJOF SCHUON
L'ffil du cxur, Dervy-Livres
Perspectives spirituelles et Faits humains, Les Cahiers du Sud
Sentions de Gnose, La Colombe
Castes et Races, Dervy-Livres
Les Stations de la Sgesse, Buchet-Chastel
Images de 1'Esprit: Shint, Bouddhisme, Yoga, Flammarion
Regard sur les Mondes anciens, ditions traditionelles
Logique et Transcendence, ditions traditionelles
Forme et Substance dans les religions, Dervy-Livres
L'Esotrisme comme Principe et comme Voie, Dervy-Livres
(fim do livro)
Você também pode gostar
- Gerenciamento Pelas DiretrizesDocumento27 páginasGerenciamento Pelas Diretrizesrobsonrsn100% (2)
- Fichamento - CARPIGIANI, Berenice PDFDocumento4 páginasFichamento - CARPIGIANI, Berenice PDFGae BreytonAinda não há avaliações
- MAFFESOLI, Michel. Sobre o Nomadismo.Documento3 páginasMAFFESOLI, Michel. Sobre o Nomadismo.RafaelZeferinoAinda não há avaliações
- A Abertura Do Caminho - Isha Schwaller de Lubicz - Esta Hora RealDocumento78 páginasA Abertura Do Caminho - Isha Schwaller de Lubicz - Esta Hora RealFica A Dica AdrianaAinda não há avaliações
- O Vedanta e A Tradição OcidentalDocumento22 páginasO Vedanta e A Tradição OcidentalMarcelo Cipolla100% (1)
- O Simbolismo Do Espelho - Titus BurckhardtDocumento5 páginasO Simbolismo Do Espelho - Titus BurckhardtendrioAinda não há avaliações
- Estados Múltiplos Do SerDocumento10 páginasEstados Múltiplos Do SerAbdullah HakimAinda não há avaliações
- Frithjof Schuon A Base Da Religiao e Da MetafisicaDocumento10 páginasFrithjof Schuon A Base Da Religiao e Da MetafisicaRose Carmo100% (1)
- As Notas Musicais e o Simbolismo Planetário PDFDocumento6 páginasAs Notas Musicais e o Simbolismo Planetário PDFLeo NunesAinda não há avaliações
- Teoria Do Conhecimento em São BoaventuraDocumento18 páginasTeoria Do Conhecimento em São BoaventuraLincoln Haas HeinAinda não há avaliações
- Depuração DialéticaDocumento2 páginasDepuração DialéticaCaio CardosoAinda não há avaliações
- Meister - A Visão Da Liberdade e o Olhar Relacional em Mestre Eckhart Uma Fenomenologia Da Criação Segundo o Pensar em Mestre Eckhart Por Gilberto Garcia PDFDocumento183 páginasMeister - A Visão Da Liberdade e o Olhar Relacional em Mestre Eckhart Uma Fenomenologia Da Criação Segundo o Pensar em Mestre Eckhart Por Gilberto Garcia PDFCrisóstomo LimaAinda não há avaliações
- Simbologia Oculta - O 1º Trabalho de Hércules - A Morte Do Leão de Neméia PDFDocumento4 páginasSimbologia Oculta - O 1º Trabalho de Hércules - A Morte Do Leão de Neméia PDFEmanuel TorquatoAinda não há avaliações
- Pe. Stanislavs Ladusãns - Significado e Ampliação Da Gnosiologia Pluridimensional (Revista Brasileira de Filosofia, V. 36, N. 147, P. 264-268, Jul.-Set., 1987)Documento5 páginasPe. Stanislavs Ladusãns - Significado e Ampliação Da Gnosiologia Pluridimensional (Revista Brasileira de Filosofia, V. 36, N. 147, P. 264-268, Jul.-Set., 1987)Matheus Vidotti MonteiroAinda não há avaliações
- TITUS BURCKHART Principios e Metodos Da Arte SagradaDocumento70 páginasTITUS BURCKHART Principios e Metodos Da Arte Sagradasnowk92100% (1)
- Tratado de SimbólicaDocumento158 páginasTratado de Simbólicavinicius BragaAinda não há avaliações
- PIAGET, Jean - Sabedoria e Ilusões Da Filosofia PDFDocumento86 páginasPIAGET, Jean - Sabedoria e Ilusões Da Filosofia PDFWilton100% (4)
- Vocação III - LavelleDocumento12 páginasVocação III - LavelleAramís Pereira100% (2)
- Literatura e Analise Do Discurso Analise Do Conto Pai Contra Mae de Machado de AssisDocumento10 páginasLiteratura e Analise Do Discurso Analise Do Conto Pai Contra Mae de Machado de AssisCamylla HerculanoAinda não há avaliações
- A Igreja Católica, As Ordens de Cavalaria e Os TempláriosDocumento62 páginasA Igreja Católica, As Ordens de Cavalaria e Os TempláriosDiego EduardoAinda não há avaliações
- 669 - Chibolete Ou SiboleteDocumento7 páginas669 - Chibolete Ou SiboleteHenry Schneider RuyAinda não há avaliações
- Jean Borella - Origem Pitagórica Do SímboloDocumento2 páginasJean Borella - Origem Pitagórica Do Símbolohelio_bacAinda não há avaliações
- Escolástica Como Decadência Filosófica - Da Discussão Entre Júlio e Olavo - Ad Hominem - Humanidades e Outras FaláciasDocumento4 páginasEscolástica Como Decadência Filosófica - Da Discussão Entre Júlio e Olavo - Ad Hominem - Humanidades e Outras FaláciasJúlio CézarAinda não há avaliações
- Max Scheler - Ordo AmorisDocumento44 páginasMax Scheler - Ordo Amoriscoisasdoarcodavelha100% (2)
- A Perspectiva RotatoriaDocumento7 páginasA Perspectiva Rotatoriafelipe_fismed4429Ainda não há avaliações
- A Escada de OuroDocumento5 páginasA Escada de OuroPaulo BaptistaAinda não há avaliações
- OdC Elementos Da Tipologia EspiritualDocumento18 páginasOdC Elementos Da Tipologia EspiritualLucasRabelloAinda não há avaliações
- Verdade e Liberdade - A Teologia Da LibeDocumento5 páginasVerdade e Liberdade - A Teologia Da LibeMatheus SantosAinda não há avaliações
- Ananda CoomaraswamyDocumento4 páginasAnanda CoomaraswamyFelipe NettoAinda não há avaliações
- MFS - Filosofia Concreta - Tomo IDocumento205 páginasMFS - Filosofia Concreta - Tomo IAndré Restier100% (2)
- FL ARTIGAS Mariano. Filosofia Da NaturezaDocumento95 páginasFL ARTIGAS Mariano. Filosofia Da NaturezaDouglas Carlo100% (2)
- Prometam Ser - Olavo de CarvalhoDocumento1 páginaPrometam Ser - Olavo de CarvalhoMAGNUS7 BRAinda não há avaliações
- Espiritualidade Maçonica.Documento6 páginasEspiritualidade Maçonica.jorge luiz felskyAinda não há avaliações
- Martin Heidegger - O Que É MetafisicaDocumento10 páginasMartin Heidegger - O Que É MetafisicadanielpvcAinda não há avaliações
- Cartas de Saint Martin PDFDocumento179 páginasCartas de Saint Martin PDFWelder Oliveira100% (1)
- Filocalia - Tomo IDocumento137 páginasFilocalia - Tomo IMatheus de AndradeAinda não há avaliações
- Mário Ferreira Dos Santos - Teoria Geral Das TensoesDocumento205 páginasMário Ferreira Dos Santos - Teoria Geral Das TensoesantroposologogmailcoAinda não há avaliações
- O Livre ArbítrioDocumento4 páginasO Livre ArbítriopcfiuzalimaAinda não há avaliações
- Ser e Conhecer - Olavo de CarvalhoDocumento31 páginasSer e Conhecer - Olavo de CarvalhoMateus Carvalho100% (1)
- Quem GurdjieffDocumento25 páginasQuem GurdjieffCalmon Lucio Kowalecki de AlmeidaAinda não há avaliações
- Os Versos de Ouro de PitagorasDocumento2 páginasOs Versos de Ouro de PitagorasDaniel AlvesAinda não há avaliações
- AstrotextosDocumento233 páginasAstrotextosRita SalusaAinda não há avaliações
- Filosofia e Cristianismo1Documento10 páginasFilosofia e Cristianismo1Junior FernandesAinda não há avaliações
- Tratado de SimbolicaDocumento149 páginasTratado de SimbolicaalexUECE100% (3)
- Escolástica. Uma Filosofia em Diálogo Com A Modernidade.Documento56 páginasEscolástica. Uma Filosofia em Diálogo Com A Modernidade.Wellington GomesAinda não há avaliações
- Diagrama de MeditaçãoDocumento3 páginasDiagrama de MeditaçãoAugusto César JardimAinda não há avaliações
- Instituto René Guénon de Estudos Tradicionais, Tradição, TraditionDocumento4 páginasInstituto René Guénon de Estudos Tradicionais, Tradição, TraditionNaianne LimaAinda não há avaliações
- PANORAMA DA FILOSOFIA BRASILEIRA - Ricardo Vélez RodríguezDocumento22 páginasPANORAMA DA FILOSOFIA BRASILEIRA - Ricardo Vélez RodríguezgatoleoloAinda não há avaliações
- Metafísica Da Guerra - Julius EvolaDocumento25 páginasMetafísica Da Guerra - Julius Evolafragnizer34Ainda não há avaliações
- O ser e a linguagem em Drummond: uma leitura hermenêutica da poesiaNo EverandO ser e a linguagem em Drummond: uma leitura hermenêutica da poesiaAinda não há avaliações
- Filosofia e realidade em Eric WeilNo EverandFilosofia e realidade em Eric WeilMarcelo PerineAinda não há avaliações
- Ética e Compreensão: A Psicologia, a Hermenêutica e a Ética de Wilhelm DiltheyNo EverandÉtica e Compreensão: A Psicologia, a Hermenêutica e a Ética de Wilhelm DiltheyAinda não há avaliações
- As Representações Da Morte Na Literatura GregaNo EverandAs Representações Da Morte Na Literatura GregaAinda não há avaliações
- A Arte de Ajudar: Atitudes Fundamentais no Acompanhamento EspiritualNo EverandA Arte de Ajudar: Atitudes Fundamentais no Acompanhamento EspiritualAinda não há avaliações
- Distributismo: Economia para Além do Capitalismo e do SocialismoNo EverandDistributismo: Economia para Além do Capitalismo e do SocialismoAinda não há avaliações
- A eternidade na obra de Jorge Luis BorgesNo EverandA eternidade na obra de Jorge Luis BorgesAinda não há avaliações
- Todas As Atividades ATRASADASDocumento17 páginasTodas As Atividades ATRASADASGessicaAinda não há avaliações
- Produção Textual e Cênica: Ebook / 2022Documento58 páginasProdução Textual e Cênica: Ebook / 2022SIMONE ZANOTTOAinda não há avaliações
- Cultura Escrita e EducaçãoDocumento15 páginasCultura Escrita e Educaçãomonyqet100% (1)
- Vol 4 - Conservação e TransformaçãoDocumento244 páginasVol 4 - Conservação e TransformaçãoEliakim LopesAinda não há avaliações
- O Metodo Cientifico PDFDocumento9 páginasO Metodo Cientifico PDFeudumalAinda não há avaliações
- Completo - Ebook Linguagem e Filosofia Pratica Parte1Documento287 páginasCompleto - Ebook Linguagem e Filosofia Pratica Parte1julio vilelaAinda não há avaliações
- Artigo Sobre Esquematização Seminário 1Documento17 páginasArtigo Sobre Esquematização Seminário 1Geisiane NunesAinda não há avaliações
- Pavi Me Ntac A Ode Estrada SDocumento161 páginasPavi Me Ntac A Ode Estrada SHelio HAinda não há avaliações
- 03 - Diálogo Diplomático - Óbvio Ululante Da PreparaçãoDocumento3 páginas03 - Diálogo Diplomático - Óbvio Ululante Da PreparaçãoBNEAinda não há avaliações
- Valores Sociais de Jovens de Diferentes Grupos Sociais - em Pauta A Educação - Vilmar Ezequiel Santos e Cássia Baldini SoaresDocumento22 páginasValores Sociais de Jovens de Diferentes Grupos Sociais - em Pauta A Educação - Vilmar Ezequiel Santos e Cássia Baldini SoaresMatheus AlmeidaAinda não há avaliações
- Maha Yoga o Caminho Da Não DualidadeDocumento6 páginasMaha Yoga o Caminho Da Não DualidadeAirton BarrosAinda não há avaliações
- Um Encontro Com Deus Na Fornalha de Fogo ArdenteDocumento4 páginasUm Encontro Com Deus Na Fornalha de Fogo ArdenteEliseu MouraAinda não há avaliações
- Congresso Livro 20141027 PDFDocumento627 páginasCongresso Livro 20141027 PDFAnonymous Tqn6BRliAinda não há avaliações
- SEMANA 7 - Material Semana 7Documento4 páginasSEMANA 7 - Material Semana 7Viviane SilvaAinda não há avaliações
- Bhaga Tyaga LakshanaDocumento1 páginaBhaga Tyaga LakshanaSwami Shankara SaraswatiAinda não há avaliações
- Ebook Sacerdotes AlanbarbieriDocumento19 páginasEbook Sacerdotes AlanbarbieriLuciana BricioAinda não há avaliações
- O Exame de Consciência (Marco Rupnik)Documento43 páginasO Exame de Consciência (Marco Rupnik)Diogo MizaelAinda não há avaliações
- 312 - Conectivismo Uma Teoria de Aprendizagem para A Idade DigitalDocumento8 páginas312 - Conectivismo Uma Teoria de Aprendizagem para A Idade DigitalDemian MalignantAinda não há avaliações
- A Didática Dos Campos de Experiência - Paulo FochiDocumento4 páginasA Didática Dos Campos de Experiência - Paulo Fochiregianem santosAinda não há avaliações
- RPG Quest - Super HeróisDocumento60 páginasRPG Quest - Super HeróisTalarico Santos100% (2)
- 2021 - Prova - Comentada - HE - Artes - Visuais UnicampDocumento9 páginas2021 - Prova - Comentada - HE - Artes - Visuais Unicampjulia.emrishAinda não há avaliações
- REAÇÕES AO GIRO LINGUÍSTICO Silvio Sánchez Gamboa PDFDocumento14 páginasREAÇÕES AO GIRO LINGUÍSTICO Silvio Sánchez Gamboa PDFEstêvão FreixoAinda não há avaliações
- MÉTODOS E TÉCNICAS DA PESQUISA PSICOLÓGICA Avaliação Unidade 1Documento7 páginasMÉTODOS E TÉCNICAS DA PESQUISA PSICOLÓGICA Avaliação Unidade 1Luciana Guerra ConceicaoAinda não há avaliações
- Projeto de Pesquisa Envio 1Documento10 páginasProjeto de Pesquisa Envio 1Gilmarcia Gomez GomesAinda não há avaliações
- Resumo Livro PerrenoudDocumento5 páginasResumo Livro Perrenoudangela_oreentreacaoAinda não há avaliações
- Modelo Van HieleDocumento18 páginasModelo Van HieleRicardo LedurAinda não há avaliações
- Aulas Filosofia 2Documento8 páginasAulas Filosofia 2Anderson GomesAinda não há avaliações
- Atividade Reflexiva 1Documento4 páginasAtividade Reflexiva 1Selma ValverdeAinda não há avaliações