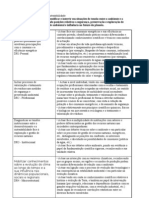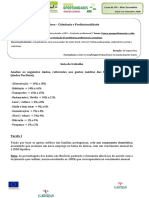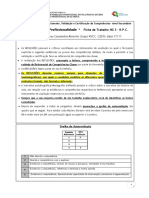Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
146 PDF
146 PDF
Enviado por
odroakTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
146 PDF
146 PDF
Enviado por
odroakDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Setembro 2006
REFERENCIAL DE COMPETNCIAS-CHAVE
para a Educao e Formao de Adultos
_
Nvel Secundrio
GUIA DE OPERACIONALIZAO
Ficha Tcnica
Ttulo:
REFERENCIAL DE COMPETNCIAS-CHAVE
para a Educao e Formao de Adultos Nvel Secundrio: Guia de Operacionalizao
Editor:
Direco-Geral de Formao Vocacional (DGFV)
Coordenao:
Maria do Carmo Gomes
Autores:
Maria do Carmo Gomes
Ana Umbelino
Isabel Ferreira Martins
Jos Baeta Oliveira
Jlia Bentes
Pedro Abrantes
Autores das FichasExemplo de Critrios de Evidncia Sociedade, Tecnologia e Cincia:
Jorge Dias de Deus (Coordenador)
Ilda Maurcio Rafael
Maria do Carmo Gomes
Marina Pinto Basto
Pedro Abrantes
Pedro Brogueira
Autores das FichasExemplo de Critrios de Evidncia Cultura, Lngua e Comunicao:
Deolinda Monteiro
Antnio Soares
Cludia Gomes
Joo Paulo Videira
Maria Jos Grosso
Teresa Duarte Martinho
Design Grfico e Paginao:
Bluetwo, Design & Comunicao, Lda.
ISBN:
972-8743-26-2
ISBN (13 dig):
978-972-8743-26-0
Data de Edio:
Novembro de 2006
Nota de Apresentao
Com a implementao do Referencial de Competncias-Chave para a Educao e Formao de Adultos
_
Nvel Secundrio, refora-se, em 2006, uma interveno centrada na promoo dos nveis de
competncias e qualificaes da populao adulta portuguesa e na reduo da subcertificao.
Com efeito, o Referencial que agora se apresenta, inserindo-se no quadro das iniciativas mais recentes
de mobilizao e educao/formao de adultos, converge para a criao de condies que, no tempo,
alarguem populao adulta o direito de ver formalmente reconhecidos os saberes e competncias
adquiridos ao longo da vida e, se necessrio, complet-los para efeitos de obteno de uma certificao
de nvel secundrio, podendo retomar, a qualquer momento, processos de educao/formao de acordo
com expectativas pessoais e profissionais.
Ao faz-lo, o Referencial de Competncias-Chave de nvel secundrio inscreve-se, claramente, nas
recomendaes comunitrias em matria de valorizao e validao das aprendizagens no formais e
informais, numa perspectiva de aprendizagem ao longo da vida. Destacam-se, neste quadro, desde logo,
a Declarao de Copenhaga em 2002 e, mais recentemente, a Recomendao sobre o conjunto de
princpios comuns europeus para a identificao e validao das aprendizagens no formais e informais,
como parte integrante da estratgia europeia Educao e Formao 2010 (Comisso Europeia, 2002,
2004a).
A nvel nacional, a opo que o Referencial de Competncias-Chave de nvel secundrio representa
constitui-se como instrumento fundamental na concretizao de compromissos nacionais, dos quais
decorrem as actuais orientaes polticas, de alargar progressivamente o processo de Reconhecimento,
Validao e Certificao de Competncias e a oferta de Cursos de Educao e Formao de Adultos
ao nvel do ensino secundrio (GOP, 2005 e PNE Iniciativa Novas Oportunidades, 2005).
A Direco da DGFV
ndice
Parte I
O Referencial de Competncias-Chave de nvel secundrio
no Sistema Nacional de RVCC
1. O que o Sistema Nacional de RVCC?
1.1. Em que princpios se baseia?
1.2. Quais os seus eixos de aco?
2. Em que modelo conceptual assenta o Referencial de Competncias-Chave de nvel
secundrio?
2.1. Quais os seus objectivos?
2.2. Quais as reas de Competncias-Chave?
2.3. Quais so os seus elementos conceptuais?
2.4. Como se apresenta o Referencial de Competncias-Chave de nvel secundrio?
3. A que competncias-chave corresponde um perfil de nvel secundrio?
Parte II
Reconhecimento, validao e certificao de competncias-chave:
itens estruturantes
1. Em que pressupostos assenta a matriz conceptual de operacionalizao do processo
de RVCC?
2. Orientaes metodolgicas: de candidato a sujeito da sua prpria aprendizagem...
2.1. Abordagem (Auto)biogrfica: os adultos so as suas experincias de vida,
como trabalh-las?
2.2. Balano de Competncias: Como elicitar/desocultar competncias?
2.3. Porteflio Reflexivo de Aprendizagens: como documentar e evidenciar competncias-chave?
2.4. Tcnicas e estratgias de suporte aos processos RVCC: a que instrumentos recorrer?
2.4.1.Trabalho individual e em pequeno grupo
2.4.2.Entrevistas, narrativas, relatos, dirios, comunicaes, fotografias, cartas,
composies artsticas,
3. Sugestes para o processo RVCC
3.1. Eixo de reconhecimento de competncias
3.2. Eixo de validao de competncias
3.3. Eixo de certificao de competncias
Parte III
Questes operacionais, casos ilustrativos
1. O sitema de crditos
1.1. A que equivale um crdito?
1.2. Em que condies um jri deve conferir um crdito?
1.3. Quantos crditos so necessrios para a certificao?
2. O uso das fichas-exemplo como material de apoio
2.1. Equivalncia funcional
2.2. Situaes de vida
2.3. Pistas para o trabalho
3. Casos Ilustrativos
Parte IV
Centro de Recursos
1. Bibliografia institucional
2. Bibliografia de autores
3. Questes frequentes
Anexo I
Anexo II
Parte I
O REFERENCIAL DE COMPETNCIAS-CHAVE
de nvel secundrio
no Sistema Nacional de RVCC
1. O que o Sistema Nacional de RVCC?
1.1. Em que princpios se baseia?
1.2. Quais os seus eixos de aco?
2. Em que modelo conceptual assenta o Referencial de
Competncias-Chave de nvel secundrio?
2.1. Quais os seus objectivos?
2.2. Quais as reas de Competncias-Chave?
2.3. Quais so os seus elementos conceptuais?
2.4. Como se apresenta o Referencial de Competncias-Chave de nvel
secundrio?
3. A que competncias-chave corresponde um perfil de nvel
secundrio?
11
O presente Guia de Operacionalizao do Referencial de Competncias-Chave para a Educao e
Formao de Adultos Nvel Secundrio constitui-se como manual para o processo de reconhecimento,
validao e certificao que, por um lado, segue as orientaes j existentes para os nveis B1, B2 e
B3 do Referencial de Competncias-Chave de nvel bsico, e por outro, consolida uma viso para os
processos RVCC baseada numa estrutura e elementos conceptuais adequados a um nvel mais avanado
o nvel secundrio.
Para que os seus diferentes destinatrios melhor se possam apropriar deste Guia de Operacionalizao
importante, antes de mais, descrever as diferentes partes em que se organiza. Este documento
apresenta-se, pois, dividido em quatro partes, com contedos diversos e de natureza bastante distinta.
A Parte I descreve, num primeiro captulo, enquadrando este documento e o Referencial de Competncias-
Chave respectivo no Sistema Nacional de Reconhecimento, Validao e Certificao de Competncias,
os princpios orientadores do processo RVCC, enunciando tambm os diferentes eixos de aco dos
Centros Novas Oportunidades (Centros RVCC). Num segundo captulo, apresenta-se o modelo conceptual
do Referencial de Competncias-Chave de nvel secundrio, identificando os seus objectivos e estrutura,
assim como o perfil de competncias que se espera que os candidatos adultos evidenciem ou dele se
apropriem ao longo do processo.
A Parte II debrua-se essencialmente sobre os itens estruturantes dos processos RVCC, iniciando-se,
num primeiro captulo, com a apresentao dos pressupostos desses processos. No segundo captulo,
fornece-se as indicaes tcnicas, metodolgicas e operativas para a concretizao das diferentes
etapas do processo
_
atravs da identificao e descrio de instrumentos metodolgicos vrios como
o desenvolvimento das abordagens auto-biogrficas a trabalhar com os candidatos, a realizao de
exerccios de balano de competncias, a construo de porteflios reflexivos de aprendizagens, e o recurso
a outras tcnicas e estratgias de aproximao aos adultos e de desocultao das competncias a evidenciar.
O terceiro captulo concretiza-se com a apresentao e descrio pormenorizada das diferentes etapas
de implementao dos processos RVCC o reconhecimento, a validao e a certificao, explicitando
as suas diferentes componentes, instrumentos, actores envolvidos e abordagens a utilizar.
Na Parte III desenvolve-se a explorao do Referencial de Competncias-Chave de nvel secundrio,
atravs da exemplificao de: (i) como se obtm a certificao de nvel secundrio atravs da apropriao
de um sistema de crditos; (ii) como se utilizam e operacionalizam as fichas-exemplo de critrios de
evidncia contidas nos anexos, para as reas operatrias Sociedade, Tecnologia e Cincia e Cultura,
Lngua, Comunicao; e (iii) como se pode aplicar o Referencial a quatro casos distintos (ficcionados)
que se utilizam como exemplos de candidatos adultos ao processo RVCC de nvel secundrio a
Lurdes, a Rita, o Jaime, o Yuri , e como uma tcnica de RVC se pode apropriar do Referencial e
respectivo Guia de Operacionalizao (a Sofia).
O Referencial de Competncias-Chave
de nvel secundrio
no Sistema Nacional de RVCC
Parte I
O REFERENCIAL DE COMPETNCIAS-CHAVE de nvel secundrio no Sistema Nacional de RVCC
12
A IV e ltima parte, constitui um esboo do que poder vir a ser uma ferramenta fundamental para o trabalho
e auto-formao dos tcnicos de RVC e formadores o centro de recursos onde constam para alm de
referncias bibliogrficas sobre aprendizagem ao longo da vida e educao e formao de adultos, links
para contedos electrnicos que permitem trabalhar as diferentes reas de Competncias-Chave, e ainda
um conjunto de Perguntas Frequentes (Frequently Asked Questions - FAQ). Espera-se que este repositrio
possa vir a estar disponvel numa rea especfica na internet, atravs do site da DGFV, a par com o
desenvolvimento de um frum de discusso para os tcnicos de RVC e formadores, quer para o nvel
secundrio, quer para o nvel bsico.
Parte I
O REFERENCIAL DE COMPETNCIAS-CHAVE de nvel secundrio no Sistema Nacional de RVCC
13
O Sistema Nacional de RVCC composto pela Rede Nacional dos 219 Centros Novas Oportunidades
existentes, onde se desenvolvem os processos de reconhecimento, validao e certificao de
competncias adquiridas pelas pessoas adultas, em vrios contextos de vida. O Sistema Nacional de
RVCC desenvolve actualmente apenas processos RVCC de nvel bsico, passando a desenvolver
tambm de nvel secundrio atravs da aplicao do Referencial de Competncias-Chave para a
educao e formao de adultos de nvel secundrio e do respectivo Guia de Operacionalizao.
O Sistema Nacional de RVCC veio dar resposta necessidade de qualificao de adultos que, no
tendo oportunidade de concretizar e completar ciclos de escolaridade de nvel bsico, mas que detendo
uma experincia de vida alargada em diferentes domnios de actuao, poderiam ver reconhecidas e
certificadas as suas competncias-chave, atravs de processos RVCC, em contextos adequados e a
partir do trabalho conjunto com tcnicos especializados.
Os princpios que orientam as aces dos Centros Novas Oportunidades caracterizam-se por privilegiar
a aprendizagem ao longo da vida, e os contextos informais e no-formais de aquisio e desenvolvimento
de competncias e saberes, a par com os contextos formais de aprendizagem.
Assentam o seu funcionamento e processos de reconhecimento, validao e certificao no conceito
de competncias-chave, entendido como um conjunto de capacidades, conhecimentos e saberes que
possibilitam aos cidados nas sociedades contemporneas, actuarem de modo eficaz nas diferentes
esferas de relao interpessoal e/ou institucional (privada, profissional, com as instituies e com a
sociedade que os rodeia e sua evoluo).
Baseiam-se em processos inovadores de grande amplitude como os de reconhecimento, validao e
certificao de competncias, que se desenvolvem ao ritmo prprio do candidato adulto, partem das
suas experincias de vida e consolidam percursos de auto-aprendizagem, reflexividade pessoal e
formao individual.
Constituem-se como plos de desenvolvimento local, atravs do estabelecimento de parcerias com
outros agentes e instituies que actuam no campo da educao e formao, atravs de uma lgica
de responsabilizao organizacional que se pauta pelos princpios de obteno de resultados, prossecuo
de objectivos e avaliao de procedimentos implementados.
1.1. Em que princpios se baseiam os Centros Novas Oportunidades?
1. O que o Sistema Nacional de RVCC?
14
Os Centros Novas Oportunidades desenvolvem trs Eixos fundamentais de aco: reconhecimento, validao
e certificao (ANEFA, 2002).
O primeiro Eixo entende-se pelo processo de identificao pessoal das competncias previamente adquiridas,
no qual se procura proporcionar ao adulto ocasies de reflexo e avaliao da sua experincia de vida,
levando-o ao reconhecimento das suas competncias e promovendo a construo de projectos pessoais e
profissionais significativos (idem).
O segundo constitui-se como o acto formal realizado por uma entidade devidamente acreditada que visa
a atribuio de uma certificao com equivalncia escolar e/ou profissional. Pode ser precedido por uma
fase de reconhecimento de competncias, acompanhado por um levantamento de necessidades formativas
(idem).
O terceiro a confirmao oficial das competncias adquiridas atravs da formao e/ou da experincia,
em princpio, identificadas no processo de reconhecimento, avaliao e validao (idem).
Na figura seguinte, apresentam-se os trs Eixos de actuao, explicitando as suas diferentes componentes,
metodologias e actores intervenientes.
1.2. Quais os seus eixos de aco?
Parte I
O REFERENCIAL DE COMPETNCIAS-CHAVE de nvel secundrio no Sistema Nacional de RVCC
15
Esquema compreensivo do processo RVCC
Eixos Abordagem Metodologia Actividades/instrumentos Intervenientes
Reconhecimento
Validao
Certificao
(Auto)biogrfica/
Histrias de Vida
(Auto)biogrfica/
Histrias de Vida
Aprendizagem ao
longo da vida
Balano de
Competncias
Elaborao de
porteflio reflexivo
Definio do perfil
de entrada do
candidato
Candidatos
Tcnicos de RVC
Formadores
Sesso de jri de
validao:
Apresentao e
discusso do
Porteflio Reflexivo
de Aprendizagens
Definio e
reconstruo do
projecto pessoal
futuro
Definio do Plano
de Interveno
Individual
Identificao de
competncias
Confronto com o
Referencial de
Competncias-
-Chave
Formaes
complementares
Pedido de
validao de
competncias
Preparao para
o jri de validao
Formalizao dos
resultados da
validao
Carteira Pessoal
de Competncias
Emisso de
certificado
Provedoria
Candidatos
Formadores
Candidatos
Tcnicos de RVC
Formadores
Avaliador Externo
Candidatos
Centro Novas
Oportunidades
Tcnicos de RVC
DGFV
16
O Referencial de Competncias-Chave de nvel secundrio assenta na articulao das trs reas de
Competncias-Chave, todas consideradas necessrias formao e/ou autonomizao do cidado no
mundo actual e, tambm, ao desenvolvimento sustentvel e s dinmicas polticas, sociais e econmicas.
A rea Cidadania e Profissionalidade (CP) assume um carcter explicitamente transversal, ao
reflectir conhecimentos, comportamentos e atitudes articulados e integradores das outras reas de
Competncias-Chave. Esta sua transversalidade, envolvente das outras duas reas, traduz-se tambm
na definio de uma estrutura semelhante e com os mesmos elementos de referncia das reas
operatrias. As competncias contidas nesta rea entendem-se como suporte reflexivo (e ao mesmo
tempo servem de base) para o trabalho a desenvolver nas outras duas reas de carcter mais instrumental.
As duas reas Sociedade, Tecnologia e Cincia (STC) e Cultura, Lngua, Comunicao (CLC) so
consideradas de natureza instrumental e operatria, como foi referido, envolvendo domnios de
competncias especficas e cobrindo campos cientficos e tcnicos muito diversos, mas utilizando
estruturas iguais e os mesmos elementos de referncia conceptual.
Constitui opo estratgica do Referencial de Competncias-Chave de nvel secundrio considerar a
rea de Cidadania e Profissionalidade, no como (mais) uma rea sectorial, mas como horizonte em
que se inscrevem e adquirem sentido as outras duas reas de Competncias-Chave. Trata-se, por isso,
de um campo transversal, que fala, comunica e suporta cada uma das outras duas reas de
Competncias-Chave includas no Referencial. Neste sentido, a rea de Cidadania e Profissionalidade
considerou-se como uma rea integradora de competncias-chave que se podem identificar e validar
a partir de uma grelha concreta de critrios de evidncia. As outras duas reas tm uma natureza muito
mais instrumental e operatria nos domnios de conhecimento nelas contidas.
Na representao grfica do modelo de articulao das reas de Competncias-Chave, sublinha-se a
centralidade da pessoa adulta com as suas prticas e experincias ao longo da vida.
2. Em que modelo conceptual assenta o Referencial
de Competncias-Chave de nvel secundrio?
Adulto em
situaes de
vida
Sociedade,
Tecnologia
e Cincia
Cultura,
Lngua,
Comunicao
C
id
a
d
ania e Profissionalid
a
d
e
C
id
a
d
ania e Profissionalid
a
d
e
Parte I
O REFERENCIAL DE COMPETNCIAS-CHAVE de nvel secundrio no Sistema Nacional de RVCC
17
De acordo com o desenho aqui apresentado, as trs reas de Competncias-Chave constituem o modelo
conceptual do Referencial, estruturando-o, dando-lhe coerncia e imprimindo-lhe contedos substantivos.
O Referencial de Competncias-Chave para a Educao e Formao de Adultos Nvel Secundrio
tem como objectivos:
i) constituir-se como quadro orientador e estruturador para o reconhecimento das competncias
adquiridas por via da educao formal no completada ou da educao no formal e da experincia
de vida dos candidatos adultos;
ii) consolidar um dispositivo base para o desenho curricular de percursos de educao e formao
de adultos assentes em competncias-chave de nvel secundrio;
iii) servir como guia para a formao de mediadores tcnicos de RVC e formadores dos
Centros Novas Oportunidades.
Enquanto quadro de referncia para todo o processo de balano pessoal, reconhecimento e validao
de competncias adquiridas ao longo da vida, este Referencial assenta, como referido, numa organizao
em trs reas que integram competncias-chave provenientes de campos tcnicos, cientficos e culturais
muito diversos:
DESENHO DO REFERENCIAL DE COMPETNCIAS-CHAVE
para a Educao e Formao de Adultos
_
Nvel Secundrio
2.1. Quais os seus objectivos?
2.2. Quais as reas de Competncias-Chave?
18
Cidadania e Profissionalidade (CP) Nesta rea, pretende-se evidenciar, reconhecer e certificar
competncias-chave da e na cidadania democrtica resultado da aprendizagem reflexiva e/ou da
(re)atribuio de sentido experincia e ao conhecimento prvio. Elegem-se para tal duas perspectivas
fundamentais, mas profundamente interligadas: a cidadania e a profissionalidade.
A partilha de vivncias atravs da aprendizagem reflexiva da cidadania democrtica e da sua prtica
comunitria apelam ao pensamento crtico e reflexo sobre a aco, e tambm assim que deve ser
entendida a prtica da cidadania. E sendo o trabalho uma das dimenses fundamentais da vida de um adulto,
a melhoria da sua situao profissional uma das razes/motivaes mais apontadas pelos participantes
para frequentarem aces de formao. Sublinhe-se a este propsito que a profissionalidade aqui entendida
como uma referncia muito mais ampla que a simples relao com uma dada profisso. Esta rea concretiza
as suas competncias-chave a partir de trs dimenses: social, cognitiva e tica.
Sociedade, Tecnologia e Cincia (STC) Esta rea trabalha a evidenciao de competncias-chave em
campos que envolvem saberes formalizados e especializados cada vez mais complexos. Trata-se de uma
viso integrada de trs dimenses da vida dos cidados a cincia, a tecnologia e a sociedade entendidas
como modos de aco que, muitas vezes, convocam conhecimentos construdos separadamente em diversos
campos cientficos e tecnolgicos, mas que, no obstante, se operacionalizam, nos contextos de vida pessoal
e profissional e na relao com as instituies, de forma interligada, como modo de responder a problemas
tambm eles transversais. So ao mesmo tempo competncias-chaves trabalhadas em contexto, no sentido
em que, sendo competncias relevantes para os adultos, inscrevem-se profundamente nos contextos sociais
em que estes se movem, por vezes, num nvel subconsciente de saber-fazer, interiorizado atravs das
prticas continuadas ao longo dos anos. Estas competncias articulam-se profundamente com as questes
tratadas nas outras reas, como a comunicao ou a cidadania.
Cultura, Lngua, Comunicao (CLC) Esta rea centra-se em competncias-chave que possam ser
evidenciadas, reconhecidas e certificadas em trs dimenses distintas cultural, lingustica e comunicacional
que se complementam e se articulam tambm de forma integrada e contextualizada, tal como na
rea STC.
Trata-se nesta rea de um conjunto de competncias-chave que, associadas dimenso cultural da vida
dos indivduos nas sociedades contemporneas, dimenso lngustica (inequivocamente transversal) e
dimenso comunicacional, cruza questes mediticas, tecnolgicas e sociais que so hoje uma realidade
incontornvel, e por vezes central, na vida dos cidados. Esta perspectiva corresponde centralidade da
construo identitria da pessoa adulta, feita de uma multiplicidade de dimenses, que se projecta e concretiza
no quotidiano de cada um de forma indivisvel.
A perspectiva integradora subjacente ao Referencial supe a existncia de uma forte interaco das diferentes
reas, j que o domnio de competncias especficas de cada uma delas enriquece e facilita a aquisio
de outras, reconhecendo-se que algumas competncias so comuns s diferentes reas, resultantes da
viso de transversalidade transmitida pela noo de competncia-chave. Ler, analisar e interpretar informao
oral, escrita, numrica, visual, cultural, cientfica ou tecnolgica uma competncia transversal indissocivel
do exerccio da cidadania e da profissionalidade.
Parte I
O REFERENCIAL DE COMPETNCIAS-CHAVE de nvel secundrio no Sistema Nacional de RVCC
19
O Referencial tem ainda implcita a noo da absoluta centralidade do percurso singular de cada adulto. Por
isso, as situaes de vida do adulto constituem o ponto de partida e motor da desocultao, evidenciao
e validao das competncias; elas constituem igualmente o motor do desenvolvimento dos percursos
formativos assentes em competncias-chave.
Cada rea de Competncias-Chave apresenta uma organizao interna a partir dos seguintes elementos:
i) fundamentao; ii) estrutura; iii) unidades de competncia e critrios de evidncia; iv) perfil de competncias,
tendo em conta as situaes de vida do adulto.
Os elementos conceptuais comuns e tranversais s reas do Referencial so: Dimenses das Competncias;
Ncleos Geradores; Domnios de Referncia para a Aco; Temas; Unidades de Competncia e
Critrios de Evidncia.
Apresenta-se de seguida uma breve descrio de cada um destes elementos conceptuais e organizativos
das reas de Competncias-Chave:
Dimenses das Competncias Agregaes das unidades de competncia e respectivos critrios de
evidncia em cada uma das reas de Competncias-Chave.
Ncleo Gerador Tema abrangente, presente na vida de todos os cidados a partir dos quais se podem
gerar e evidenciar uma srie de competncias-chave.
Domnios de Referncia para a Aco Contextos de actuao entendidos como referentes fundamentais
para o accionamento das diferentes competncias-chave nas sociedades contemporneas: contexto privado;
contexto profissional; contexto institucional; contexto macro-estrutural.
Tema rea ou situao da vida na qual as competncias so geradas, accionadas e evidenciadas. Resulta
do cruzamento dos vrios ncleos geradores com os quatro domnios de referncia para a aco.
Unidades de Competncia Combinatrias coerentes dos elementos da competncia em cada rea de
Competncias-Chave.
Critrios de Evidncia Diferentes aces/realizaes atravs das quais o adulto indicia o domnio da
competncia visada.
Optou-se tambm por integrar em cada uma das reas, elementos de complexidade que permitem auxiliar
os candidatos ao RVCC e os mediadores/formadores no processo de reconhecimento e validao de
competncias, num primeiro momento, e na definio de percursos formativos, num segundo momento.
Estes elementos de complexidade so de trs tipos: I Tipo Identificao; Tipo II Compreenso; e
Tipo III Interveno, e permitem distinguir critrios de evidncia de cada uma das competncias-chave.
2.3. Quais so os seus elementos conceptuais?
20
1
Os elementos de complexidade permitem distinguir os critrios de evidncia em cada uma das competncias-chave.
2
As Fichas-Exemplo de Critrios de Evidncia encontram-se em anexo do presente documento.
No conjunto das trs reas espera-se que o adulto tenha percorrido e trabalhado um total de 22 Unidades
de Competncia (UC), decompostas em 88 competncias, que se evidenciam atravs de um conjunto muito
diversificado e amplo de critrios de evidncia. A distribuio do nmero de unidades de competncia por
cada uma das reas a seguinte:
Cidadania e Profissionalidade: 8 UC
Sociedade, Tecnologia e Cincia: 7 UC
Cultura, Lngua, Comunicao: 7 UC
Para auxiliar ainda mais a tarefa de legibilidade e clarificao da estrutura das diferentes reas de Competncias-
Chave, apresenta-se de seguida uma tabela-sntese dos elementos conceptuais utilizados neste Referencial.
Tabela-sntese da estrutura e elementos conceptuais
das 3 reas de Competncias-Chave
reas
CP STC CLC
Elementos
Social
Cognitiva
tica
Social (sociedade)
Tecnolgica (tecnologia)
Cientfica (cincia)
Cultural (cultura)
Lingustica (lngua)
Comunicacional (comunicao)
8 (especficos da rea CP) 7 (iguais rea CLC) 7 (iguais rea STC)
4 Organizadores
(explcitos)
4 Organizadores
(explcitos)
4 Organizadores
(explcitos)
32 (especficos da rea CP) 28 (iguais rea CLC) 28 (iguais rea STC)
8 7 7
Organizao a partir de uma
formulao integrada por
domnio de referncia para a
aco
Organizao a partir das trs
dimenses formuladas por
domnio de referncia para
a aco
Organizao a partir das trs
dimenses formuladas por
domnio de referncia para a
aco
3 elementos:
- identificao
- compreenso
- interveno
3 elementos:
- identificao
- compreenso
- interveno
3 elementos:
- identificao
- compreenso
- interveno
----
(no se aplica)
Fichas-exemplo de critrios
de evidncia
Fichas-exemplo de critrios
de evidncia
Dimenses das
Competncias
Ncleos
Geradores
Domnios de
Referncia para
a Aco
Temas
Unidades de
Competncia
Critrios de
Evidncia
Elementos de
complexidade
1
Sugestes de
actividades
contextualizadas
2
Parte I
O REFERENCIAL DE COMPETNCIAS-CHAVE de nvel secundrio no Sistema Nacional de RVCC
21
H dois instrumentos fundamentais para o lanamento do processo RVCC de nvel secundrio e sua aplicao
nos Centros Novas Oportunidades: um, de carcter mais terico-conceptual que se intitula Referencial de
Competncias-Chave para a Educao e Formao de Adultos Nvel Secundrio; e um segundo que, aqui
se apresenta, constitudo essencialmente pelos elementos de operacionalizao fundamentais sua
implementao e utilizao nas etapas de reconhecimento, validao e certificao de competncias-chave,
o qual se intitula Referencial de Competncias-Chave para a Educao e Formao de Adultos Nvel
Secundrio. Guia de Operacionalizao.
Os dois documentos constituiro duas peas interligadas e indissociveis uma vez que o primeiro documento
remete todas as questes de operacionalizao para este segundo documento, sendo que estes devem ser
sempre apresentados e trabalhados em simultneo.
2.4. Como se apresenta o Referencial de Competncias-Chave de nvel secundrio?
22
3. A que competncias-chave corresponde
um perfil de nvel secundrio?
Embora em cada uma das reas se apresente o perfil de competncias respectivo, interessa aqui formular
o perfil de competncias-chave global que se adequa ao nvel secundrio. Esta apresentao prvia das
competncias que se espera que os adultos detenham no final dos processos de reconhecimento, validao
e certificao e de percursos de educao e formao de adultos permite compreender a diversidade e
complexidade das competncias a trabalhar a partir do Referencial de Competncias-Chave para o nvel
secundrio.
Perfil de Competncias do Adulto com a certificao de nvel secundrio
Ter conscincia de si e do mundo, assumindo distanciamento e capacidade de questionar
preconceitos e esteretipos sociais em diferentes escalas.
Reconhecer os direitos e deveres fundamentais exigveis em diferentes contextos: pessoal, laboral,
nacional e global.
Compreender-se num quadro de formao/aprendizagem permanente e de contnua superao
das competncias pessoais e profissionais adquiridas, reconhecendo a complexidade e a
mudana como caractersticas de vida.
Ter capacidade de programao de objectivos pessoais e profissionais, mobilizando recursos
e saberes, em contextos de incerteza, numa atitude permanente de aprendente.
Reconhecer, na vida corrente, a multiplicidade e interligao de elementos sociais, culturais, comu-
nicacionais, lingusticos, tecnolgicos, cientficos.
Agir de forma sistemtica, com base em raciocnios que incluam conhecimentos cientficos e tecnolgicos
validados, nos diferentes campos de actuao (privado, profissional, institucional e macro-estrutural).
Operar na vida quotidiana com tecnologias correntes, dominando os seus princpios tcnicos, as suas
linguagens e potencialidades comunicacionais, bem como os impactos (positivos ou negativos) nas
configuraes sociais e ambientais.
Procurar informao de natureza diversa, interpretando-a e aplicando-a na resoluo de problemas
ou na optimizao de solues da vida quotidiana nos diferentes contextos de actuao.
Planificar as suas prprias aces, no tempo e no espao, prevendo e analisando nexos causais
entre processos e/ou fenmenos, bem como recorrendo a mtodos experimentais logicamente
orientados.
Conceber as prprias prticas como, simultaneamente, produto e produtor de fenmenos sociais
especficos, passveis de uma abordagem cientfica, cultural, lingustica ou comunicacional.
Parte I
O REFERENCIAL DE COMPETNCIAS-CHAVE de nvel secundrio no Sistema Nacional de RVCC
23
Saber explicitar e comunicar alguns dos conhecimentos culturais, lingusticos, cientficos e tecnolgicos
que utiliza na sua vida corrente, atravs de linguagens abstractas de nvel bsico.
Entender a cincia como processo singular de produo e validao de conhecimentos mais adequados
ao mundo real, mas tambm como prtica social em constante transformao, incluindo amplas reas
de incerteza.
Entender a lngua e a cultura como elementos fundamentais da vida em sociedade, e como campos
de conhecimento e actuao prprios.
Parte II
RECONHECIMENTO, VALIDAO e CERTIFICAO
de COMPETNCIAS-CHAVE: itens estruturantes
1. Em que pressupostos assenta a matriz conceptual de operacionalizao do processo
de RVCC?
2. Orientaes metodolgicas: de candidato a sujeito da sua prpria aprendizagem...
2.1. Abordagem (Auto)biogrfica: os adultos so as suas experincias de vida,
como trabalh-las?
2.2. Balano de Competncias: Como elicitar/desocultar competncias?
2.3. Porteflio Reflexivo de Aprendizagens: como documentar e evidnciar
competncias-chave?
2.4. Tcnicas e estratgias de suporte aos processos RVCC: a que instrumentos
recorrer?
2.4.1. Trabalho individual e em pequeno grupo
2.4.2. Entrevistas, narrativas, relatos, dirios, comunicaes, fotografias, cartas,
composies artsticas,
3. Sugestes para o processo RVCC
3.1. Eixo de reconhecimento de competncias
3.2. Eixo de validao de competncias
3.3. Eixo de certificao de competncias
27
Importa, em primeiro lugar, ter presente que o pressuposto fundamental que preside ao desenvolvimento
do processo RVCC, incluindo todas as actividades de educao e formao de adultos que lhe
esto associadas, o de que os campos do ensino/educao e do trabalho/emprego no so
estanques, mas complementares e no obedecem por isso a lgicas prprias. Dar forma, coerente
e sistematicamente, ao conceito de aprendizagem ao longo da vida. o desafio no qual assentam
todas as ofertas de educao e formao de adultos.
A situao, agora, ao lanar um Referencial de Competncias-Chave para a certificao de nvel
secundrio, diversa da do arranque de todo o processo de implementao do Referencial de
Competncias-Chave de nvel bsico. Existe j um corpo de profissionais, um conjunto de recursos
e de competncias que importa aproveitar e rentabilizar.
Trata-se de uma mudana sistmica na qual todos esto necessariamente apostados e implicados.
A coerncia com o princpio do isomorfismo inquestionvel no campo da educao e formao
de adultos. As sugestes e propostas de trabalho aqui contidas para os candidatos em processo
RVCC so igualmente vlidas e devem ser tidas em conta pelos profissionais envolvidos no processo
de reconhecimento, validao e certificao de competncias.
Relembrando que a competncia ... a tomada de iniciativa e de responsabilidade do indivduo nas
situaes profissionais com as quais confrontado (Zarifian in Almeida, P. e Rebelo, G., 2004:67),
a abordagem deste novo Referencial de Competncias-Chave de nvel secundrio representa
tambm uma aposta na competncia e profissionalidade dos agentes implicados, enquanto principais
mediadores na construo e desenvolvimento de todo o processo.
Este Guia de Operacionalizao (contradizendo porventura o prprio ttulo) no deve, apenas, ser
encarado como um conjunto de orientaes a aplicar na concretizao das actividades nele propostas,
mas como um instrumento que fornece um quadro de apoio compreenso das mesmas. Complementa
a leitura do Referencial de Competncias-Chave para a educao e formao de adultos nvel
secundrio. Interpreta-o e desoculta-o, ao propor leituras para a sua operacionalizao, explicando
os porqus e o sentido que assumem no quadro dos princpios de aprendizagem de adultos.
Parte II
RECONHECIMENTO, VALIDAO e CERTIFICAO de COMPETNCIAS-CHAVE: itens estruturantes
1. Em que pressupostos assenta a matriz conceptual
de operacionalizao do processo RVCC?
28
Uma pedagogia orientada para a autonomia dos adultos passa necessariamente por uma aco
consciente do sujeito envolvido, que o torne capaz de se projectar. Os adultos so as suas experincias
de vida e essa realidade central que importa tornar consciente e dar forma no processo RVCC. Implica
criar uma dinmica, um clima de confiana e de interajuda, que fornea feedback, valorizando iniciativas
de mudana e de risco, que motive e estimule o conceito de si enquanto aprendente e o sentir-se
competente para aprender. Isto significa reforar o locus de controlo interno, atravs da consciencializao
e da apropriao do que aprender sobre o aprender. Significa tambm sublinhar a importncia e o
papel fundamental dos agentes profissionais das equipas tcnico-pedaggicas de RVCC enquanto
tutores neste processo de mediao, de mundos, culturas e experincias de aprendizagem to distintas.
Aproximar, articular sistemas de educao no-formal, informal e formal, restituindo-lhes (inimaginado)
valor equiparado, um dos mandatos na base da concepo de um sistema de RVCC.
A proposta metodolgica baseada em: Abordagem (Auto)biogrfica (AA), Balano de Competncias
(BC) e Porteflio Reflexivo de Aprendizagens (PRA) representa uma aposta na construo de instrumentos
de trabalho que, de forma coerente e sistemtica, ajudem em simultneo o processo RVCC e o processo
de formao de que aquele faz parte. Procuram induzir e modelizar formas mais solidrias, de aprender,
de fazer e de ser, porque comummente negociadas, partilhadas e integradas (S-Chaves, 2005:13).
No sero necessariamente as mais fceis porque requerem, porventura, um esforo de descentramento
de prticas profissionais instaladas, mas procuram dar sentido ao princpio de que a formao ao longo
da vida no nem mito, nem utopia, nem apenas figura de retrica, mas sim uma real possibilidade e
um desejvel e aliciante desafio (S-Chaves, 2005:13).
2. Orientaes metodolgicas:
de candidato a sujeito da sua prpria aprendizagem ...
Matriz conceptual dos elementos metodolgicos
em processos RVCC nvel secundrio
Uma pedagogia orientada para a autonomia dos adultos passa necessariamente por uma aco
consciente do sujeito envolvido, que o torne capaz de se projectar. Os adultos so as suas experincias
de vida e essa realidade central que importa tornar consciente e dar forma no processo RVCC. Implica
criar uma dinmica, um clima de confiana e de interajuda, que fornea feedback, valorizando iniciativas
de mudana e de risco, que motive e estimule o conceito de si enquanto aprendente e o sentir-se
competente para aprender. Isto significa reforar o locus de controlo interno, atravs da consciencializao
e da apropriao do que aprender sobre o aprender. Significa tambm sublinhar a importncia e o
papel fundamental dos agentes profissionais das equipas tcnico-pedaggicas de RVCC enquanto
tutores neste processo de mediao, de mundos, culturas e experincias de aprendizagem to distintas.
Aproximar, articular sistemas de educao no-formal, informal e formal, restituindo-lhes (inimaginado)
valor equiparado, um dos mandatos na base da concepo de um sistema de RVCC.
A proposta metodolgica baseada em: Abordagem (Auto)biogrfica (AA), Balano de Competncias
(BC) e Porteflio Reflexivo de Aprendizagens (PRA) representa uma aposta na construo de instrumentos
de trabalho que, de forma coerente e sistemtica, ajudem em simultneo o processo RVCC e o processo
de formao de que aquele faz parte. Procuram induzir e modelizar formas mais solidrias, de aprender,
de fazer e de ser, porque comummente negociadas, partilhadas e integradas (S-Chaves, 2005:13).
No sero necessariamente as mais fceis porque requerem, porventura, um esforo de descentramento
de prticas profissionais instaladas, mas procuram dar sentido ao princpio de que a formao ao longo
da vida no nem mito, nem utopia, nem apenas figura de retrica, mas sim uma real possibilidade e
um desejvel e aliciante desafio (S-Chaves, 2005:13).
Matriz conceptual dos elementos metodolgicos
em processos RVCC nvel secundrio
Uma pedagogia orientada para a autonomia dos adultos passa necessariamente por uma aco
consciente do sujeito envolvido, que o torne capaz de se projectar. Os adultos so as suas experincias
de vida e essa realidade central que importa tornar consciente e dar forma no processo RVCC. Implica
criar uma dinmica, um clima de confiana e de interajuda, que fornea feedback, valorizando iniciativas
de mudana e de risco, que motive e estimule o conceito de si enquanto aprendente e o sentir-se
competente para aprender. Isto significa reforar o locus de controlo interno, atravs da consciencializao
e da apropriao do que aprender sobre o aprender. Significa tambm sublinhar a importncia e o
papel fundamental dos agentes profissionais das equipas tcnico-pedaggicas de RVCC enquanto
tutores neste processo de mediao, de mundos, culturas e experincias de aprendizagem to distintas.
Aproximar, articular sistemas de educao no-formal, informal e formal, restituindo-lhes (inimaginado)
valor equiparado, um dos mandatos na base da concepo de um sistema de RVCC.
A proposta metodolgica baseada em: Abordagem (Auto)biogrfica (AA), Balano de Competncias
(BC) e Porteflio Reflexivo de Aprendizagens (PRA) representa uma aposta na construo de instrumentos
de trabalho que, de forma coerente e sistemtica, ajudem em simultneo o processo RVCC e o processo
de formao de que aquele faz parte. Procuram induzir e modelizar formas mais solidrias, de aprender,
de fazer e de ser, porque comummente negociadas, partilhadas e integradas (S-Chaves, 2005:13).
No sero necessariamente as mais fceis porque requerem, porventura, um esforo de descentramento
de prticas profissionais instaladas, mas procuram dar sentido ao princpio de que a formao ao longo
da vida no nem mito, nem utopia, nem apenas figura de retrica, mas sim uma real possibilidade e
um desejvel e aliciante desafio (S-Chaves, 2005:13).
Matriz conceptual dos elementos metodolgicos
em processos RVCC nvel secundrio
Uma pedagogia orientada para a autonomia dos adultos passa necessariamente por uma aco
consciente do sujeito envolvido, que o torne capaz de se projectar. Os adultos so as suas experincias
de vida e essa realidade central que importa tornar consciente e dar forma no processo RVCC. Implica
criar uma dinmica, um clima de confiana e de interajuda, que fornea feedback, valorizando iniciativas
de mudana e de risco, que motive e estimule o conceito de si enquanto aprendente e o sentir-se
competente para aprender. Isto significa reforar o locus de controlo interno, atravs da consciencializao
e da apropriao do que aprender sobre o aprender. Significa tambm sublinhar a importncia e o
papel fundamental dos agentes profissionais das equipas tcnico-pedaggicas de RVCC enquanto
tutores neste processo de mediao, de mundos, culturas e experincias de aprendizagem to distintas.
Aproximar, articular sistemas de educao no-formal, informal e formal, restituindo-lhes (inimaginado)
valor equiparado, um dos mandatos na base da concepo de um sistema de RVCC.
A proposta metodolgica baseada em: Abordagem (Auto)biogrfica (AA), Balano de Competncias
(BC) e Porteflio Reflexivo de Aprendizagens (PRA) representa uma aposta na construo de instrumentos
de trabalho que, de forma coerente e sistemtica, ajudem em simultneo o processo RVCC e o processo
de formao de que aquele faz parte. Procuram induzir e modelizar formas mais solidrias, de aprender,
de fazer e de ser, porque comummente negociadas, partilhadas e integradas (S-Chaves, 2005:13).
No sero necessariamente as mais fceis porque requerem, porventura, um esforo de descentramento
de prticas profissionais instaladas, mas procuram dar sentido ao princpio de que a formao ao longo
da vida no nem mito, nem utopia, nem apenas figura de retrica, mas sim uma real possibilidade e
um desejvel e aliciante desafio (S-Chaves, 2005:13).
Matriz conceptual dos elementos metodolgicos
em processos RVCC nvel secundrio
Uma pedagogia orientada para a autonomia dos adultos passa necessariamente por uma aco
consciente do sujeito envolvido, que o torne capaz de se projectar. Os adultos so as suas experincias
de vida e essa realidade central que importa tornar consciente e dar forma no processo RVCC. Implica
criar uma dinmica, um clima de confiana e de interajuda, que fornea feedback, valorizando iniciativas
de mudana e de risco, que motive e estimule o conceito de si enquanto aprendente e o sentir-se
competente para aprender. Isto significa reforar o locus de controlo interno, atravs da consciencializao
e da apropriao do que aprender sobre o aprender. Significa tambm sublinhar a importncia e o
papel fundamental dos agentes profissionais das equipas tcnico-pedaggicas de RVCC enquanto
tutores neste processo de mediao, de mundos, culturas e experincias de aprendizagem to distintas.
Aproximar, articular sistemas de educao no-formal, informal e formal, restituindo-lhes (inimaginado)
valor equiparado, um dos mandatos na base da concepo de um sistema de RVCC.
A proposta metodolgica baseada em: Abordagem (Auto)biogrfica (AA), Balano de Competncias
(BC) e Porteflio Reflexivo de Aprendizagens (PRA) representa uma aposta na construo de instrumentos
de trabalho que, de forma coerente e sistemtica, ajudem em simultneo o processo RVCC e o processo
de formao de que aquele faz parte. Procuram induzir e modelizar formas mais solidrias, de aprender,
de fazer e de ser, porque comummente negociadas, partilhadas e integradas (S-Chaves, 2005:13).
No sero necessariamente as mais fceis porque requerem, porventura, um esforo de descentramento
de prticas profissionais instaladas, mas procuram dar sentido ao princpio de que a formao ao longo
da vida no nem mito, nem utopia, nem apenas figura de retrica, mas sim uma real possibilidade e
um desejvel e aliciante desafio (S-Chaves, 2005:13).
Matriz conceptual dos elementos metodolgicos
em processos RVCC nvel secundrio
Uma pedagogia orientada para a autonomia dos adultos passa necessariamente por uma aco
consciente do sujeito envolvido, que o torne capaz de se projectar. Os adultos so as suas experincias
de vida e essa realidade central que importa tornar consciente e dar forma no processo RVCC. Implica
criar uma dinmica, um clima de confiana e de interajuda, que fornea feedback, valorizando iniciativas
de mudana e de risco, que motive e estimule o conceito de si enquanto aprendente e o sentir-se
competente para aprender. Isto significa reforar o locus de controlo interno, atravs da consciencializao
e da apropriao do que aprender sobre o aprender. Significa tambm sublinhar a importncia e o
papel fundamental dos agentes profissionais das equipas tcnico-pedaggicas de RVCC enquanto
tutores neste processo de mediao, de mundos, culturas e experincias de aprendizagem to distintas.
Aproximar, articular sistemas de educao no-formal, informal e formal, restituindo-lhes (inimaginado)
valor equiparado, um dos mandatos na base da concepo de um sistema de RVCC.
A proposta metodolgica baseada em: Abordagem (Auto)biogrfica (AA), Balano de Competncias
(BC) e Porteflio Reflexivo de Aprendizagens (PRA) representa uma aposta na construo de instrumentos
de trabalho que, de forma coerente e sistemtica, ajudem em simultneo o processo RVCC e o processo
de formao de que aquele faz parte. Procuram induzir e modelizar formas mais solidrias, de aprender,
de fazer e de ser, porque comummente negociadas, partilhadas e integradas (S-Chaves, 2005:13).
No sero necessariamente as mais fceis porque requerem, porventura, um esforo de descentramento
de prticas profissionais instaladas, mas procuram dar sentido ao princpio de que a formao ao longo
da vida no nem mito, nem utopia, nem apenas figura de retrica, mas sim uma real possibilidade e
um desejvel e aliciante desafio (S-Chaves, 2005:13).
Matriz conceptual dos elementos metodolgicos
em processos RVCC nvel secundrio
Uma pedagogia orientada para a autonomia dos adultos passa necessariamente por uma aco
consciente do sujeito envolvido, que o torne capaz de se projectar. Os adultos so as suas experincias
de vida e essa realidade central que importa tornar consciente e dar forma no processo RVCC. Implica
criar uma dinmica, um clima de confiana e de interajuda, que fornea feedback, valorizando iniciativas
de mudana e de risco, que motive e estimule o conceito de si enquanto aprendente e o sentir-se
competente para aprender. Isto significa reforar o locus de controlo interno, atravs da consciencializao
e da apropriao do que aprender sobre o aprender. Significa tambm sublinhar a importncia e o
papel fundamental dos agentes profissionais das equipas tcnico-pedaggicas de RVCC enquanto
tutores neste processo de mediao, de mundos, culturas e experincias de aprendizagem to distintas.
Aproximar, articular sistemas de educao no-formal, informal e formal, restituindo-lhes (inimaginado)
valor equiparado, um dos mandatos na base da concepo de um sistema de RVCC.
A proposta metodolgica baseada em: Abordagem (Auto)biogrfica (AA), Balano de Competncias
(BC) e Porteflio Reflexivo de Aprendizagens (PRA) representa uma aposta na construo de instrumentos
de trabalho que, de forma coerente e sistemtica, ajudem em simultneo o processo RVCC e o processo
de formao de que aquele faz parte. Procuram induzir e modelizar formas mais solidrias, de aprender,
de fazer e de ser, porque comummente negociadas, partilhadas e integradas (S-Chaves, 2005:13).
No sero necessariamente as mais fceis porque requerem, porventura, um esforo de descentramento
de prticas profissionais instaladas, mas procuram dar sentido ao princpio de que a formao ao longo
da vida no nem mito, nem utopia, nem apenas figura de retrica, mas sim uma real possibilidade e
um desejvel e aliciante desafio (S-Chaves, 2005:13).
Matriz conceptual dos elementos metodolgicos
em processos RVCC nvel secundrio
Uma pedagogia orientada para a autonomia dos adultos passa necessariamente por uma aco
consciente do sujeito envolvido, que o torne capaz de se projectar. Os adultos so as suas experincias
de vida e essa realidade central que importa tornar consciente e dar forma no processo RVCC. Implica
criar uma dinmica, um clima de confiana e de interajuda, que fornea feedback, valorizando iniciativas
de mudana e de risco, que motive e estimule o conceito de si enquanto aprendente e o sentir-se
competente para aprender. Isto significa reforar o locus de controlo interno, atravs da consciencializao
e da apropriao do que aprender sobre o aprender. Significa tambm sublinhar a importncia e o
papel fundamental dos agentes profissionais das equipas tcnico-pedaggicas de RVCC enquanto
tutores neste processo de mediao, de mundos, culturas e experincias de aprendizagem to distintas.
Aproximar, articular sistemas de educao no-formal, informal e formal, restituindo-lhes (inimaginado)
valor equiparado, um dos mandatos na base da concepo de um sistema de RVCC.
A proposta metodolgica baseada em: Abordagem (Auto)biogrfica (AA), Balano de Competncias
(BC) e Porteflio Reflexivo de Aprendizagens (PRA) representa uma aposta na construo de instrumentos
de trabalho que, de forma coerente e sistemtica, ajudem em simultneo o processo RVCC e o processo
de formao de que aquele faz parte. Procuram induzir e modelizar formas mais solidrias, de aprender,
de fazer e de ser, porque comummente negociadas, partilhadas e integradas (S-Chaves, 2005:13).
No sero necessariamente as mais fceis porque requerem, porventura, um esforo de descentramento
de prticas profissionais instaladas, mas procuram dar sentido ao princpio de que a formao ao longo
da vida no nem mito, nem utopia, nem apenas figura de retrica, mas sim uma real possibilidade e
um desejvel e aliciante desafio (S-Chaves, 2005:13).
Matriz conceptual dos elementos metodolgicos
em processos RVCC nvel secundrio
Abordagem (Auto)biogrfica/
Histrias de Vida
(AA)
Balano de Competncias
(BC)
P
o
r
te
f
lio
R
eflexivo de Aprendiza
g
e
n
s
A figura seguinte pretende representar graficamente os itens que estruturam os diferentes eixos
do processo RVCC, a nvel operatrio.
Parte II
RECONHECIMENTO, VALIDAO e CERTIFICAO de COMPETNCIAS-CHAVE: itens estruturantes
29
A valorizao da perspectiva (auto)biogrfica nos processos de formao de adultos emerge no contexto
dos movimentos de reabilitao progressiva do sujeito e do actor (Josso, 2002). A utilizao deste mtodo
no processo RVCC tem, ainda, o valor de (re)centrar toda a ateno na pessoa do candidato, na sua
experincia e percurso de vida. Permite a desconstruo de representaes sociais, estereotipadas, mediando
o refazer de percursos, porventura, fragmentados ao trazer uma maior inteligibilidade aos factos relatados,
num estilo mais amigvel e mais prximo daquele que os candidatos eventualmente usam no seu dia-a-dia.
A Abordagem (Auto)biogrfica dever ser considerada como meio, como via e no no sentido das hist-
rias de vida, ainda que se aproxime delas.
O reconhecimento, validao e certificao de competncias recorre Abordagem (Auto)biogrfica como
meio de recolha de informao, no podendo estas ser consideradas como verdadeiras Histrias de Vida.
A Abordagem (Auto)biogrfica aproxima-se das Histrias de Vida como mtodo, na medida em que visa
a construo de um sentido vital dos factos temporais (Couceiro, 2002:31). Apela interrogao
permanente: colocar-se face vida, atribuir-lhe um sentido, construir um pensamento legitimado pela
experincia existencial, compreender o modo como o sujeito se formou e deu forma sua existncia
, de facto, um processo de interrogao, de descoberta, de criao e no de adequao ou eventual
transformao em funo de algo previamente definido e conhecido. (Honor, 1992 in Couceiro, 1995:360).
Os registos biogrficos tm, sobretudo, um valor heurstico de auto e hetero-descoberta e de elicitao
de competncias. So um instrumento, que assume um carcter historicamente situado e que permite
descrever, re-escrever ou verificar, informalmente, vrios nveis da experincia relevantes para o sujeito,
envolvendo dimenses individuais e sociais, tanto na esfera privada como na pblica.
Histrias de Vida? Abordagem (Auto)biogrfica?
So um mtodo. Uma pedagogia restauradora
da reflexividade na aprendizagem.
um meio, uma via. Instrumento de mediao
qualitativo.
So outra maneira de pensar a formao de
adultos e a sua relao ao saber e ao
conhecimento, fazem do sujeito o autor e o
actor central desse processo. No so mera
tcnica ou instrumento.
Adaptao das histrias de vida a um projecto,
apelando tambm interrogao permanente
e atribuio de sentido s experincias
vividas, ainda que mais circunscritas ao
projecto.
Abarcam a globalidade da vida em todos os
seus registos, todas as suas dimenses
passadas, presentes e futuras na sua dinmica
prpria. (Josso, 2002:21)
Apoia-se nalgumas etapas de sustentao
dos princpios de natureza metodolgica e
tica exigidos prtica das Histrias de Vida
em formao.
Histrias de Vida Abordagem (Auto)biogrfica
2.1. Abordagem (Auto)biogrfica: os adultos so as suas experincias de vida,
como trabalh-las?
Introduz uma nova arquitectura no conhecimento, na evidenciao das aprendizagens
prvias, que a revelao de si mesmo/a permite.
Traduz-se na capacidade de revelar significados intrnsecos da pessoa e resignific-los,
enquanto ferramenta formativa de construo de registos biogrficos espacio-temporais,
de explicitao de competncias e habilidades.
Contribui para ultrapassar receios e relutncias acerca do processo de reconhecimento,
ao vitalizar criticamente o saber auto-transformar-se, ao facilitar e captar a incerteza, a
diversidade da vida, rica e complexa.
Estimula a emergncia de uma compreenso multifacetada sobre si e a relao criativa
com o outro e potencia capacidades de participao.
Valoriza a ligao entre a situao biogrfica do adulto (retrospectiva e prospectiva) e a
explicitao dos adquiridos competncias, habilidades ou outras capacitaes individuais
e sociais, contrariando concepes deficitrias sobre o adulto em formao/aprendizagem.
Permite ao candidato/a a (re)construo de uma nova identidade e imagem de si no mundo.
Antes de iniciar o trabalho efectivo de recolha das Histrias de Vida, baseadas na abordagem
(auto)biogrfica, fundamental criar um clima de confiana entre candidatos e profissionais, indispensvel
para o melhor aproveitamento possvel desta metodologia, capitalizando tempo e relao. Este processo
no simples, a relao com os contextos e acontecimentos pode ser reconstruda, atribuindo novos
sentidos s experincias vividas e aos factos narrados. Recomear e retomar tpicos sempre possvel
e um caminho a explorar ao longo do processo RVCC.
Fonte: Adaptado de Campos (1991), Josso (2002) e Nvoa & Finger (1988).
Perspectiva (Auto)biogrfica - Histrias de Vida
No a pessoa que produz a Histria de Vida, a Histria de Vida que produz a pessoa
(Pineau)
30
i) Como se introduz?
Antes de realizar as entrevistas, ou seja, antes de todo o processo, deve haver um
entendimento bem claro com os candidatos sobre os objectivos da Abordagem
(Auto)biogrfica, sua cronologia e enquadramento no processo RVCC.
ii) Como se desenvolve?
Estabelecer com os candidatos um tipo de contrato, de negociao, lev-los a entender
os objectivos de maneira a que esta etapa seja uma contribuio sua prpria reflexividade.
iii) O que implica?
Criar uma dinmica, um clima de confiana e de inter-ajuda que facilite e fornea feedback,
valorizando iniciativas de mudana e de risco que motivem e estimulem no candidato o
conceito de si enquanto aprendente e logo, o sentir-se competente para aprender com
base na sua narrativa de vida.
Este processo constri-se com base em materiais autnticos relacionados com a pessoa de cada
candidato que so posteriormente objecto de tratamento. Importa que os mediadores RVCC tcnicos
e formadores promovam e incentivem uma prtica de auto-reflexo e estimulem os candidatos a
pensar sobre as experincias a que esses materiais se reportam.
Podem ser utilizados:
1. Materiais mais centrais:
- narrativas ou relatos autobiogrficos indirectos recolhidos atravs de entrevista face a face.
2. Materiais biogrficos adicionais:
- documentos pessoais que revelem actividades, prticas e testemunhos dirios, documentos oficiais,
fotografias, materiais grficos de ordem vria, cartas, respostas a questionrios e entrevistas, textos
diversos da autoria dos candidatos, etc.
Parte II
RECONHECIMENTO, VALIDAO e CERTIFICAO de COMPETNCIAS-CHAVE: itens estruturantes
31
Que materiais se podero utilizar na Abordagem (Auto)biogrfica (Histrias de Vida) ?
Fonte: Adaptao das etapas de sustentao dos princpios de natureza metodolgica e tica exigidos prtica das Histrias
de Vida em formao (Couceiro, 1994).
Aspectos a considerar na recolha de histrias de vida atravs de entrevistas:
32
Para que uma experincia seja formadora necessrio realar a perspectiva e o ngulo
da aprendizagem:
- Qual a minha formao?
- Como que me formei?
- O que que senti?
Esta abordagem formativa mobiliza todo um trabalho de reflexividade sobre a sua identidade,
necessidades, escolhas, decises e sobre as prprias ideias.
A mediao do trabalho biogrfico permite com efeito trabalhar com um material narrativo
constitudo por recordaes consideradas pelos narradores como experincias significativas
das suas aprendizagens, da sua evoluo nos itinerrios socio-culturais e das representaes
que construram de si prprios e do seu meio humano e natural (Josso, 2002:34).
A palavra experincia deriva do latim experientia, termo derivado do verbo experiri que
significa fazer a tentativa faire lessai. Mas a origem etimolgica do termo grega
significando prova/experincia, preuve. As duas explicaes do termo apontam para
duas interpretaes distintas, uma para a mudana comportamental, outra para o processo
de transformao e atribuio de sentido experincia.
No contexto do Reconhecimento, validao e certificao de competncias a nfase na
experincia situa-se na segunda interpretao: a experincia formadora como processo
de transformao e atribuio de sentido. Implica uma articulao entre actividade,
sensibilidade, afectividade e raciocnio.
Pensar a partir da(s) experincia(s)
Relembrando o conceito de experincia
Parte II
RECONHECIMENTO, VALIDAO e CERTIFICAO de COMPETNCIAS-CHAVE: itens estruturantes
33
Relembrando o conceito de competncia...
Ao dar incio a um processo de Balano de Competncias (BC) importa ter presente a noo de
competncia que lhe est subjacente:
Est sempre ligada pessoa ...
Articula-se sempre com a aco ...
Desenvolve-se num contexto concreto e datado de uma prtica profissional, social, familiar...
Resulta, no de mais recursos, mas de uma aco combinada, de uma reconstruo de
recursos existentes...
passvel de ser identificada a partir da situao em que foi aprendida e transfervel para
novas situaes...
Inclui tambm a parte indizvel das capacidades e permite materializar a percepo
subjectiva...
Trata-se de um dispositivo epistemolgico com funes de diagnstico e de avaliao das competncias
mobilizadas ou desenvolvidas com os adquiridos na vida de cada um, evidenciando as interaces das
competncias em vrias esferas da vida do ser humano: a) conceptual, b) de relacionamento e
comportamento humano, c) das prticas concretas.
O Balano de Competncias constitui uma dmarche de auto e hetero-avaliao que faz emergir uma
representao de si revelada nas dimenses da vida pessoal, social e profissional de cada candidato.
Entrar num processo de BC supe um forte envolvimento dos implicados na construo e moni-
torizao do seu desenvolvimento e um olhar sobre as experincias vividas, (re)diz-las para se
apropriar delas. Essencialmente porque este procedimento se apresenta como dinmico e progressivo,
entre momentos-chave de avaliao, e introspectivo e reflexivo sobre prticas para o (auto)reconhecimento
atravs da partilha entre candidatos e mediadores, tal permite uma abrangncia de todo um leque de
competncias independentemente do tempo e do espao, modos e forma de mobilizao.
2.2. Balano de Competncias: Como elicitar/desocultar competncias?
Fonte: adaptado de Beller e Boterf, 1998, in Bilan-portfolio.
Caractersticas fundamentais da noo de competncia
34
Os seus objectivos ou funcionalidades principais so: permitir conhecer a motivao e
conhecimentos reais dos adultos; e aumentar o envolvimento dos formandos/as preparando-
os e motivando-os para o reconhecimento das suas competncias, para a determinao
de itinerrios de formao complementar.
O dispositivo do balano-orientao de competncias mais amplo do que a avaliao de competncias
profissionais (Imaginrio, 2001), parte de um diagnstico que decorre da metodologia de histrias de
vida, auto e hetero avaliao inicial e intermdia, apurando, por ltimo, resultados observveis nas
competncias.
Desde sempre, a pretenso do balano de competncias visa o reconhecimento dos saberes prticos,
dos conhecimentos tcitos adquiridos por experincia (Imaginrio, 2001). Implica, porm, um forte
domnio conceptual acerca da sua utilizao, exige um envolvimento activo e cuidadoso, pela complexidade
de implicaes e significados que tem, para candidatos e mediadores. Se permite valorizar e evidenciar
competncias, o oposto tambm pode ser verdade, ou seja, evidenciar aspectos menos pertinentes e
interessantes para a avaliao. Enquanto acto voluntrio requer a explorao, a anlise de saberes,
expondo competncias na perspectiva da construo de projectos de vida pessoais e profissionais no
percurso singular dos candidatos.
Parafraseando Castro (1998), o balano de competncias visa implicar o sujeito na constituio de uma
carteira pessoal dos saberes em aco, coligindo evidncias desse itinerrio, procurando formas
(reconhecidas) de validar essas competncias, valorizando explicitamente percursos trilhados e
potenciando a motivao necessria para desenvolver voluntariamente novas aprendizagens.
Objectivos do Balano de Competncias
Apresentam-se na seguinte tabela as trs fases do BC, em que se aliam o balano pessoal e profissional
orientados em todos os instrumentos de avaliao:
As fases do BC pretendem dar conta de um processo complexo e abrangente que, de modo algum, se
deve compartimentar e que no se resume s aprendizagens e conhecimentos formalmente validados
e adquiridos, envolvendo portanto, holisticamente, a histria de vida do/a candidato/a, concentrando o
foco do balano nas aquisies, realando os pontos fortes das/os candidatas/os sob a perspectiva da
auto-responsabilizao e autoformao contnua (Imaginrio, 2001). Nesse sentido, importante introduzir
mais nfase nos resultados que a auto-avalio final produz para estimular a vontade do aprender-
contnuo e a aquisio de saberes multicompetentes, e, menos nas entradas iniciais reveladoras de
tipos de aprendizagens mais compartimentadas (formais, no formais e informais) e que no final do
balano surgiro em rede, de forma mais compreensiva (Bertrand, 1998)
1
. Os resultados so especificados
detalhadamente para tornar a avaliao mais transparente e explcita.
Fase I: Explorao
das expectativas
e da situao individual
ou auto-avaliao inicial
Fase III: Avaliao
ou auto-avaliao
final
Fase II: Investigao
ou Auto- avaliao
intermdia
Posicionamento rigoroso da clarificao
das competncias no contexto singular
de vida.
Anlise das realizaes profissionais,
descrio do percurso pessoal e
profissional, reconhecimento das
aquisies, inventrio do capital de
competncias.
Estabelecimento e reviso comentada
de documento sntese.
Reafirmao dos
propsitos do BC.
Anlise das caractersticas pessoais,
valores, interesses e motivaes,
capacidades e comportamentos,
potenciais de desenvolvimento.
Identificao e registo das
competncias.
Apresentao e reflexo sobre o
exerccio de BC.
Apresentao e reflexo sobre o
exerccio de BC.
Valorizao das linhas de fora de
capacitao e potencialidades pessoais
a desenvolver.
Anlise e reflexo sobre a necessidade
de encaminhamento para formao
complementar.
Fases do Balano de Competncias
Fonte: adaptado de Imaginrio, 2001.
Parte II
RECONHECIMENTO, VALIDAO e CERTIFICAO de COMPETNCIAS-CHAVE: itens estruturantes
35
1
Disponvel em URL: http://www.oei.org.co/iberfop/mexico5.htm
36
A avaliao dos saberes experienciais adquiridos , de facto, muito complexa porque aporta subjectividades
de auto e hetero-avaliao. "No basta, de facto, que cada um acumule no comeo da vida uma
determinada quantidade de conhecimentos de que possa abastecer-se indefinidamente. , antes,
necessrio, ser capaz de aproveitar e explorar, do comeo ao fim da vida, todas as ocasies para
actualizar, aprofundar e enriquecer esses conhecimentos, adaptando-os a um mundo em mudana."
(Delors e outros, 1996:77).
Por isso, o que est em causa na evidenciao de competncias refere-se no ao preenchimento lacunar
daquilo que o/a mediador/a considera que o/a formando/a carece (e do domnio da formao complementar),
mas sim identificao prvia de pontos fortes e oportunidades de melhoria, que imbricados entre si
despoletem propostas de vivncias mais amplas no adulto. Assim, o tcnico de RVC tem que se assumir
como uma fronteira aberta que o adulto transpe, sempre que necessita de transitar dialogicamente
entre o mundo interior e o exterior no processo de apropriao das suas prprias competncias.
2
a) O Porteflio Reflexivo de Aprendizagens: coleccionar, seleccionar, reflectir e relacionar.
O Porteflio Reflexivo de Aprendizagens (PRA) dos candidatos um documento que se articula e
decorre do BC. uma coleco de documentos vrios (de natureza textual ou no) que revela o
desenvolvimento e progresso na aprendizagem, explicitando os esforos relevantes realizados para
alcanar os objectivos acordados. representativo do processo e do produto de aprendizagem.
Documenta experincias significativas e fruto de uma seleco pessoal. Assenta na confiana mtua
e na capacidade recproca de intercompreenso, ou seja, na possibilidade de mtuo compromisso e
de mtuo desenvolvimento (S-Chaves, 2005:10).
O processo de apropriao de um novo conceito passa, muitas vezes, pela desconstruo de uma
representao de um outro conceito prximo, daquele que se pretende incorporar. , justamente, esta
abordagem que aqui se prope ao aproximar o conceito de porteflio, como sendo mais do que um
dossi (S-Chaves, 2005:10). Um porteflio pode ser encarado como uma derivao de um dossi,
sendo que os distingue o facto de em termos de filosofia de avaliao de ensino/aprendizagem, o dossi
representar uma racionalidade, redutora simplista, de cariz tecnicista e instrumental enquanto que o
paradigma que est subjacente utilizao de um porteflio de uma filosofia de aprendizagem, baseada
num processo de investigao/aco/formao. Supe o desenvolvimento de um perfil de competncias
meta-cognitivas e meta-reflexivas, sobre o prprio conhecimento, que nele se procura evidenciar.
2
Para mais informaes sobre o Balano de Competncias consultar a Newsletter disponibilizada pela Iniciativa Comunitria EQUAL, inserida na Coleco
Saber Fazer. Disponvel em: http://www.equal.pt/Documentos/publicacao/MioloEqual 08 Equal 2.pdf
2.3. Porteflio Reflexivo de Aprendizagens:
como documentar e evidenciar competncias-chaves?
Parte II
RECONHECIMENTO, VALIDAO e CERTIFICAO de COMPETNCIAS-CHAVE: itens estruturantes
37
b) Do dossi pessoal ao Porteflio Reflexivo de Aprendizagens:
Um porteflio bem construdo resulta de um processo de formao em que o candidato adulto tem uma
participao activa na seleco do respectivo contedo e na definio dos critrios para julgar o mrito
do seu desempenho, promovendo o desenvolvimento de competncias meta-cognitivas, que sustentem
os processos de auto-regulao no desenvolvimento pessoal (S-Chaves, 2005:17).
Porteflio Dossi
Fonte: Adaptado de Bernardes e Bizarro, 2004.
Os elementos recolhidos no so necessaria-
mente representativos das competncias dos
candidatos.
Os elementos so compilados de modo
espordico e no contnuo.
O candidato no faz reflexes, nem estabelece
objectivos, desafios, ou estratgias para a sua
prpria aprendizagem.
No h uma ligao entre os diferentes
trabalhos.
O dossi um arquivo morto.
Os trabalhos no representam o percurso do
candidato.
Os trabalhos nem sempre so escolhidos em
funo das metas estipuladas.
O porteflio retrata o percurso de aquisio
de competncias do candidato.
Os elementos escolhidos representam, de
forma clara as competncias adquiridas pelo
candidato.
Os elementos so escolhidos, de modo regular,
a partir de situaes significativas de aprendi-
zagem e avaliao
O candidato produz reflexes e estabelece
objectivos, desafios e estratgias.
Existe uma ligao entre os diferentes
trabalhos. A reflexo sobre desafios estabele-
cidos previamente obrigatria.
O porteflio um documento de avaliao em
constante reformulao.
Os elementos a inserir so escolhidos de
acordo com critrios predeterminados e
acordados entre candidato, tcnicos de RVC
e formadores.
38
Alguns pontos essenciais sobre o PRA:
Contm necessariamente provas (evidncias) desse desempenho e a reflexo do formando
acerca do seu processo de aprendizagem.
Deve referir contextos reais, de modo a que se possa formular juzos sobre o que os
candidatos sabem e podem fazer em situaes concretas.
Pretende, tambm, ser uma parte intencional do currculo; sem essa intencionalidade seria
apenas um arquivo (morto) do trabalho dos candidatos; nele cabe tudo aquilo que documente
a aprendizagem especfica do adulto.
Deve incluir uma variedade daquilo que o candidato sabe e pode fazer (competncias),
mostrando como os problemas foram resolvidos e quais as dificuldades encontradas.
Explicar a razo pela qual cada pea documental foi seleccionada.
O porteflio , tambm, um caminho de integrao (avaliao) de saberes, vinculado (re)construo
do conhecimento e do processo de aprendizagem. Visa integrar ensino, aprendizagem, avaliao e
implica (auto)controlo da aprendizagem. No substitui o percurso de aprendizagem, mas aprofunda-o,
acrescentando-lhe novas perspectivas.
A realizao de um porteflio permite relacionar e acolher trajectrias de vida diferenciadas. Implica,
contudo, a criao e manuteno de contextos apropriados e de relaes dinmicas e ricas, entre
candidatos e mediadores. Requer a mobilizao dos aprendentes para a concepo, planeamento e
desenho da sua aprendizagem, nomeadamente, no (re)conhecimento das reas menos consolidadas
da sua formao e na identificao de competncias que objectivem, perante outros, esse diagnstico.
uma narrativa mltipla, de natureza biogrfica, que se situa nas relaes entre o aprender e o viver,
enquanto construo social das suas histrias de vida (Luwisch, in S-Chaves, 2005:9).
O registo/evidenciao das competncias no Porteflio Reflexivo de Aprendizagens contribui tambm
para melhorar e fundamentar o conhecimento sobre a educao no-formal e os processos de
aprendizagem ao longo da vida, nomeadamente na dimenso de reconhecimento e acreditao de
conhecimentos. Aposta e enfatiza o aprender sobre o aprender e a cooperao entre pares, na experincia
(inclusivamente com os erros) de actividades de aprendizagem partilhada que possam ser relevantes
para o trabalho ou vida pessoal.
Num Porteflio inserem-se todo o tipo de instrumentos de observao e de avaliao das aprendizagens,
assim como trabalhos e projectos que testemunhem os processos de aquisio e desenvolvimento de
competncias. Desta forma, no devem ser inseridos no Porteflio apenas as produes finais realizadas
pelo aprendente, mas, essencialmente, o caminho percorrido que testemunha as etapas do processo.
Parte II
RECONHECIMENTO, VALIDAO e CERTIFICAO de COMPETNCIAS-CHAVE: itens estruturantes
39
O Porteflio uma memria de aprendizagem, um projecto de autor:
Revela o que foi mais significativo nas experincias referenciadas como fazendo parte
do processo de aprendizagem. Integra exemplos dessas experincias conhecimentos
e prticas, que evidenciem a reflexo sobre o processo vivido.
Revela que as evidncias de competncias no so apenas explicitadas, mas estabelecem
laos e articulaes, o que implica auto-reflexo e (re)construo dos processos de vida.
Selecciona e nomeia todas as fontes relacionadas com os processos (muito mais do
que fontes bibliogrficas).
Identifica o fio condutor que preside seleco, os critrios de evidncia de aprendizagem
e os conhecimentos adquiridos. O que aprendi e como aprendi?
Pode ser compartilhado com o grupo de aprendentes com a finalidade de ressaltar um
processo colaborativo de aprendizagem. O processo de aprendizagem mais significativo,
para cada um, se o for para todo o grupo.
Requer o encorajamento e manuteno de uma relao no-dependente entre os mediadores
de conhecimento e os aprendentes. Implica a mobilizao total da experincia do adulto
e, mesmo, da de outros intervenientes, numa atitude de auto e hetero-aprendizagem.
c) Sugestes para o desenvolvimento do Porteflio Reflexivo de Aprendizagens
Etapas de desenvolvimento:
No incio, explicao e proposta.
A sua elaborao deve ser acompanhada.
Implica um processo de trabalho contnuo, desde o incio, permitindo, assim, ajustes e correces,
previamente sua apresentao como trabalho final.
Dimenses a explorar:
- Pontos fortes enquanto aprendente
Que actividades lhe pareceram mais fceis? Quais foram as mais facilitadoras do processo RVCC?
Que sugestes daria a outros candidatos nas mesmas circunstncias para facilitar a aquisio
e/ou desenvolvimento de competncias?
- Pontos fracos enquanto aprendente
Que tipo de tarefas lhe pareceram mais difceis?
Que competncias gostaria de ter (e que reconhece noutras pessoas)?
Que outras competncias precisaria de desenvolver?
40
- Resumo da sua aprendizagem
O que que acha que sabe, e o que que acha que capaz de fazer agora, de forma diferente,
relativamente ao que sabia e era capaz de fazer antes de iniciar este processo RVCC?
Concretamente, o que que considera ter sido o seu desempenho mais positivo ao longo de todo
este processo? E porqu?
Identifique alguns incidentes crticos no seu processo de aprendizagem, documentados com
base em excertos de documentos, ou outro tipo de exemplos da sua prtica.
- Avaliao do valor e relevncia dos materiais escritos usados
Que materiais utilizados lhe pareceram mais adequados? Especifique que aspectos concretos
foram mais importantes para si. Justifique, ilustrando com referncias sua experincia.
Que materiais que considerou menos teis? Fundamente.
- Sugestes/recomendaes
Tendo em conta o que sabe agora, o que que lhe teria sido til saber logo no incio.
- Reflexo sobre os impactos da experincia de aprendizagem
O que pensa que ir conseguir fazer de forma diferente no seu trabalho, na sequncia deste
processo de aprendizagem?
O que tenciona alterar e/ou melhorar na sua prtica?
Quer acrescentar qualquer outro comentrio que lhe parea pertinente no contexto deste processo
de aprendizagem reflexiva?
2.4.1 Trabalho individual e em pequeno grupo
A modalidade de trabalho (individual ou em pequeno grupo) alicera-se em escolhas ancoradas no perfil
do candidato e respectivo plano de interveno individual. A alternncia entre momentos de trabalho
individual e colectivo deve ser regulada pela equipa tcnico-pedaggica, em particular pelo tcnico de
RVC, a partir de uma anlise atenta da retroaco dos candidatos.
Cada uma destas modalidades encerra em si mesma potencialidades. no quadro do plano global de
interveno que as suas potencialidades podem constituir um recurso ao servio das finalidades de
cada eixo do processo RVCC. No devem existir antemas. Todas as opes efectuadas encontram-se
integradas no horizonte de uma estratgia global, enformada de sentido.
2.4.Tcnicas e estratgias de suporte aos processos RVCC:
a que instrumentos recorrer?
(adaptado de Brookfield, S.D. (1995). Becoming a Critically Reflective Teacher).
Parte II
RECONHECIMENTO, VALIDAO e CERTIFICAO de COMPETNCIAS-CHAVE: itens estruturantes
41
A diferena faz-nos ver melhor a realidade
Num contexto de grupo, a comparao de pontos de vista entre pares promove a construo
de novas perspectivas acerca do vivido, desencadeando uma dinmica reflexiva que envolve
todos os participantes. A narrativa oral permite a partilha interactiva da histria de vida
pessoal de cada candidato.
Quem narra determinados factos enriquece o sentido que lhes atribui a partir da perspectiva
que o outro lhe devolve. Quem partilha a sua perspectiva sobre o que ouviu, ao situar os
comentrios produzidos no contexto das suas prprias experincias, constri uma
compreenso de si prprio e do seu processo de formao matizada por mltiplos sentidos
e, por conseguinte, mais rica.
O trabalho de inter-compreenso das narrativas acentua a grande importncia da existncia
de momentos de partilha/reflexo das narrativas em grupo, uma vez que ao interiorizar e
ao apropriar-se auto-reflexivamente desses diferentes contributos o sujeito autoriza-se a
pensar-se com novos olhares, com outras lgicas, abrindo-se-lhes possibilidades para um
reconhecimento das suas competncias
(Honor,1992 in Couceiro, 1994).
2.4.2. Entrevistas, narrativas, relatos, dirios, comunicaes, fotografias,
cartas, composies artsticas,
A conduo das entrevistas permite a recolha da histria oral, recurso primrio cujas regras passam
por gravar a entrevista sem qualquer alterao da linguagem empregue, da ordem, da sequncia e dos
contedos da mesma, aps obteno de autorizao dos candidatos para o fazer.
Algumas indicaes para a realizao das entrevistas:
Nunca dar conta do fim da gravao porque ela continua numa conversa amena, to importante
para a construo da narrativa biogrfica, como a entrevista em si mesma, porque a pessoa
redescobre o encantamento de falar de si, explorar e reconstituir a sua vida.
Incluir as perguntas de forma aberta e no estruturada e consistentemente, de forma a produzir
evidncias de autenticidade e relevncia para o processo de (re)conhecimento.
Estruturar a entrevista cronolgica ou tematicamente de modo integrado, mas sempre com a
finalidade de revelar o ntimo e pessoal e competncias universalmente transferveis em
contextos pessoais e sociais diversos, coadjuvadas pelas potencialidades dos documentos
pessoais (pode utilizar-se mesmo, por exemplo, o mtodo do fotodilogo como instrumento
de construo de sentido, particularmente em contextos de elevada diversidade cultural,
porque desvela temas significantes em que as fotografias se apresentam como geradores do
dilogo, inspirando e motivando a narrao).
42
A misso dos Centros Novas Oportunidades organiza-se em torno de trs Eixos fundamentais:
Reconhecimento, Validao e Certificao. Sendo complementares, cada eixo apresenta uma finalidade
distinta que comporta especificidades prprias no plano da implementao. cada um desses Eixos
que se trabalhar nos pontos seguintes.
Enformado pela Abordagem (Auto)biogrfica, o reconhecimento de competncias
consubstancia-se num conjunto de actividades, assentes numa metodologia de Balano
de Competncias, utilizando para o efeito instrumentos que propiciam ao candidato
oportunidades de reflexo sobre as suas experincias de vida e a tomada de conscincia
das competncias de que portador.
O Reconhecimento de competncias:
objectiva definir o perfil do candidato e o tipo de interveno (Plano de Interveno
Individual);
corresponde identificao pelo candidato das competncias previamente adquiridas;
inscreve-se numa lgica formativa que persegue, como finalidade, a consciencializao
e a apropriao, por parte do candidato, do seu patrimnio experiencial;
tem como resultado tangvel a elaborao de um porteflio que evidencia as competncias
adquiridas pelo candidato em contextos de natureza no formal e informal;
permite identificar potencialidades e intencionalidades;
valoriza o potencial detido pela pessoa;
orienta o candidato de forma a progredir a partir dos recursos de que dispe;
contribui para a construo de projectos pessoais, educativos e profissionais;
cataliza dinmicas pessoais de auto-formao;
gerador de empowerment (o candidato reconhece-se numa nova perspectiva de si).
3. Sugestes para o processo RVCC
3.1. Eixo de reconhecimento de competncias
Parte II
RECONHECIMENTO, VALIDAO e CERTIFICAO de COMPETNCIAS-CHAVE: itens estruturantes
43
Definir o perfil de entrada do candidato e construir e negociar um Plano de Interveno
Individual constituem marcos fundamentais no quadro do reconhecimento de competncias.
Definir o perfil de entrada do candidato envolve:
a) descortinar as razes que conduziram a pessoa a candidatar-se ao processo RVCC
nesta fase do seu ciclo de vida, o que implica reconstruir a narrativa que envolveu essa
tomada de deciso;
b) identificar as expectativas do candidato, procurando situar o processo RVCC no quadro
do seu projecto de vida;
c) aferir o conhecimento do candidato acerca do processo e em funo desse dado trabalhar
a semntica dos conceitos de reconhecimento, validao, certificao, competncias,
utilizando metforas que facilitem a apreenso dos mesmos;
d) avaliar nveis de motivao;
e) identificar estilos de funcionamento (cognitivo, scio-relacional, etc.);
f) analisar estilos de comunicao.
Construir o Plano de Interveno Individual implica:
a) assumir que o candidato constitui o elemento central de todo o processo;
b) afastar quaisquer tendncias para a uniformizao dos processos RVCC;
c) definir o tipo de interveno em funo do perfil de entrada de cada candidato;
d) envolver o candidato nas tomadas de deciso;
f) avaliar e monitorizar com o candidato a execuo das aces previstas;
O Plano de Interveno Individual constitui um roteiro do processo RVCC, sujeito a constantes
recalibraes negociadas entre equipa tcnico-pedaggica e candidato. um documento
dinmico, em constante (re)construo.
No eixo de reconhecimento de competncias o Referencial (re)construdo e apropriado pela prpria
pessoa. No existem partida referenciais externos face aos quais os recursos do candidato sejam
comparados e avaliados. No entanto, sendo o reconhecimento de competncias o ponto de partida para
a validao, as actividades realizadas devem ser perspectivadas tendo como horizonte o Referencial
de Competncias-Chave.
44
Informao
(Auto)biogrfica/
Histrias de
Vida
Objectivos Etapas Fases
Abordagem Metodologia
Actividades/
instrumentos
B
a
l
a
n
o
d
e
C
o
m
p
e
t
n
c
i
a
s
Envolvimento
inicial/
Explorao
das
expectativas e
da situao
individual ou
auto-avaliao
inicial
Atendimento/
Acolhimento
Sensibilizar o candidato
para a importncia do
processo RVCC
Fornecer todas as
informaes necessrias
em relao ao processo
RVCC
Clarificar as expectativas e
motivaes do candidato
Estabelecer uma relao
de empatia e confiana
centrada no candidato,
permitindo a sua adeso
ao processo
Promover o conhecimento
interpessoal dos
candidatos, atravs de
momentos colectivos
Desenvolver um espao de
reflexo conjunta e de
partilha de experincias
Apresentar o modelo
Reconhecimento de
Saberes Adquiridos, tendo
em conta os objectivos,
metodologias e
instrumentos
Permitir ao candidato a
apropriao das suas
expectativas e
necessidades
Introduo ao
conceito de
Porteflio Reflexivo
de Aprendizagens
Discusso, com
os candidatos, do
conceito de
porteflio na vida
corrente
Definio de
Porteflio Reflexivo
de Aprendizagens
Levantamento de
expectativas
pessoais
Eixo de Reconhecimento de Competncias
O
r
i
e
n
t
a
e
s
p
a
r
a
a
C
o
n
s
t
r
u
o
d
o
P
R
A
Parte II
RECONHECIMENTO, VALIDAO e CERTIFICAO de COMPETNCIAS-CHAVE: itens estruturantes
45
(Auto)biogrfica/
Histrias de
Vida
Objectivos Etapas Fases
Abordagem Metodologia
Actividades/
instrumentos
B
a
l
a
n
o
d
e
C
o
m
p
e
t
n
c
i
a
s
Investigao/
Explorao ou
Auto-avaliao
Intermdia
Levantamento
da histria de
vida e reflexo
sobre
experincias
significativas
Permitir ao candidato:
Promover a tomada de
conscincia dos momentos
relevantes do percurso de
vida do candidato
Identificar a sua rede de
relaes, tomando
conscincia da dimenso
relacional das
aprendizagens realizadas
Identificar os interesses,
motivaes, valores,
aprendizagens e
competncias pessoais e
profissionais, decorrentes
das vivncias do candidato
Promover o auto-conceito
e a auto-estima do
candidato, atravs da
descoberta de valores
prprios (valorizao
pessoal e profissional)
Valorizao das linhas de
fora de capacitao e
potencialidades pessoais a
desenvolver
Estabelecimento,
de forma
negociada, dos
tipos de
contedos/
documentos a
incluir no
porteflio
Anlise dos
interesses e dos
saberes
adquiridos pelo
candidato ao
longo do seu
percurso de vida
Eixo de Reconhecimento de Competncias (cont.)
C
o
n
s
t
r
u
o
d
o
P
R
A
Elaborar a sua
autobiografia nas
componentes pessoal,
social, escolar e
profissional
Definio, por parte
de cada candidato,
dos objectivos do
seu porteflio
Calendarizao
das reunies de
anlise do
porteflio
46
Modeladas pela Abordagem (Auto)biogrfica, as actividades e instrumentos utilizados no decurso do
reconhecimento de competncias devem ter como referncia as dimenses temporal e scio-relacional
das aprendizagens efectuadas pelos candidatos em contextos informais e no-formais.
O presente articulado com o passado e com o futuro. No decurso deste processo, o sujeito elabora
um projecto de si que orienta a continuao da sua histria com uma conscincia reforada dos seus
recursos e fragilidades, das suas valorizaes e representaes, das suas expectativas, dos seus
desejos e projectos.
PASSADO
PRESENTE FUTURO
O que fiz? O que aprendi?
Aprendizagens
ticas, estticas,
reflexivas,
scio-relacionais
ESPAO
PESSOAL
ESPAO
RELACIONAL
ESPAOS DE
FORMAO
NO FORMAL
ESPAOS DE
FORMAO
INFORMAL
ACONTECIMENTOS
DECISES
ACES
ACASOS
D
I
M
E
N
S
O
S
C
I
O
-
R
E
L
A
C
I
O
N
A
L
P
L
U
R
A
L
I
D
A
D
E
D
E
E
S
P
A
O
S
D I M E N S O T E M P O R A L
Dimenses das aprendizagens realizadas pelos candidatos
Fonte: Adaptado de Paiva-Couceiro, 2002.
Parte II
RECONHECIMENTO, VALIDAO e CERTIFICAO de COMPETNCIAS-CHAVE: itens estruturantes
47
Ateno: no se pretende que o candidato relate a sua vida de forma indiscriminada, mas
sim que reflicta em relao ao seu itinerrio existencial, de modo a compreender como
que se formou atravs de um conjunto de experincias.
As actividades englobadas no reconhecimento de competncias assentam numa lgica de Balano de
Competncias que se orienta em torno de duas dimenses fundamentais: dimenso retrospectiva e
dimenso prospectiva.
A implicao do candidato e o suporte do tcnico de RVC so ingredientes fundamentais para a
concretizao do trabalho de reflexo/explicitao/formalizao. pelo confronto com o olhar de outrm
que o candidato se apropria do seu capital de conhecimentos e competncias.
Trabalho de reelaborao da experincia
feito luz de uma dada projeco o
projecto finalidade com que o balano
feito.
Trabalho reflexivo com vista identificao
dos conhecimentos e das competncias.
DIMENSO RETROSPECTIVA DIMENSO PROSPECTIVA
BALANO DE COMPETNCIAS
Dimenses essenciais do Balano de Competncias
Fonte: Adaptado de Pires, 2002.
Ao tcnico de RVCC cabe metaforicamente mergulhar na histria de vida do candidato e, atravs da
arte do questionamento, potenciar a explicitao de competncias implcitas. Jamais se deve substituir
ao candidato no ensaiar de respostas, sob pena de o objectificar, anulando a emergncia de dinmicas
pessoais de auto-valorizao, auto-confiana e desejo de realizao permanente. O tcnico de RVC
um catalizador da mudana. O verdadeiro protagonista ser sempre o candidato.
48
Processo de explicitao das competncias adquiridas pelo candidato
Vivncias
Experincias
Projeco no Referencial de
Competncias-Chave
Narrativa de vida: relato do
itinerrio experiencial do candidato
Implcito
Explcito
O que extraio
como
aprendizagens
do conjunto
destas
experincias
Fonte: Adaptado de Pires, 2002.
Identificao de
competncias
Fonte: Adaptado de Pires, 2002.
Tcnico de RVC Candidato
Micro-relao social
Confronto inter-subjectivo
Contexto de auto-consciencializao reflexiva
Relao tcnico de RVC candidato
Parte II
RECONHECIMENTO, VALIDAO e CERTIFICAO de COMPETNCIAS-CHAVE: itens estruturantes
49
O reconhecimento de competncias materializa-se no Porteflio Reflexivo de Aprendizagens que se
encontra sujeito a uma permanente (re)construo ao longo do processo RVCC.
A preparao para a validao de competncias
_
que se formaliza no momento do jri de
validao
_
implica incluir no Plano de Interveno Individual de cada candidato actividades
susceptveis de conduzir o mesmo obteno de crditos nas vrias reas de Competncias-
Chave. As referidas actividades
_
devidamente negociadas
_
devem ser ancoradas no
itinerrio experiencial do candidato e desejavelmente perspectivadas em funo dos seus
projectos futuros.
Durante esta fase deve-se evitar recorrer a situaes de demonstrao standardizadas,
sob a forma de testes, que desvirtuam a finalidade do processo RVCC. O recurso a
demonstraes dever, com efeito, surgir sempre enquadrado em situaes devidamente
contextualizadas e apelar para a mobilizao de competncias nas diversas reas,
contrariando lgicas disciplinares.
Deve-se evitar fornecer ao candidato um guio
pr-concebido do porteflio, vulgarmente
designado por ndice.
O porteflio um projecto de autor.
Deve reflectir a singularidade de cada candidato.
o candidato que, co-adjuvado pelo tcnico de
RVC, cria uma ordem para os elementos que
integram o seu porteflio. O ndice dever ser
construdo apenas no final do processo RVC
como resultado da organizao e sistematizao
da informao que foi sendo recolhida e
produzida.
3.2. Eixo de validao de competncias
50
(Auto)biogrfica/
Histrias de
Vida
Objectivos Etapas Fases
Abordagem Metodologia
Actividades/
instrumentos
B
a
l
a
n
o
d
e
C
o
m
p
e
t
n
c
i
a
s
Investigao/
preparao
para a
validao/
Avaliao ou
auto-avaliao
final
Confronto com o
Referencial de
Competncias-
Chave
Promover a reflexo sobre
as potencialidades
pessoais e profissionais do
adulto
Apoiar o adulto na
concepo de projectos
futuros
Identificar eventuais
percursos de formao
com vista concretizao
de projectos futuros
Informar e esclarecer
quanto finalidade do Jri
de Validao
Negociar e preparar com o
candidato a sua
interveno no Jri de
Validao
Desenvolvimento
do projecto
pessoal do
candidato
Eixo de Validao de Competncias
A
v
a
l
i
a
o
d
o
P
R
A
Relacionar as
aprendizagens decorrentes
da experincia com o
Referencial de
Competncias-Chave
Actualizar o PRA: recolha
de evidncias mediante os
crditos a alcanar
Negociao dos
projectos de
formao
Pedido de
validao de
competncias
Explicitao dos
critrios de
avaliao do
porteflio reflexivo
Co-avaliao do
porteflio reflexivo
do candidato
Auto-avaliao do
porteflio reflexivo
pelo candidato
Partilhar/negociar
com o candidato a
anlise final do
porteflio e a
eventual
necessidade de
formao
complementar
Orientar o
candidato para a
validao ou outras
situaes
Parte II
RECONHECIMENTO, VALIDAO e CERTIFICAO de COMPETNCIAS-CHAVE: itens estruturantes
51
Ateno: Deve evitar-se incluir nos Planos de Interveno Individual sesses especficas
de demonstrao de competncias dirigidas s reas de Competncias-Chave contempladas
pelo Referencial. As reas de Competncias-Chave no correspondem a disciplinas!
Na fase de preparao para a validao, o candidato efectua a auto-avaliao do porteflio, com o suporte
da equipa tcnico-pedaggica. Afigura-se interessante explorar aspectos susceptveis de capitalizar o
potencial formativo que o processo de formao encerra (por exemplo, em que medida a sua definio
de porteflio se alterou ao longo do tempo, o que aprendeu com o processo de construo do porteflio).
Aconselha-se tambm a co-avaliao do porteflio entre pares, caso os candidatos concordem. Neste
caso, importante conduzir o processo de forma a evitar-se incorrer em juzos normativos. Num contexto
marcadamente inter-subjectivo, o objectivo desse exerccio ser, pelo contrrio, fazer emergir novas
perspectivas atravs da ressonncia que o conhecimento do porteflio do outro proporciona.
Caso se conclua que o porteflio do candidato no rene evidncias das Competncias-Chave
contempladas no Referencial, prope-se a (re)construo do mesmo. O candidato poder, desta forma,
ser encaminhado para sesses de formao complementar, ser acompanhado em percursos de auto-
formao, ou enveredar por outras modalidades que o conduzam a adquirir e evidenciar as competncias
necessrias validao.
No final da fase de preparao para a validao, o candidato dever reanalisar os seus projectos
pessoais, profissionais e educativos.
A preparao para o acto formal de validao de competncias pressupe analisar com o candidato a
finalidade do jri de validao, a sua composio, o papel de cada interveniente, o formato da sesso
e os vrios desfechos possveis. Constitui um momento reflexivo de reavaliao de todo o processo,
durante o qual o candidato dever ser impulsionado a realizar uma meta-anlise do seu percurso no
Centro e, em particular, do processo de elaborao do porteflio que se considera apto a apresentar e
discutir.
Certificao: Confirmao oficial e formal das competncias adquiridas pelo candidato no
decurso do seu percurso de vida. Poder conduzir emisso de Diploma ou Certificado,
ou emisso de Certificado de Validao de Competncias (caso o processo de validao
no conduza obteno dos crditos necessrios validao total das trs reas de
Competncias-Chave).
3.3. Eixo de certificao de competncias
52
No eixo de certificao, aps a concluso do processo de certificao strictu sensu, assume particular
importncia a funo de provedoria. Esta tem como finalidade apoiar o candidato na definio e
reconstruo do seu projecto pessoal futuro, sensibilizando-o para a importncia de que se reveste
investir em aces de aprendizagem ao longo da vida. Deve traduzir-se no apoio negociao do
projecto pessoal/profissional do candidato, na orientao e encaminhamento para a formao necessria
concretizao desse projecto, numa perspectiva de continuidade.
(Auto)biogrfica/
Histrias de
Vida
Aprendizagem
ao longo da
vida
Objectivos Etapas
Abordagem Metodologia
Actividades/
instrumentos
Informao
Reavaliar o projecto
pessoal futuro do candidato
Negociar e garantir a
consecuo do projecto
pessoal futuro
Compromisso
Eixo de Certificao de Competncias
Sensibilizar para a
importncia da
aprendizagem ao longo da
vida
Evidenciar as
potencialidades da Carteira
Pessoal de Competncias-
-Chave no mundo do
trabalho
Formalizao dos
resultados da
validao
Emisso da Carteira
Pessoal de
Competncias-Chave
Fases
Concluso
Emisso de certificado
Parte II
RECONHECIMENTO, VALIDAO e CERTIFICAO de COMPETNCIAS-CHAVE: itens estruturantes
53
1. O sitema de crditos
1.1. A que equivale um crdito?
1.2. Em que condies um jur deve conferir um crdito?
1.3. Quantos crditos so necessrios para a certificao?
2. O uso das fichas-exemplo como material de apoio
2.1. Equivalncia funcional
2.2. Situaes de vida
2.3. Pistas para o trabalho
3. Casos Ilustrativos
Parte III
QUESTES OPERACIONAIS, CASOS ILUSTRATIVOS
57
A certificao das competncias dos candidatos, fase final do processo, deve obedecer a critrios de
formalizao e objectivao mais estritos que, nunca colocando em causa a valorizao do percurso
individual de cada indivduo, lhe confira uma legitimidade social alargada. Neste caso, o prprio sistema
de reconhecimento, validao e certificao de competncias que, sendo um processo original e inovador,
no deixa de buscar um necessrio reconhecimento e aceitao de um amplo leque de actores e
instituies sociais, sem os quais carecer de credibilidade e, assim, utilidade social.
Neste caso, o jri de validao, do qual deve fazer parte o tcnico de RVC que acompanhou os candidatos
no processo de reconhecimento e validao, deve certificar-se que os candidatos possuem as competncias
que se definem como fundamentais para este nvel de reconhecimento (ver o Referencial de Competncias-
Chave para a Educao e Formao de Adultos
_
Nvel Secundrio), atravs da avaliao do Porteflio
Reflexivo de Aprendizagens, de outros materiais pertinentes para o efeito e de uma entrevista final com
o candidato.
Visto que, ao longo do Referencial, as competncias so definidas por um carcter necessariamente
abstracto e sintetizador, de modo a incluir um vasto espectro de percursos e experincias individuais,
a sua operacionalizao na avaliao de processos particulares apresentados por cada candidato no
imediata nem automtica. Precisamente porque cada histria de vida nica, tal como a forma de a
converter em competncias reconhecidas durante o processo RVCC.
Assim, a avaliao deve apoiar-se num sistema de crditos, como referncia fundamental atravs da
qual possvel, por um lado, o candidato e os tcnicos orientarem-se ao longo do processo de preparao
do Porteflio Reflexivo de Aprendizagens e, por outro lado, o jri de validao apoiar-se para a sua
tomada de deciso. Isto significa que, para efeitos da obteno do diploma, os elementos do jri devem
certificar-se de que o candidato perfez, atravs da reconstruo (e explicitao) das suas prprias
competncias, um determinado nmero de crditos, que equivalem a um certo volume de competncias,
dentro das reas e Temas considerados relevantes no Referencial (prevendo este, para o efeito, um
vasto campo de possibilidades).
O sistema de crditos tem sido adoptado, nos ltimos anos, por cada vez mais sistemas de formao
europeus
_
sendo fundamental na reforma europeia do ensino superior despoletada pelo Tratado de
Bolonha, actualmente em curso
_
, apresentando vantagens para o reconhecimento das qualificaes
dos trabalhadores, a nvel internacional, e, desta forma, para a sua mobilidade e empregabilidade. Por
outro lado, fornece tambm aos empregadores uma medida-padro importante, nos processos de
recrutamento, gesto e balano de competncias.
Alm disso, o sistema de crditos assenta na autonomia e capacitao dos formandos, no sentido em
que reconhece diferentes formas atravs das quais os indivduos podem obter e validar as suas
competncias. Tal como no caso do sistema European Credit Transfer System (ECTS) implementado
1.1. A que equivale um crdito?
1. O Sistema de Crditos
Parte III
QUESTES OPERACIONAIS, CASOS ILUSTRATIVOS
58
no ensino superior em toda a Europa, cada crdito a obter por formao corresponde a uma carga
horria de aproximadamente 12 horas, que pode englobar perodos de entrevista/reunio com tcnico
de RVC, de auto-aprendizagem, de formao formal, de elaborao do Porteflio Reflexivo de
Aprendizagens, etc.
Neste caso, um crdito corresponde produo de evidncias num determinado Tema, includa numa
das trs reas de Competncias-Chave do Referencial. Por exemplo, na rea STC, um crdito significar
que o jri reconhece competncias de Sociedade, Tecnologia e Cincia num determinado Tema, gerado
atravs do cruzamento entre Ncleo Gerador/Unidade de Competncia e Domnio de Referncia para
a Aco (ex. Equipamentos Domsticos ver o Referencial de Competncias-Chave para a Educao
e Formao de Adultos - Nvel Secundrio).
Para a obteno de um crdito, o adulto dever evidenciar, de forma integrada, uma competncia, a
partir de critrios de evidncia, no apenas de identificao, mas tambm de compreenso de processos
e de interveno transformadora.
So estes os elementos de complexidade:
I - Identificao e Preciso;
II - Compreenso, Transformao e Transposio;
III - Interveno, Inovao e Autonomia.
De notar que no existe uma necessria hierarquizao destes trs elementos. Sendo que uma
competncia entendida como um todo, o candidato ter que evidenciar capacidades simultaneamente
de identificao, de compreenso e de interveno para que um crdito lhe seja atribudo. Ou seja,
voltando ao exemplo do Tema Equipamentos Domsticos para a rea STC, a competncia do candidato
dever ser reconhecida sempre que o candidato revele capacidade de aco, ao nvel da identificao,
da compreenso e da interveno, utilizando instrumentos (conceptuais e materiais) com validade
cientfica (incluindo tanto as cincias naturais como sociais).
As formas de demonstrar (e reconhecer) as evidncias nestes vrios Temas e Elementos de Complexidade
so potencialmente infinitas, pelo que no nosso objectivo delimit-las partida, sendo este um
processo a ser desenvolvido pelo candidato, com o apoio dos tcnicos de RVC e dos formadores das
vrias reas, e que avaliado no final pelo jri de validao. No entanto, incluem-se, neste captulo,
propostas para o uso de fichas que permitem exemplificar formas de certificao para os vrios temas
1 crdito = cerca de 12 horas de trabalho, dedicadas ao reconhecimento e validao de uma
competncia num determinado domnio da realidade, podendo compreender diversas actividades,
como explorao auto-biogrfica, elaborao de materiais, conversa com tcnicos e formadores,
assistncia a formaes, auto-aprendizagem, entre outros.
1.2. Em que condies o jri deve conferir um crdito?
59
(ver ponto 2), bem como alguns casos ficcionais que ilustram percursos possveis dentro do Sistema
de Reconhecimento, Validao e Certificao de Competncias (ver ponto 3).
Agora que j foi apresentado sinteticamente de que forma se obtm um crdito, importa salientar que
necessria a obteno de 44 crditos para que o candidato seja certificado dentro deste sistema. De
notar que este nmero de crditos deve distribuir-se pelas trs reas de Competncias-Chave da
seguinte forma: 16 crditos em Cidadania e Profissionalidade (CP); 14 crditos em Sociedade, Tecnologia
e Cincia (STC); 14 crditos em Cultura, Lngua, Comunicao (CLC).
No entanto, na medida em que as trs reas de Competncias-Chave foram j elaboradas com a
preocupao de permitir vrios elos de comunicao, s no limite isto significar o desenvolvimento de
44 situaes de vida independentes. Na verdade, existem diversos temas nos quais os candidatos, com
apoio dos tcnicos de RVC e dos formadores, podero evidenciar competncias, simultaneamente, em
STC e CLC. Alm disso, a explorao das mesmas situaes de vida podem, em muitos casos, relevar
igualmente competncias em CP.
Assim, poder evitar-se a sobrecarga provocada por uma excessiva disperso e concentrar-se o trabalho
dos candidatos, tcnicos e formadores no aprofundamento de situaes de vida com as quais o adulto,
pela sua trajectria biogrfica, est partida mais familiarizado ou possui j competncias mais
sedimentadas.
O Porteflio Reflexivo de Aprendizagens deve incluir evidncias de que o candidato possui competncias
correspondentes a, pelo menos, 44 crditos obtidos nos vrios Temas escolhidos e indicados pelo
prprio candidato. O tcnico de RVC deve acompanhar este processo, esclarecendo os caminhos
possveis, apoiando as escolhas do candidato, orientando e validando o trabalho desenvolvido. Atravs
da anlise do referido porteflio e da entrevista final, o jri deve certificar-se de que o candidato alcanou
os 44 crditos atravs das situaes de vida que ele prprio escolheu, devendo ser rigoroso nos Temas
que lhe correspondem, mas no exigir competncias em outros.
1.3. Quantos crditos so necessrios para a certificao?
Parte III
QUESTES OPERACIONAIS, CASOS ILUSTRATIVOS
60
No final do presente guia, incluem-se, em anexo, fichas-exemplo de critrios de evidncia que sugerem
formas possveis de se evidenciarem competncias em cada um dos 28 temas previstos nas reas
Sociedade, Cincia e Tecnologia (SCT) e Cultura, Lngua, Comunicao (CLC), que fazem parte do
Referencial de Competncias-Chave para a Educao e Formao de Adultos Nvel Secundrio.
Estas fichas, desenvolvidas pelas equipas de especialistas que elaboraram o Referencial, no se
assemelham, de forma alguma, a um programa de actividades, sendo no entanto um importante material
de orientao para candidatos, tcnicos de RVC e formadores, visto que constituem ilustraes de como
se podem operacionalizar as competncias enunciadas de forma necessariamente genrica atravs de
situaes de vida quotidianas.
Sendo a Cidadania e Profissionalidade (CP) uma rea transversal e integradora, considerou-se que a
enunciao precisa dos critrios de evidncia, j includa no Referencial (a partir igualmente de critrios
de evidncia de trs elementos de complexidade), bastaria para elucidar os modos de validao das
competncias-chave, sendo que estas podem assim ser demonstradas na maioria das situaes
exploradas nas fichas-exemplo que se apresentam para as duas reas operatrias.
O melhor aproveitamento destas fichas-exemplo exige, no entanto, que se compreenda que estas foram
elaboradas com base nos seguintes trs princpios.
Um primeiro aspecto que fundamental esclarecer o estatuto destas fichas-exemplo. Ao contrrio dos
Temas, enunciados de modo abrangente e abstracto existe direito de opo entre eles, permitindo
uma pluralidade de caminhos, mas necessrio respeitar a sua definio, no sendo possvel a criao
de outros as fichas-exemplo dizem respeito a situaes e objectos concretos, presentes na vida
quotidiana de uma grande parte da populao portuguesa, que so vias possveis de evidenciar
competncias nas respectivas reas. Assim, por exemplo, na rea STC, o Tema Cuidados Bsicos
ilustrado atravs da ficha A nutrio, sendo que na rea CLC este Tema ilustrado pela ficha "O
lazer".
As nicas excepes a esta regra so as fichas-exemplo relativas Unidade de Competncia Saberes
Fundamentais que tm um carcter obrigatoriamente mais abstracto e formalizado, pelo estatuto da
prpria Unidade, ainda que digam tambm respeito a problemas centrais nas prprias reas de produo
do conhecimento, seja cientfico ou lingustico.
Assim sendo, no apenas possvel, mas desejvel, que se recorra a outras situaes de vida, visto
que cada Tema permite uma infinidade de abordagens diferenciadas. neste contexto que entra o
princpio da equivalncia funcional, que prev que o candidato, com o apoio dos tcnicos de RVC e
dos formadores, ao longo do seu trabalho de reconhecimento e validao das competncias, pode e
deve definir por si prprio a situao que ir explorar, desde que esta permita validar competncias
2.1. Equivalncia funcional
2. O uso das fichas-exemplo como material de apoio
61
atravs de critrios de evidncia equivalentes queles que so definidos como fundamentais no Referencial
de Competncias-Chave para a Educao e Formao de Adultos Nvel Secundrio, e que so
posteriormente ilustrados, para os diferentes Temas, nas fichas-exemplo includas no presente guia.
Estas fichas exemplificam, assim, situaes que foram consideradas interessantes para um candidato
reconhecer e validar as suas competncias, visto que a partir de um problema concreto possvel convocar
uma srie de conhecimentos, disposies e atitudes, originrios de diferentes reas. Constituem ncoras
nas quais as competncias so, em muitos casos, adquiridas e permanentemente actualizadas, na vida
quotidiana. O oramento familiar, por exemplo, constitui um instrumento presente (mesmo que implicitamente)
na vida de uma larga maioria de cidados nas sociedades modernas e, atravs do qual, o candidato pode
demonstrar competncias sociais, cientficas e tecnolgicas, no Ncleo Gerador Gesto e Economia
Domnio de Referncia Contexto Privado, mas tambm culturais, lingusticas e comunicacionais.
natural que os candidatos desenvolvam trabalhos sobre situaes com as quais esto mais familiarizados.
Contudo, mais importante do que a familiaridade ou o conhecimento minucioso de uma situao, ser
demonstrar que se sabe abord-la com ferramentas cientficas, comunicacionais e/ou de cidadania.
Neste caso, a excessiva familiaridade com uma situao pode at revelar-se perigosa, pois muito
importante que o candidato consiga transcender o domnio do imediato, no qual se geram diversos
esteretipos, crenas e truques (que, em alguns casos se podem at revelar teis na resoluo de
determinadas situaes), introduzindo elementos analticos de rigor, compreenso e inovao, com a
devida sustentao tcnica, cientfica, artstica, ou outra.
Recorde-se, a este propsito, que a noo de competncia utilizada neste Referencial no se resume
a um conjunto de tcnicas para abordar problemas concretos, mas envolve elementos de identificao
rigorosa, de transposio compreensiva e de inovao autnoma.
No seguimento dos pontos anteriores, uma boa prtica para tcnicos de RVC e formadores pode ser
apresentar e discutir algumas destas fichas com os candidatos, individualmente ou em grupo, estimulando
o debate, de forma a elucidar estratgias e metodologias eficazes no processo RVCC e a abrir horizontes
sobre outros contextos quotidianos nos quais possvel reconhecer, validar e certificar competncias
neste sistema, bem como sobre o modo de o fazer.
De outra forma, uma boa prtica dos candidatos ser confrontar-se com algumas das fichas-exemplo,
como modo de projectar o seu Porteflio Reflexivo de Aprendizagens ou confirmar a adequao do
trabalho entretanto desenvolvido. Neste caso, convm que o candidato no se limite leitura das fichas,
mas elabore materiais que possam validar as competncias apresentadas nas referidas fichas-exemplo,
pois esse trabalho preliminar poder suscitar-lhe novas dvidas, ideias e metodologias.
2.2. Situaes de vida
2.3. Pistas para o trabalho
Parte III
QUESTES OPERACIONAIS, CASOS ILUSTRATIVOS
62
Neste processo, fundamental que os tcnicos e formadores evitem abordagens normativas e solues
nicas, herdadas de sistemas educativos mais tradicionais, valorizando, ao invs, as capacidades de
organizao, autonomia e auto-aprendizagem dos adultos na sua abordagem a diversos problemas com
os quais se confrontam na vida quotidiana. Assim sendo, desde que correctamente utilizadas, estas
fichas podem funcionar como importantes alavancas de operacionalizao e reflexividade, no necessrio
vaivm entre situaes de vida e aparelhos conceptuais.
63
Este captulo do Guia de Operacionalizao
_
Casos Ilustrativos
_
trata de casos ficcionais, criados
especificamente para serem ilustrativos de perfis e percursos de reconhecimento, validao e certificao
de competncias-chave, ainda que procurando salvaguardar as particularidades de quaisquer pessoas
e das suas histrias de vida.
O Centro Novas Oportunidades
Situamo-nos num Centro Novas Oportunidades, numa vila antiga que conheceu um forte crescimento
nas ltimas dcadas, visto integrar-se nos subrbios de uma grande cidade. O Centro funciona no
quadro de uma cooperativa de formao com um plano estratgico de interveno junto de uma populao
em risco de excluso, visando a sua qualificao e reconverso profissionais. Alm do coordenador, a
equipa tcnico-pedaggica composta por cinco formadores e oito tcnicos de RVC.
Quatro pessoas com perfis e histrias de vida muito diferenciados so acompanhados por Sofia, jovem
sociloga e tcnica de RVC, com o intuito de obterem uma certificao de nvel secundrio: a Lurdes,
52 anos, auxiliar numa instituio pblica; o Jaime, 44 anos, mecnico e bombeiro voluntrio; a Rita,
33 anos, ex-empregada de bar e actualmente desempregada; o Yuri, 26 anos, ocupado em biscates
vrios ligados construo civil desde que chegou, h trs anos, da Ucrnia (ver perfis pessoais).
Perfis pessoais
Lurdes
A Maria de Lurdes
_
conhecida no bairro como a dona Lurdes
_
tem 52 anos e vive com
os seus trs filhos, depois de o marido ter desaparecido sem deixar rasto. Deixou a escola
quando no conseguiu passar no exame da 4 classe, apesar de ser uma aluna esforada.
Visto que era proveniente de uma famlia rural bastante pobre e os seus pais j no a
conseguiam sustentar, convenceram-na a ir para a cidade e comeou a trabalhar, aos 13
anos, como empregada domstica. H mais de 15 anos que auxiliar numa instituio
pblica. Na prtica, cumpre as mesmas funes que as suas colegas com o 12 ano, mas
tem um salrio consideravelmente mais baixo e no pode ser promovida devido sua falta
de qualificaes formais. Soube no emprego dos novos processos de certificao e foi
incentivada pelas colegas a inscrever-se, sabedoras das suas competncias e capacidade
de aprender. Como forma de obter algum maior conforto financeiro e visto que os seus
filhos eram agora mais autnomos (tinham entre 14 e 20 anos), candidatou-se ao processo
de certificao do 9 ano e obteve o diploma facilmente. Passados trs anos, animada com
esta pequena conquista, inscreveu-se no processo de certificao do nvel
secundrio.
3. Casos ilustrativos
Parte III
QUESTES OPERACIONAIS, CASOS ILUSTRATIVOS
64
Jaime
Foi um mido irrequieto e traquina, mas ningum duvidava da sua inteligncia. Apesar de
passarem dificuldades econmicas e no terem estudos, os seus pais tinham-se esforado
bastante para que ele estudasse, mas o Jaime fartou-se dos longos discursos dos seus
professores do liceu e abandonou a escola no 10 ano. Como tinha uma paixo por
automveis, passava as tardes numa oficina ao fundo da rua e rapidamente aprendeu o
ofcio. No passou muito tempo at que o dono da oficina, apercebendo-se da paixo e
do talento do Jaime, o convidasse a trabalhar l. Com 17 anos, o Jaime j sonhava ter uma
casa para viver com a namorada e no hesitou. Deixou a escola e, nos vinte anos seguintes,
foi mecnico em diversas oficinas, fazendo vrios cursos de especializao. Alm disso,
tambm bombeiro voluntrio, uma actividade que sempre admirou e que lhe permitiu
adquirir novos conhecimentos e competncias, sobre bombas hidrulicas, construo e
primeiros socorros. No entanto, a sua paixo pela profisso foi desvanecendo e um problema
nas costas levou-o a que passasse mais tempo ao balco ou em casa, de baixa, do que
dedicado aos motores. Estes tempos fizeram com que reavivasse a sua faceta de autodidacta
e passou a interessar-se bastante por Informtica, Matemtica e Histria. Com 44 anos,
considerou que seria um desafio certificar as competncias que tinha adquirido ao longo
da sua vida.
Rita
Originria de uma famlia de conhecidos advogados, Rita estudou num colgio privado com
direito a aulas de ingls e piano desde pequena. No entanto, em adolescente, Rita descobriu
a vida da noite e, rapidamente, entrou em ruptura com os estilos de vida, valores e carreiras
da sua famlia. Com 17 anos apaixonou-se por um rapaz, dez anos mais velho, que abrira
um bar no centro de Lisboa. Rita passou a trabalhar no bar todas as noites. Acabou por
ser expulsa do colgio no 10 ano e inscreveu-se numa escola pblica s para satisfazer
a famlia, mas raramente a frequentava. O bar conheceu algum sucesso e Rita passou a
dirigir o pessoal, adoptando informalmente competncias de gesto e de contabilidade. No
entanto, o lugar entrou em decadncia e as drogas acabaram por consumir o jovem casal.
O seu companheiro morreu com uma overdose e Rita quase seguiu o mesmo caminho,
mas foi salva num hospital. Durante os cinco anos seguintes percorreu um longo caminho
de recuperaes e recadas. A famlia deixou de lhe falar, mas uma irm
visitava-a regularmente e a me transferia-lhe dinheiro que a permitia sobreviver. Ningum
lhe dava trabalho, foi interiorizando que era incapaz de trabalhar e de ter uma vida regular,
mas recentemente alguns amigos, entre eles a sua assistente social, convenceram-na a
buscar um novo rumo para a sua vida.
65
Yuri
Cresceu numa pequena cidade da Ucrnia, sendo que os seus pais tinham uma vida
modesta mas segura. Como era bastante organizado e trabalhador, no final da
escolaridade bsica, Yuri foi orientado para um curso tcnico-profissional de ajudante
de laboratrio. Animado pelo sonho de vir a estudar engenharia, Yuri deslocou-se para
Kiev, onde conheceu Irina, que na altura estava a terminar o curso de enfermeira.
Casaram e tiveram um filho. No entanto, com o fim do comunismo, o laboratrio onde
Yuri trabalhava fechou e a inflao fez com que a famlia passasse privaes. Cansados
da instabilidade do pas e com a esperana de que o seu filho crescesse na Europa
Ocidental, desfrutando de mais oportunidades, decidiram tentar a sua sorte em Portugal.
Yuri veio primeiro, confrontando-se com dificuldades que no esperava para reconhecerem
as suas competncias como ajudante de laboratrio. Acabou a fazer pequenos biscates
na construo civil, vivendo num barraco com outros imigrantes, e enviando algum
dinheiro para a sua famlia em Kiev. No entanto, continua a acreditar que, com a
legalizao, poder trazer a sua famlia para Portugal, trabalhar num laboratrio e vir
a estudar engenharia.
Sofia (tcnica de RVC)
Decidiu estudar sociologia porque se sentia fascinada pelas pessoas e estava disposta
a trabalhar por um mundo melhor. No entanto, terminado o curso, no encontrou
facilmente um emprego consonante com as suas expectativas, tendo passado por uma
cmara municipal, um centro de estudos e uma empresa de formao profissional, na
qual era responsvel por organizar as ofertas de formao. Esta ltima experincia
levou-a a interessar-se pela rea da formao profissional, frequentando um curso de
formao de formadores, atravs do qual obteve o Certificado de Aptido Profissional
de Formador, bem como uma ps-graduao em educao de adultos. Ainda assim,
foi com algum receio que concorreu para um Centro Novas Oportunidades, ainda algo
confusa com os trmites deste novo processo de reconhecimento e certificao das
competncias dos adultos, temendo que fosse demasiado administrativo, no contribuindo
de facto para resolver os problemas das pessoas. Trabalha no Centro h cerca de 9
meses. O seu dinamismo e sensibilidade levaram a que o coordenador do Centro a
convidasse a trabalhar na certificao de nvel secundrio, processo que ainda estava
em fase de implementao.
Parte III
QUESTES OPERACIONAIS, CASOS ILUSTRATIVOS
66
O primeiro impacto
Os candidatos chegam ao processo de reconhecimento, validao e certificao de competncias com
percursos e projectos muito diversificados. Assim, na sesso de grupo inicial, Sofia considerou que era
importante comear por pedir aos candidatos que contassem algo significativo sobre a sua vida, bem como
sobre as suas motivaes para a obteno do certificado de nvel secundrio. Lurdes foi prdiga em detalhes
da sua histria de vida e daquilo que julgava ter aprendido nas casas particulares, centros de sade e
hospitais por onde tinha passado, apresentando-se motivada, at porque havia obtido a equivalncia ao 9
ano por esta via e gostara muito do processo. Ao Jaime brilharam-lhe os olhos quando explicou que, desde
pequeno, foi um autodidacta, que nunca gostara que o ensinassem, mas que sempre procurara ampliar os
seus conhecimentos e, na verdade, acreditava ter mais cultura geral do que muitos dos actuais licenciados.
A Rita foi bastante seca e evasiva quanto sua histria de vida, comentando que estava a recuperar de
alguns anos bastante complicados e que andava procura de um novo rumo para a sua vida. No estava
muito certa de que o processo RVCC pudesse ajud-la, mas a sua assistente social, uma das suas melhores
amigas, convencera-a a tentar. Hesitante e tmido, com frases curtas e confundindo algumas formas verbais,
Yuri foi contando que tinha um curso tcnico-profissional de ajudante de laboratrio, mas que em Portugal
no reconheciam as suas qualificaes, pelo que fazia diversos trabalhos desqualificados na construo
civil. Gostava de ter o 12 ano para poder voltar aos laboratrios, ter um contrato que lhe permitisse uma
vida boa e segura, e talvez entrar num curso superior de engenharia, o seu grande sonho.
No final desta sesso, Sofia explicou em traos gerais as etapas e as metodologias do processo de
reconhecimento, validao e certificao de competncias, colocando nfase na construo de um trabalho
pessoal assente em competncias j adquiridas, na elaborao do Porteflio Reflexivo de Aprendizagens
como evidncia desse trabalho e na sua apresentao, no final, perante um jri. Ao contrrio da organizao
escolar, rematou aqui que a formao era apenas um complemento em reas especficas e no o ponto
de partida.
Jaime j conhecia bem o processo, estudara-o na internet, e repetiu vrias vezes que o considerava muito
interessante. Enquanto isso, Lurdes fez muitas perguntas, no entendendo bem porque razo as reas de
Competncias-Chave tinham designaes to longas. Rita manteve-se sempre calada, de olhos na janela,
perguntando apenas se podia fumar. E Yuri venceu a sua timidez para perguntar se o facto de ainda conhecer
pouco da Lngua e da Histria de Portugal o ia prejudicar na deciso final. Sofia desdramatizou a situao,
garantindo que a lngua portuguesa poderia ser avaliada como segunda lngua (no materna) mas este ficou
algo desconfiado. Despediram-se e marcaram entrevistas individuais para da a duas semanas, ficando com
o trabalho de pensarem e registarem algumas das experincias mais significativas ao longo da sua vida e
as competncias que julgavam ter adquirido no decurso dessas experincias.
Resgatar o passado
Lurdes chegou a casa algo confusa, mas voltou a animar-se quando contou as novidades aos filhos
que a ajudaram a identificar algumas experincias e competncias que desenvolveu. Teve dificuldade
em comear, mas umas recordaes levaram a outras e ao fim de uma hora j tinha enchido vrias
pginas, com aquilo que aprendera nos vrios trabalhos pelos quais tinha passado.
Jaime passou duas horas em frente ao computador, sentindo-se bloqueado, pois nunca gostara de
67
escrever textos e h muitos anos que no o fazia. Tentava nos dias seguintes, mas acabava sempre
envergonhado pois no lograva descrever a riqueza das experincias por que tinha passado. No papel,
soavam vulgares e simplistas. Acabou por fazer, num processador de texto, uma tabela em que nas
linhas colocava, por tpicos, vrias experincias, enquanto nas colunas ensaiava algumas competncias
que acreditava ter adquirido.
Rita recusou a actividade, at porque a obrigava a recuperar uma srie de memrias, algumas muito
dolorosas, e a sua vontade era desistir j de obter certificao. No entanto, nos longos perodos de
solido, encontrara nos romances um escape para os seus problemas e dedicava-lhes vrias horas por
dia. Assim, depois de resistir alguns dias, comearam a surgir-lhe frases que descreviam algumas das
suas experincias de vida, bem como reflexes sobre o que retirara dessas experincias. Escrev-las
converteu-se num desafio estimulante, at ocupar-lhe uma parte considervel dos dias. Encontrou um
sentimento de libertao em registar as memrias do colgio onde estudara, o que aprendera ao gerir
um bar famoso, at aquilo que tinha aprendido nos centros de desintoxicao, bem como nos longos
perodos de solido, s com televiso, livros e internet.
Enquanto isso, todas as noites Yuri dedicava meia hora a escrever cuidadosamente aquilo que aprendera
na escola, no curso profissional e nas aces de formao na Ucrnia. Escrevia algumas palavras em
Portugus, mas as suas memrias saam mais fluentes no seu idioma materno, pelo que se contentou
com uma sequncia de notas bilingues. Sobre a experincia em Portugal, nem uma palavra.
Traduzir a vida em competncias
Na entrevista individual, Lurdes apresentou as vrias experincias que tinha registado, e o olhar
interessado e confiante de Sofia acabou por diluir o temor que sentira ao longo de todo o dia de que o
seu trabalho no tivesse correspondido ao esperado. Com pequenas alteraes, o texto podia j ser o
primeiro documento do seu Porteflio Reflexivo de Aprendizagens. No entanto, voltou a sentir-se insegura
quando soube que o passo seguinte seria enquadrar essas competncias nos vrios temas-chave
definidos nas reas STC, CLC e CP. A primeira impresso foi a de que as suas experincias de vida
eram bastante insignificantes no momento de demonstrar competncias cientficas, lingusticas ou de
cidadania. A tcnica de RVC tentou anim-la, dando-lhe um exemplo: visto que j trabalhara num hospital
e se habituara a cuidar da sade prpria e dos filhos com esmero, na rea STC, poderia obter at quatro
crditos no Ncleo Gerador Sade, caso demonstrasse conhecimentos e competncias nos contextos
privado, profissional, institucional e macro-estrutural. Algo cptica, Lurdes prometeu da a quinze dias
voltar com um esboo de Balano de Competncias, no qual relia a sua histria de vida luz dos temas
e orientaes do Referencial de Competncias-Chave para a Educao e Formao de Adultos
_
Nvel
Secundrio.
No esquema que apresentou, Jaime j associara as experincias de vida, as competncias que estas
tinham proporcionado e as reas em que poderiam ser certificadas. Na verdade, Jaime estudara j o
Referencial cuidadosamente. No entanto, havia um problema. Jaime declarava que os seus conhecimentos
de equipamentos tcnicos, de tecnologias da informao, de urbanismo e de matemtica lhe permitiam
obter vinte crditos na rea STC, tal como as suas experincias de vida e de trabalho lhe valeriam
crditos em CP, mas que no fazia ideia como obter certificao na rea CLC. Na verdade, o seu Ingls
era rudimentar e, mesmo em Portugus, sentia um enorme bloqueio em escrever um texto. Criticou o
Parte III
QUESTES OPERACIONAIS, CASOS ILUSTRATIVOS
68
sistema por ser demasiado rgido. Sofia lembrou-lhe que a rea CLC era bastante abrangente, incluindo
as vrias formas de comunicao, bem como a noo dos padres culturais dos povos. Assim sendo,
aconselhou Jaime a ir para casa e pensar melhor em como poderia obter crditos nesta rea, no
excluindo a hiptese de fazer alguns mdulos de formao em Ingls ou em Portugus.
A situao de Rita era, de certa forma, a inversa. Apresentou uma reflexo profunda e incisiva sobre a
sua prpria histria de vida, mas ignorando completamente as competncias que seria necessrio
evidenciar para a obteno de certificao. Alm disso, quando Sofia falou resumidamente do Referencial,
pareceu bastante aborrecida e cptica. No acreditava ser possvel traduzir a sua histria de vida em
competncias. No final, acedeu a pensar melhor e a elaborar uma tabela com as competncias que
julgava deter, mas sem a mnima inteno de o fazer. S pensava em desistir.
Por fim, o Yuri apareceu com um caderno quase completo de apontamentos e demorou bastante tempo
a explicar as competncias que adquirira. Sofia minimizou estas dificuldades lingusticas, concentrando-
se ao invs em alargar a noo que Yuri tinha de competncias. Aparentemente, o ucraniano apenas
considerava saber aquilo que aprendera na escola e em cursos tcnicos no seu pas natal. No entanto,
quando lhe foi perguntado que outras coisas sabia fazer, mostrou tambm conhecimentos prticos em
vrios outros domnios, como a jardinagem e a construo civil. Sobreviver num pas distante, obriga
uma pessoa a aprender uma infinidade de coisas. A conversa foi-se estendendo e, a certa altura, Yuri
j falava da alimentao dos portugueses, dos processos migratrios na Europa ou de como tratar com
o Servio de Estrangeiros e Fronteiras.
Abrir caminhos
Quinze dias mais tarde, era momento de apresentar em grupo uma auto-avaliao intermdia, em que
se relacionavam experincias de vida, competncias adquiridas e formas de as certificar luz do
Referencial de Competncias-Chave para a Educao e Formao de Adultos - Nvel Secundrio. Rita
chegou bastante atrasada e manteve-se em silncio durante toda a sesso, dizendo que no conseguira
realizar o esquema proposto. Yuri no compareceu sesso, nem deu qualquer justificao.
Perante as hesitaes da sala, Jaime assumiu o protagonismo, ao descrever com orgulho e mincia
como poderia facilmente evidenciar competncias em STC, sobretudo, no manuseamento de equipamentos
e tecnologias, complementado pelos conhecimentos tericos que aprendera por explorao individual
e nos cursos que frequentara. Em CP, declarou tambm deter diversas competncias no desempenho
da sua profisso, relao com colegas e patres, mercado de trabalho e instituies sociais, no geral.
Em CLC, animado por uma viso mais abrangente da utilizao da lngua, e como seguia regularmente
as notcias, apresentou a ideia de realizar uma anlise dos dirios informativos em formato de papel
(jornais), televisivo e electrnico (internet), acentuando os diferentes modos de utilizao da lngua.
Entre hesitaes, Lurdes l foi dizendo que tinha alguns conhecimentos em cuidados de sade, de
oramentos e impostos, bem como de agricultura, pelo que, com estudo, acreditava conseguir explorar
vrios temas que so includos na rea STC. Por outro lado, era bastante observadora e poderia
reconstituir muitos dos hbitos culturais da sua aldeia natal, bem como escrever um texto sobre os
modos de funcionamento e disfunes de um Hospital. Como passara alguns meses em Paris, com um
casal amigo que emigrara em busca de melhor sorte, compreendia o Francs e, embora no fosse
69
capaz de construir frases, achava que poderia melhorar em poucos meses, com a ajuda da sua filha
que estudara Francs vrios anos na escola.
No final, Sofia fez uma apresentao sobre o que, neste processo RVCC, se considerava ser competncias
e tambm como os candidatos poderiam organizar o seu trabalhar para reconhecer, validar e certificar essas
competncias. Tendo em conta o perfil dos candidatos, enfatizou o facto de as competncias poderem ser
apreendidas em variados contextos e momentos da vida, muitas vezes de forma inconsciente, distinguindo-
se dos conhecimentos formais aprendidos na escola ou em certos trabalhos. Muitas vezes, vamos descobrindo
que sabemos muito mais do que pensamos, repetiu vezes sem conta. Pediu aos candidatos que apresentassem
um relatrio de auto-avaliao final, com o balano de competncias, as necessidades de formao e a
organizao do trabalho futuro, que, aps ser discutido com ela, conduziria fase seguinte do processo.
Pediu Rita que ficasse mais uns minutos, pois queria entender as razes do seu bloqueio e desmotivao.
Atravs de uma conversa informal, compreendeu que Rita nunca falava de competncias. Talvez no
soubesse o que eram ou, ento, no havia qualquer domnio ou actividade em que se sentisse, de facto,
competente. Dizia que aquilo que aprendera na vida no tinha nada que ver com cincia, lngua ou cidadania.
Apenas truques para sobreviver no mundo real. Sofia contraps que a histria de vida narrada por Rita
demonstrava enormes competncias, no apenas lingusticas, mas tambm de cidadania e at cientficas.
Deu-lhe exemplos. Uma reflexo sobre as presses sociais accionadas quando se contrariam as tradies,
as expectativas e os estilos de vida da famlia, mas tambm sobre as novas oportunidades e prticas culturais
que surgem nas sociedades, atravessadas por fenmenos como a globalizao. Noutra passagem, Rita
explica como foi criando sistemas matemticos para estimar as bebidas consumidas no bar, de acordo com
o dia da semana, altura do ms e do ano. A Sociologia e a Gesto no so tambm fontes de conhecimento
cientfico? Por outro lado, no texto, aborda tambm os dilemas ticos associados gesto de um negcio
nocturno, bem como o valor da amizade e da solidariedade ou a experincia de deixar de se sentir profissional
e cidad, em virtude da excessiva dependncia das drogas. Incorporadas esto competncias de cidadania
e profissionalidade. Isso tambm conta?, perguntou ela incrdula. Mesmo que continuasse a pensar desistir,
gostou da sensao de que a sua vida tinha bastante mais valor que lhe atribuam habitualmente, mais do
que ela se habituara a atribuir.
Depois de vrias chamadas para o seu telemvel, a persistente Sofia conseguiu falar com Yuri.
Este desfez-se em desculpas e disse que gostaria de continuar no processo, mas que o seu patro no
aprovava. Dizia que era uma perda de tempo e o desconcentrava do trabalho. Ameaou-o com o
despedimento. Alm disso, j o transferira para uma obra noutra cidade. Depois de meditar sobre o
assunto e falar com vrios colegas, Sofia decidiu abordar directamente o patro, advogando que Yuri
tinha enormes capacidades e o direito de procurar obter a certificao. O patro mostrou-se desconfiado
e inflexvel. Quando j assumira a perda de um candidato, Sofia recebeu a visita inesperada de Yuri,
contente porque o patro aceitara a sua continuao no processo RVCC, desde que s estudasse aos
fins-de-semana e o ajudasse a resolver uns problemas nas suas obras, relacionados com reaces
qumicas inesperadas.
Traar uma linha de aco
Lurdes voltou a sentir um aperto no estmago quando apresentou o relatrio de auto-avaliao. Continha
uma introduo em que explicava a situao actual e as expectativas quanto ao processo RVCC.
Parte III
QUESTES OPERACIONAIS, CASOS ILUSTRATIVOS
70
Em seguida, apresentava algumas experincias de vida, nas quais pensava ter adquirido competncias
vlidas para a certificao. Ter crescido num meio rural, dava-lhe conhecimentos sobre hbitos culturais,
bem como sobre solos e vegetao. Ter trabalhado em diversas casas e instituies conferia-lhe diversos
saberes prticos sobre relaes de trabalho, direitos e deveres. As experincias de trabalhar num
hospital e de cuidar de trs crianas conferiram-lhe competncias cientficas no domnio da sade. Ser
a gestora do condomnio do seu prdio, tendo que gerir diversos interesses e lidar com vrias instituies
pblicas, de cariz local e central, poderia evidenciar competncias de cidadania. Apenas na rea STC,
sentia ser indispensvel mais formao, visto que estava ainda longe de atingir o nmero de crditos
requeridos. Discutiram um pouco a situao e Sofia aconselhou-a, enquanto avanava com os trabalhos,
a frequentar um curso de TIC, no qual poderia explorar novas competncias tecnolgicas, lingusticas
e at de cidadania. Lurdes entusiasmou-se com a ideia, at porque poderia recorrer ajuda do seu filho
mais velho, cuja principal paixo era a informtica.
Jaime limitou-se a rever e melhorar a tabela que j tinha apresentado, relacionando experincias,
competncias e reas de certificao. Nas concluses finais, incluiu uma lista de temas nos quais poderia
validar as suas competncias: equipamentos e sistemas tcnicos, tecnologias da informao e da
comunicao, ambiente e sustentabilidade, saberes fundamentais (STC e CLC); responsabilidade e
conhecimento de direitos e deveres, convico e firmeza tica, programao (CP). A tcnica de RVC
comentou que um relatrio de auto-avaliao deveria conter uma anlise da situao individual, da
histria de vida e um plano de aco. Alm disso, perguntou ao candidato se tinha mudado de ideias
acerca das necessidades de formao nas lnguas portuguesa e inglesa. Perante a resposta de que
pensava melhorar as suas competncias lingusticas atravs de enciclopdias e sites na internet, Sofia
aconselhou-o a referir tambm essas orientaes nas necessidades de formao e no planeamento do
trabalho. Notou-lhe ainda que devia olhar o processo RVCC no apenas como um modo imediato de
obter a certificao de nvel secundrio, mas tambm como uma oportunidade de aperfeioamento de
competncias e, no geral, de enriquecimento pessoal.
Para surpresa de Sofia, Rita apareceu sorridente e com um relatrio bem estruturado. Acabou por contar
que a sua assistente social e amiga a havia visitado e, por entre histrias e gargalhadas, haviam
construdo, em conjunto, o balano de competncias. A amiga conhecia muito bem a sua histria de
vida, pelo que at tinha sido divertido pensar que competncias tinha adquirido na sua trajectria irregular.
No final, conclura que, com trabalho e alguma formao na rea cientfica, poderia conseguir a
certificao. Antes de despedir-se, Rita acrescentou que no sabia bem se este certificado lhe servia
de alguma coisa, mas que comeava a sentir que este trabalho lhe revelava aspectos interessantes da
sua prpria personalidade.
Por fim, Yuri estava mais atrasado na elaborao do relatrio, pelo que Sofia aproveitou a reunio para
o ajudar nesta tarefa. Combinaram que ele faria uma introduo sobre o seu percurso, situao actual
e expectativas quanto ao futuro. Depois, discutiram como fazer um balano de competncias, que
culminaria num plano de trabalho para obter a certificao. Yuri considerava indispensvel ter formao
nas trs reas de Competncias-Chave. No entanto, ao longo da conversa, conseguiram concentrar
as necessidades de formao em termos de questes lingusticas. Mesmo nesta rea, apesar de Yuri
repetir vrias vezes que no sabia ler nem escrever em Portugus, na verdade, lia regularmente manuais
de instrues, promoes de vendas, informaes do Servio de Estrangeiros e Fronteiras. Eliminando
a literatura tcnica, as suas dificuldades prendiam-se com ler e escrever textos sobre experincias
pessoais, nos quais abundam as formas verbais e os adjectivos. Trs semanas depois, marcaram uma
71
sesso extraordinria, e Yuri apresentou, orgulhoso, o seu relatrio, no qual contara com a ajuda de
um colega angolano.
Reforando a noo de competncia
Terminava, assim, aquilo que se pode considerar a fase de reconhecimento, desaguando na fase
seguinte do processo, a validao das competncias. A pedido de vrios candidatos que no se
encontravam preparados para a fase seguinte, foi organizada uma nova sesso colectiva, na qual
discutiram de que forma evidenciariam competncias numa determinada rea de Competncias-Chave.
Gerou-se uma discusso acesa, na qual se constatou que os candidatos tinham noes diversas de
como se podia evidenciar uma competncia. Sofia insistiu nos trs elementos de complexidade definidos
no Referencial de Competncias-Chave para a Educao e Formao de Adultos - Nvel Secundrio.
Em seguida, foram distribudas algumas fichas com exemplos de actividades que permitem evidenciar
competncias nas trs reas de Competncias-Chave, para os referidos trs elementos.
Jogar primeiro em casa (estratgia de Lurdes)
Lurdes decidiu explorar o campo da sade, na qual se sentia mais vontade. Por exemplo, no Tema
Medicinas e Medicao, abordou a questo dos medicamentos. Explicou em que situaes optaria pela
utilizao de genricos, conseguindo explicitar as razes da escolha e evidenciar essa preferncia ao
tcnico de sade. Caracterizou as diferentes classes de medicamentos (anti-pirticos, anti-inflamatrios,
antibiticos, anti-depressivos), reconhecendo os limites da auto-medicao e a necessidade, ou no,
de receita mdica. E identificou os elementos que permitem reconhecer a equivalncia teraputica entre
medicamentos (princpios activos, composio, concentrao e apresentao). Desenvolveu trabalhos
semelhantes nos Temas Cuidados Bsicos e Riscos e Comportamentos Saudveis. Desenvolveu um
trabalho de interpretao e anlise da bula de um medicamento, encontrando uma forma de explic-lo
a uma pessoa comum, sem recurso a termos mdicos. E explorou os direitos e deveres de utentes,
mdicos e enfermeiras num hospital, discutindo os diferentes tipos de argumentos que podem ser
utilizados em situaes ambguas, explorando os Temas Deontologia e Normas Profissionais e Direitos
e Deveres Laborais, referentes rea CP. Ao fim de uma semana, estava cansada pelo trabalho
desenvolvido, mas orgulhosa e motivada pois, pelas suas contas, j desenvolvera um trabalho equivalente
a 6 crditos.
Como estava habituada a gerir uma casa sozinha com pouco mais do que o salrio mnimo, sentia-se
capaz de trabalhar o Tema Oramentos e Impostos (rea STC), apresentando as suas competncias
na gesto do oramento familiar. Seguindo o seu plano de trabalho risca, dedicou-se a escrever uma
carta formal e a definir uma estratgia para apresentar verbalmente uma queixa na Direco-Geral de
Impostos, o que lhe valia mais um crdito na rea CLC e outro na rea CP, Tema Capacidade
Argumentativa.
Aproveitou uns dias de frias para visitar os parentes na aldeia onde nascera. Decidiu explorar este
tema para juntar tambm ao Porteflio Reflexivo de Aprendizagens. Tinha algumas noes bsicas,
pois crescera numa famlia de agricultores, mas sabia que necessitava de aprofundar e actualizar as
suas competncias na matria. Com a ajuda do irmo que herdara um pequeno terreno dos pais e
estava a cultiv-lo, conseguiu reconhecer a evoluo das actividades agrcolas como factor de
Parte III
QUESTES OPERACIONAIS, CASOS ILUSTRATIVOS
72
desenvolvimento regional, expondo o caso do cultivo de produtos tradicionais que entram nas quotas
da Poltica Agrcola Comum da Unio Europeia. Aprendeu tcnicas como a rotao de culturas e cultivos
mistos ou a anlise de solos, enquanto mecanismos de preveno e reduo de danos por contaminao
qumica ou biolgica. Como o irmo queria concorrer a um programa da Unio Europeia, Lurdes sentiu-
se til ao ajud-lo a seleccionar e interpretar os textos em francs que se encontravam na Internet,
explorando como se poderia adaptar o cultivo aos requisitos europeus e tambm como se poderiam
desenvolver novas formas de participao na UE. Alm de ajudar o seu irmo, pde assim explorar
Temas que adicionou ao Porteflio, como Recursos Naturais (reas STC e CLC) e Direitos, Deveres
e Contextos Globais (rea CP).
Apresentou-se na entrevista individual, passadas duas semanas, orgulhosa por acreditar que j tinha
o trabalho adiantado com vista obteno de onze crditos. Entretanto, comeara tambm o curso
de informtica, complementado pelas explicaes do seu filho. Sofia confirmou que ela estava no
caminho certo, ainda que lhe tenha sugerido maior rigor na elaborao do oramento familiar, pois
as rubricas eram algo rgidas e pouco claras, havendo alguns gastos e entradas que no estavam
contabilizados.
Uma rea de cada vez (estratgia de Jaime)
O Jaime seguiu outro mtodo. Decidiu, numa primeira fase, concentrar o trabalho no reconhecimento
e validao de competncias na rea STC, visto ser aquela em que se sentia mais vontade. No Tema
Equipamentos Domsticos, abordou a funcionalidade (social, cientfica e tecnolgica) dos electrodomsticos,
at porque tratava, em geral, da sua aquisio e manuteno. Visto que trabalhava numa oficina,
escolheu como equipamento profissional os motores. Sem grande dificuldade, foi reunindo no Porteflio
Reflexivo de Aprendizagens elementos que distinguem os diferentes tipos de motores (trmicos, elctricos,
hidrulicos e turbinas a gs) e caractersticas associadas (110/220 V, mono ou tri-fsicos, a dois ou
quatro tempos, etc.). Identificou as principais partes de um motor e o seu papel no modo de funcionamento
(por exemplo, as escovas para o contacto elctrico num motor elctrico). E relacionou os avanos
tecnolgicos com alteraes de concepo e design de novos motores, equacionando o custo/benefcio
dessas transformaes no impacto das solues adoptadas. No Tema Utilizadores, Consumidores e
Reclamaes relacionou os momentos programados para as revises em funo do tipo de trabalho
executado, dos tipos de equipamento e das exigncias de segurana (automvel, tractor, avio, etc.).
Em Transformaes e Evolues Tcnicas comeou por explorar a evoluo dos meios de transporte
com novas oportunidades e novos problemas das sociedades contemporneas, abordando a grande
expanso do mercado automvel, mas tambm as dificuldades que enfrenta actualmente. Na vertente
cientfica, aps algumas navegaes na internet, conseguiu aplicar as definies de posio, velocidade,
acelerao, fora, fora centrfuga e fora de atrito descrio dos movimentos, pois tinha frequentado
um curso sobre o tema alguns anos antes.
No Tema Micro e Macro Electrnica, como utilizava o computador no escritrio da oficina, decidiu
identificar vrias aplicaes informticas e diferentes sistemas operativos, explicando as funes bsicas
de cada um deles. E em Empresas, Organizaes e Modelos de Gesto, Jaime decidiu analisar a sua
oficina enquanto organizao produtiva.
Compareceu na entrevista individual com a expectativa de que o trabalho desenvolvido j seria praticamente
73
suficiente para concluir a evidenciao de competncias na rea STC, mas Sofia recomendou-lhe que
refizesse alguns dos seus materiais. Indicou-lhe que a vertente social surgia muitas vezes negligenciada
ou em enunciados valorativos e equivocados. Durante a entrevista, tornou-se manifesto que Jaime no
reconhecia o estatuto cientfico das cincias sociais. O organograma que apresentou confundia as
unidades funcionais. Alm disso, Jaime desenvolvera uma anlise assente na convico de que as
tecnologias geravam necessariamente excedentes de trabalhadores numa organizao, contribuindo
sempre para o desemprego, mas nunca indicava onde se baseara tal pressuposto.
Um trabalho de inspirao (estratgia de Rita)
Certo dia, Rita teve uma ideia original. Telefonou imediatamente a Sofia que apoiou a ideia e a incentivou
a lanar-se ao trabalho. Lera trs vezes As Vinhas da Ira, de John Steinbeck, e continuava fascinada
pelas aventuras de Tom e sua famlia, em dispora pela Amrica do sculo XIX, rumo a uma terra
prometida mais a oeste. Decidiu, ento, explorar as suas competncias em torno desse livro. Comeou
por competncias lingusticas: leu-o na verso original e fez um resumo em Ingls e uma anlise de
expresses idiomticas. Desde pequena que adorava a lngua inglesa. Depois, discutiu a traduo para
Portugus e fez uma crtica na lngua materna, comparando-a com obras conhecidas de outros autores
e de outras pocas. Decidiu recitar algumas passagens mais marcantes da obra e grav-las em cassete,
aperfeioando a sua capacidade de expresso. Seguiu na linha cultural, analisando como a obra expressa
com preciso a cultura de um grupo e de uma poca especficos, mas tambm uma reflexo sobre
movimentos fundamentais na cultura americana, na transio para a modernidade, e na cultura global
em que vivemos. E abordou, a partir da obra, a ideia de que cada grupo tem as suas formas especficas
de comunicao, bem como a prpria obra se pode constituir um poderoso meio de comunicao e
meta-comunicao, com um impacto significativo na opinio pblica e no modo como um povo se v
a si prprio.
Alm disso, o livro levou-a tambm a explorar trs Temas da rea STC. Em Ruralidade e Urbanidade,
abordou a questo da evoluo tecnolgica e de organizao dos campos que levou uma grande parte
das populaes rurais, em muitos pases, a migrar para as cidades. Em Mobilidades Locais e Globais,
abordou a evoluo das formas e modos de transporte nas sociedades modernas, aproximando os
locais e permitindo a intensificao dos fenmenos migratrios. E ainda, no Tema Climas abordou os
diferentes regimes climticos descritos no livro, associando-os a distintas regies dos EUA e a momentos
do ano; de que forma os grupos enfrentavam essas condies climticas e ainda como estas tm
evoludo desde o sculo XX.
Na entrevista individual, Rita surgiu mais confiante, animada pelo trabalho desenvolvido. Sofia
elogiou-a bastante e sugeriu ainda que a anlise deste livro permitia a Rita, tambm, demonstrar
competncias em CP, nos Temas Preconceitos, Esteretipos e Representaes Sociais, Tolerncia
e Diversidade e Escolhas Morais Comunitrias, bastando explicit-lo de forma sucinta. Ainda assim,
a tcnica de RVC sugeriu a Rita que frequentasse formao complementar em alguns mdulos de
Cidadania e Profissionalidade, visto sentir que esta no tinha uma noo muito consciente dos
direitos e deveres nas sociedades contemporneas, demonstrando um enorme cepticismo quanto
a poder exercer uma cidadania activa. E a ideia deu resultado, sendo que o formador apoiou o seu
trabalho em alguns Temas e a necessidade de Rita participar na formao tornaram-na tambm
mais integrada e disciplinada.
Parte III
QUESTES OPERACIONAIS, CASOS ILUSTRATIVOS
Preparar o terreno (estratgia de Yuri)
Yuri, por seu turno, iniciou o curso de Lngua Portuguesa, como forma de poder elaborar o Porteflio
Reflexivo de Aprendizagens. No entanto, seguiu a sugesto de Sofia, e aos fins-de-semana ia avanando
ainda na sua lngua materna os trabalhos para a a evidenciao de competncias na rea STC. Dada
a falta de tempo, o seu ritmo de trabalho foi mais lento e Sofia combinou reunir com ele apenas uma
vez por ms. Os conhecimentos apreendidos na escola e nos cursos profissionais na Ucrnia valeram-
lhe trabalhos muito elaborados sobre Equipamentos Profissionais, Transformaes e Evolues Tcnicas,
Consumo e Eficincia Energtica, Resduos e Reciclagens e Comunicaes Rdio. A tcnica de RVC
confirmou que essas competncias eram certificveis, na rea STC, embora fosse importante acrescentar
alguns aspectos sociais das evolues tcnicas e dos usos da tecnologia.
No ms seguinte, com o apoio de Sofia, Yuri foi tambm introduzindo elementos da sua experincia em
Portugal, desde os mtodos, tcnicas e formas de organizao na construo civil, at aspectos que
foi observando na cultura portuguesa e, sobretudo, na situao cultural e administrativa dos imigrantes
no nosso pas. Yuri seguiu um programa televisivo, realizando anotaes em Portugus sobre os
principais factos que se foram sucedendo e, em seguida, traduziu-as para russo. Desta forma poderia
desenvolver um trabalho que lhe concederia alguns crditos nas trs reas do Referencial.
Mais tarde, Yuri entusiasmou-se quando compreendeu que a linguagem e a cultura poderiam ir
bem para alm dos formatos escritos mais convencionais. Conseguiu comprar uma cmara fotogrfica
semi-profissional, em segunda mo, e decidiu fazer uma reportagem fotogrfica sobre a comunidade
ucraniana no seu bairro. Seguiu a sugesto de visitar, na Internet, alguns stios com coleces de
fotgrafos profissionais sobre populaes na dispora. Foi descobrindo um talento para esta forma de
expresso, obtendo fotos que deixaram amigos, colegas do processo RVCC e formadores, bastante
cativados. Seleccionou as fotos, criando uma coleco com uma determinada estrutura e acrescentou
legendas, podendo demonstrar competncias de cidadania e profissionalidade atravs da forma como
retratou as questes das identidades culturais, dos modos de organizao colectiva, do racismo e dos
quotidianos profissionais.
Entretanto, o Centro Novas Oportunidades foi tambm explorando a possibilidade de um outro cidado
ucraniano, formado em lnguas e actualmente a residir em Portugal, poder fazer parte do jri, facilitando
o reconhecimento das competncias tambm na sua lngua materna. Apesar de uma parte das
competncias serem reconhecidas necessariamente em Portugus, dava mais confiana a Yuri e ser-
-lhe permitido obter alguns crditos em CLC, atravs da demonstrao de competncias na sua lngua
de origem.
O recurso aos formadores
Enquanto o acompanhamento permanente de Sofia foi fundamental na orientao dos trabalhos dos
vrios candidatos, o recurso aos formadores revelou-se indispensvel, em certos momentos, para
consolidar a demonstrao de competncias substantivas em Temas e reas especficos.
A prpria tcnica de RVC, alm de recomendar esta prtica aos vrios candidatos, foi a primeira a
recorrer aos formadores para consubstanciar o seu trabalho. Reconhecendo que tinha algumas lacunas
74
no campo das Cincias Naturais, no hesitou em consultar o seu colega especializado nesta rea,
discutindo com ele prolongadamente as noes e os materiais que os seus vrios candidatos lhe iam
trazendo. Chegou mesmo a perguntar-lhe como ele pensava que seria possvel, por exemplo, a Lurdes
validar competncias cientficas a partir da sua experincia no Hospital, mesmo que no detivesse
quaisquer noes formalizadas de Fsico-Qumica.
Os formadores, ao verem que vrios candidatos do Centro estavam a desenvolver Temas do Ncleo
Gerador Sade decidiram desenvolver uma aco de formao neste domnio. Neste caso, comearam
por elucidar de que forma a Sade era uma rea que convocava conhecimentos e disposies das
esferas cientficas, comunicacionais e de cidadania. Depois debateram com os candidatos, durante
vrias sesses, algumas fichas-exemplo nesta rea e o tipo de trabalhos que poderiam ser desenvolvidos
para validar as competncias descritas. Por fim, debateram os prprios projectos e materias apresentados
pelos candidatos para obter certificao neste domnio.
Por outro lado, o recurso dos candidatos aos formadores foi tambm variado. Lurdes recorreu frequente-
mente a estes especialistas, de forma a confirmar ou elucidar as suas competncias, tanto em questes
cientficas como em questes lingusticas. J Jaime se escudou na ideia de que sempre preferira
aprender por s prprio, a que outros lhe ensinassem. Rita, depois da sugesto da tcnica de RVC,
anuiu em frequentar algumas sesses de formao sobre Temas de Cidadania e Profissionalidade, de
forma a compreender melhor como poderia reconhecer e ver validadas competncias nesta rea. E
Yuri, embora muito condicionado por dificuldades de horrio, ainda conseguiu encontrar-se vrias vezes
com o formador da rea CLC, de forma a consolidar algumas competncias em Lngua Portuguesa.
A organizao do porteflio
Uma referncia central que organiza o trabalho e expe as competncias reconhecidas pelo candidato o
Porteflio Reflexivo de Aprendizagens. Ainda assim, a sua elaborao pode seguir etapas, estilos e modos
de organizao prprios, a partir das prprias experincias de vida, competncias e perfis dos diferentes
candidatos.
O facto de Lurdes ser muito metdica levou-a a dividir o Porteflio em diferentes captulos, nos quais
reunia todos os materiais a ele referentes. Assim, o primeiro captulo descrevia os principais momentos
da sua histria de vida, o segundo ensaiava um balano de competncias, o terceiro expunha os seus
trabalhos relativos ao Ncleo Gerador Sade. Sofia elogiou a sua capacidade de organizao mas
lembrou-lhe que o porteflio era mais do que uma sequncia desconexa de captulos, devendo incluir
alguns elementos que conferissem mais unidade ao documento.
Os bloqueios de Jaime relativamente escrita levaram-no a que deixasse o porteflio vazio at quase
vspera da sua apresentao final. Isso impediu que os tcnicos e formadores o pudessem orientar
quanto sua forma e contedo. Ainda assim, quando o organizou, Jaime limitou-se a fazer uma introduo
com vrios tpicos relevantes da sua biografia, passando rapidamente para trs captulos, nos quais
expunha as competncias que detinha nas trs reas.
Explorando a sua veia artstica, Rita seguiu um estilo mais livre, construindo um Porteflio que se assemelhava
a um livro autobiogrfico. Assim, os vrios captulos diziam respeito, sobretudo, a etapas da vida associadas
Parte III
QUESTES OPERACIONAIS, CASOS ILUSTRATIVOS
75
a algumas situaes e papis particularmente marcantes (adolescncia no colgio; o bar como criao
de atmosferas; no caminho da reabilitao; etc.). Sofia gostou da ideia, mas convenceu Rita a criar um
segundo registo (como "caixas de texto") no qual fazia um parntesis na sua interessante narrativa,
incluindo materiais que denotassem, de forma mais clara, as suas competncias nas referidas situaes
de vida.
Yuri no compreendeu imediatamente o que era o Porteflio, incluindo numa primeira fase apenas
documentos j existentes (fotos, bulas, fotocpias de manuais especializados, etc.). Sofia acabou por
esclarec-lo de que o Porteflio implicava a produo de materiais prprios. Ainda assim, sugeriu-lhe
que mantivesse os muitos elementos que tinha recolhido, mas que lhes adicionasse comentrios, notas
e reflexes que evidenciassem o seu correcto uso no reconhecimento e validao de competncias.
Buscando solues, com imaginao e bom-senso
O tempo foi passando e, com maiores ou menores dificuldades, maior ou menor entusiasmo, os quatro
candidatos foram desenvolvendo o seu trabalho, sempre apoiados por encontros regulares, individuais
e em grupo, com Sofia, que contactavam tambm por telefone ou e-mail para esclarecer dvidas
pontuais.
A certa altura, Rita props a Yuri que passassem a trabalhar em conjunto, trocando experincias e com-
petncias, ajudando-se mutuamente. Passaram vrios fins-de-semana seguidos, em casa de um deles,
a partilhar ideias e competncias. Rita ajudou Yuri a melhorar o domnio da lngua portuguesa, enquanto
este lhe explicava diversos princpios tecnolgicos e cientficos com aplicao na vida corrente. Para
alm disso, Rita fez uma entrevista de vrias horas a Yuri que lhe permitiu a deteco e explorao de
actos elocutrios, relacionados com a sua cultura de origem (na Ucrnia), mas tambm com as suas
experincias de socializao em Portugal. Com base na entrevista, escreveu ainda um resumo da
histria de vida de Yuri.
Lurdes sentiu-se particularmente fascinada quando, depois de oito semanas de aulas e explicaes
do filho, conseguiu inserir o oramento familiar j elaborado, num programa informtico permitindo-
-lhe fazer alteraes mensais, projeces e clculos de apoio gesto quotidiana do oramento.
Passou a gerir informaticamente o seu oramento e viu que poupava dinheiro com isso. Alm disso,
explorou tambm como os computadores e, nomeadamente, as bases de dados e as folhas de clculo,
tinham alterado o modo de funcionar de muitas pessoas e organizaes, implicando custos e tambm
mais-valias financeiras, o que envolveu noes de Cidadania e Profissionalidade (Processos de
Inovao).
Constatou que lhe faltavam bases para trabalhar em alguns dos Temas que planeara de incio e, durante
alguns dias, sentiu que no tinha mais competncias certificveis no processo. Pelas suas contas, estava
ainda longe do nmero de crditos necessrios para a certificao. Sofia trabalhou em conjunto com a
candidata noutros domnios em que poderia evidenciar competncias em uso na sua vida do dia-a-dia.
Vendo a sua capacidade de gerir uma casa sozinha, sugeriu-lhe o Tema Utilizadores, Consumidores
e Reclamaes. Apesar de Lurdes no reconhecer grande talento neste domnio, a sua experincia
prtica permitiu-lhe identificar (1) as garantias dadas pelos fabricantes; (2) as diferentes competncias
e as relaes de poder entre a assistncia tcnica proporcionada por uma marca, por um concessionrio
76
da marca e por um servio independente. E como o seu ex-marido era tcnico da EDP, Lurdes era ainda
capaz de reconhecer as grandezas fsicas e suas unidades de medio, distinguindo volume de caudal,
presso de fora e potncia de energia. Este trabalho evidenciou tambm competncias comunicacionais,
na forma de lidar com a assistncia tcnica, bem como competncias de cidadania, com a plena noo
dos direitos e deveres dos consumidores.
Por fim, Lurdes decidiu gravar uma conversa telefnica com a sua amiga de longa data que vivia em
Frana. Apesar de falarem habitualmente em Portugus, pediu-lhe para entabular uma conversao
em francs, de modo a comprovar a sua capacidade para o uso corrente do idioma. Em seguida, ouviu
a cassete e, com a ajuda da filha, transcreveu-a cuidadosamente, juntando a cassete e as folhas ao
seu Porteflio Reflexivo de Aprendizagens.
Enquanto isso, Jaime debatia-se com maiores problemas. Insistia que as suas competncias em STC
eram suficientes para conseguir a certificao e que Sofia implicara com ele sem ter conhecimentos
tcnicos para o avaliar. Por outro lado, na rea CLC, sentia que no era capaz de demonstrar competncias
para o nvel requerido. Ainda assim, fizera uma anlise interessante das formas de comunicao utilizadas
pelos bombeiros em situaes de emergncia e demonstrara que sabia ler e interpretar uma notcia de
jornal e elaborar uma carta ao director, argumentando que a forma como a notcia estava construda
induzia em erro os leitores menos avisados. Como a Internet passara a ser um parceiro indispensvel,
fez tambm um trabalho interessante desconstruindo alguns mitos existentes sobre esta nova ferramenta,
explorando como esta inclui tambm novas oportunidades de exerccio da cidadania e profissionalidade,
bem como de expresso e difuso cultural. Para este trabalho, transcreveu e analisou a sua participao
num chat de discusso e num blog. Gostou deste trabalho, pois confirmou e corrigiu intuies que tinha
anteriormente sobre a Internet. Este meio de informao e comunicao permitiu-lhe ainda evidenciar
competncias de leitura e interaco em lngua inglesa.
As dependncias conduziram Rita outra vez por caminhos sinuosos, obrigando a novo internamento,
e durante trs meses esqueceu a certificao. Ainda assim, durante a reabilitao, encontrou no
seu Porteflio Reflexivo de Aprendizagens, ainda muito inacabado, um incentivo para continuar a
lutar. Assim que se sentiu com foras, decidiu ir procura dos seus registos de quando geria o bar
do seu namorado. Foi um trabalho doloroso, mas tambm libertador. Permitiu-lhe recordar e
evidenciar competncias atravs dos Temas Empresas, Organizaes e Modelos de Gesto (STC)
e Processos de Negociao (CP). Rita descobriu-se to motivada com este trabalho que decidiu,
por essas semanas, iniciar com uma amiga o projecto de abertura de uma loja de roupa. De notar
que o processo complicado de reabilitao levara-a tambm a consolidar competncias no mbito
do Tema Medicinas e Medicao (STC e CLC).
J haviam passado quatro meses e Rita voltou a sentir-se bloqueada, experimentando j uma
sensao de esvaziamento interior. Foi ento que a sua irm lhe trouxe um antigo lbum de fotografias
e Rita encontrou a foto de uma antiga visita de estudo a um parque natural. A reconheceu, sorridente,
a nica professora que a tinha fascinado, no 8 ano, cativando-a para o estudo da Geografia de
Portugal. Faltavam-lhe ainda crditos em STC, mas esta explorao levou-a a que voltasse a recordar
aspectos h muito esquecidos do clima, dos solos, da vegetao, da estrutura profissional e dos
movimentos migratrios recentes no nosso pas. Correu a comprar alguns livros e, rapidamente,
estava a trabalhar os Temas Ruralidade e Urbanidade, Recursos Naturais e Administrao, Segurana
e Territrio.
Parte III
QUESTES OPERACIONAIS, CASOS ILUSTRATIVOS
77
Por fim, as exigncias profissionais fizeram com que Yuri deixasse tambm o processo RVCC de lado,
ainda que a sua convico em termin-lo nunca esmorecesse. Trs meses mais tarde, quando conseguiu
um trabalho num laboratrio farmacutico, aumentou o tempo e a motivao de Yuri para retomar o
processo. Tinha um trabalho desqualificado mas o seu sentido de observao permitiu-lhe, mesmo
assim, adquirir novas competncias no domnio da sade. Alm disso, era um trabalho no qual lhe
exigiam que seguisse instrues de manuais em Portugus e em Ingls, o que, a par das aulas que
nunca deixou de frequentar, fez com que passasse a ter um nvel lingustico bastante aceitvel nestes
dois idiomas. Evidenciou-o atravs da anlise de uma carta complexa do Servio de Estrangeiros e
Fronteiras, bem como pela leitura de um captulo de um manual em Ingls e, ainda, pela elaborao
de uma descrio escrita das suas tarefas dirias em Portugus.
A Certificao!
Seguindo ritmos e trajectrias muito diversificadas, os quatro candidatos foram desenvolvendo os seus
trabalhos de validao das suas competncias, complementados por novas aprendizagens, at ao
momento em que, juntamente com Sofia, consideraram que j tinham condies para obter a certificao,
convocando-se o jri para o efeito.
De esperana e trabalho (a certificao de Lurdes)
A primeira foi Lurdes. Tinham passado dez semanas quando Lurdes aceitou a anlise de Sofia de que
o seu trabalho era j suficiente para ser certificado por um jri. Apesar de Sofia lhe ter dito que no seria
necessrio, nas duas semanas que antecederam a sesso, Lurdes estudou vezes sem conta o porteflio,
pedindo aos filhos que lhe fizessem perguntas, que a colocassem prova nos diferentes Temas que
tinha trabalhado. Falava com as colegas de trabalho, como forma de assegurar-se da solidez das suas
competncias, descobrindo ainda pequenas incorreces no seu porteflio. Telefonou a Sofia, na
vspera, avisando-a do facto, mas esta recusou a ideia de adiar a sesso, e aconselhou-a a comentar
esses factos na entrevista com o jri. Estava nervosa e tinha ainda bem presente a reprovao no exame
da 4 classe, quarenta anos antes.
A sesso estava marcada apenas para as onze horas, mas Lurdes acordou muito cedo nessa manh e
vestiu o seu melhor vestido para a ocasio. Sentia que era um momento importante na sua vida, no qual
poderia obter um diploma com que sonhara durante muitos anos. Quando, enfim, a sesso se iniciou,
sentia que as ideias se confundiam na sua cabea e que as palavras custavam a sair. No entanto, o facto
de os elementos do jri se apresentarem de forma informal e afvel, elogiando o porteflio que tinham j
analisado, deixou-a vontade e, medida que a sesso decorria, foi-se tornando mais expansiva.
Um dos elementos do jri, um homem j prximo da reforma, estava surpreendido com a forma como
Lurdes havia descrito os desafios e as novas oportunidades dos agricultores numa zona pobre do pas.
Colocou-a prova, perguntando-lhe se considerava que havia futuro para a agricultura portuguesa. Era
um tema sensvel, porque tinha a ver com as razes de Lurdes e, mais ainda, com o destino de uma parte
da sua famlia que, apesar de todas as dificuldades, decidira manter-se na terra. Lurdes falou da capacidade
de adaptar e desenvolver novos mtodos de produo, mais eficientes e menos poluentes, e, no geral,
de procurar solues numa nova economia, em que a concorrncia e as oportunidades deixaram de ser
locais ou mesmo nacionais, para passar a ser globais. Para alm disso, falou tambm de como as polticas
78
nacionais e europeias eram fundamentais para encontrar novas solues para as zonas rurais.
O outro elemento do jri, uma mulher jovem e dinmica, elogiou o modelo que criara de gesto do
oramento domstico, convidando-a a explicar mais em pormenor como o havia concebido e desenvolvido,
primeiro em papel e depois atravs de software informtico. No final, perguntou se ela j tinha pensado
em melhorar o sistema, de forma a ir corrigindo as estimativas medida que o ms avanava. Lurdes
ficou sem resposta, pois nunca tinha pensado na questo, mas o jri garantiu-lhe que isso no invalidava
a obteno de um crdito nessa questo.
As nicas crticas que o jri teceu foram relacionadas com a rea CLC. Recorrendo s competncias-
chave para esta rea, argumentaram que Lurdes no havia evidenciado uma reflexo sobre o
funcionamento da lngua portuguesa, apreciando-a enquanto objecto esttico e meio privilegiado de
expresso de outras culturas, nem um conhecimento de autores e obras, literrias ou no, que fazem
parte do patrimnio cultural universal. A sua utilizao da lngua portuguesa era correcta mas limitada,
visto que apenas orientada para a resoluo de problemas quotidianos (oramentos, agendas, reclamaes,
entender as notcias na TV, discusses de condminos). Lurdes ficou algo desanimada com esta crtica
e tardou alguns segundos a conseguir elaborar uma resposta. Comeou por dizer que, de facto, tinha
pouco tempo e nunca tinha gostado de ler romances. No entanto, revelou saber que existiam diferentes
funes da linguagem e, uma delas, que era eminentemente esttica. Sabia distinguir um registo factual
e outro ficcional, bem como vrios tipos de formatos literrios: conto, novela, romance. Ainda se lembrava
de alguns versos dos Lusadas e sabia identificar vrios autores portugueses clssicos.
Ao fim de uma hora e vinte minutos, Lurdes saiu da sala com vontade de chorar, desanimada por no
a terem colocado prova no campo da Sade, no qual se sentia mais vontade, e com a certeza de
que iria reprovar. Vinte minutos mais tarde, o jri felicitou-a pela obteno do certificado, explicando
que considerara o trabalho, na globalidade, muito positivo e decidira no penaliz-la, devido s maiores
dificuldades reveladas apenas numa das dimenses da rea CLC.
A importncia de reconhecer o que no se sabe (a no-certificao de Jaime)
Poucos dias depois, Jaime apresentou-se no gabinete de Sofia decidido a apresentar o seu Porteflio
Reflexivo de Aprendizagens como terminado. Considerava-o j suficiente para a obteno do certificado,
alm de que queria deixar esta questo resolvida antes das frias da Pscoa. Depois de expressar as
suas reservas, Sofia acabou por aceder e assegurar-lhe que iria tratar da marcao de um jri para a
semana seguinte.
Jaime estava muito seguro quanto s suas competncias cientficas e tecnolgicas, bem como de cidadania,
apenas receando ser trado por limitaes nas formas de expresso escrita e oral. No entanto, o jri comeou
por questionar algumas das evidncias apresentadas nas Unidades de STC. Por exemplo, no Tema
Oramentos e Impostos, a sua abordagem foi considerada bastante fraca e no lhe foi concedido qualquer
crdito. O Jaime pensava ser uma pessoa bastante poupada, mas na verdade a sua verso do oramento
domstico no contabilizava uma srie de gastos indispensveis e, quando os inclua, os custos superavam
em muito as receitas, sem que ele conseguisse explicar como equilibrava as finanas familiares. Na
dimenso social, a sua caracterizao das diferenas nos rendimentos mdios das famlias consoante
as suas actividades profissionais resultou muito estereotipada e ideolgica, com fraca relao com a
realidade. Dizia, por exemplo, que actualmente as qualificaes escolares j no tinham qualquer relao
Parte III
QUESTES OPERACIONAIS, CASOS ILUSTRATIVOS
79
com os rendimentos das famlias, porque um pedreiro ganhava mais do que um licenciado em direito.
Algo semelhante ocorreu no Tema Micro e Macro Electrnica. Questionado sobre o seu trabalho
no campo da informtica, Jaime enervou-se e, em vez de explorar os seus conhecimentos nestes
domnios, respondeu de forma algo sobranceira e com afirmaes precipitadas. Como utilizava
diariamente o computador no escritrio da oficina, pensava possuir competncias certificveis neste
domnio. Contudo, no era capaz de reconhecer que as variveis sociais pesam na intensidade e
forma como as pessoas utilizam esta tecnologia. E, apesar de conseguir identificar vrias aplicaes
informticas e diferentes sistemas operativos, tambm no conseguia reconhecer quaisquer princpios
cientficos no funcionamento dos computadores.
Por outro lado, na rea CLC, o jri elogiou a sua capacidade de sntese e de sistematizao, bem
como o trabalho de comparaes das diferenas na linguagem utilizada na internet, nos jornais e
na televiso para noticiar os mesmos acontecimentos. Nesta rea, centrou as suas questes sobre
as competncias de compreenso e expresso em lngua inglesa. verdade que, ainda atravs
da internet, Jaime havia mostrado saber ler e escrever mensagens simples em ingls. No entanto,
na entrevista, o jri compreendeu que Jaime apenas o conseguia fazer atravs da memorizao
de palavras soltas e o recurso constante a um dicionrio. Na verdade, desconhecia a estrutura
frsica ou o modo de utilizar os tempos verbais em lngua inglesa. No conseguia manter um dilogo
bsico sobre questes do dia-a-dia, embora conhecesse vocabulrio tcnico, sobre motores e
sistemas elctricas. A competncia-chave na rea CLC no foi atingida.
Por fim, em CP, o jri estava tambm bastante convencido com as competncias demonstradas na
dimenso profissional, ao nvel dos Direitos e Deveres Laborais, Processos de Inovao e Reconverses
Profissionais e Organizacionais. No entanto, levantaram algumas questes sobre as suas competncias
em alguns Temas propostos, como Tolerncia e Diversidade e Instituies e Modelos Institucionais.
A partir do Porteflio Reflexivo de Aprendizagens, o jri no reconhecia competncias-chave tais
como entender o pluralismo e a tolerncia como desafios cruciais a uma insero comunitria
saudvel. Neste caso, Jaime respondeu de forma coerente e estruturada, demonstrando, por um
lado, como a sua experincia de bombeiro o tinha habituado a lidar de forma igual com pessoas com
diferentes hbitos culturais e estilos de vida e, por outro lado, como conhecia as diferentes funes
e estruturas do Parlamento, do Governo e da Presidncia da Repblica. O jri reconheceu assim,
tambm, competncias argumentativas e de assertividade, alm da j reconhecida capacidade de
aprendizagem ao longo da vida.
O jri demorou quarenta e cinco minutos a tomar uma deciso, esgrimindo argumentos a favor e
contra a certificao. No final, decidiram no atribuir a certificao de nvel secundrio, indicando
algumas Unidades de Competncia em que Jaime deveria realizar um trabalho suplementar de
consolidao, aperfeioamento e explicitao das suas competncias para obter a certificao.
80
A metamorfose (a certificao de Rita)
Rita demorou cerca de cinco meses a concluir todo o processo, sendo que o ltimo foi de reviso e organizao
do trabalho realizado. Na verdade, Sofia j havia sugerido que Rita estava preparada para enfrentar o jri,
mas ela tardou ainda algumas semanas, teimando que no estava preparada, que havia que melhorar alguns
pontos. Na verdade, o Porteflio Reflexivo de Aprendizagens (que inclua j trs volumes) tinha se tornado
um desafio e uma companhia, custando-lhe termin-lo e entreg-lo, alm de que j no suportava a ideia
de fracassar. No entanto, como estava a iniciar um negcio com uma amiga, decidiu propor-se a jri.
O jri comeou por elogiar as competncias de escrita de Rita, tanto em Portugus como em Ingls, garantindo
que estas se situam claramente acima das requeridas ao nvel do 12 ano. No entanto, pediram-lhe que
sistematizasse em dois ou trs tpicos, acessveis a qualquer pessoa, um texto de cinco pginas que havia
escrito, pois pensavam que o seu uso literrio da lngua poderia no incluir competncias de sntese e de
flexibilidade, fundamentais no seu uso quotidiano. Rita demorou algum tempo a estruturar a resposta, mas
acabou por resumir o texto em menos de um minuto, sublinhando as ideias principais e numa linguagem
simples. Neste caso, as competncias em CLC estavam confirmadas.
O jri centrou-se, ento, na rea STC, visto que a experincia de vida e o prprio porteflio de Rita no
sugeriam tanto -vontade neste domnio. No estavam completamente evidenciadas competncias como
planificar as suas prprias aces, no tempo e no espao, prevendo e analisando nexos causais entre
processos e/ou fenmenos, bem como recorrendo a mtodos experimentais logicamente orientados. Dois
temas foram seleccionados para discusso.
Em primeiro lugar, no Tema Recursos Naturais, Rita abordara a questo da gua. Apesar de algumas
consideraes filosficas muito interessantes sobre a gua, os pressupostos cientficos em que o trabalho
se baseava eram algo simplistas. Limitara-se a (1) identificar as diferentes origens e etapas na utilizao
da gua - captao, tratamento e distribuio - em situaes distintas (fornecimento de gua a uma cidade
ou vila, gua para rega ou para a indstria, fontanrios e redes privadas, etc.); e (2) Identificar diferentes
etapas do ciclo da gua nomeando as suas mudanas de estado fsico. Questionada sobre as questes, o
jri entendeu que Rita no compreendia, de facto, o papel da molcula de H2O nos diferentes estados fsicos
da gua e a sua funo nos seres vivos, nem era capaz de explorar o impacte ambiental resultante de
diferentes ocupaes humanas (agricultura, urbanizao e indstria), nos rios e nos lenis de gua (alterao
dos solos, inundaes devido a impermeabilizaes, contaminaes). Como no evidenciou competncias
neste tema no lhe poderiam atribuir crditos. No entanto, a resposta de Rita sobre as tenses entre diferentes
instituies sobre as formas de gerir os recursos hdricos evidenciou competncias numa controvrsia pblica,
na qual, os argumentos cientficos se misturam com outros. Pde assim compensar com um crdito em
Cincia e Controvrsias Pblicas.
Em segundo lugar, no Tema Equipamentos Domsticos, Rita havia explorado o exemplo do frigorfico. Em
termos sociais, fez um trabalho interessante sobre os diferentes usos deste electrodomstico entre homens
e mulheres, na sociedade contempornea, em virtude de um processo cultural e de assimetria de poderes,
no qual as mulheres acabam por assumir o principal fardo nas tarefas domsticas. Em termos tecnolgicos,
Rita identificou as principais peas e mecanismos que fazem o frigorfico funcionar. E demonstrou compreender
a linguagem tcnica utilizada em catlogos ou manuais de instrues, explorando os parmetros a valorizar
na compilao de informao tcnica comparativa entre vrios modelos e marcas. Em termos cientficos,
Rita identificou manifestaes de existncia de corrente elctrica no funcionamento do frigorfico.
Parte III
QUESTES OPERACIONAIS, CASOS ILUSTRATIVOS
81
Na verdade, tinha realizado este trabalho com Yuri e estava bastante insegura quanto ao tema. No entanto,
quando o jri a questionou, conseguiu reconhecer as diferenas e limitaes tecnolgicas dos vrios tipos
de frigorficos e a sua importncia para a escolha de um determinado modelo no balano custo/benefcio,
consoante os tipos de utilizao.
Finalmente, as longas e acutilantes reflexes de Rita sobre a existncia, liberdades e obrigaes, nas
sociedades contemporneas, no garantiam a aplicao de certas competncias de Cidadania e Profissionalidade
a situaes da vida quotidiana. De facto, as perguntas neste campo, deixaram no jri a sensao de que
Rita desconhecia uma parte dos mecanismos de funcionamento quotidiano do mercado de trabalho e das
democracias contemporneas, no reconhecendo uma participao dinmica nestas estruturas, nem sendo
capaz de argumentar de forma coerente sobre a sua recusa.
Isso levantou alguns problemas ao jri. No entanto, apesar de no serem explcitos no porteflio, Sofia
interveio, pois considerava que, na experincia recente de iniciar um negcio com uma amiga, Rita estava
j a evidenciar competncias muito assinalveis de CP. Assim, na fase final da entrevista, fez vrias perguntas
sobre o tema, levando Rita a reconhecer e evidenciar tambm competncias de Gesto do Trabalho,
Processos de Inovao e Reconverses Pessoais e Organizacionais. Mostrou assim que, ao longo do
processo RVCC, havia desenvolvido capacidades de programao de objectivos pessoais e profissionais,
mobilizando recursos e saberes, em contextos de incerteza.
Ponderando as diversas competncias demonstradas, o jri aprovou a certificao de Rita, sugerindo-lhe
que aprofundasse as suas competncias no campo dos idiomas.
As mltiplas formas de expresso (a certificao de Yuri)
Por fim, Yuri tardou cerca de nove meses a terminar o processo, at porque teve que aceitar tambm trabalhar
aos fins-de-semana para ganhar um dinheiro extra. No entanto, a tcnica de RVC e os seus colegas candidatos
insistiram para que no desistisse, at porque j tinha o trabalho bastante adiantado e o Centro conseguira
encontrar um imigrante ucraniano, licenciado em engenharia, para fazer parte do jri.
A sesso final decorreu em Portugus, ainda que, em alguns momentos, o candidato fosse interpelado em
ucraniano, como forma de explicitar as suas competncias nessa lngua e em alguns campos cientficos.
Na rea STC, Yuri apresentou trabalhos bastante sofisticados. Alis, fora o nico a explorar o Ncleo Gerador
Saberes Fundamentais, explorando o DNA como elemento bsico do estudo cientfico dos seres vivos, bem
como a sua utilidade social, a partir do desenvolvimento de tecnologias apropriadas (por exemplo, em
criminologia, anlises de paternidade ou em doenas hereditrias). Ficara fascinado quando estudou o tema
na Ucrnia, visto trabalhar num laboratrio que realizava este tipo de anlises. Ainda neste ncleo, explorou
tambm a relao entre teoria e experincia como principal motor do desenvolvimento da cincia moderna,
esclarecendo as diferentes tcnicas de observao em vrias disciplinas cientficas (fsica, qumica, biologia,
economia).
O jri elogiou este trabalho, ainda que lhe tenha pedido para esclarecer alguns aspectos. Atravs destas
questes, concluiu que Yuri compreendia a anlise de DNA em termos de sequncia de constituintes
bsicos, como processo de identificao nica de seres humanos, realizada a partir de diferentes suportes
82
(cabelo, sangue, saliva, etc.), mas no era capaz de relacionar os constituintes e a estrutura da molcula
de DNA com a transferncia da informao gentica e manuteno das caractersticas hereditrias (por
exemplo, papel das 4 bases azotadas como letras do cdigo a ser transcrito e traduzido). No caso do
mtodo cientfico, Yuri era bastante rigoroso na apresentao dos mtodos e tcnicas da qumica e da
biologia, mas algo simplista e redutor quando abordava as metodologias da fsica e da economia. No
entanto, no cmputo geral, decidiu confirmar os crditos nestes Temas.
Curiosamente, na rea CLC, Yuri experimentou mais dificuldades com a lngua e a cultura da Ucrnia.
Em Portugus, o jri ficou bem impressionado com a capacidade de expresso escrita e oral de Yuri,
em situaes da vida quotidiana, como a discusso de orientaes profissionais ou a relao com o
Servio de Estrangeiros e Fronteiras. No entanto, em russo, Yuri teve dificuldade em interpretar um
texto literrio e evidenciou alguns erros gramaticais na escrita e na oralidade. Para alm disso, quando
questionado sobre o tema pelo seu conterrneo do jri, desconhecia alguns dos principais escritores
ucranianos. Em contrapartida, demonstrou identificar e compreender algumas das principais obras
russas do sculo XX.
Alm disso, apoiado pela tcnica de RVC, Yuri sustentou que outras formas artsticas eram tambm actos
de comunicao, com linguagens prprias. Assim sendo, descreveu a fotografia como uma forma de
expresso muito importante das sociedades contemporneas, explorando alguns cdigos de comunicao.
Por outro lado, embora no o abordasse no Porteflio Reflexivo de Aprendizagens, visto que a sua
namorada era bailarina na Ucrnia, analisou tambm a dana como uma linguagem prpria, de carcter
artstico mas tambm poltico e social, utilizando alguns exemplos de espectculos em que a namorada
participara.
Na rea CP, o jri decidiu questionar as evidncias em alguns Temas em que o porteflio no era to
convincente, nomeadamente: Cdigos Institucionais e Comunitrios e Valores ticos e Culturais. Nestes
casos, Yuri havia sido bastante simplista nos trabalhos apresentados, recorrendo a alguns esteretipos
e lugares-comuns acerca da sociedade portuguesa. No entanto, na sesso final, Yuri justificou melhor
as suas observaes, utilizando comparaes com a sociedade ucraniana, concebendo ambas como
complexas, contraditrias e em profunda transformao, rompendo com as noes estticas em que
se baseara no porteflio. O jri ficou bastante contente com esta evoluo, atribuindo-a a uma reflexo
recente mais complexa sobre o tema.
Por outro lado, em termos de profissionalidade, Yuri revelava conhecer bem os direitos e deveres laborais;
sobre os Colectivos Profissionais e Organizacionais apenas abordava ocupaes altamente qualificadas
e reputadas. O jri decidiu confirmar as suas competncias neste campo, indagando se os operrios da
construo civil no poderiam formar tambm um desses colectivos profissionais e organizacionais. Perante
uma resposta negativa de Yuri, o jri quis saber a razo, questionando se se tratava de uma noo
essencialista e fatalista ou, de facto, reflectida e relacional. Yuri explicou que, em seu entender, a origem
dispersa dos trabalhadores, a situao laboral precria e as condies semi-clandestinas em que muitos
se encontravam, tornavam invivel qualquer movimento colectivo consistente.
O jri discutiu durante quase uma hora as competncias do Yuri, at porque o elemento ucraniano do
jri hesitava em reconhecer a sua capacidade na lngua materna. No final, os trs elementos acabaram
por concordar que Yuri merecia obter o certificado de nvel secundrio e discutiram as vias e os requisitos
para aceder, em Portugal, a um curso superior de engenharia - o seu sonho.
Parte III
QUESTES OPERACIONAIS, CASOS ILUSTRATIVOS
83
1. Bibliografia institucional
2. Bibliografia de autores
3. Questes frequentes
Parte IV
CENTRO DE RECURSOS
87
Para alm de dominar o Referencial, muito importante que os Centros Novas Oportunidades, bem
como os seus tcnicos de RVC e formadores, construam o seu centro de recursos prprio, de forma a
conhecerem mais em profundidade o complexo campo do reconhecimento, validao e certificao de
adultos e a mapearem as vrias referncias e fontes existentes, em vittude de poder vir a necessitar
de as consultar a qualquer momento, resultado das dvidas com que se vo confrontando no desempenho
da sua actividade.
Visto tratar-se de um processo inovador e experimental, encontrando-se ainda a dar os primeiros passos
em Portugal, ser impossvel construir este centro de recursos a priori e de forma definitiva, pelo que
todos os profissionais envolvidos nos Centros Novas Oportunidades devero procurar manter-se
actualizados, sendo aconselhvel a consulta frequente das pginas electrnicas da Direco-Geral de
Formao Vocacional (www.dgfv.min-edu.pt) e da iniciativa governamental Novas Oportunidades
(www.novasoportunidades.gov.pt/), entre outras.
Em todo o caso, o presente guia fornece as referncias para um conjunto de bibliografia recente e
relevante sobre este tema. Este conjunto de obras encontra-se dividido em dois grandes tpicos: um
primeiro que cobre a bibliografia publicada por fontes institucionais, nacionais e europeias, incluindo
textos sobre grandes metas at referenciais, guias operativos e metodolgicos, avaliao de impactos
e resultados das iniciativas lanadas, etc.; um segundo grupo inclui literatura portuguesa e estrangeira
de autores que, estando ou no integrados nos processos de implementao das polticas de qualificao
de adultos, realizaram reflexes, anlises, orientaes, referenciais, avaliaes sobre estes processos.
Por fim, este captulo inclui ainda a resposta sucinta a dvidas frequentes com as quais se confrontam
muitos dos profissionais e candidatos implicados nos processos de reconhecimento, validao e
certificao de competncias. Espera-se que uns e outros encontrem nestas pginas a resposta a
algumas das suas indagaes, bem como um estmulo para conhecer melhor e envolver-se mais no
processo RVCC.
ANEFA (2001). Referencial de Competncias-Chave: Nvel Bsico. Lisboa: ANEFA.
ANEFA (2003). Referencial de Competncias-Chave: Fichas de Trabalho. Lisboa: ANEFA.
ANEFA 2002). Roteiro Estruturante: Centros de Reconhecimento, Validao e Certificao de
Competncias. Lisboa: ANEFA.
ANEFA (2003). Orientaes para Aco: Cursos EFA. Lisboa: ANEFA.
ANEFA (2002). Relatrio Nacional: Cursos de EFA Em Observao 2000/2002. Lisboa: ANEFA.
ANEFA (2000). Cursos EFA: Aprender com Autonomia. Lisboa: ANEFA.
ANEFA (2002). Educao e Formao de Adultos em Debate. Lisboa: ANEFA.
1. Bibliografia institucional
Centro de Recursos
Parte IV
CENTRO DE RECURSOS
88
Associao Nacional de Oficinas de Projectos (2000). O Balano de Competncias nas Oficinas Projectos:
Reflexes sobre um Percurso. Paos de Brando: ANOP.
Centro Interdisciplinar de Estudos Econmicos (2004). O Impacto do Reconhecimento e Certificao
de Competncias Adquiridas ao Longo da Vida. Lisboa: DGFV.
CESO I&D Dois (2004). Estudo Nacional de Avaliao da Eficcia Comparada do Subsistema de Ensino
Profissional. Lisboa: DGFV.
CIDEC (2004). O Impacto do Reconhecimento e Certificao de Competncias Adquiridas ao Longo
da Vida. Lisboa: DGFV.
Comisso das Comunidades Europeias (2000). Memorando sobre a aprendizagem ao Longo da Vida
(documento de trabalho dos servios da Comisso). Bruxelas.
Comisso Europeia (2000). Memorando sobre Aprendizagem ao Longo da Vida. Bruxelas:
http://europa.eu.int/comm/education/policies/lll/lll_en.html
Comisso Europeia (2001). Tornar o Espao Europeu de Aprendizagem ao Longo da Vida uma Realidade.
Bruxelas: http://europa.eu.int/comm/education/policies/lll/lll_en.html
Comisso Europeia (2004a). Common European Principles for the Identification and Validation of Non-
Formal and Informal Learning, Bruxelas:
http://europa.eu.int/comm/education/docs/official/keydoc_en.html.
Comisso Europeia (2004b). Key Competences for Lifelong Learning. A European Reference Framework.
Working Group B "Key Competences". Bruxelas: http://europa.eu.int/comm/education/index_en.html
Comisso Europeia (2005). Towards a European Qualifications Framework for lifelong Learning. Bruxelas:
http://europa.eu.int/comm/education/index_en.html
Commission of the European Communities (2005). Progress Towards the Lisbon Objectives in Education
and Training. 2005 Report. Commission Staff Working Paper. Doc. SEC (2005)419. Bruxelas.
Declarao de Copenhaga: declarao dos Ministros Europeus da Educao e Formao Profissional
e da Comisso Europeia, reunidos em Copenhaga a 29 e 30 de Novembro de 2002, sobre o
reforo da cooperao europeia em matria de educao e formao profissional. Copenhaga
2002., www.europa.eu.int/comm/education/copenhagen/index_en.html.
Direco-Geral de Formao Vocacional (2002). Competncias, Validao e Certificao: Entrevistas
Biogrficas. Lisboa: DGFV.
Direco-Geral de Formao Vocacional (2002). Percursos em Torno das reas de Competncias-Chave:
Viagens pelo Trabalho e Sociedade, B2A. Lisboa: ANEFA.
Direco-Geral de Formao Vocacional (2004). Percursos em Torno das reas de Competncias-Chave:
Viagens pelo Trabalho e Sociedade, B3A. Lisboa: DGFV.
Direco-Geral de Formao Vocacional (2004). Reconhecimento e Validao de Competncias:
Instrumentos de Mediao. Lisboa: DGFV.
Direco-Geral de Formao Vocacional (2005). Lngua Estrangeira: Passaporte para Novas Oportunidades.
Lisboa: DGFV.
Gabinete de Informao e Avaliao do Sistema Educativo (2006). Guia de Acesso ao Secundrio.
Lisboa: Editorial do Ministrio da Educao. (www.novasoportunidades.gov.pt).
89
Governo (2006). Novas Oportunidades: Iniciativa na mbito do Plano Nacional de Emprego e do Plano
Tecnolgico. Lisboa: PNE/Plano Tecnolgico/MTSS/ME.
Grupo de Misso para o Desenvolvimento da Educao e Formao de Adultos (1999). S@bER+:
Programa para o Desenvolvimento e Expanso da Educao e da Formao de Adultos, 1999-
2006. Lisboa: ANEFA.
Ministrio do Trabalho e da Solidariedade (2001). Plano Nacional de Aco para a Incluso 2001-2003.
Lisboa: MTS.
Ministrio do Trabalho e da Solidariedade e Ministrio da Educao (2005). Novas Oportunidades.
Aprender Compensa. Lisboa.www.novasoportunidades.gov.pt
OCDE (2005). Education at a Glance: OECD Indicators 2005. Paris: OECD
Publishing.www.oecd.org/edu/eag2005
Parte IV
CENTRO DE RECURSOS
90
Alonso, Lusa, Lus Imaginrio, Justino Magalhes e outros (2000). Educao e Formao de Adultos:
Referencial de Competncias-Chave. Documento de Trabalho, Vol. I e II. Lisboa: ANEFA.
Alonso, Lusa, Lus Imaginrio, Justino Magalhes, Guilhermina Barros, Jos Manuel Castro, Antnio
Osrio e Ftima Sequeira (2002). Educao e Formao de Adultos: Referencial de Competncias-
Chave. Lisboa: ANEFA (2 edio).
ANEFA (2002). Cursos de Educao e Formao de Adultos: Aprender com Autonomia. Lisboa:
ANEFA.
Aubret, Jacques e Patrick Gilbert (1994). Reconnaissance et Validation des acquis. Paris: Presses
Universitaires de France.
vila, Patrcia (2004). Relatrio Nacional de Avaliao: Cursos de Educao e Formao de Adultos
2002/2003. Lisboa: DGFV.
vila, Patrcia (2005). A Literacia dos Adultos: Competncias-Chave na Sociedade do Conhecimento,
Tese de Doutoramento, Lisboa: ISCTE (policopiado).
Azevedo, Joaquim, Carlos Ribeiro e Jos Manuel Castro (1998). Validar saberes e prticas profissionais:
o qu, como, quem?. In Fonseca (org.), Reconhecimento e Validao de competncias adquiridas,
Formao PME- AIPORTUENSE.
Azevedo, Joaquim e outros (2000). Avaliao e Reconhecimento de Competncias Adquiridas. Porto:
Associao Empresarial de Portugal.
Baeta Oliveira, Jos (2004). "Ofcio: professor/formador", in Revista proFORM@R, edio 3, edio
electrnica, www.proformar.org.
Baeta Oliveira, Jos (2004), "O que o processo de RVCC", edio electrnica, www.crvcc.proformar.org.
Benavente, Ana, Alexandre Rosa, Antnio Firmino da Costa e Patrcia vila (1996). A Literacia em
Portugal. Resultados de uma pesquisa extensiva e etnogrfica. Lisboa: Fundao Calouste
Gulbenkian e Conselho Nacional de Educao.
Bernardes, C., & Miranda, F. B. (2003). Portefolio. Uma Escola de Competncias. Porto: Porto Editora.
Bjornavold, Jens (1997). Identification and Validation of Prior Learning. Thessaloniki: CEDEFOP.
Bjornavold, Jens (2001). Making Learning Visible: Identification, Assessment and Recognition of Non-
Formal Learning in Europe. Luxembourg: CEDEFOP
Boutinet, Jean Pierre (1998). L'immaturit de la vie adulte. Paris: PUF.
Brookfield, S.D. (1995). Becoming a Critically Reflective Teacher. San Francisco: Jossey-Bass.
Brookfield, Stephen e Stephen Preskil (1999). Discussion as a Way of Teaching. Buckingham: SRHE&
Open University Press.
Campos (1991). Educao e Desenvolvimento Pessoal e Social. Porto: Afrontamento.
Canrio, Rui (2005). "Formao e Adquiridos experienciais: entre a pessoa e o indivduo". in G. Figari
e outros (orgs). Avaliao de Competncias e Aprendizagens Experienciais: Saberes, Modelos
e Mtodos. Lisboa: Educa.
2. Bibliografia de autores
91
Cardoso, Gustavo, Antnio Firmino da Costa, Cristina Palma Conceio e Maria do Carmo Gomes (2005),
A Sociedade em Rede em Portugal. Porto: Campo das Letras.
Castro, J.M. (1998). Manual de Apoio Realizao do Balano de Competncias nas Oficinas de Projecto
Associao Industrial Portuense Projecto de Formao PME. Paos de Brando: ANOP.
Chauvel, Eric (1991). "Une politique renouvele de reconnaissance et de validation des acquis". Education
Permanente, 109/110, 41- 46.
Colarddyn, Danielle (2006). "Reconnaitre les comptences dans un systme d'echanges europen et
international". in G. Figari e outros (orgs). Avaliao de Competncias e Aprendizagens Experienciais:
Saberes, Modelos e Mtodos. Lisboa: Educa.
Colombelli, B.; Fellmann, C.; Noirrjean, C.; Gonzalez, G.; Coullery, M.C.; Sautebin, M.T. (1998). Bilan-
portfolio de comptences: histoire dune pratique. Lausanne: Editions dun bas.
Couceiro, Maria Loreto Paiva (1995). "A prtica das histrias de vida em formao: um projecto de
investigao e de formao". in Estado Actual da Investigao em Formao. Lisboa: Sociedade
Portuguesa de Cincias da Educao, pp. 355-362.
Couceiro, Maria Loreto Paiva e Toms Patrocnio (2002). Cursos de Educao e Formao de Adultos
em Observao em 2000/2001: Relatrio Nacional. Lisboa: ANEFA.
Couceiro, Maria Loreto Paiva (2002). "O reconhecimento de competncias". in S@ber+, 13, pp. 30-32.
Delors, Jacques (1996). Educao, Um Tesouro a Descobrir: Relatrio para a UNESCO da Comisso
Internacional sobre Educao para o sculo XXI. Porto: Ed. ASA.
Delors, Jacques et al. (1996). Educao: Um Tesouro a Descobrir. Porto: Edies ASA.
Esteves, Samuel (2005). Dinmicas de Aprendizagem nas Organizaes: O Impacto do Processo de
RVCC. Tese de Mestrado, Verso de Prova. Lisboa: ISCTE.
Farzad, Mehdi e Saeed Paivandi (2000). Reconnaissance et Validation des acquis en formation. Paris:
Anthropos.
Feutrie, Michel (1997). Identification, validation et accrdition de lapprentissage antrieur et informal.
Thessalonique: Cedefop Panorama.
Fonseca, Antnio Manuel da (org.). (1999). Reconhecimento e Validao de Competncias Adquiridas.
Porto: Associao Industrial Portuense.
Freire, Paulo (2004), Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessrios Prtica Educativa. So Paulo:
Ed. Paz e Terra.
Germain, Jean (1997). "La Reconnaissance des acquis: Une urgence socio-ducative". in G. Pineau
e outros (orgs). Reconnatre les acquis: Dmarches d'exploration personnalise. Paris: LHarmattan,
pp.21-41.
Gomes, J. (1999). Contributos para uma cartografia das competncias transversais: construo do real
ou mito? Lisboa: INOFOR.
Gomes, Maria do Carmo (2003). "Literexcluso na vida quotidiana". in Sociologia, Problemas e Prticas,
41. Oeiras: Celta Editora.
Gomes, Maria do Carmo (2005). "Percursos de literacia". in Sociologia, Problemas e Prticas, 47.
Oeiras: Celta Editora.
Parte IV
CENTRO DE RECURSOS
92
Gonalves, Maria Teresa (Coord.) (2002). Da Orientao Formao de Adultos: Experincias Europeias.
Lisboa: ANEFA.
Grilo, Eduardo Maral (1996). Systems and Procedures of Certification of Qualifications in Portugal.
Thessaloniki: Cedefop Panorama.
Guerra, M. Filomena (org.) (1998). Processos de Reconhecimento e Validao de Competncias,
Caderno n. 5. Lisboa: Departamento da Educao Bsica.
Imaginrio, Lus (1998). Um Ensaio de Balano de Competncias em Portugal. Lisboa: Ministrio do
Trabalho e da Solidariedade, Comisso Interministerial para o Emprego, Direco-Geral do
Emprego e Formao Profissional.
Imaginrio, Lus e outros (2002). A Aprendizagem dos Adultos em Portugal: Exame Temtico no mbito
da OCDE. Lisboa: ANEFA.
Imaginrio, Luis e Jos Manuel Castro (2003). Perfil de Competncias dos Profissionais de RVCC.
Estudo para a ANOP, no mbito do PRODERCOM.
Jacobi, Daniel e Karine Lonchamp (1994). "Reconnatre et valider les acquis: les drives linguistiques
d'une injonction paradoxale". in Education Permanente, 118, pp. 51-61.
Joras, Michel (1995). Le bilan des competences. Paris: Presses Universitaires de France.
Jordo, Albertina (1997). O Balano de Competncias: Conhecer-se e Reconhecer-se para Gerir os
seus Adquiridos Pessoais e Profissionais. Lisboa: Comisso para a Igualdade e para os Direitos
das Mulheres.
Josso, Marie-Christine (1989). "Ces expriences ai cours desquelles se forment identits et subjectivit".
in Education Permanente, 100/101, pp. 161- 168.
Josso, Marie-Christine (1999). "Histria de vida e projecto: a histria de vida como projecto e as "histrias
de vida" ao servio de projectos". Educ. Pesqui., 25, jul./dez., pp. 11-23.
Josso, Marie-Christine (2002). Experincias de Vida e Formao. Lisboa: Educa.
Le Boterf, Guy (1995). De la Competence: Essai Sur Attracteur trange. Les ditions dOrganization.
Le Boterf, Guy (1998). "valuer les comptences. Quels jugements ? Quels critres ? Quelles instances?".
in Education Permanente, 135, pp. 143-151.
Leito, Jos Alberto (coord.) (2000). Concurso Nacional S@bER+: projectos premiados 1999. Lisboa: ANEFA.
Leito, Jos Alberto e Isabel Melo e Silva (coord.) (2001). Concurso Nacional S@bER+: projectos
premiados 2000. Lisboa: ANEFA.
Leito, Jos Alberto (coord.) (2002). Centros de Reconhecimento, Validao e Certificao de Competncias:
Roteiro Estruturante. 2 edio. Lisboa: ANEFA.
Leito, Jos Alberto (Coord) (2003). Cursos de Educao e Formao de Adultos: Orientaes para a
Aco. Lisboa: DGFV.
Leito, Jos Alberto e Maria Teresa Gonalves (coord.) (2002). Guia dos Clubes S@bER+: Princpios
e Orientaes. Lisboa: ANEFA.
Lopes, Helena (1999). Estratgias Empresariais e Competncias-Chave. Lisboa: Observatrio do Emprego
e Formao Profissional.
93
Malglaive, Grard (1995). Ensinar Adultos. Porto: Porto Editora.
Melo, Alberto e outros (2002). Novas Polticas de Educao e Formao de Adultos: o Contexto
Internacional e a Situao Portuguesa. Lisboa: ANEFA.
Melo e Silva, Isabel, Jos Alberto Leito e Maria Mrcia Trigo (orgs.) (2002). Educao e Formao de
Adultos: Factor de Desenvolvimento, Inovao e Competitividade. Lisboa: ANEFA/Ad Litteram.
Meyer, Nicole (1988). Reconnaissance ds acquis: tude a caractere documentaire. Paris: Universit
Paris VIII.
Mezirow, J. & Assoc. (2000). Learning as Transformation. San Francisco: Jossey-Bass.
Murphy, S., & Smith, M. A. (1991). Writing Portfolios. A Bridge from Teaching to Assessment. Ontario:
Pippin Publishing.
Nvoa, A.; Finger, M. (1988). O mtodo (auto)biogrfico e a formao. Lisboa: Ministrio da Sade
Departamento de Recursos Humanos.
Nunes, J. (1999). PORTFOLIO: Uma nova forma de encarar a avaliao?
Disponvel em http://www.terravista.pt/Nazare/4420
Pineau, G., Litard, B. & Chaput, M. (1997). Reconnaitre les acquis: dmarches dxploration personnalise.
Paris: Harmattan.
Pires, Ana Lusa (2001). "O reconhecimento e a validao das aprendizagens dos adultos no contexto
europeu". in Formar, 41, 47- 51.
Pires, Ana Lusa (2002). Educao e Formao ao Longo da Vida: Anlise Crtica dos Sistemas e
Dispositivos de Reconhecimento e Validao de Aprendizagens e de Competncias. Dissertao
de doutoramento em Cincias da Educao, Lisboa: Universidade de Lisboa, Faculdade de
Cincias e Tecnologia.
Pires, Ana Lusa (2005). Educao e Formao ao Longo da Vida: Anlise Crtica dos Sistemas e
Dispositivos de Reconhecimento e Validao de Aprendizagens e Competncias. Lisboa:
Fundao Calouste Gulbenkian.
Robin, G. (1998). Guide en reconnaissance ds acquis: plus quun C.V. un Portfolio de ses aprentissages.
Qubec: G. Vermette.
S-Chaves, I. (2000). Portfolios reflexivos: Estratgia de formao e superviso. Universidade de Aveiro:
UIDTFF.
S-Chaves, I. (Org.) (2005). Os portfolios reflexivos (tambm) trazem gente dentro. Porto: Porto Editora.
Tough, Allen (1971). The Adult's Learning Projects. Toronto: OISE.
Wenger, Etienne (1998). Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity. Cambridge: Cambridge
University Press. http://www.ewenger.com/theory/index.htm
Villers, Guy de (1991). "L'exprience en formation d'adultes". in Courtois, Bernardette e Gaston Pineau
(1991). La formation exprientielle des adultes. Paris: Documentation Franaise.
Zarifian, P. (1999). Objectif comptence: pour une nouvelle logique. Paris: Editions Liasions.
Parte IV
CENTRO DE RECURSOS
94
Estas so as respostas padro a um conjunto de perguntas que os profissionais envolvidos em processos
de RVCC e candidatos elaboram ou com as quais so confrontados. Neste formato mais interactivo,
este ltimo tpico funciona tambm como uma sntese das orientaes includas do Referencial
Competncias-Chave de nvel secundrio, bem como do presente Guia de Operacionalizao,
sistematizando as disposies prticas e as dvidas que se crem mais frequentes.
Quem pode candidatar-se a processos RVCC de nvel secundrio?
Qualquer adulto:
- com 18 ou mais anos de idade;
- que tenha adquirido conhecimentos e competncias ao longo da vida;
- que tenha trs anos de experincia profissional.
Como se pode obter informao destes processos de RVCC de nvel secundrio?
Atravs da Direco-Geral de Formao Vocacional (www.dgfv.min-edu.pt) e tambm do stio electrnico
do Programa Novas Oprtunidades (http://www.novasoportunidades.gov.pt/). Poder tambm contactar
a DGFV, atravs de: telefone: 21 394 3700; Fax: 21 394 3799; ou dirigir-se s suas instalaes na
Av. 24 de Julho, 138, 3 em Lisboa, ou a qualquer Direco Regional de Educao ou Centro Novas
Oportunidades (RVCC).
O que um Referencial de Competncias-Chave?
um instrumento para a educao e formao de adultos, face ao qual se avaliam as competncias-
chave adquiridas em diferentes contextos de vida com vista atribuio de uma certificao. Constitui
uma matriz integradora entre o reconhecimento e a validao das competncias de que os adultos so
portadores e o desenvolvimento de percursos formativos adequados s necessidades pessoais, sociais
e profissionais que manifestam.
Que diferenas existem entre o nvel bsico e o nvel secundrio?
Ambos assentam nos mesmos pressupostos e so enformados pelos mesmos princpios, o que significa
que esto em continuidade e no em ruptura. No entanto, o Referencial de Competncias-Chave para
a Educao e Formao de Adultos
_
Nvel Secundrio contempla o quadro de referncia do Ensino
Secundrio. Por esse motivo, assentando numa organizao em trs reas de Competncias-Chave,
inclui novos elementos estruturais e conceptuais, a saber: dimenses das competncias, ncleos
geradores, domnios de referncia para a aco, temas, unidades de competncia, critrios de evidncia
e elementos de complexidade.
3. Questes frequentes
95
O que um Porteflio Reflexivo de Aprendizagens?
Uma coleco de documentos vrios (de natureza textual ou no) que reflecte o desenvolvimento e
progresso na aprendizagem, explicitando as experincias relevantes realizadas para alcanar os
objectivos acordados. simultaneamente representativo do processo e do produto de aprendizagem.
Documenta experincias significativas e resulta de uma seleco eminentemente pessoal com o suporte
de profissionais especializados.
Que importncia tem a experincia de vida de uma pessoa para um processo RVCC?
As aprendizagens decorrentes da formao experiencial dos candidatos constituem o ponto de partida
dos processos de reconhecimento, validao e certificao de competncias. No entanto, a experincia
de vida per se no sinnimo de competncias, nem to pouco os processos de reconhecimento,
validao e certificao de competncias se reduzem mera elencagem casustica de experincias de
vida. Importa, com efeito, desenvover com e para os candidatos um trabalho de desocultao conducente
identificao das competncias adquiridas a partir da experincia tendo como baluarte o Referencial
de Competncias-Chave para a Educao e Formao de Adultos
_
nvel secundrio.
Quem trabalha os processos de RVCC com os candidatos? Quem so as pessoas que constituem
a equipa tcnico-pedaggica?
Os candidatos aos processos de RVCC so acompanhados por uma equipa de profissionais que inclui
os tcnicos de RVC
_
elementos fundamentais de ligao entre os candidatos e o sistema, os quais
efectuam um acompanhamento transversal a todas as etapas do processo
_
e os formadores
_
coadjuvantes dos primeiros e responsveis pelas formaes complementares, sempre que consideradas
necessrias. A equipa tcnico-pedaggica trabalha com e para o candidato, no quadro de uma relao
colaborativa, fundada na assumpo de diferentes papis que convergem para um desgnio comum.
O papel da equipa de suporte, sendo o candidato o verdadeiro protagonista de todo o processo.
Que legislao enquadra estes processos?
Portaria n 1 082- A/2001, DR 206, Srie I-B de 5 de Setembro: Cria a Rede Nacional de Centros de
RVCC, a partir da qual se promove o Sistema de RVCC.
Despacho Conjunto n 262/2001, de 22 de Maro: define o regime de acesso aos apoios a conceder
no mbito da medida n4, aco n4.1. Reconhecimento, Validao e Certificao de conhecimentos
e competncias adquiridos ao longo da vida.
Despacho Conjunto n 1083/2000, de 20 de Novembro: regulamenta a oferta formativa
_
cursos de
Educao e Formao de Adultos.
Como se obtm a certificao de nvel secundrio e qual a validade desta em termos de
equivalncias ao ensino secundrio formal?
O acto formal de validao de competncias realizado por um jri de validao constitudo pelo tcnico
de RVC que acompanhou o adulto no processo de reconhecimento de competncias e pelos formadores
de cada uma das reas de Competncias-Chave, podendo ainda o Centro convidar a participar no jri
Parte IV
CENTRO DE RECURSOS
96
um elemento externo da sociedade civil. Em sede de jri de validao, o candidato apresenta e discute
o seu porteflio, procurando evidenciar a deteno das competncias-chave necessrias obteno
da respectiva certificao. Espera-se que o candidato tenha percorrido e trabalhado 22 unidades de
competncia decompostas em 88 competncias no conjunto das trs reas de Competncias-Chave,
mas obteno de certificao de nvel secundrio no obriga a que sejam obtidos crditos em todas
as 88 competncias. A certificao de nvel secundrio equivalente ao 12 ano do ensino secundrio.
Sempre que o processo de validao no conduza emisso de Diploma ou Certificado emitido um
Certificado de Validao de Competncias que no d equivalncia a nenhuma das situaes refereridas
no pargrafo anterior.
Quando que o Referencial de Competncias-Chave para a Educao e Formao de Adultos -
nvel secundrio, deve ser apresentado aos candidatos?
Ter acesso ao Referencial de Competncias-Chave um direito que assiste a todos os candidatos em
processos de reconhecimento, validao e certificao de competncias. No existe, contudo, um nico
momento de apresentao do Referencial; a sua leitura, desconstruo, descodificao e apropriao
transversal a todo o processo e deve ser regulada pelo ritmo de cada participante. Compete, com
efeito, equipa tcnico-pedaggica encontrar a melhor forma de, em devido tempo, o tornar inteligvel,
atendendo ao perfil de entrada dos candidatos.
Como que o Referencial de Competncias-Chave deve ser apresentado aos candidatos?
Mais uma vez no existem frmulas nicas ou solues mgicas! preciso situar cada candidato no
contexto das suas circunstncias e decidir qual a abordagem mais adequada. No entanto, aconselha-
-se a explicitao dos seguintes elementos: conceitos fundamentais (ex. competncia, competncia-
chave, rea de competncias-chave, sistema de crditos) e arquitectura conceptual (estrutura, relaes
funcionais entre os seus elementos e entre as diferentes reas de competncias-chave). Para que seja
inteligvel para os participantes, o Referencial dever ser primeiramente apropriado pelos elementos
da equipa tcnico-pedaggica
_
o que pressupe a realizao de um exerccio eminentemente reflexivo,
simultaneamente formativo.
Quantos crditos so necessrios para a obteno do certificado/diploma?
So precisos 44 crditos para que o candidato obtenha um certificado atravs deste sistema. Os crditos
so distribuidos pelas trs reas fundamentais do Referencial: 16 na rea Cidadania e Profissionalidade
(CP); 14 na rea Sociedade, Tecnologia e Cincia; e 14 na rea Cultura, Lngua, Comunicao (CLC).
Existem diversos temas nos quais os candidatos podero evidenciar competncias, simultaneamente,
em STC, CLC e em CP. Para tal torna-se necessrio perscrutar as relaes existentes entre as trs
reas de Competncias-Chave.
Como proceder escolha dos temas?
Essa escolha deve ser protagonizada pelo candidato com o suporte da equipa tcnico-pedaggica. Os
temas devem, pois, ser ancorados nas experincias de vida de cada participante nos diferentes domnios
e contextos de actuao (privado, profisisonal, institucional e macro-estrutural).
97
A que equivale um crdito?
Cada unidade de crdito corresponde a uma carga horria de, aproximadamente 12 horas que poder
englobar perodos de entrevista/reunio com o(s) tcnico(s) de RVC, auto-aprendizagem, formao
formal, elaborao de Porteflio Reflexivo de Aprendizagens, etc...
Um crdito corresponde produo de evidncias numa das Competncias-Chave inscritas nas Unidades
de Competncia em cada uma das trs reas do Referencial.
Quando que deve ser conferido um crdito?
Sempre que o candidato evidenciar, de forma integrada, uma competncia a partir de critrios de
evidncia, no apenas de identificao, mas tambm de compreenso de processos e de interveno
transformadora.
Parte IV
CENTRO DE RECURSOS
1. O sitema de crditos
1.1. A que equivale um crdito?
1.2. Em que condies um jur deve conferir um crdito?
1.3. Quantos crditos so necessrios para a certificao?
2. O uso das fichas-exemplo como material de apoio
2.1. Equivalncia funcional
2.2. Situaes de vida
2.3. Pistas para o trabalho
3. A que competncias-chave corresponde um perfil de nvel
secundrio?
Anexo I
FICHAS-EXEMPLO DE CRITRIOS DE EVIDNCIA
rea Sociedade, Tecnologia e Cincia
101
Dada a abrangncia e complexidade das reas STC e CLC, a multiplicidade de competncias especficas
e a variedade das evidncias possveis, torna-se conveniente o fornecimento de Fichas-Exemplo que,
no quadro das Unidades de Competncia, ilustrem casos concretos de critrios de evidncia a serem
satisfeitos; sempre nas trs respectivas dimenses (Social, Tecnolgica e Cientfica ou Cultural, Lingustica
e Comunicacional) e sempre nos trs elementos de complexidade (I, II ou III).
As Fichas-Exemplo de Critrios de Evidncia, tendo um papel importante na operacionalidade das reas
STC e CLC do Referencial de Competncias-Chave para a Educao e Formao Adultos
_
Nvel
Secundrio, no pretendem, no entanto, limitar a flexibilidade da estrutura utilizada na concepo destas
reas.
Os mediadores podero proceder explorao de diferentes exemplos de actividades contextualizadas.
Nesse caso indispensvel garantir que esses exemplos se caracterizem pelo trabalho das mesmas
competncias, assegurando a diversidade temtica da rea e a presena dos trs elementos de
complexidade (ver captulo sobre Fichas-Exemplo na Parte II deste Referencial).
Seguidamente apresentam-se as Fichas-Exemplo de Critrios de Evidncia por Unidade de Competncia
para a rea STC (Anexo I) e para a rea CLC (Anexo II).
1. Fichas-Exemplo de Critrios de Evidncia
Anexo I
FICHAS-EXEMPLO DE CRITRIOS DE EVIDNCIA - REA SOCIEDADE, TECNOLOGIA E CINCIA
102
Unidade de Competncia 1: Intervir em situaes de relacionamento com equipamentos e
sistemas tcnicos, tendo como base a identificao e compreenso dos seus princpios e o
conhecimento das normas de boa utilizao, conducentes ao reforo de eficincia e de capacidade
de entendimento das relaes sociais.
Ficha-Exemplo
de Critrios de Evidncia
STC 1
Ficha-Exemplo
de Critrios de Evidncia
STC 2
Ficha-Exemplo
de Critrios de Evidncia
STC 3
Ficha-Exemplo
de Critrios de Evidncia
STC 4
DR1
DR2
DR3
DR4
Ncleo Gerador: Equipamentos e Sistemas Tcnicos (EST)
Domnio de
Referncia
Temas
Ficha-Exemplo
de Critrios de
Evidncia
Competncias Exemplo
Sugestes de Actividades
Contexto
privado
Contexto
profissional
Contexto
institucional
Contexto
macro-estrutural
Operar com
equipamentos e sistemas
tcnicos em contextos
domsticos, identificando
e compreendendo as
suas normas de boa
utilizao e os seus
diferentes utilizadores
Operar equipamentos e
sistemas tcnicos em
contextos profissionais,
identificando e
compreendendo as suas
normas de boa utilizao
e seus impactos nas
organizaes
Interagir com instituies,
em situaes
diversificadas com base
nos direitos e deveres de
utilizadores e
consumidores de
equipamentos e sistemas
tcnicos
Mobilizar conhecimentos
e prticas para a
compreenso e
apropriao das
transformaes e
evolues tcnicas e
sociais
Equipamentos
Domsticos
Equipamentos
Profissionais
Utilizadores,
Consumidores e
Reclamaes
Transformaes e
Evolues Tcnicas
Os electrodomsticos
Equipamentos
profissionais
A assistncia tcnica
Os transportes
Anexo I
FICHAS-EXEMPLO DE CRITRIOS DE EVIDNCIA - REA SOCIEDADE, TECNOLOGIA E CINCIA
103
Sociedade
Tipo I Identificar utilizaes diferenciadas de electrodomsticos por mulheres e homens
no contexto domstico.
Tipo II Aplicar a operadores de manuteno de equipamentos tcnicos (como por
exemplo, oficinas de reparao de electrodomsticos) relaes de diferenciao sexual
por gnero.
Tipo III Explorar novos modos de utilizao dos electrodomsticos no contexto domstico
(por exemplo, mais igualitrios entre mulheres e homens).
Tecnologia
Tipo I Identificar a funcionalidade e o modo de operao de vrios electrodomsticos.
Tipo II Compreender a linguagem tcnica utilizada em catlogos ou manuais de instrues.
Identificar os parmetros a valorizar na compilao de informao tcnica comparativa
entre vrios modelos e marcas de um determinado electrodomstico.
Tipo III Reconhecer as limitaes tecnolgicas e a sua importncia para a escolha de
um equipamento e balano custo/benefcio. Explorar a existncia de nichos de mercado
e utilizao associadas a tecnologias particulares (por exemplo, aquecedore(s) a leo vs
bomba(s) de calor vs acumulador de calor com tarifa bi-horria).
Cincia
Tipo I Identificar com preciso manifestaes de existncia de corrente elctrica no
funcionamento da generalidade dos electrodomsticos.
Tipo II Aplicar a relao da resistncia elctrica com a corrente elctrica e a diferena
de potencial aplicada.
Tipo III Explorar a relao entre a resistncia e a corrente elctrica na compreenso
do princpio de funcionamento de uma lmpada incandescente.
Ficha-Exemplo 1:
Os electrodomsticos
Ncleo Gerador: Equipamentos e Sistemas Tcnicos (EST)
Domnio de Referncia: Sociedade, Tecnologia e Cincia no contexto
privado (1)
Tema: Equipamentos Domsticos (ED)
Sociedade
Tipo I Identificar a exigncia de qualificaes diferenciadas para manusear motores com
graus de complexidade diferentes.
Tipo II Relacionar as qualificaes escolares com as categorias tcnicas que os
operadores que lidam com motores ocupam nas organizaes.
Tipo III Explorar modos de melhoria das posies hierrquicas ocupadas pelos
trabalhadores nas organizaes, em funo da aquisio de novas competncias e
qualificaes profissionais (adequabilidade oferta e procura).
Tecnologia
Tipo I Identificar com preciso diferentes tipos de motores: trmicos, elctricos, hidrulicos
e turbinas a gs e caractersticas associadas (110/220 V, mono ou tri-fsicos, a dois ou
quatro tempos, etc.).
Tipo II Reconhecer as principais partes de um motor e o seu papel no modo de
funcionamento (por exemplo, as escovas para o contacto elctrico num motor elctrico).
Tipo III Relacionar os avanos tecnolgicos com alteraes de concepo e design de
novos motores, equacionando o custo/benefcio dessas transformaes no impacto das
solues adoptadas.
Cincia
Tipo I Identificar qualitativamente as relaes entre a presso, o volume e a temperatura
de um gs e relaes de proporcionalidade (directa e inversa) que existam entre os
parmetros que descrevem o funcionamento de um motor.
Tipo II Compreender o funcionamento de um motor trmico ideal como um ciclo de um
gs a diferentes presses, temperaturas e volumes e, inversamente, reconhecer que no
ciclo frigorifico o estado de um gs (P, V e T) alterado por aco de um compressor
elctrico para refrigerar um compartimento e ser capaz de analisar os efeitos da variao
de parmetros nos modelos de proporcionalidade que descrevam as equaes do
rendimento de um motor.
Tipo III Relacionar as trocas de trabalho e calor de um ciclo termodinmico com o rendi-
mento ou a eficincia de uma mquina e recorrendo calculadora, ser capaz de decidir,
perante modelos matemticos, os que melhor descrevem aspectos do funcionamento de
um motor estando perante dados experimentais.
Ficha-Exemplo 2:
Os motores
Ncleo Gerador: Equipamentos e Sistemas Tcnicos (EST)
Domnio de Referncia: Sociedade, Tecnologia e Cincia no contexto
profissional (2)
Tema: Equipamentos Profissionais (EP)
Anexo I
FICHAS-EXEMPLO DE CRITRIOS DE EVIDNCIA - REA SOCIEDADE, TECNOLOGIA E CINCIA
104
Sociedade
Tipo I Identificar as diferentes competncias e as relaes de poder entre a assistncia
tcnica proporcionada por uma marca, por um concessionrio da marca e por um servio
independente.
Tipo II Desenvolver formas de prospeco e negociao com as vrias entidades
envolvidas, como modo de obter um bom servio em termos de custo x qualidade.
Tipo III Relacionar a forma como o mercado e o conhecimento se interligam em contextos
de interaco social, como fenmeno especfico da modernidade reflexiva e capitalista.
Tecnologia
Tipo I Identificar as garantias dadas pelos fabricantes.
Tipo II Relacionar os momentos programados para as revises em funo do tipo de
trabalho executado, dos tipos de equipamento e das exigncias de segurana (automvel,
tractor, avio, etc.).
Tipo III Argumentar recorrendo a linguagem tcnica adequada, as condies de garantia,
reparao e assistncia de equipamentos.
Cincia
Tipo I Identificar grandezas fsicas e suas unidades de medio (distinguir volume de
caudal, presso de fora e potncia de energia, por exemplo), tendo em conta que umas
so lineares e outras podem envolver as noes de superfcie e volume.
Tipo II Aplicar tcnicas de medio especficas para a determinao de grandezas
fundamentais convertendo-as entre vrios sistemas de unidades, podendo ter em conta
o clculo de permetros, reas e volumes em modelos geomtricos.
Tipo III Optimizar as relaes custo/beneficio a partir das grandezas fundamentais
caractersticas do sistema (por exemplo, relacionar o padro de consumo com custo de
gua ou gs) e analisar modelos custo/consumo de energia considerando diferentes
tarifrios de modo a minimizar os custos.
Ficha-Exemplo 3:
A assistncia tcnica
Ncleo Gerador: Equipamentos e Sistemas Tcnicos (EST)
Domnio de Referncia: Saberes, Poderes e Instituies na Sociedade,
Tecnologia e Cincia (3)
Tema: Utilizadores, Consumidores e Reclamaes (UCR)
Sociedade
Tipo I Identificar mudanas nos padres de utilizao no transporte pblico e privado
(por exemplo, o aumento do uso do automvel privado).
Tipo II Explorar a evoluo dos meios de transportes com novas oportunidades e novos
problemas das sociedades contemporneas (por exemplo a utilizao do metropolitano
nos contextos urbanos).
Tipo III Compreender consequncias sociais da evoluo dos transportes, em particular,
na mutao das relaes entre os espaos (por exemplo, os processos de apropriao
local de fenmenos globais: glocalizao).
Tecnologia
Tipo I Identificar diferentes meios de propulso utilizados ao longo dos tempos em
transportes pblicos ou privados na terra, na gua e no ar.
Tipo II Compreender os avanos tecnolgicos associados ao aparecimento e ao
desenvolvimento dos diferentes meios de propulso, explicitando o princpio bsico de
funcionamento de cada um deles (por exemplo, bicicleta e moto, barco a motor e vela,
fogueto e avio, etc.).
Tipo III Relacionar a evoluo presente e futura dos sistemas de propulso com a neces-
sidade de obter melhores desempenhos, menores nveis de poluio ambiental, etc.
Cincia
Tipo I Identificar com preciso as caractersticas dos movimentos: rectilneos uniformes,
acelerados e circulares (por exemplo, automvel a velocidade constante, automvel a
travar e automvel a dar uma curva), assim como a noo de taxa de variao mdia e
instantnea.
Tipo II Aplicar as definies de posio, velocidade, acelerao, fora, fora centrifuga
e fora de atrito descrio dos movimentos relacionando-as atravs da noo de derivada.
Tipo III Reconhecer o papel das vrias grandezas fsicas na descrio dos movimentos
reais (por exemplo, explicitando a necessidade de existir atrito para o movimento e travagem
de um automvel ou relev nas curvas da estrada que contraria a fora centrfuga) e ser
capaz de, perante diferentes taxas de variao mdia, decidir quais os movimentos mais
acelerados e mais retardados.
Ficha-Exemplo 4:
Os transportes
Ncleo Gerador: Equipamentos e Sistemas Tcnicos (EST)
Domnio de Referncia: Estabilidade e Mudana: da Sociedade ao Universo
(4)
Tema: Transformaes e Evolues Tcnicas (TET)
105
Anexo I
FICHAS-EXEMPLO DE CRITRIOS DE EVIDNCIA - REA SOCIEDADE, TECNOLOGIA E CINCIA
Unidade de Competncia 2: Identificar e intervir em situaes de tenso entre o ambiente e a
sustentabilidade, fundamentando posies relativas a segurana, preservao e explorao de
recursos, melhoria da qualidade ambiental e influncia no futuro do planeta.
Ficha-Exemplo
de Critrios de Evidncia
STC 5
Ficha-Exemplo
de Critrios de Evidncia
STC 6
Ficha-Exemplo
de Critrios de Evidncia
STC 7
Ficha-Exemplo
de Critrios de Evidncia
STC 8
DR1
DR2
DR3
DR4
Contexto
privado
Contexto
profissional
Contexto
institucional
Contexto
macro-estrutural
Promover a preservao
e melhoria da qualidade
ambiental atravs de
prticas quotidianas que
envolvam preocupaes
com o consumo e a
eficincia energtica
Incluir processos de
valorizao e tratamento
de resduos nas medidas
de segurana e
preservao ambiental
Diagnosticar as tenses
institucionais entre o
desenvolvimento e a
sustentabilidade face
explorao e gesto de
recursos naturais
Mobilizar conhecimentos
sobre a evoluo do clima
ao longo do tempo e a
sua influncia nas
dinmicas populacionais,
sociais e regionais
Consumo e
Eficincia
Energtica
Resduos e
Reciclagens
Recursos Naturais
A gua
O conforto trmico
Os lixos
A gua
O CO2
Ncleo Gerador: Ambiente e Sustentabilidade (AS)
Domnio de
Referncia
Temas
Ficha-Exemplo
de Critrios de
Evidncia
Competncias Exemplo
Sugestes de Actividades
Anexo I
FICHAS-EXEMPLO DE CRITRIOS DE EVIDNCIA - REA SOCIEDADE, TECNOLOGIA E CINCIA
106
Sociedade
Tipo I Identificar diferentes modos de conforto trmico (vesturio, braseira, lareira,
aquecedor elctrico, aquecimento central, ar condicionado, etc.) no contexto privado de
acordo com as classes sociais de pertena ou contextos sociais (urbano/rural).
Tipo II Aplicar a contextos sociais diferentes um determinado modo de conforto trmico,
por exemplo, em funo das profisses/rendimentos dos indivduos.
Tipo III Explorar as relaes sociais existentes entre pertenas sociais, estilos de vida
e diferentes modos de conforto trmico no contexto privado (por exemplo, com recurso
a modos de poupana energtica em funo das qualificaes dos indivduos), numa
perspectiva da melhoria do bem estar individual e da qualidade de vida.
Tecnologia
Tipo I Identificar vrias tcnicas de isolamento, aquecimento e arrefecimento de uma
habitao.
Tipo II Recolher informao tcnica de rendimentos de equipamentos diversos e
condutibilidades trmicas de vrias superfcies existentes numa habitao, comparando
e discutindo as vrias solues.
Tipo III Explorar situaes de perdas de calor ou de utilizao de meios de suporte de
aquecimento numa habitao (por exemplo, equacionando e calculando as perdas de
calor atravs de uma parede ou uma janela com diferentes caractersticas fsicas, ou o
rendimento de mquinas trmicas simples, etc.).
Cincia
Tipo I Identificar situaes que envolvem diferentes formas de transmisso de calor.
Tipo II Compreender as caractersticas principais da conduo, da conveco e da
radiao.
Tipo III Explorar o efeito da radiao trmica do sol na terra (por exemplo, calculando
a temperatura mdia de equilbrio superfcie da terra, discutindo o seu papel na existncia
de vida na terra).
Ficha-Exemplo 5:
O conforto trmico
Ncleo Gerador: Ambiente e Sustentabilidade (AS)
Domnio de Referncia: Sociedade, Tecnologia e Cincia no contexto
privado (1)
Tema: Consumo e Eficincia Energtica (CEE)
Sociedade
Tipo I Identificar diferentes profisses relacionadas com a recolha e tratamento de lixos.
Tipo II Relacionar essas profisses com a estrutura social e atribuir-lhes um lugar de
classe (directores, tcnicos especializados, empregados executantes e trabalhadores no
qualificados, por exemplo).
Tipo III Explorar os diferentes modos de articulao entre profisses relacionadas com
a recolha e tratamento de lixos e lugares de classe com nveis assimtricos de qualificaes,
recursos e estatuto social.
Tecnologia
Tipo I Identificar resduos biodegradveis, resduos reciclveis e passveis de entrega
em entidades especializadas (por exemplo, vidro, papel, plsticos, leos, restos de comida,
medicamentos, seringas, tintas, metais pesados).
Tipo II Compreender as vantagens da separao selectiva dos resduos.
Tipo III Equacionar, em actividades produtoras de resduos, as consequncias ambientais
relativamente s consequncias sociais.
Cincia
Tipo I Identificar resduos que possam ser utilizados como fonte de produo de energia
(por exemplo, bio-gs).
Tipo II Compreender processos de decomposio de alguns tipos de resduos, por
microorganismos, e as suas consequncias (fermentao e biodegradao, produo de
biogs, etc.).
Tipo III Explorar a partir de base cientfica as vantagens e desvantagens das diversas
formas de tratamento e valorizao de resduos slidos urbanos (compostagem, reciclagem,
incinerao, aterros sanitrios, etc.).
Ficha-Exemplo 6:
Os lixos
Ncleo Gerador: Ambiente e Sustentabilidade (AS)
Domnio de Referncia: Sociedade, Tecnologia e Cincia no contexto
profissional (2)
Tema: Resduos e Reciclagens (RR)
Anexo I
FICHAS-EXEMPLO DE CRITRIOS DE EVIDNCIA - REA SOCIEDADE, TECNOLOGIA E CINCIA
107
Sociedade
Tipo I Identificar diferentes instituies que participam na gesto da gua num determinado
municpio, com reas de interveno e poderes especficos.
Tipo II Compreender as relaes e possveis focos de tenso entre as mltiplas instituies
que participam na gesto da gua num determinado contexto (por exemplo, a relao
ibrica na gesto da gua).
Tipo III Explorar algumas potencialidades e fragilidades dos vrios modelos de gesto
da gua: pblicos, privados ou mistos.
Tecnologia
Tipo I Identificar as diferentes origens e etapas na utilizao da gua
_
captao,
tratamento e distribuio
_
em situaes distintas (fornecimento de gua a uma cidade
ou vila, gua para rega ou para a indstria, fontanrios e redes privadas, etc.).
Tipo II Compreender a necessidade de utilizao de tecnologias e materiais adequados
na utilizao da gua para consumo pblico (barragens, furos, tubagens de distribuio,
monitorizao, estaes de tratamento, etc.).
Tipo III Explorar a adequao das medidas de gesto da gua s tecnologias disponveis,
s necessidades das populaes e a outros usos.
Cincia
Tipo I Identificar diferentes etapas do ciclo da gua nomeando as suas mudanas de
estado fsico.
Tipo II Compreender o papel da molcula de H2O nos diferentes estados fsicos da
gua e a sua funo nos seres vivos.
Tipo III Explorar o impacte ambiental resultante de diferentes ocupaes humanas
(agricultura, urbanizao e indstria), nos rios e nos lenis de gua (alterao dos solos,
inundaes devido a impermeabilizaes, contaminaes).
Ficha-Exemplo 7:
A gua
Ncleo Gerador: Ambiente e Sustentabilidade (AS)
Domnio de Referncia: Saberes, Poderes e Instituies na Sociedade,
Tecnologia e Cincia (3)
Tema: Recursos Naturais (RN)
Sociedade
Tipo I Identificar vrios agentes e instituies que participam na emisso e medio dos
nveis de dixido de carbono.
Tipo II Explorar o facto de o volume de emisso de CO
2
variar consoante os grupos
socioprofissionais, as regies/pases e os modos de produo.
Tipo III Compreender a introduo de medidas como o poluidor-pagador, no contexto
de transio para uma sociedade de risco.
Tecnologia
Tipo I Identificar o papel da evoluo tecnolgica na reduo das emisses de CO
2
(eficincia energtica das indstrias, edifcios e transportes, energias alternativas, etc.).
Tipo II Compreender as relaes entre evoluo tecnolgica e medidas de preveno
e controlo das emisses poluentes para a atmosfera.
Tipo III Explorar a necessidade da progressiva substituio dos combustveis fsseis
por energias alternativas no controlo das emisses de CO
2
.
Cincia
Tipo I Identificar as principais fases no ciclo do carbono (por exemplo, fotossntese,
respirao, fixao, etc.) e reconhecer os diferentes tipos de correlao estatstica.
Tipo II Compreender a aco do CO
2
na atmosfera e nos oceanos e suas consequncias
no equilbrio do ciclo do carbono, relacionar aumento de emisso de CO
2
com aumento
da temperatura (correlao positiva) e aumento da temperatura com a diminuio das
calotes polares (correlao negativa).
Tipo III Explorar as relaes entre clima e concentrao atmosfrica de CO
2
(efeito de
estufa) ao longo da histria, incluindo a influncia da interferncia humana no ambiente
desde a era pr-industrial e fundamentar as concluses recorrendo anlise estatstica
para estabelecer correlaes e produzir extrapolaes.
Ficha-Exemplo 8:
O CO2
Ncleo Gerador: Ambiente e Sustentabilidade (AS)
Domnio de Referncia: Estabilidade e Mudana: da Sociedade ao Universo
(4)
Tema: Clima (C)
108
Unidade de Competncia 3: Compreender que a qualidade de vida e bem estar implicam a
capacidade de accionar fundamentada e adequadamente intervenes e mudanas
biocomportamentais, identificando factores de risco e de proteco, e reconhecendo na sade
direitos e deveres em situaes de interveno individual e do colectivo.
Ficha-Exemplo
de Critrios de Evidncia
STC 9
Ficha-Exemplo
de Critrios de Evidncia
STC 10
Ficha-Exemplo
de Critrios de Evidncia
STC 11
Ficha-Exemplo
de Critrios de Evidncia
STC 12
DR1
DR2
DR3
DR4
Contexto
privado
Contexto
profissional
Contexto
institucional
Contexto
macro-estrutural
Adoptar cuidados bsicos
de sade em funo de
diferentes necessidades
e situaes de vida
Promover
comportamentos
saudveis e medidas de
segurana e preveno
de riscos, em contexto
profissional
Reconhecer os direitos e
deveres dos cidados e
o papel da componente
cientfica e tcnica na
tomada de decises
racionais relativamente
sade
Prevenir adequadamente
patologias em funo da
evoluo das realidades
sociais, cientficas e
tecnolgicas
Cuidados Bsicos
Riscos e
Comportamentos
Saudveis
Medicinas e
Medicao
Patologias e
Preveno
A nutrio
Preveno e segurana
Os medicamentos
Doenas sexualmente
transmissveis
Ncleo Gerador: Sade (S)
Domnio de
Referncia
Temas
Ficha-Exemplo
de Critrios de
Evidncia
Competncias Exemplo
Sugestes de Actividades
Anexo I
FICHAS-EXEMPLO DE CRITRIOS DE EVIDNCIA - REA SOCIEDADE, TECNOLOGIA E CINCIA
109
Sociedade
Tipo I Identificar diferentes dietas alimentares consoante as origens e pertenas sociais.
Tipo II Compreender a relao entre prticas de sociabilidade especficas e os hbitos
alimentares desenvolvidos pelos indivduos em contextos distintos (por exemplo, familiar,
profissional, convivial, etc.).
Tipo III Explorar as relaes entre processos culturais e econmicos associados a
diferentes prticas alimentares no quotidiano privado (dieta mediterrnica, restries
culturais, fast food vs slow food).
Tecnologia
Tipo I Identificar mtodos de confeco e conservao de alimentos diferenciando-os
quanto ao tipo de aquecimento utilizado e/ou princpio de conservao (por exemplo, na
preparao, cozedura, panela de presso, forno tradicional, forno de microondas, e na
conservao, salmoura, frigorfico, congelador, etc.).
Tipo II Compreender que as formas de conservao e preparao dos alimentos podem
influenciar as suas propriedades nutricionais (por exemplo, panela de presso/menor
destruio de nutrientes termo-sensveis, sopa/aproveitamento dos nutrientes hidrossolveis,
etc.).
Tipo III Explorar o princpio de aquecimento ou de conservao dos equipamentos
actuais (por exemplo, explicitando o tipo de aquecimento num forno microondas distinguindo
a funo do selector de potncia do selector de tempo e distinguindo o tipo de objectos
que aquecem no forno de microondas daqueles que no aquecem eficientemente, ou a
forma de fazer frio num frigorfico ou congelador, ou o princpio de conservao em
salmoura ou ainda a diferena fundamental na cozedura numa panela de presso e numa
panela tradicional explicitando a variao da temperatura de cozedura com a presso,
etc.).
Cincia
Tipo I Identificar famlias de alimentos em funo dos seus componentes nutricionais,
reconhecendo a importncia de utilizar diferentes alimentos.
Tipo II Compreender as funes (reguladoras, plsticas, energticas) dos diferentes
tipos de nutrientes (protenas, lpidos, glcidos, vitaminas e sais minerais).
Tipo III Definir planos de alimentao equilibrados, criando refeies diversificadas, de
acordo com a idade, sexo, actividade e clima.
Ficha-Exemplo 9:
A nutrio
Ncleo Gerador: Sade (S)
Domnio de Referncia: Sociedade, Tecnologia e Cincia no contexto
privado (1)
Tema: Cuidados Bsicos (CB)
Sociedade
Tipo I Identificar em contratos de trabalho as clusulas relativas s situaes de doena
profissional.
Tipo II Interpretar as condies dos contratos de trabalho (por exemplo, salariais, de
acidentes de trabalho, de resciso, etc.) relacionando-as com as ocupaes profissionais
e os vnculos contratuais dos trabalhadores.
Tipo III Explorar as diferenas existentes nos sistemas de proteco social (pblico e
privado) relativamente aos modos de accionamento e actuao em situaes de doena
profissional nas vrias categorias socioprofissionais e aprofundar o conhecimento das
melhores opes para uma assistncia mais adequada.
Tecnologia
Tipo I Identificar smbolos e sinais relacionados com preveno e segurana no trabalho
(qumicos, mecnicos, radiaes, biolgicos, elctricos).
Tipo II Compreender as regras de segurana no trabalho, em particular, interpretando
a informao relativa a procedimentos de interveno em situaes de emergncia e de
manipulao de materiais e equipamentos perigosos.
Tipo III Intervir na prestao de primeiros socorros de acordo com os conhecimentos
e limites individuais.
Cincia
Tipo I Identificar efeitos no organismo (desvios de coluna, doenas do foro respiratrio,
desequilbrios emocionais) decorrentes de prticas profissionais.
Tipo II Compreender as alteraes orgnicas responsveis pelos sinais e sintomas de
doenas profissionais (por exemplo, problemas respiratrios devido a inalaes).
Tipo III Relacionar factores potenciadores de doenas no trabalho com os respectivos
factores de proteco (postura, inalao, stress, manipulao de materiais perigosos).
Ficha-Exemplo 10:
Preveno e segurana
Ncleo Gerador: Sade (S)
Domnio de Referncia: Sociedade, Tecnologia e Cincia no contexto
profissional (2)
Tema: Riscos e Comportamentos Saudveis (RCS)
Anexo I
FICHAS-EXEMPLO DE CRITRIOS DE EVIDNCIA - REA SOCIEDADE, TECNOLOGIA E CINCIA
110
Sociedade
Tipo I Identificar na relao mdico/doente os deveres profissionais da actuao clnica
(confidencialidade, permitir o direito a uma segunda opinio, etc.).
Tipo II Optar pela utilizao (ou no) de genricos, explicitando as razes da escolha
e evidenciando essa preferncia ao tcnico de sade.
Tipo III Explorar os conflitos de poderes e saberes entre diferentes instituies na
polmica em torno da introduo dos genricos (de marca ou no) face s responsabilidades
pelos riscos.
Tecnologia
Tipo I Identificar a composio, posologia, indicaes e contra-indicaes no folheto
informativo de um medicamento.
Tipo II Aplicar rigorosamente medidas de bom uso de teraputicas e medicamentos,
interpretando directivas mdicas (receitas, datas de vacinas, preparao para exames
mdicos, etc.).
Tipo III Explorar as diferentes classes de medicamentos (anti-pirticos, anti-inflamatrios,
antibiticos, anti-depressivos), reconhecendo os limites da auto-medicao e a necessidade,
ou no, de receita mdica.
Cincia
Tipo I Identificar os elementos que permitem reconhecer a equivalncia teraputica
(princpios activos, composio, concentrao e apresentao), identificando tambm a
proporo de princpio activo relativamente aos outros componentes.
Tipo II Reconhecer a equivalncia teraputica entre medicamentos de marca e medica-
mentos genricos e saber utilizar a relao (quantidade de princpio activo)/dosagem
adaptando a segunda a variaes da primeira.
Tipo III Posicionar-se perante a gesto das inovaes farmacuticas, fabrico,
comercializao e comparticipao dos medicamentos genricos sabendo distinguir face
a dois modelos de comercializao/comparticipao qual serve melhor os objectivos
fixados partida.
Ficha-Exemplo 11:
Os medicamentos
Ncleo Gerador: Sade (S)
Domnio de Referncia: Saberes, Poderes e Instituies na Sociedade,
Tecnologia e Cincia (3)
Tema: Medicinas e Medicao (MM)
Sociedade
Tipo I Identificar prticas sociais de risco face s doenas sexualmente transmissveis
(DST).
Tipo II Compreender a relao entre as DST e as condies de vida de grupos sociais
especficos (pobreza, desqualificaes, estilos de vida, etc.).
Tipo III Explorar os diferentes padres de evoluo das DST consoante as fases de
desenvolvimento das sociedades (por exemplo, comparar os padres de infeco na
Europa com o continente africano).
Tecnologia
Tipo I Identificar os modos de transmisso de vrus de DST.
Tipo II Compreender os princpios de preveno de transmisso de vrus de DST e
aplic-los em diferentes contextos (profissional, familiar, mdico, lazer, etc.).
Tipo III Aplicar a situaes imprevistas tcnicas de proteco e desinfeco relativas
transmisso dos agentes infecciosos (por exemplo, a utilizao de saco de plstico como
luva ou o uso de sabo e lixvia como desinfectantes).
Cincia
Tipo I Identificar doenas emergentes (por exemplo, sida) e doenas reemergentes (por
exemplo, sfilis) e distinguir entre estatstica descritiva e estatstica indutiva.
Tipo II Compreender o papel das mutaes na constante variabilidade dos agentes
causadores de doenas infecciosas e tambm o papel da estatstica no planeamento de
programas de combate/preveno de doenas.
Tipo III Distinguir os procedimentos a adoptar em caso de infeces virais ou bacterianas,
reconhecendo as consequncias do mau uso dos antibiticos utilizando informao
estatstica para estabelecer correlaes entre factores e doenas a eles associados e
para inferir do impacto de medidas no combate a doenas.
Ficha-Exemplo 12:
Doenas sexualmente transmissveis
Ncleo Gerador: Sade (S)
Domnio de Referncia: Estabilidade e Mudana: da Sociedade ao Universo
(4)
Tema: Patologias e Preveno (PP)
111
Anexo I
FICHAS-EXEMPLO DE CRITRIOS DE EVIDNCIA - REA SOCIEDADE, TECNOLOGIA E CINCIA
Unidade de Competncia 4: Identificar, compreender e intervir em situaes de gesto e economia,
desde o oramento privado e familiar at a um nvel mais geral atravs da influncia das instituies
monetrias e financeiras na economia em que se est inserido e tendo em conta princpios das
cincias econmicas.
Ficha-Exemplo
de Critrios de Evidncia
STC 13
Ficha-Exemplo
de Critrios de Evidncia
STC 14
Ficha-Exemplo
de Critrios de Evidncia
STC 15
Ficha-Exemplo
de Critrios de Evidncia
STC 16
DR1
DR2
DR3
DR4
Contexto
privado
Contexto
profissional
Contexto
institucional
Contexto
macro-estrutural
Organizar oramentos
familiares tendo em conta
a influncia dos impostos
e os produtos e servios
financeiros disponveis
Interagir com empresas,
instituies e
organizaes
mobilizando
conhecimentos de gesto
de recursos
Perspectivar a influncia
dos sistemas monetrios
e financeiros na
economia e na sociedade
Diagnosticar os impactos
das evolues sociais,
tecnolgicas e cientficas
nos usos e gesto do
tempo
Oramentos e
Impostos
Empresas,
Organizaes e
Modelos de Gesto
Sistemas
Monetrios e
Financeiros
Usos e Gesto do
Tempo
O oramento familiar
Os organogramas
A moeda
O relgio
Ncleo Gerador: Gesto e Economia (GE)
Domnio de
Referncia
Temas
Ficha-Exemplo
de Critrios de
Evidncia
Competncias Exemplo
Sugestes de Actividades
Anexo I
FICHAS-EXEMPLO DE CRITRIOS DE EVIDNCIA - REA SOCIEDADE, TECNOLOGIA E CINCIA
112
Sociedade
Tipo I Identificar diferenas nos rendimentos mdios das famlias consoante as suas
actividades profissionais.
Tipo II Compreender as diferentes categorias de rendimentos das famlias e a estrutura
de tributao fiscal relacionando-as com as respectivas origens (por exemplo, no caso
de declarao IRS: o trabalho por conta de outrem
_
A; trabalho independente
_
B; predial
H; mais-valias G).
Tipo III Explorar diferentes formas de conseguir combater a evaso fiscal com vista a
uma maior justia social (por exemplo, cruzamento de dados atravs de sistemas
informticos).
Tecnologia
Tipo I Identificar diferentes tipos de crdito (consumo, habitao, automvel) e os
organismos que os promovem.
Tipo II Compreender as diferentes condies de crdito, comparando taxas de juro
efectivas (spread e regras de clculo), prazos de pagamento e benefcios associados.
Tipo III Explorar formas de reduo do endividamento das famlias e/ou de poupana
e investimento mais institucionais (ex: PPR, PPH, PPA) ou mais produtivas (ex: abertura
de uma empresa, aquisio de uma propriedade).
Cincia
Tipo I Identificar despesas e receitas de um oramento familiar.
Tipo II Aplicar rubricas oramentais a novos custos e/ou receitas de acordo com
procedimentos contabilsticos elementares.
Tipo III Projectar a mdio prazo, atravs de clculos de estimativa de despesas e receitas
investimentos familiares com viabilidade financeira.
Ficha-Exemplo 13:
O oramento familiar
Ncleo Gerador: Gesto e Economia (GE)
Domnio de Referncia: Sociedade, Tecnologia e Cincia no contexto
privado (1)
Tema: Oramentos e Impostos (OI)
Sociedade
Tipo I Identificar diferentes elementos num organograma: unidades funcionais, diferenas
horizontais e nveis hierrquicos.
Tipo II Aplicar a uma dada organizao um esquema organizacional representado
atravs de um organograma.
Tipo III Explorar formas de aperfeioar a estrutura hierrquica de uma organizao
(supresso de nveis hierrquicos ou comunicao de unidades funcionais).
Tecnologia
Tipo I Identificar os diferentes componentes do ordenado de um trabalhador por conta
de outrem (por exemplo, salrio, IRS, subsdio de refeio, contribuies para a segurana
social, prmios, etc.).
Tipo II Compreender as diferenas salariais e contributivas entre trabalhadores por conta
de outrem e trabalhadores independentes.
Tipo III Aplicar a situaes de contratao de trabalhadores para uma instituio as
vrias normas do Cdigo Fiscal e do Cdigo do Trabalho, consoante a situao do
trabalhador.
Cincia
Tipo I Identificar com preciso a composio de diferentes empresas em termos de
recursos humanos (por exemplo, dimenso das empresas e qualificao dos trabalhadores)
e perante um aspecto organizacional identificar as variveis relevantes.
Tipo II Compreender necessidades e/ou excedentes em termos de recursos humanos
em diferentes empresas e organizaes em funo de inovaes tecnolgicas e/ou de
necessidades de produo; o modo como a articulao entre essas variveis afecta a
organizao e produo de uma empresa.
Tipo III Explorar formas de reestruturao organizacional em termos de recursos humanos
(reformas antecipadas, reduo de trabalhadores, etc.) e estratgias (reengenharia de
processos, downsizing, outsourcing) para melhorar a eficcia e eficincia das instituies,
utilizando modelos de programao linear para encontrar situaes optimais.
Ficha-Exemplo 14:
Os organogramas
Ncleo Gerador: Gesto e Economia (GE)
Domnio de Referncia: Sociedade, Tecnologia e Cincia no contexto
profissional (2)
Tema: Empresas, Organizaes e Modelos de Gesto (EOMG)
Anexo I
FICHAS-EXEMPLO DE CRITRIOS DE EVIDNCIA - REA SOCIEDADE, TECNOLOGIA E CINCIA
113
Sociedade
Tipo I Identificar a existncia de interaces, entre os sistemas monetrios dos diversos
pases a nvel mundial.
Tipo II Compreender a interveno de instncias supra-nacionais, como a UE e o Banco
Central Europeu, na valorizao e desvalorizao do Euro.
Tipo III Explorar como as poupanas ou o consumo individuais podem afectar a economia
e consequentemente os nveis de bem-estar de uma sociedade.
Tecnologia
Tipo I Identificar a moeda como um intermedirio geral de trocas, como unidade de
conta (atribui valor s coisas), e como reserva de valor.
Tipo II Compreender que os diferentes tipos de moeda - papel-moeda, moeda escritural
(cheques), cartes de crdito, moeda electrnica (internet) devem ter em comum certas
caractersticas (por exemplo, divisibilidade, durabilidade, aceitabilidade geral, manuteno
de valor e dificuldade de falsificao).
Tipo III Explorar a crescente introduo de sistemas de segurana para validao da
moeda como resposta cada vez mais alargada acessibilidade de alta tecnologia
generalidade da populao (por exemplo, introduzir o chip de segurana em resposta
disseminao de leitores de bandas magnticas).
Cincia
Tipo I Identificar a inflao como resultado da taxa de crescimento do nvel de preos
de um perodo para o outro e identificar taxas de variao da inflao.
Tipo II Compreender as relaes entre a taxa de inflao, o dfice oramental e a
existncia de uma moeda nica no espao europeu e as circunstncias em que existe
uma acelerao(desacelerao) da inflao.
Tipo III Explorar os critrios do pacto de estabilidade e crescimento no contexto da Unio
Europeia e sua evoluo, relacionando-os com os desempenhos das economias nacionais,
sendo capaz de, usando modelos econmicos/financeiros, estabelecer medidas tendo
em vista metas ou diagnosticar causas de desvio relativamente a essas metas.
Ficha-Exemplo 15:
A moeda
Ncleo Gerador: Gesto e Economia (GE)
Domnio de Referncia: Saberes, Poderes e Instituies na Sociedade,
Tecnologia e Cincia (3)
Tema: Sistemas Monetrios e Financeiros (SMF)
Sociedade
Tipo I Identificar como a durao da jornada de trabalho diria evolui ao longo dos
tempos e varia de acordo com as actividades econmicas (por exemplo, agricultura vs
industria vs servios, etc.).
Tipo II Relacionar a regulao da jornada de trabalho com lutas sociais, polticas pblicas
e evolues tecnolgicas.
Tipo III Explorar o sentido das transformaes nas noes sociais de tempo ao longo
do processo de industrializao.
Tecnologia
Tipo I Identificar diferentes processos e tecnologias de medio do tempo (relgio de
sol, estaes do ano, relgio de pndulo, etc.).
Tipo II Compreender a evoluo dos processos e tecnologias de medio do tempo
(dos perodos de translao e rotao da Terra
_
estaes do ano, dia/noite
_
ao perodo
do pndulo, ao perodo de oscilao de um cristal de quartzo ao perodo de semi-
-transformao dos tomos de csio, etc.) e ser capaz de reavaliar a adequao dos
modelos e de os adaptar s novas circunstncias.
Tipo III Explorar a relao entre novos processos e tecnologias usados na medio dos
tempos e o acesso e uso de novos servios (por exemplo, os relgios atmicos e a
relatividade para implementao do GPS, etc.).
Cincia
Tipo I Identificar tipos de custos de produo associados ao tempo (tempos de amortizao
de equipamentos, tempos de trabalho, tempos de fabrico, tempos de transporte, tempos
de armazenamento, etc.) e diferentes modelos lineares associados a esses custos.
Tipo II Compreender as regras de imputao ao preo de um produto dos custos de
produo associados ao tempo e ser capaz de reavaliar a adequao dos modelos e de
os adaptar s novas circunstncias.
Tipo III Relacionar os aumentos de produtividade com a evoluo tcnica e organizativa
suportando-se na anlise de modelos diferenciados de eficincia e rentabilidade.
Ficha-Exemplo 16:
O relgio
Ncleo Gerador: Gesto e Economia (GE)
Domnio de Referncia: Estabilidade e Mudana: da Sociedade ao Universo
(4)
Tema: Usos e Gesto do tempo (UGT)
114
Unidade de Competncia 5: Identificar, compreender e intervir em situaes onde as TIC sejam
importantes no apoio gesto do quotidiano, na facilidade de transmisso e obteno de informao
e de difuso a grande escala de informao socialmente controlada, reconhecendo que a relevncia
das TIC tem consequncias na globalizao das relaes.
Ficha-Exemplo
de Critrios de Evidncia
STC 17
Ficha-Exemplo
de Critrios de Evidncia
STC 18
Ficha-Exemplo
de Critrios de Evidncia
STC 19
Ficha-Exemplo
de Critrios de Evidncia
STC 20
DR1
DR2
DR3
DR4
Contexto
privado
Contexto
profissional
Contexto
institucional
Contexto
macro-estrutural
Entender a utilizao das
comunicaes rdio em
diversos contextos
familiares e sociais
Perspectivar a interaco
entre a evoluo
tecnolgica e as
mudanas nos contextos
e qualificaes
profissionais
Discutir o impacto dos
media na construo da
opinio pblica
Relacionar a evoluo
das redes tecnolgicas
com as redes sociais
Comunicaes
Rdio
Micro e
Macroelectrnica
Media e
Informao
Redes e
Tecnologias
Os telemveis
O computador
Os mass media
A internet
Ncleo Gerador: Tecnologias de Informao e Comunicao (TIC)
Domnio de
Referncia
Temas
Ficha-Exemplo
de Critrios de
Evidncia
Competncias Exemplo
Sugestes de Actividades
Anexo I
FICHAS-EXEMPLO DE CRITRIOS DE EVIDNCIA - REA SOCIEDADE, TECNOLOGIA E CINCIA
115
Sociedade
Tipo I Identificar diferentes usos sociais das funcionalidades dos telemveis, por exemplo,
consoante as idades dos indivduos (jogos versus agendas).
Tipo II Compreender o uso dos telemveis como objectos simblicos de status social.
Tipo III Explorar evolues futuras no uso dos telemveis (por exemplo, biologizao
dos equipamentos) e discutir as suas consequncias, positivas e negativas, nas relaes
e prticas sociais.
Tecnologia
Tipo I Identificar os componentes principais de um telemvel: antena, ecr de cristais
lquidos, teclado, microfone, bateria, etc.
Tipo II Compreender o telemvel como um equipamento celular, discutindo a relao
entre a potncia utilizada e o princpio de funcionamento.
Tipo III Explorar as novas tecnologias de funcionamento do telemvel, distinguindo as
potencialidades e limitaes das redes: GSM, GPRS, 3G.
Cincia
Tipo I Identificar com preciso a presena de ondas electromagnticas em fenmenos
naturais e em aplicaes tecnolgicas (a luz que chega do sol, ou as ondas de rdio e
televiso que chegam aos receptores, por exemplo).
Tipo II Compreender as caractersticas gerais das ondas electromagnticas: velocidade
de propagao da onda, frequncia, perodo e comprimento de onda.
Tipo III Explorar as relaes fundamentais entre as caractersticas gerais das ondas
electromagnticas: frequncia, velocidade de propagao e comprimento de onda; campo
E, campo B e direco de propagao; amplitude e intensidade da onda (por exemplo,
o comprimento de onda de uma onda electromagntica tanto maior quanto menor for
a frequncia; a intensidade da onda proporcional ao quadrado da amplitude; a direco
do campo E, do campo B e de propagao so perpendiculares entre si; etc.).
Ficha-Exemplo 17:
Os telemveis
Ncleo Gerador: Tecnologias de Informao e Comunicao (TIC)
Domnio de Referncia: Sociedade, Tecnologia e Cincia no contexto
privado (1)
Tema: Comunicaes Rdio (CR)
Sociedade
Tipo I Identificar diferentes prticas sociais relativamente ao computador em contextos
profissionais (por exemplo, maior ou menor intensidade de uso consoante as profisses).
Tipo II Relacionar os usos dos computadores com os perfis de literacia e os perfis sociais
da populao portuguesa (por exemplo: compreender as diferenas de utilizao entre pessoas
mais qualificadas e menos qualificadas ou por idades).
Tipo III Explorar mecanismos formais e informais de aquisio de competncias em TIC
como forma de insero ou reconverso profissional (por exemplo, auto-formao, apoio de
familiares e colegas de trabalho, aces de formao profissional em TIC, cursos ps--laborais,
ensino recorrente para adultos).
Tecnologia
Tipo I Identificar vrias aplicaes informticas e diferentes sistemas operativos (por exemplo,
nos sistemas operativos, Windows 2000, Windows XP, Linux e nas aplicaes informticas,
o Office, o Photoshop, o Winzip, etc.).
Tipo II Compreender as vantagens e desvantagens de vrios programas e sistemas operativos
para a realizao de determinadas funes (por exemplo, utilizar o Word para processamento
de texto e no o Notepad, reconhecer o Photoshop como ideal para tratamento de imagem e
fotografia, nomear o Adobe Acrobat como o formato de criao de documentos com elevada
portabilidade, etc.).
Tipo III Relacionar a produtividade informtica com a evoluo tecnolgica das aplicaes
e a crescente capacidade de clculo, memria e armazenamento em disco (por exemplo, a
gravao vdeo com qualidade, a manipulao de som digital, etc.).
Cincia
Tipo I Identificar com preciso caractersticas diferentes nos monitores dos computadores
(por exemplo, dimenso, peso, brilho, contraste, definio, ngulo de viso, consumo, etc.),
assim como o sistema de representao binrio.
Tipo II Compreender o princpio de funcionamento de um monitor CRT (tubo de raios catdicos)
e de um TFT-LCD (ecr plano cristais lquidos com transstores de filme fino) (por exemplo, que
o CRT um ecr de emisso e o TFT-LCD de transmisso, etc.) e a aritmtica binria.
Tipo III Relacionar o modo de funcionamento de um CRT com fenmenos de emisso termo-
-inica, acelerao e focagem de feixe de electres por campos elctricos e magnticos, fluorescncia
estimulada por feixe de electres, e o modo de funcionamento de um TFT-LCD com fenmenos
de polarizao de luz, alterao da polarizao de luz por cristais lquidos em campos elctricos,
fabricao de matrizes de transstores de filme fino que controlam a carga e descarga de cada
pixel, etc, e ser capaz de codificar num sistema binrio operaes lgico-aritmticas.
Ficha-Exemplo 18:
O computador
Ncleo Gerador: Tecnologias de Informao e Comunicao (TIC)
Domnio de Referncia: Sociedade, Tecnologia e Cincia no contexto
profissional (2)
Tema: Micro e Macroelectrnica (MM)
Anexo I
FICHAS-EXEMPLO DE CRITRIOS DE EVIDNCIA - REA SOCIEDADE, TECNOLOGIA E CINCIA
116
Sociedade
Tipo I Identificar os principais meios de comunicao de massas nas sociedades
contemporneas.
Tipo II Compreender como os mass media combinam, geralmente, uma cultura jornalstica
de objectivao e iseno com estratgias de cariz empresarial e/ou poltico.
Tipo III Explorar oportunidades de (e desigualdades na) participao proporcionada
pelos mass media, equacionando o seu papel na construo da opinio pblica e da
sociedade democrtica.
Tecnologia
Tipo I Identificar o papel do satlite nas comunicaes como receptor e emissor de
mensagens entre locais fora de linha de vista.
Tipo II Compreender a capacidade dos satlites na disseminao pelos mass media
de informao em grande escala, nomeando algumas das principais constelaes em
rbita.
Tipo III Explorar o significado da linguagem tcnica associada aos satlites de comunicao
(por exemplo, rbita geostacionria, declinao, polarizao vertical, horizontal ou circular,
transponder, LNB conversor de frequncias, footprint, etc.).
Cincia
Tipo I Identificar o papel do prime-time como um momento especfico de divulgao de
produtos publicitrios nos media, tendo em conta os diferentes pblicos-alvo.
Tipo II Compreender os factores que optimizam a produo de uma campanha publicitria
atravs dos media, tendo em conta, por exemplo, os princpios da anlise SWOT (pontos
fracos, pontos fortes, oportunidades e ameaas).
Tipo III Explorar modos de constrangimento e regulao da promoo publicitria de
determinados produtos pelos media, em funo de determinados problemas sociais ou
de sade ou pblicos-alvo (ex: tabagismo, obesidade, medicamentos, pblico infantil,
mulheres, entre outros).
Ficha-Exemplo 19:
Os mass media
Ncleo Gerador: Tecnologias de Informao e Comunicao (TIC)
Domnio de Referncia: Saberes, Poderes e Instituies na Sociedade,
Tecnologia e Cincia (3)
Tema: Media e Informao (MI)
Sociedade
Tipo I Identificar diferenas da internet relativamente a instrumentos anteriores de
comunicao, em particular, os meios de comunicao de massas.
Tipo II Relacionar a informao da Internet com estratgias diferenciadas de diversas
entidades e actores que a produzem.
Tipo III Explorar o efeito da Internet nas configuraes sociais enquanto processo
especifico de apropriao das tecnologias pelas populaes (por exemplo, articulao
entre redes tecnolgicas e redes sociais).
Tecnologia
Tipo I Identificar a crescente oferta de redes para a utilizao da Internet com ou sem
fios (por exemplo, ISP tradicional, cabo, ADSL, WiFI, etc.).
Tipo II Compreender as tecnologias de funcionamento de uma rede para Internet
(protocolos, velocidades, etc.).
Tipo III Explorar a instalao de uma rede WiFi num computador porttil e sua configurao
de acesso seguro (atravs dos modos WPA e WEP ou da atribuio de nmeros de MAC
das mquinas permitidas, por exemplo).
Cincia
Tipo I Identificar o bit (contraco das palavras dgitos binrios), o byte, o sistema
binrio.
Tipo II Compreender a converso do sistema binrio para o sistema decimal (por
exemplo, explicitando o significado de se usar uma ligao rede a 512K, 1M, 2M, etc.).
Tipo III Explorar a manipulao, transmisso e armazenamento de informao em
cdigo binrio (por exemplo, utilizando o cdigo ASCII para explicitar um nome, ou operando
uma adio em lgica de Boole).
Ficha-Exemplo 20:
A internet
Ncleo Gerador: Tecnologias de Informao e Comunicao (TIC)
Domnio de Referncia: Estabilidade e Mudana: da Sociedade ao Universo
(4)
Tema: Redes e Tecnologias (RT)
117
Anexo I
FICHAS-EXEMPLO DE CRITRIOS DE EVIDNCIA - REA SOCIEDADE, TECNOLOGIA E CINCIA
Unidade de Competncia 6: Identificar, compreender e intervir em questes de relao entre
habitao, meios de subsistncia, relacionamento social e mobilidade em ambiente rural ou urbano,
na perspectiva da contribuio para a harmonizao e melhoria da qualidade de vida.
Ficha-Exemplo
de Critrios de Evidncia
STC 21
Ficha-Exemplo
de Critrios de Evidncia
STC 22
Ficha-Exemplo
de Critrios de Evidncia
STC 23
Ficha-Exemplo
de Critrios de Evidncia
STC 24
DR1
DR2
DR3
DR4
Contexto
privado
Contexto
profissional
Contexto
institucional
Contexto
macro-estrutural
Associar conceitos de
construo e
arquitectura integrao
social e melhoria do
bem-estar individual
Promover a qualidade
de vida atravs da
harmonizao territorial
em modelos de
desenvolvimento rural
ou urbano
Mobilizar informao
sobre o papel das
diferentes instituies no
mbito da administrao,
segurana e territrio
Reconhecer diferentes
formas de mobilidade
territorial local e global
e sua evoluo
Construo e
Arquitectura
Ruralidade e
Urbanidade
Administrao,
Segurana e
Territrio
Mobilidades Locais
e Globais
As obras
A agricultura
O sistema rodovirio
As migraes
Ncleo Gerador: Urbanismo e Mobilidades (UM)
Domnio de
Referncia
Temas
Ficha-Exemplo
de Critrios de
Evidncia
Competncias Exemplo
Sugestes de Actividades
Anexo I
FICHAS-EXEMPLO DE CRITRIOS DE EVIDNCIA - REA SOCIEDADE, TECNOLOGIA E CINCIA
118
Sociedade
Tipo I Identificar diferentes espaos funcionais nos alojamentos das famlias portuguesas
em funo de tradies socioculturais (por exemplo, ptios interiores, alpendres, cozinhas,
zona social e zona privada, etc.).
Tipo II Compreender apropriaes diferenciadas dos espaos de um alojamento familiar e suas
necessidades de remodelao consoante o estilo de vida dos diferentes elementos da famlia
(por exemplo, transformar varandas em marquises para escritrios, espaos multifuncionais, etc.).
Tipo III Explorar modos de integrao de famlias deslocadas de determinado tipo de
alojamento para outros contextos sociais (por exemplo: modos de interveno social em
bairros de construo social alvo de processos de realojamento).
Tecnologia
Tipo I Identificar diferentes tecnologias utilizadas nos actuais materiais de construo (por
exemplo, tintas anti-fungos, isolamento por wallmate e roofmate, paredes e tectos falsos,
estruturas de vigas de ao, canalizao de PEX ou de ao inoxidvel, etc.).
Tipo II Compreender a introduo de novos materiais como meio para melhorar as condies
de habitabilidade e durabilidade das construes e de diminuio de custos (por exemplo, a
introduo do wallmate no isolamento das paredes permite menores amplitudes trmicas da
habitao e maior poupana nos custos de aquecimento e consequentemente ambientais, etc.).
Tipo III Explorar o desenvolvimento de novos materiais como resposta a recuperaes
inovadoras de edifcios antigos ou a construes de novos edifcios de arquitectura inovadora,
com respeito pelos crescentes critrios de segurana ssmica, de isolamento trmico e acstico,
ou de incluso de servios (climatizao central, aspirao central, cablagem estruturada, etc.).
Cincia
Tipo I Identificar o papel da esttica, soma de foras e de momentos de foras no projecto
de estruturas de uma habitao e a noo de vector como conceito fundamental.
Tipo II Compreender o modo de determinar as condies de equilbrio esttico em situaes
simples (por exemplo, de uma escada de comprimento, altura e inclinao conhecidas),
associando essas condies de equilbrio lgebra de vectores.
Tipo III Relacionar as propriedades do beto (compresso) e do ferro (extenso) com a
sua utilizao na fabricao dos elementos estruturais das construes de beto armado,
com nfase no seu papel s cargas e s vibraes. Estimar quantidades de material a usar,
em funo das reas e volumes envolvidos, bem como o tipo de material adequado a certas
especificidades, como a resistncia ao esforo, por exemplo.
Ficha-Exemplo 21:
As obras
Ncleo Gerador: Urbanismos e Mobilidades (UM)
Domnio de Referncia: Sociedade, Tecnologia e Cincia no contexto
privado (1)
Tema: Construo e Arquitectura (CA)
Sociedade
Tipo I Identificar profisses ou ocupaes profissionais relacionadas com a produo
agrcola.
Tipo II Compreender a evoluo recente das actividades econmicas e produtivas em
Portugal e relacion-las com a alterao de inseres profissionais e modos de vida das
populaes de certas regies (por exemplo: o Alentejo ou a Regio Oeste).
Tipo III Explorar novos modos de evoluo das actividades agrcolas como factor de
desenvolvimento regional (por exemplo: a agricultura biolgica ou culturas de produtos
tradicionais que entram nas quotas da Poltica Agrcola Comum da Unio Europeia).
Tecnologia
Tipo I Identificar produtos qumicos adequados a diversas intervenes (fertilizantes,
herbicidas, fungicidas), equipamentos agrcolas e respectivas aplicaes.
Tipo II Compreender a adopo de diferentes tcnicas agrcolas em funo de diferentes
culturas e ambientes, relacionando algumas prticas agrcolas com mecanismos de preveno
e reduo de danos por contaminao qumica ou biolgica (por exemplo, rotao de culturas
e cultivos mistos, anlise de solos, utilizao correcta dos prazos de tratamento relativamente
a colheitas, distncia segura em culturas transgnicas em relao a outras culturas, etc.).
Tipo III Explorar a produo de novas agriculturas, tais como agricultura biolgica, produtos
transgnicos e/ou geneticamente modificados, tendo em conta vantagens e inconvenientes.
Cincia
Tipo I Identificar etapas do ciclo do azoto (fixao de azoto pelas leguminosas, incorporao
pelas plantas, transferncia para os animais, etc.).
Tipo II Compreender a aco das bactrias das razes das leguminosas e dos solos nas
reaces de transformao dos compostos azotados.
Tipo III Explorar os mecanismos biolgicos de transformao de compostos azotados
relacionando-os com a utilizao de estrumes orgnicos e de fertilizantes inorgnicos (por
exemplo, degradao da ureia nas pastagens ou nos estrumes e formao de nitritos por
aco das bactrias dos solos, etc.).
Ficha-Exemplo 22:
A agricultura
Ncleo Gerador: Urbanismos e Mobilidades (UM)
Domnio de Referncia: Sociedade, Tecnologia e Cincia no contexto
profissional (2)
Tema: Ruralidade e Urbanidade (RU)
Anexo I
FICHAS-EXEMPLO DE CRITRIOS DE EVIDNCIA - REA SOCIEDADE, TECNOLOGIA E CINCIA
119
Sociedade
Tipo I Identificar diferentes instituies que regulam a rede rodoviria nacional (por
exemplo, Direco-Geral de Viao, Instituto das Estradas de Portugal, Brigada de Trnsito,
concessionrios de explorao das auto-estradas, etc.).
Tipo II Compreender como as diferentes instituies tm poderes, campos de actuao
e modos de regulao distintos (por exemplo, preveno rodoviria, construo e sinalizao
de estradas, formulao do cdigo de estrada, medidas de coao, etc.).
Tipo III Explorar a relao entre o desenvolvimento da rede rodoviria e a transformao
da densidade e aglomerao populacional dos territrios.
Tecnologia
Tipo I Identificar vrias tcnicas de vigilncia, sinalizao e segurana rodovirias de
base tecnolgica.
Tipo II Compreender o princpio de funcionamento de equipamento de apoio ao sistema
rodovirio (por exemplo, descrevendo o princpio de efeito Doppler utilizado nos radares
da polcia, a deteco de um automvel por um anel indutor no solo, o sistema de deteco
de lcool no sangue conhecido vulgarmente como o balo, etc.).
Tipo III Explorar a necessidade das instituies com poderes de coao procederem
regularmente calibrao do equipamento de medida com recurso a laboratrios de
metrologia creditados.
Cincia
Tipo I Identificar diferentes solues rodovirias para regulao de fluxos de trfego
recorrendo a grafos e a caminhos ao longo de grafos.
Tipo II Compreender a funo de diferentes solues rodovirias na gesto de fluxos,
modos de conduo, segurana, etc. (por exemplo uma rotunda, diminui a velocidade
automvel e regula a distribuio do trfego de uma forma participada) e compreender
que num grafo a escolha de caminhos no aleatria.
Tipo III Explorar as alteraes rodovirias com base em teoria de trfego para a facilitao
do fluxo de trfego em diferentes momentos do dia (por exemplo, a substituio de
cruzamentos por rotundas, a gesto dos tempos dos semforos, etc.). Decidir entre vrios
modelos de grafos quais os que apresentam fluxos optimais.
Ficha-Exemplo 23:
O sistema rodovirio
Ncleo Gerador: Urbanismos e Mobilidades (UM)
Domnio de Referncia: Saberes, Poderes e Instituies na Sociedade,
Tecnologia e Cincia (3)
Tema: Administrao, segurana e territrio (AST)
Sociedade
Tipo I Identificar fluxos migratrios importantes (de entrada e sada) verificados em
Portugal no sculo XX.
Tipo II Relacionar esses fluxos migratrios com estruturas de oportunidades (econmicas,
polticas e culturais) muito assimtricas entre regies e pases.
Tipo III Explorar caractersticas dos plos de atraco de populao (regies em
expanso) e dos plos de repulso (regies deprimidas).
Tecnologia
Tipo I Identificar os meios de transporte utilizados nas migraes ao longo dos tempos.
Tipo II Compreender as alteraes dos custos e tempos de transporte na estrutura das
migraes (locais de origem, perodos de retorno a casa, etc.).
Tipo III Explorar a relao entre a evoluo dos meios de transporte, as evolues
tecnolgicas e as configuraes das migraes efectuadas (por exemplo, as alteraes
nos casos das migraes sazonais entre pases).
Cincia
Tipo I Identificar espcies migratrias no reino animal.
Tipo II Relacionar essas migraes com dinmicas do ecossistema (climticas, recursos
alimentares, reproduo, etc.).
Tipo III Explorar formas de interveno humana que alterando o equilbrio do ecossistema
interferem nos processos migratrios.
Ficha-Exemplo 24:
As migraes
Ncleo Gerador: Urbanismos e Mobilidades (UM)
Domnio de Referncia: Estabilidade e Mudana: da Sociedade ao Universo
(4)
Tema: Mobilidades locais e globais (MLG)
120
Unidade de Competncia 7: Identificar, compreender e agir criticamente em questes relacionadas
com a viso cientfica do indivduo, da sociedade e do universo.
Ficha-Exemplo
de Critrios de Evidncia
STC 25
Ficha-Exemplo
de Critrios de Evidncia
STC 26
Ficha-Exemplo
de Critrios de Evidncia
STC 27
Ficha-Exemplo
de Critrios de Evidncia
STC 28
DR1
DR2
DR3
DR4
Contexto
privado
Contexto
profissional
Contexto
institucional
Contexto
macro-estrutural
Mobilizar o saber formal
para o reconhecimento
do elemento como uma
unidade estrutural e
organizativa
Recorrer a processos e
mtodos cientficos para
actuao em diferentes
domnios da vida social
Intervir racional e
criticamente em questes
pblicas com base em
conhecimentos cientficos
e tecnolgicos
Mobilizar o saber formal
na interpretao de leis e
modelos cientficos num
contexto de coexistncia
de estabilidade e
mudana
O Elemento
Processos e
Mtodos Cientficos
Cincia e
Controvrsias
Pblicas
Leis e Modelos
Cientficos
O indivduo e o DNA
Teoria e experincia
A co-incenerao
Universo: constituio e
interaco
Ncleo Gerador: Saberes Fundamentais (SF)
Domnio de
Referncia
Temas
Ficha-Exemplo
de Critrios de
Evidncia
Competncias Exemplo
Sugestes de Actividades
Anexo I
FICHAS-EXEMPLO DE CRITRIOS DE EVIDNCIA - REA SOCIEDADE, TECNOLOGIA E CINCIA
121
Sociedade
Tipo I Identificar a diversidade de caractersticas individuais dos elementos que compem
uma sociedade, a partir de variveis como o sexo, a idade, a etnia ou a escolaridade.
Tipo II Aplicar a contextos de diversidade sociocultural (por exemplo, constitudos por
pessoas de diferentes etnias) princpios de igualdade e tolerncia entre os indivduos com
diferentes caractersticas sociais, compreendendo o conceito de aco social.
Tipo III Explorar modos de integrao no colectivo de indivduos em situaes de excluso
social ou alvo de discriminao por serem portadores de caractersticas especficas (ex:
idosos, indivduos portadores de deficincia, ex-reclusos, toxicodependentes, etc.).
Tecnologia
Tipo I Identificar contextos de utilizao de anlises de DNA (por exemplo, em criminologia,
anlises de paternidade ou em doenas hereditrias).
Tipo II Compreender a anlise de DNA em termos de sequncia de constituintes bsicos,
como processo de identificao nica de seres humanos, realizada a partir de diferentes
suportes (cabelo, sangue, saliva, etc.).
Tipo III Explorar as potencialidades do conhecimento da sequenciao gentica na
determinao de paternidades, doenas hereditrias, etc.
Cincia
Tipo I Identificar o DNA como a chave do patrimnio gentico dos seres vivos em geral,
relacionando a variedade biolgica com aspectos da teoria combinatria.
Tipo II Relacionar os constituintes e a estrutura da molcula de DNA com a transferncia
da informao gentica e manuteno das caractersticas hereditrias (por exemplo, papel
das 4 bases azotadas como letras do cdigo a ser transcrito e traduzido); compreender
que com quatro bases se obtm um sistema de codificao e representao muito rico.
Tipo III Explorar o papel das mutaes genticas na gerao de diferenas e na evoluo
e adaptao do homem e utilizar a Teoria das Probabilidades para estabelecer a probabilidade
de um descendente possuir uma determinada caracterstica.
Ficha-Exemplo 25:
O indivduo e o DNA
Ncleo Gerador: Saberes Fundamentais (SF)
Domnio de Referncia: Sociedade, Tecnologia e Cincia no contexto
privado (1)
Tema: O Elemento (E)
Sociedade
Tipo I Identificar tcnicas ou procedimentos de recolha de informao em cincias sociais
(por exemplo, inquritos por questionrio, entrevistas individuais e de grupo, observao
directa e/ou participante, etc.).
Tipo II Compreender a opo por uma determinada tcnica ou processo de recolha de
informao em funo de objectivos e de um quadro terico pr-definido.
Tipo III Explorar modos de actuao em contextos profissionais vrios com base em
procedimentos cientficos como forma de melhorar a eficcia e a eficincia das organizaes
(por exemplo, enquadrar actuaes fundamentadas em modelos previamente testados).
Tecnologia
Tipo I Identificar o papel da experincia na utilizao de equipamentos tcnicos, e a
vantagem de haver uma maior compreenso dos processos em jogo para se conseguir
procedimentos mais eficientes.
Tipo II Interpretar resultados de experincias controladas na utilizao de equipamentos
face aos procedimentos tcnicos aconselhados.
Tipo III Explorar as relaes entre teoria e experimentao que esto na base do
desenvolvimento tecnolgico, considerando um caso concreto (por exemplo, aparelhagem
electrnica).
Cincia
Tipo I Identificar a teoria, a experincia e a modelao matemtica como componentes
do processo cientfico (por exemplo, a queda de corpos de diferentes massas mas com
volumes e reas semelhantes simultnea).
Tipo II Compreender o papel da experincia na motivao dos princpios tericos bem
como na sua verificao ou infirmao (por exemplo: experincia que verificou a produo
de ondas electromagnticas) e o papel dos modelos matemticos na antecipao de novos
factos.
Tipo III Explorar a utilizao da teoria e da experincia como competncias de base no
trabalho cientfico adequando-as permanentemente a novas situaes, sendo capaz de
modificar modelos de modo a acomodar novos dados experimentais.
Ficha-Exemplo 26:
Teoria e experincia
Ncleo Gerador: Saberes Fundamentais (SF)
Domnio de Referncia: Sociedade, Tecnologia e Cincia no contexto
profissional (2)
Tema: Processos e Mtodos Cientficos (PMC)
Anexo I
FICHAS-EXEMPLO DE CRITRIOS DE EVIDNCIA - REA SOCIEDADE, TECNOLOGIA E CINCIA
122
Sociedade
Tipo I Identificar a diversidade de actores e valores presentes na controvrsia pblica
em torno da co-incenerao.
Tipo II Reconhecer a presena crescente da cincia e dos cientistas nessa controvrsias,
bem como o uso recursivo do conhecimento cientfico por outros actores envolvidos.
Tipo III Explorar relaes diferenciadas com a cincia de actores e instituies vrias
de acordo com as suas posies ideolgicas e tradies culturais.
Tecnologia
Tipo I Identificar os processos tecnolgicos associados eliminao de resduos txicos
(por exemplo, exportao, co-incenerao, etc.).
Tipo II Compreender os prs e os contras das diferentes tecnologias num debate pblico.
Tipo III Explorar as limitaes tecnolgicas e os possveis desenvolvimentos na
implementao de solues mais convenientes.
Cincia
Tipo I Identificar argumentos de ndole cientfica que esto na base de diferentes pontos
de vista sobre a co-incenerao.
Tipo II Compreender que a argumentao cientfica utilizada no suficiente para
justificar os pontos de vista em jogo.
Tipo III Explorar a utilizao da cincia pelos poderes em geral, como argumento de
validao dos diferentes pontos de vista.
Ficha-Exemplo 27:
Co-incenerao
Ncleo Gerador: Saberes Fundamentais (SF)
Domnio de Referncia: Saberes, Poderes e Instituies na Sociedade,
Tecnologia e Cincia (3)
Tema: Cincia e Controvrsias Pblicas (CCP)
Sociedade
Tipo I Identificar diferentes modelos de sociedade e suas principais caractersticas.
Tipo II Relacionar as transies dos modelos de sociedade com processos tecnolgicos,
econmicos, culturais e polticos.
Tipo III Analisar a sociedade como uma rede de agentes, grupos e instituies em
permanente interaco.
Tecnologia
Tipo I Identificar diferentes estdios de evoluo tecnolgica na nossa capacidade de
entender o Universo.
Tipo II Compreender a relao entre evoluo tecnolgica na capacidade humana de
entender o Universo e a evoluo social (por exemplo, o papel da mquina a vapor na
revoluo industrial, a gua potvel e a sade).
Tipo III Discutir os possveis caminhos de desenvolvimento tecnolgico e possveis
consequncias no desenvolvimento social.
Cincia
Tipo I Reconhecer que o Universo no esttico e est em evoluo, mas que s a
invarincia de certos padres fsico-matemticos torna o universo compreensvel.
Tipo II Compreender as condies que permitiram a existncia de vida na Terra e a
sucesso das estaes do ano tendo em conta a dinmica do planeta na sua orbita.
Tipo III Discutir, no quadro da evoluo e a partir do facto de existir vida na Terra, a
possibilidade de existirem outros mundos habitados e a invarincia das leis matemticas
nesses mesmos mundos.
Ficha-Exemplo 28:
Universo: Constituio e Interaco
Ncleo Gerador: Saberes Fundamentais (SF)
Domnio de Referncia: Estabilidade e Mudana: da Sociedade ao Universo
(4)
Tema: Leis e Modelos Cientficos (LMC)
Anexo I
FICHAS-EXEMPLO DE CRITRIOS DE EVIDNCIA - REA SOCIEDADE, TECNOLOGIA E CINCIA
1. O sitema de crditos
1.1. A que equivale um crdito?
1.2. Em que condies um jur deve conferir um crdito?
1.3. Quantos crditos so necessrios para a certificao?
2. O uso das fichas-exemplo como material de apoio
2.1. Equivalncia funcional
2.2. Situaes de vida
2.3. Pistas para o trabalho
3. A que competncias-chave corresponde um perfil de nvel
secundrio?
Anexo II
FICHAS-EXEMPLO DE CRITRIOS DE EVIDNCIA
rea Cultura, Lngua, Comunicao
127
Anexo II
FICHAS-EXEMPLO DE CRITRIOS DE EVIDNCIA - REA CULTURA, LNGUA, COMUNICAO
Unidade de Competncia 1: Identificar e explorar as diversas funcionalidades dos equipamentos
e sistemas tcnicos, mobilizando competncias lingusticas e culturais, com vista ao seu mximo
aproveitamento e obteno de desempenhos mais eficazes e participativos.
Ficha-Exemplo
de Critrios de Evidncia
CLC 1
Ficha-Exemplo
de Critrios de Evidncia
CLC 2
Ficha-Exemplo
de Critrios de Evidncia
CLC 3
Ficha-Exemplo
de Critrios de Evidncia
CLC 4
DR1
DR2
DR3
DR4
Contexto
privado
Contexto
profissional
Contexto
institucional
Contexto
macro-estrutural
Lidar com equipamentos
e sistemas tcnicos em
contexto privado
acedendo multiplicidade
de funes que
comportam e
reconhecendo a sua
dimenso criativa
Agir perante equipamen-
tos e sistemas tcnicos
em contexto profissional
conjugando saberes
especializados e
rentabilizando os seus
variados recursos no
estabelecimento e desen-
volvimento de contactos
Utilizar conhecimentos
sobre equipamentos e
sistemas tcnicos para
facilitar a integrao, a
comunicao e a
interveno em contextos
institucionais
Relacionar
transformaes e
evolues tcnicas com
novas formas de acesso
informao, cultura e
ao conhecimento
proporcionado tambm
pelos novos suportes
tecnolgicos de
comunicao
Equipamentos
Domsticos
Equipamentos
Profissionais
Utilizadores,
Consumidores e
Reclamaes
Transformaes e
Evolues Tcnicas
Os electrodomsticos
Os motores
A assistncia tcnica
A fotografia
Ncleo Gerador: Equipamentos e Sistemas Tcnicos (EST)
Domnio de
Referncia
Temas
Ficha-Exemplo
de Critrios de
Evidncia
Competncias Exemplo
Sugestes de Actividades
Anexo II
FICHAS-EXEMPLO DE CRITRIOS DE EVIDNCIA - REA CULTURA, LNGUA, COMUNICAO
128
Cultura
Tipo I Identificar no conjunto variado de electrodomsticos disponveis em contexto
privado, os equipamentos que so igualmente mobilizados na produo de bens culturais
e artsticos (por exemplo, cmaras de vdeo).
Tipo II Compreender que os diversos equipamentos tcnicos e tambm o seu eventual
uso combinado esto relacionados com expresses culturais e artsticas dotadas de
diferentes nveis de complexidade.
Tipo III Explorar o desenvolvimento de interesses e disposies criativas no mbito de
iniciativas de sensibilizao para as artes e cultura, como o caso, designadamente, das
actividades desenvolvidas pelos servios educativos de entidades culturais e artsticas
(museus, centros de arte, cine-teatros, entre outras).
Lngua
Tipo I Identificar as unidades de significao necessrias compreenso de textos,
do domnio privado, relacionados com a resoluo de problemas da vida pessoal, em
particular no manuseamento de electrodomsticos.
Tipo II Compreender os sentidos dos textos, tendo em ateno as realizaes lingusticas
usadas para exprimir instrues, incluindo uso de desenhos e diagramas.
Tipo III Intervir, interagindo oralmente e por escrito, com a finalidade de resolver problemas
relativos montagem e uso de equipamentos domsticos.
Comunicao
Tipo I Identificar com preciso as caractersticas dos equipamentos de comunicao
para uso domstico.
Tipo II - Compreender e fazer a anlise de informao em suportes diversos, relacionada
com as vantagens da aquisio e uso de diferentes equipamentos domsticos na rea
da comunicao.
Tipo III Interagir, utilizando informao adequada aos efeitos pretendidos, em matria
de equipamentos de uso domstico.
Ficha-Exemplo 1:
Os electrodomsticos
Ncleo Gerador: Equipamentos e Sistemas Tcnicos (EST)
Domnio de Referncia: Cultura, Lngua, Comunicao no contexto privado
(1)
Tema: Equipamentos Domsticos (ED)
Cultura
Tipo I Identificar o conjunto de equipamentos tcnicos que integram a mecnica de cena
em salas de espectculos.
Tipo II Compreender as funcionalidades especficas dos diversos tipos de motores
relacionando-as com diferentes possibilidades de concepo de cenrios.
Tipo III Relacionar a mecnica de cena com as outras dimenses do funcionamento
das salas de espectculos, designadamente iluminao e sonorizao cnicas.
Lngua
Tipo I- Identificar contedos relacionados com o tema, a partir de indcios vrios, realizando
operaes de pr-leitura/ escuta/ visionamento.
Tipo II - Compreender os sentidos dos textos (orais e escritos), reconhecendo a eficcia
dos meios lingusticos utilizados na expresso de instrues, para a montagem e uso de
equipamentos, em contexto profissional.
Tipo III - Interagir relacionando, a partir do tema, textos informativos com textos expressivos
e criativos, reflectindo sobre o funcionamento da lngua no tipo de textos referidos,
designadamente a significao lexical.
Comunicao
Tipo I - Identificar os contedos, em suporte virtual, necessrios obteno de informao
sobre assuntos de estudo (ou de interesse) relacionados com o tema.
Tipo II Compreender a informao recolhida em vrios suportes/meios de comunicao,
organizando-a para estudo de temas/ assuntos da actualidade, de interesse individual
ou colectivo, para posterior utilizao da mesma.
Tipo III Interagir, utilizando correctamente a informao de vrios suportes e utilizando
vrios suportes/meios, com vista aquisio e/ou uso de equipamentos tcnicos, em
contexto profissional.
Ficha-Exemplo 2:
Os motores
Ncleo Gerador: Equipamentos e Sistemas Tcnicos (EST)
Domnio de Referncia: Cultura, Lngua, Comunicao no contexto profissional
(2)
Tema: Equipamentos Profissionais (EP)
Anexo II
FICHAS-EXEMPLO DE CRITRIOS DE EVIDNCIA - REA CULTURA, LNGUA, COMUNICAO
129
Cultura
Tipo I Identificar diversas modalidades de assistncia tcnica e seus agentes, em
contextos/consumos culturais.
Tipo II Dominar formas de assistncia tcnica disponibilizada pelos prprios equipamentos
e sistemas tcnicos, explorando, designadamente, a interactividade em contextos de
prticas culturais.
Tipo III Compreender a diversidade de formas de assistncia tcnica tendo em conta
os contextos institucionais do campo cultural.
Lngua
Tipo I Identificar informao relacionada com o tema em textos/ documentos utilizando
mltiplos indcios: plano, paginao, ttulos, conectores, pargrafos, esquemas, quadros,
imagens fixas ou animadas e mapas.
Tipo II Compreender e analisar as formas de tratamento, registos de lngua, registo
formal e informal, oral e escrito, de acordo com o posicionamento do sujeito face ao outro
na situao de comunicao (compra, reclamao).
Tipo III Interagir oralmente e por escrito em situaes, por exemplo, de reclamao,
aplicando correctamente as regras do funcionamento da lngua, destacando ideias,
eliminando ambiguidades e modalizando o discurso caso a comunicao estabelecida o
exija.
Comunicao
Tipo I Identificar o tipo (ou tipos) de equipamento de comunicao aconselhvel para
diferentes interaces, tendo em conta as caractersticas e funes dos equipamentos.
Tipo II Compreender os procedimentos da adequao dos meios aos fins em vista,
nomeadamente, na comunicao com entidades pblicas ou privadas.
Tipo III- Interagir, com recurso a vrios suportes/meios de comunicao, tendo conscincia
das convenes sociais, dos comportamentos rituais singulares ou colectivos da comunidade
a que pertence e da adequao do discurso situao comunicativa.
Ficha-Exemplo 3:
A assistncia tcnica
Ncleo Gerador: Equipamentos e Sistemas Tcnicos (EST)
Domnio de Referncia: Saberes, Poderes e Instituies em Cultura, Lngua,
Comunicao (3)
Tema: Utilizadores, Consumidores e Reclamaes (UCR)
Cultura
Tipo I Identificar os principais momentos na evoluo da tcnica fotogrfica.
Tipo II Distinguir a diversidade de usos da fotografia, no que se refere a contextos e
finalidades (artsticas ou no). Compreender o lugar da fotografia em projectos artsticos
multidisciplinares.
Tipo III Explorar o acesso a obras de arte por via da reproduo fotogrfica e contrapor
tal experincia com a do contacto directo com as mesmas obras (atravs da visita a
museus).
Lngua
Tipo I Identificar, em textos/ documentos (sumrio, captulos, ttulos, cones, ligaes
de hipertexto,...) informao sobre a evoluo dos equipamentos.
Tipo II - Compreender e organizar a informao recolhida em resumos, esquemas e
mapas semnticos de textos de vrias pocas, com vista sua posterior utilizao.
Tipo III - Interagir oralmente e por escrito, evidenciando uma opinio sobre o papel e as
consequncias das transformaes e evolues tcnicas na formao pessoal e social
do indivduo e nas transformaes lingusticas e culturais.
Comunicao
Tipo I - Identificar a intencionalidade comunicativa de informao relacionada com o tema,
veiculada atravs de diversos tipos de meios de comunicao.
Tipo II - Compreender os diferentes cdigos utilizados pelos diferentes media na valorizao
e promoo de diferentes equipamentos e sistemas tcnicos da rea da comunicao.
Tipo III - Interagir, debatendo as mudanas operadas nos diversos meios de comunicao
social e as consequncias da derivadas na circulao da informao.
Ficha-Exemplo 4:
A fotografia
Ncleo Gerador: Equipamentos e Sistemas Tcnicos (EST)
Domnio de Referncia: Estabilidade e Mudana: da Sociedade ao Universo
(4)
Tema: Transformaes e Evolues Tcnicas (TET)
130
Unidade de Competncia 2: Intervir em questes relacionadas com ambiente e sustentabilidade,
descodificando smbolos, produzindo indicaes claras a favor de prticas de defesa dos recursos
naturais e argumentando em debate, tendo em conta o papel dos mass media na opinio pblica.
Ficha-Exemplo
de Critrios de Evidncia
CLC 5
Ficha-Exemplo
de Critrios de Evidncia
CLC 6
Ficha-Exemplo
de Critrios de Evidncia
CLC 7
Ficha-Exemplo
de Critrios de Evidncia
CLC 8
DR1
DR2
DR3
DR4
Contexto
privado
Contexto
profissional
Contexto
institucional
Contexto
macro-estrutural
Regular consumos
energticos aplicando
conhecimentos tcnicos
e competncias
interpretativas
Agir de acordo com as
percepes das
implicaes de processos
de reciclagem em
contexto profissional,
reconhecendo a
mais-valia da sua
utilizao, recorrendo
comunicao de
mensagens eficazes
Agir perante os recursos
naturais, reconhecendo
a importncia da sua
salvaguarda e
participando em
actividades visando a sua
proteco
Agir de acordo com a
compreenso dos
diversos impactos das
alteraes climticas nas
actividades humanas
Consumo e
Eficincia
Energtica
Resduos e
Reciclagens
Recursos Naturais
Clima
Os gastos energticos
Os materiais usados
Recursos Naturais
A paisagem
Ncleo Gerador: Ambiente e Sustentabilidade (AS)
Domnio de
Referncia
Temas
Ficha-Exemplo
de Critrios de
Evidncia
Competncias Exemplo
Sugestes de Actividades
Anexo II
FICHAS-EXEMPLO DE CRITRIOS DE EVIDNCIA - REA CULTURA, LNGUA, COMUNICAO
131
Cultura
Tipo I Identificar os gastos energticos relacionados com equipamentos variados
(televiso, leitor de CDs, videogravador, computador, entre outros) accionados em
consumos culturais.
Tipo II Comparar e discutir situaes e opes diversas em termos de consumos culturais
e respectivos dispndios energticos.
Tipo III Relacionar gastos energticos, prticas culturais e estilos de vida.
Lngua
Tipo I - Identificar actos ilocutrios que permitam a sensibilizao, em contexto privado,
da conteno dos gastos energticos, (como por exemplo, com a utilizao de energias
e de electrodomsticos).
Tipo II Compreender, atravs da leitura, escuta e visionamento de informao, smbolos
e outros elementos significantes que conduzam reduo de consumos, em contexto
privado.
Tipo III - Intervir, usando marcas lingusticas da argumentao, no sentido de convencer
outros elementos a prticas de economia energtica.
Comunicao
Tipo I Identificar intenes comunicativas associadas necessidade da transmisso
de informao sobre os consumos energticos eficientes.
Tipo II Compreender a importncia e os modos de transmisso de informao deste
gnero, atravs dos meios tecnolgicos disponveis.
Tipo III Interagir, com adequao lingustica a vrios tipos de receptores, para a criao
de boas prticas no quotidiano, em termos de poupana energtica.
Ficha-Exemplo 5:
Os gastos energticos
Ncleo Gerador: Ambiente e Sustentabilidade (AS)
Domnio de Referncia: Cultura, Lngua, Comunicao no contexto privado
(1)
Tema: Consumo e Eficincia Energtica (CEE)
Cultura
Tipo I Identificar diversos processos de reciclagem usados por artistas, designers,
tcnicos educacionais, entre outros.
Tipo II Saber adequar o uso de materiais usados s diferentes linguagens artsticas e
aos resultados pretendidos.
Tipo III Explorar as preocupaes sociais e polticas que podero estar associadas, em
alguns universos e movimentos artsticos, integrao de materiais usados na produo
de obras de arte.
Lngua
Tipo I Identificar formas verbais, como por exemplo as de planificar, respeitar, separar
(os lixos) e reciclar.
Tipo II Interpretar leituras longas sobre prticas de reciclagem de materiais.
Tipo III Interagir profissionalmente, usando campos semnticos da rea dos resduos
e reciclagens, motivando outros elementos a actuarem de forma adequada preservao
do meio.
Comunicao
Tipo I Identificar a entoao, as pausas, a organizao lgica das ideias em mensagens
emitidas na publicidade institucional, sobre prticas de reciclagem.
Tipo II Compreender a importncia do discurso individual oral, em contexto profissional,
(como por exemplo em reunies de associaes e sindicatos) para o desenvolvimento
sustentvel global.
Tipo III Relacionar a responsabilidade ambiental das empresas com as suas prticas
dirias, a nvel da preservao do ambiente com a influncia das campanhas de publicidade.
Ficha-Exemplo 6:
Os materiais usados
Ncleo Gerador: Ambiente e Sustentabilidade (AS)
Domnio de Referncia: Cultura, Lngua, Comunicao no contexto profissional
(2)
Tema: Resduos e Reciclagens (RR)
Anexo II
FICHAS-EXEMPLO DE CRITRIOS DE EVIDNCIA - REA CULTURA, LNGUA, COMUNICAO
132
Cultura
Tipo I Identificar formas diferenciadas de patrimnio natural.
Tipo II Compreender o lugar dotado de menor ou maior centralidade do patrimnio
natural em projectos urbansticos, arquitectnicos, tursticos, entre outros.
Tipo III Explorar a importncia da preservao do patrimnio natural para o desenvolvimento
continuado de prticas culturais e para a afirmao da identidade sociocultural das
localidades.
Lngua
Tipo I Identificar marcas num texto explicativo em que se fundamente e reforce uma
ideia a favor ou contrria a uma interveno no plano ambiental, (como por exemplo, ttulo
e subttulo, sublinhados, fotografias, vocabulrio adequado, etc.).
Tipo II Compreender o uso das formas de tratamento a nvel das instituies para uma
correcta interveno no mbito do oral e do escrito (como, por exemplo, um processo de
interveno e debate pblico sobre a construo de uma barragem ou uma incineradora).
Tipo III Interagir individual ou juntamente com outros elementos, enviando cartas de
agradecimento ou de protesto para diferentes instituies sobre assuntos relacionados
com a interveno em recursos naturais.
Comunicao
Tipo I Identificar direitos individuais e colectivos a partir da leitura de partes da constituio
portuguesa que se prendam com a preservao do patrimnio natural.
Tipo II Compreender diversas tipologias de textos de interveno, visando a proteco
dos recursos naturais, face a outros indivduos ou instituies sociais.
Tipo III Interagir com a produo de textos, em jornais locais ou regionais, motivando
a preservao de espaos naturais que potenciem postos de trabalho que favoream uma
distribuio humana mais equilibrada no territrio nacional.
Ficha-Exemplo 7:
O patrimnio natural
Ncleo Gerador: Ambiente e Sustentabilidade (AS)
Domnio de Referncia: Saberes, Poderes e Instituies em Cultura, Lngua,
Comunicao (3)
Tema: Recursos Naturais (RN)
Cultura
Tipo I Identificar tipos diferentes de paisagens, bem como os elementos que nelas
remetem para, designadamente, rea urbana, espao rural, concentrao populacional,
desertificao, alteraes climticas.
Tipo II Compreender a evoluo da paisagem de um lugar um bairro, uma praa
tendo em conta mudanas urbansticas e ambientais, entre outras, recorrendo, por exemplo,
a materiais da memria iconogrfica desse lugar.
Tipo III Explorar o modo como a paisagem foi apresentada pelas artes visuais em
diferentes momentos da sua histria, relacionando mudanas ao nvel da expresso
artstica com transformaes e contributos de outras esferas de conhecimento da realidade
(como a cincia).
Lngua
Tipo I Identificar recursos lingusticos que permitam a expresso de opinies e de
reflexo crtica, defendendo a sua posio face a qualquer interveno em recursos
naturais.
Tipo II Interpretar a evoluo semntica do conceito de paisagem, de forma diacrnica,
atravs de textos literrios.
Tipo III - Interagir, produzindo textos descritivos e narrativos, que privilegiem as alteraes
climticas e a qualidade de vida.
Comunicao
Tipo I Identificar, atravs da descodificao textual, os efeitos na opinio dos cidados,
dos programas de informao e debate pblico emitidos pelos mass media, sobre as
alteraes climticas.
Tipo II Compreender, interpretando as intenes comunicativas de programas radiofnicos,
televisivos, jornalsticos e outros.
Tipo III Interagir por meio de vrios suportes tecnolgicos, produzindo textos informativos,
orais e/ou por escrito, sobre as alteraes climticas a nvel mundial.
Ficha-Exemplo 8:
A paisagem
Ncleo Gerador: Equipamentos e Sistemas Tcnicos (EST)
Domnio de Referncia: Estabilidade e Mudana: da Sociedade ao Universo
(4)
Tema: Clima (C)
133
Anexo II
FICHAS-EXEMPLO DE CRITRIOS DE EVIDNCIA - REA CULTURA, LNGUA, COMUNICAO
Unidade de Competncia 3: Intervir em situaes relacionadas com a sade, aplicando capacidades
de expresso, descodificao e comunicao no desenvolvimento de uma cultura de preveno,
no cumprimento de regras e meios de segurana e sendo receptivo diversidade de teraputicas
na resoluo de patologias.
Ficha-Exemplo
de Critrios de Evidncia
CLC 9
Ficha-Exemplo
de Critrios de Evidncia
CLC 10
Ficha-Exemplo
de Critrios de Evidncia
CLC 11
Ficha-Exemplo
de Critrios de Evidncia
CLC 12
DR1
DR2
DR3
DR4
Contexto
privado
Contexto
profissional
Contexto
institucional
Contexto
macro-estrutural
Interpretar e comunicar
contedos com
objectivos de preveno
na adopo de cuidados
bsicos de sade, em
contexto domstico
Intervir em contexto
profissional
apreendendo e
comunicando regras e
meios de segurana e
desenvolvendo uma
cultura de preveno
Relacionar a
multiplicidade de
teraputicas com a
diversidade cultural,
respeitando opes
diferenciadas
Mobilizar saberes
culturais, lingusticos e
comunicacionais para
lidar com patologias e
cuidados preventivos
relacionados com o
envelhecimento e o
aumento da esperana
de vida
Cuidados Bsicos
Riscos e
Comportamentos
Saudveis
Medicinas e
Medicao
Patologias e
Preveno
O lazer
Preveno e segurana
As teraputicas
Patologias e Preveno
Ncleo Gerador: Sade (S)
Domnio de
Referncia
Temas
Ficha-Exemplo
de Critrios de
Evidncia
Competncias Exemplo
Sugestes de Actividades
Anexo II
FICHAS-EXEMPLO DE CRITRIOS DE EVIDNCIA - REA CULTURA, LNGUA, COMUNICAO
134
Cultura
Tipo I Identificar diferentes modalidades de actividades de lazer (sociabilidades, sadas
informativas, prticas amadoras).
Tipo II Relacionar actividades de lazer e caractersticas dos indivduos que as praticam,
tais como idade, sexo, ocupao profissional, origem social.
Tipo III Abordar a temtica dos estilos de vida analisando os modos como em diversos
grupos sociais o lazer se articula (ou no) com outras dimenses dos cuidados de sade
exerccio fsico e alimentao.
Lngua
Tipo I Identificar possibilidades de ocupao dos tempos livres, atravs da seleco e
organizao de informao sobre actividades de lazer.
Tipo II Compreender, atravs de textos de natureza diversa, a riqueza formativa de um
leque de equipamentos e de actividades de lazer, adjectivando-os e comparando-os.
Tipo III Interagir, oralmente e por escrito, de forma adequada e correcta, com vista
prtica de actividades de lazer, desenvolvendo estratgias argumentativas.
Comunicao
Tipo I Identificar informao, em vrios meios de comunicao, relacionada com
actividades de lazer.
Tipo II Compreender as intenes dos interlocutores em diferentes situaes e meios
de comunicao,
Tipo III Interagir, adoptando as formas de actuao adequadas situao comunicativa
e aos efeitos pretendidos, em funo dos meios de comunicao e suportes utilizados.
Ficha-Exemplo 9:
O lazer
Ncleo Gerador: Sade (S)
Domnio de Referncia: Cultura, Lngua, Comunicao no contexto privado
(1)
Tema: Cuidados Bsicos (CB)
Cultura
Tipo I Identificar no sector cultural grupos profissionais que possam requerer particular
ateno s questes das condies de trabalho, dos mecanismos de certificao profissional
e de segurana social (bailarinos e actores, por exemplo).
Tipo II Compreender a pertinncia da existncia de regimes de segurana social
especficos para determinadas profisses (por exemplo, o regime que prev para os
bailarinos a antecipao da idade de reforma, tendo em conta tratar-se de uma profisso
de desgaste fsico rpido).
Tipo III Analisar o estado destas questes em diferentes pases europeus.
Lngua
Tipo I Identificar, em textos orais e escritos, mensagens exemplificativas de prticas de
preveno e/ou regras de segurana, no mbito profissional.
Tipo II Compreender mensagens, orais e escritas, incluindo as do texto publicitrio,
relacionadas com a temtica da preveno no mbito profissional.
Tipo III Interagir, de modo a evitar situaes de incumprimento de normas de segurana,
prevenindo situaes danosas da integridade fsica e mental, individual e colectiva, no
contexto das prticas profissionais.
Comunicao
Tipo I Identificar mensagens, em suportes diversos, relacionadas com a preveno e
segurana nos contextos profissionais.
Tipo II Compreender a eficcia de mensagens, transmitidas em vrios suportes, sobre
segurana no mbito profissional.
Tipo III Agir, atravs de mensagens em vrios suportes e em funo dos interlocutores,
com vista observncia das regras de segurana na execuo das tarefas profissionais.
Ficha-Exemplo 10:
Preveno e segurana
Ncleo Gerador: Sade (S)
Domnio de Referncia: Cultura, Lngua, Comunicao no contexto profissional
(2)
Tema: Riscos e Comportamentos Saudveis (RCS)
Anexo II
FICHAS-EXEMPLO DE CRITRIOS DE EVIDNCIA - REA CULTURA, LNGUA, COMUNICAO
135
Cultura
Tipo I Identificar diferentes tipos de prticas teraputicas, tendo em conta variveis como
a origem cultural.
Tipo II Compreender os traos distintivos das teraputicas das medicinas modernas e
das medicinas tradicionais (tambm designadas naturais).
Tipo III Explorar os motivos do alargamento da procura de prticas teraputicas
alternativas nas sociedades ocidentais.
Lngua
Tipo I Identificar, em textos orais e escritos, referncias a teraputicas diversas.
Tipo II Compreender diversos tipos de textos, incluindo os do cnone literrio, com a
temtica das teraputicas como fio condutor do entramado discursivo.
Tipo III Produzir enunciados diversos, orais e escritos, destinados a provocar os efeitos
retricos pretendidos, no mbito da prescrio e/ou prtica de actividades de natureza
teraputica.
Comunicao
Tipo I Identificar diferentes interaces, incluindo com empresas e instituies, relacionadas
com diferentes teraputicas.
Tipo II Compreender mensagens em diversos suportes, relacionadas com actividades
de natureza teraputica e a sua eficcia.
Tipo III Interagir, com diversos interlocutores individuais e/ou colectivos, com vista
produo de materiais de divulgao (em vrios suportes), relacionados com vrias
teraputicas.
Ficha-Exemplo 11:
As teraputicas
Ncleo Gerador: Sade (S)
Domnio de Referncia: Saberes, Poderes e Instituies em Cultura, Lngua,
Comunicao (3)
Tema: Medicinas e Medicao (MM)
Cultura
Tipo I Identificar situaes diferenciadas de envelhecimento, tendo em conta dimenses
como a autonomia, acesso a servios de qualidade, oportunidades de participao na
vida social, entre outros.
Tipo II Compreender a importncia dos cuidados de preveno no processo de
envelhecimento.
Tipo III Analisar de que modo o aumento da esperana de vida nas sociedades
contemporneas veio introduzir novas expectativas, valores e maneiras de experienciar
as diversas fases do ciclo de vida.
Lngua
Tipo I Identificar, em textos orais e escritos, marcas lingusticas do campo semntico
do envelhecimento.
Tipo II Compreender diversos tipos de textos, incluindo os do cnone literrio, tendo o
envelhecimento como tema.
Tipo III Produzir textos de diversa natureza e com diferentes finalidades, relacionados
com o tema do envelhecimento.
Comunicao
Tipo I Identificar intenes comunicativas relacionadas com o tema do envelhecimento,
em diversos suportes de comunicao, nomeadamente, os tecnolgicos como a internet
ou as linhas de apoio especializado.
Tipo II Compreender mensagens, em diversos suportes, sobre as problemticas do
envelhecimento.
Tipo III Interagir, com recurso a diferentes materiais e suportes, incluindo os dos media,
com vista a mudanas de atitude face ao envelhecimento e aos idosos nos comportamentos
individuais e colectivos.
Ficha-Exemplo 12:
O envelhecimento
Ncleo Gerador: Sade (S)
Domnio de Referncia: Estabilidade e Mudana: da Sociedade ao Universo
(4)
Tema: Patologias e Preveno (PP)
136
Unidade de Competncia 4: Intervir em situaes relacionadas com a gesto e a economia
descodificando terminologias, sabendo exprimir-se sobre diversos temas financeiros e aplicando
em diversos contextos competncias culturais e procedimentos que contribuam para agilizar a
organizao do trabalho e a gesto do tempo.
Ficha-Exemplo
de Critrios de Evidncia
CLC 13
Ficha-Exemplo
de Critrios de Evidncia
CLC 14
Ficha-Exemplo
de Critrios de Evidncia
CLC 15
Ficha-Exemplo
de Critrios de Evidncia
CLC 16
DR1
DR2
DR3
DR4
Contexto
privado
Contexto
profissional
Contexto
institucional
Contexto
macro-estrutural
Definir oramentos
familiares e preencher
formulrios de impostos
dominando terminologias
e aplicando tecnologias
que facilitam clculos,
preenchimentos e envios
Saber adequar-se a
modelos de organizao
e gesto que valorizam o
trabalho em equipa em
articulao com outros
saberes especializados
Agir de acordo com a
compreenso do
funcionamento dos
sistemas monetrios e
financeiros (como
elemento de configurao
cultural e comunicacional
das sociedades actuais)
Identificar os impactos de
evolues tcnicas na
gesto do tempo
reconhecendo ainda os
seus efeitos nos modos
de processar e transmitir
informao
Oramentos e
Impostos
Empresas,
Organizaes e
Modelos de Gesto
Sistemas
Monetrios e
Financeiros
Usos e Gesto do
Tempo
O oramento familiar
Os projectos em equipa
A moeda
O tempo
Ncleo Gerador: Gesto e Economia (GE)
Domnio de
Referncia
Temas
Ficha-Exemplo
de Critrios de
Evidncia
Competncias Exemplo
Sugestes de Actividades
Anexo II
FICHAS-EXEMPLO DE CRITRIOS DE EVIDNCIA - REA CULTURA, LNGUA, COMUNICAO
137
Cultura
Tipo I Identificar nos oramentos familiares rubricas que remetem para actividades de
lazer e consumos culturais.
Tipo II Compreender a relao entre os diversos interesses culturais dos elementos que
compem os agregados familiares, a realizao de despesas de carcter mais momentneo
ou continuado e os efeitos pretendidos (a curto, mdio e longo prazo).
Tipo III Relacionar consumos culturais e modos de acesso, procurando rentabilizar a
oferta cultural de acesso livre (ou disponibilizada a preos reduzidos, como maioritariamente
acontece nas iniciativas culturais municipais), articulando-a com os consumos culturais
pagos.
Lngua
Tipo I Identificar campos semnticos e lexicais relacionados com oramentos e impostos,
identificando os elementos lexicais e gramaticais que constam de textos tcnicos sobre
despesas, receitas e saldos nos oramentos familiares.
Tipo II Compreender e produzir enunciados relacionados com os impostos e oramentos,
seleccionando o vocabulrio claro e adequado para manifestao da sua vontade ou
opinio, compreendendo tambm os textos de carcter expressivo, criativo e autobiogrfico
que falam da mesma temtica.
Tipo III Interagir oralmente e por escrito, procurando a informao necessria sobre
oramentos e impostos, seleccionando os recursos gramaticais da lngua que tero o
efeito desejado numa argumentao oral e/ou escrita.
Comunicao
Tipo I Identificar, em suporte virtual, a informao necessria para o preenchimento de
declaraes de impostos ou elaborao de oramentos privados.
Tipo II Compreender a informao recolhida atravs das novas tecnologias de informao
e comunicao para o preenchimento da declarao de impostos ou para a elaborao
de oramentos familiares.
Tipo III Actuar atravs das novas tecnologias de informao e comunicao comparando,
seleccionando e aplicando a informao sobre impostos ou elaborao de oramentos
que melhor se adequam ao agregado familiar.
Ficha-Exemplo 13
O oramento familiar
Ncleo Gerador: Gesto e Economia (GE)
Domnio de Referncia: Cultura, Lngua, Comunicao no contexto privado
(1)
Tema: Oramentos e Impostos (OI)
Cultura
Tipo I Identificar diferentes tipos de organograma, fazendo um levantamento de
departamentos funcionais.
Tipo II Relacionar diferentes organogramas com diferentes modelos de gesto praticados
pelas instituies a que se referem.
Tipo III Explorar as funes que os organogramas podem cobrir, colocando hipteses
acerca do perfil das instituies (rea de interveno, dimenso das equipas, etc.)
Lngua
Tipo I Identificar diferentes tipos de texto a que se pode recorrer para a comunicao
organizacional.
Tipo I Compreender as diferenas de registo nos diferentes textos de comunicao
organizacional, desfazendo mal-entendidos, especificando e reflectindo sobre os marcadores
lingusticos de relaes sociais.
Tipo III Actuar, produzindo diferentes tipos de texto como cartas, circulares, memorandos.
Comunicao
Tipo I Identificar, atravs das tecnologias de informao e comunicao, os diversos
tipos de suporte para o estabelecimento de comunicao organizacional .
Tipo I Compreender as convenes ortogrficas e o tipo de linguagem que usado
no estabelecimento de comunicao organizacional.
Tipo III Actuar adequadamente, usando, de acordo com as caractersticas dos contextos
profissionais, as tecnologias de informao e comunicao no estabelecimento de
comunicao organizacional.
Ficha-Exemplo 14
Os organogramas
Ncleo Gerador: Gesto e Economia (GE)
Domnio de Referncia: Cultura, Lngua, Comunicao no contexto profissional
(2)
Tema: Empresas, Organizaes e Modelos de Gesto (EOMG)
Anexo II
FICHAS-EXEMPLO DE CRITRIOS DE EVIDNCIA - REA CULTURA, LNGUA, COMUNICAO
138
Cultura
Tipo I Identificar no funcionamento de diferentes artes a sua dimenso econmica, ou
seja, aquela que equipara os bens culturais e artsticos a mercadorias.
Tipo II Compreender as motivaes econmicas do investimento em arte e cultura.
Tipo III Explorar de que modo a produo e a circulao dos bens culturais e artsticos
podem ser afectadas pelas dinmicas dos sistemas monetrios e financeiros.
Lngua
Tipo I identificar as concepes da lngua portuguesa de acordo com os contextos e
interesses (lngua portuguesa, lngua estrangeira, lngua segunda, lngua no portuguesa)
Tipo II Compreender a importncia da divulgao da lngua portuguesa, comparando-a
em contextos diversificados onde esta falada.
Tipo III Actuar produzindo discursos coesos e coerentes, relacionando os diferentes
factores de divulgao de uma lngua, como os culturais e os econmicos.
Comunicao
Tipo I Identificar face aos mass media os elementos representativos do desenvolvimento
econmico , no contexto dos sistemas financeiros nacionais.
Tipo II Compreender face aos mass media a relao entre objectivos econmicos
versus objectivos de servio pblico.
Tipo III Actuar face aos mass media tendo conscincia da diferena entre objectivos
econmicos e objectivos de servio pblico no contexto dos sistemas financeiros nacionais.
Ficha-Exemplo 15:
A moeda
Ncleo Gerador: Gesto e Economia (GE)
Domnio de Referncia: Saberes, Poderes e Instituies em Cultura, Lngua,
Comunicao (3)
Tema: Sistemas Monetrios e Financeiros (SMF)
Cultura
Tipo I Identificar diferentes actividades e operaes que denotam o recurso ao tempo
real (por exemplo, conversas e jogos atravs da internet, videoconferncias, alguns
espectculos de artes performativas e mostras de artes visuais).
Tipo II Compreender as finalidades do recurso ao tempo real no trabalho artstico, em
diversos domnios.
Tipo III Analisar de que modo o tempo real altera as noes de transmisso, comunicao
e interaco, entre outras. Explorar as mais-valias e as desvantagens das actividades e
operaes desenvolvidas em tempo real.
Lngua
Tipo I Identificar caractersticas do registo lingustico dependentes do factor tempo.
Tipo II Compreender a evoluo das diversas variaes da lngua no tempo
Tipo III Actuar tendo em conta a interferncia do tempo nas variaes do espao
geogrfico, nos tipos de modalidade expressiva e entre as camadas socioculturais.
Comunicao
Tipo I Identificar, relacionando com o tempo, a adequao do discurso ao meio de
comunicao usado.
Tipo II Compreender, face aos diferentes meios de comunicao social, o papel do
tempo nos registos escrito e oral.
Tipo III Actuar, face aos diferentes meios de comunicao social, modificando as
estratgia de comunicao em funo do factor tempo.
Ficha exemplo -16
O tempo
Ncleo Gerador: Gesto e Economia (GE)
Domnio de Referncia: Estabilidade e Mudana: da Sociedade ao Universo
(4)
Tema: Usos e Gesto do Tempo (UGT)
139
Anexo II
FICHAS-EXEMPLO DE CRITRIOS DE EVIDNCIA - REA CULTURA, LNGUA, COMUNICAO
Unidade de Competncia 5: Intervir face s tecnologias de informao e comunicao em
contextos diversificados, mobilizando competncias lingusticas e culturais no potenciar das suas
funcionalidades, identificando a relao entre estas tecnologias, o poder meditico e respectivos
efeitos em processos de regulao institucional.
Ficha-Exemplo
de Critrios de Evidncia
CLC 17
Ficha-Exemplo
de Critrios de Evidncia
CLC 18
Ficha-Exemplo
de Critrios de Evidncia
CLC 19
DR1
DR2
DR3
Contexto
privado
Contexto
profissional
Contexto
institucional
Operar com as
comunicaes rdio em
contexto domstico
adequando-as s neces-
sidades da organizao do
quotidiano e compreenden-
do de que modo incorporam
e suscitam diferentes
utilizaes da lngua
Lidar com a micro e macro
electrnica em contextos
socioprofissionais
identificando as suas mais
valias na sistematizao
da informao,
decorrentes tambm da
especificidade de
linguagens de
programao empregues
Relacionar-se com os
mass media
reconhecendo os seus
impactos na constituio
do poder meditico e
tendo a percepo dos
efeitos deste na
regulao institucional
Comunicaes
Rdio
Micro e
Macroelectrnica
Media e
Informao
Os telemveis
O computador
Os mass media
Ncleo Gerador: Tecnologias de Informao e Comunicao (TIC)
Domnio de
Referncia
Temas
Ficha-Exemplo
de Critrios de
Evidncia
Competncias Exemplo
Sugestes de Actividades
Ficha-Exemplo
de Critrios de Evidncia
CLC 20
DR4
Contexto
macro-estrutural
Perceber os impactos das
redes de internet nos
hbitos perceptivos,
desenvolvendo uma
atitude crtica face aos
contedos a
disponibilizados
Redes e
Tecnologias
A internet
Anexo II
FICHAS-EXEMPLO DE CRITRIOS DE EVIDNCIA - REA CULTURA, LNGUA, COMUNICAO
140
Cultura
Tipo I Identificar diversas funcionalidades dos telemveis adequadas a prticas de lazer
e/ou fruio cultural .
Tipo II Compreender a integrao dos telemveis nas actividades de lazer (jogos,
captao, composio e envio de imagens, por exemplo) relacionando utilizaes
preferenciais e atributos sociais dos utilizadores idade, sexo, profisso.
Tipo III Analisar vantagens dos telemveis no contexto privado (por exemplo, economia
de tempo e custos, evitando deslocaes fsicas) e aspectos menos favorveis (por
exemplo, eventual menor capacidade de gesto da interaco com os outros) explorando
futuras aplicaes dos telemveis e possveis efeitos nos modos de organizar o quotidiano.
Lngua
Tipo I Identificar as diferentes formas de uso da lngua e respectivos smbolos e cdigos
nas tecnologias de informao e comunicao, reconhecendo os aspectos verbais e no-
-verbais que as diferenciam em lngua portuguesa e/ou lngua estrangeira.
Tipo II Compreender os marcadores lingusticos (por exemplo, lxico, gramtica,
fonologia) num texto oral (conversa telefnica) e num texto escrito em lngua portuguesa
e/ou lngua estrangeira.
Tipo III Actuar oralmente e por escrito, atravs das comunicaes rdio (telemvel,
telefone fixo, rdio, televiso) em diferentes contextos, compreendendo as formas lingusticas
envolvidas na interaco e determinando a relao texto/ imagem/ sons em lngua
portuguesa e/ou lngua estrangeira.
Comunicao
Tipo I Identificar as funes da imagem relativamente s linguagens usadas atravs
de meios tecnolgicos no domnio privado.
Tipo II Compreender a intencionalidade comunicativa dos textos transmitidos pelos
meios tecnolgicos em contexto privado.
Tipo III Actuar usando as vrias linguagens dos meios tecnolgicos em contexto
privado para fruio ou resoluo de problemas, interligando tipo de texto, suporte e
funo, como acontece, por exemplo, com os telemveis.
Ficha-Exemplo 17:
Os telemveis
Ncleo Gerador: Tecnologias de Informao e Comunicao (TIC)
Domnio de Referncia: Cultura, Lngua, Comunicao no contexto privado
(1)
Tema: Comunicaes Rdio (CR)
Cultura
Tipo I Identificar virtualidades da utilizao do computador nos processos de comunicao,
sistematizao e tratamento da informao.
Tipo II Compreender as vantagens da organizao da informao em bases de dados
para a avaliao dos resultados do trabalho desenvolvido entre outras, permitir a
construo de diversos indicadores de actividade.
Tipo III Explorar a relao entre novas tecnologias de informao e comunicao e
tendncias mais recentes na organizao do trabalho em diversos sectores flexibilidade
e polivalncia, entre outras.
Lngua
Tipo I Identificar os meios lingusticos da utilizao de linguagens especficas de
programao, com base nas necessidades do contexto socioprofissional em lngua
portuguesa e/ou lngua estrangeira.
Tipo II Compreender os meios lingusticos dos dispositivos tecnolgicos informticos
em contextos socioprofissionais em lngua portuguesa e/ou lngua estrangeira.
Tipo III Actuar face s tecnologias de informao e comunicao, manipulando os meios
lingusticos dos dispositivos tecnolgicos informticos necessrios ao seu contexto socio-
profissional, em lngua portuguesa e/ou lngua estrangeira.
Comunicao
Tipo I Identificar recursos tcnico-formais (scripto e audiovisuais) e tecnolgicos em
funo da evoluo das tecnologias de informao em contexto profissional.
Tipo II Compreender contedos emanados de diferentes tecnologias de informao e
comunicao, relacionando-os entre si.
Tipo III Actuar, usando adequadamente as diferentes tecnologias de informao e
comunicao no contexto socioprofissional discutindo e argumentando as vantagens,
desvantagens das mesmas.
Ficha-Exemplo 18:
O computador
Ncleo Gerador: Tecnologias de Informao e Comunicao (TIC)
Domnio de Referncia: Cultura, Lngua, Comunicao no contexto profissional
(2)
Tema: Micro e Macro Electrnica (ME)
Anexo II
FICHAS-EXEMPLO DE CRITRIOS DE EVIDNCIA - REA CULTURA, LNGUA, COMUNICAO
141
Cultura
Tipo I Identificar diferentes modalidades de divulgao (publicidade, tratamento jornalstico,
entre outras) dos bens culturais pelos mass media.
Tipo II Compreender a relao entre os vrios media (televiso, rdio, jornais) e os
diversos graus de visibilidade que autores e bens culturais e artsticos podem obter.
Tipo III Explorar o impacto da divulgao dos bens culturais e artsticos na procura e
adeso dos pblicos, analisando, por exemplo, uma campanha publicitria em torno do
lanamento de um livro ou de um filme e as intervenes que nela tm intermedirios
culturais, como tcnicos de marketing, crticos e jornalistas.
Lngua
Tipo I Identificar diferentes tipos de texto usados na comunicao social em lngua
portuguesa e/ou lngua estrangeira.
Tipo II Compreender as finalidades e o conhecimento das convenes de organizao
dos diferentes tipos de texto divulgados pelos meios de comunicao social em lngua
portuguesa e/ou lngua estrangeira.
Tipo III Actuar face aos diferentes meios de comunicao social, constituindo dossis
de textos de opinio sobre um mesmo tema publicados em diferentes media, tomando
conscincia do poder do uso da lngua nos media e consequentemente intervindo de
forma responsvel na sociedade em lngua portuguesa e/ou lngua estrangeira.
Comunicao
Tipo I Identificar o poder e funo da imagem nos diferentes meios de comunicao
social
Tipo II Compreender o poder meditico sob as formas de argumentao, persuaso e
manipulao em discursos de interesse socioprofissional e poltico, debates e publicidade
divulgados pelos diferentes meios de comunicao social.
Tipo III Actuar criticamente em todos os contextos em funo das vrias linguagens
usadas nos meios de comunicao.
Ficha-Exemplo 19:
Os mass media
Ncleo Gerador: Tecnologias de Informao e Comunicao (TIC)
Domnio de Referncia: Saberes, Poderes e Instituies em Cultura, Lngua,
Comunicao (3)
Tema: Media e Informao (MI)
Cultura
Tipo I Identificar diferentes aplicaes da internet no trabalho artstico.
Tipo II Compreender a relao entre internet e media art (tambm denominada arte
digital e arte interactiva).
Tipo III Explorar na circulao e deambulao pelo espao virtual ciberespao a
noo de visita, tendo em conta a forma de transitar entre sites, imagens, animaes
multimdia e comparando a experincia com a circulao no espao no virtual.
Lngua
Tipo I Identificar as diferentes estruturas de contedos disponibilizados na rede de
internet no contexto socioprofissional em lngua portuguesa e/ou lngua estrangeira .
Tipo II Compreender a natureza e estrutura dos textos (designadamente expositivos e
argumentativos) veiculados pela internet, relacionando essa informao com a de outros
tipos de suporte em lngua portuguesa ou lngua estrangeira .
Tipo III Actuar relativamente a contedos disponibilizados na rede de internet, expondo
ideias, argumentando, utilizando criticamente a informao seleccionada de diferentes
fontes da Internet em lngua portuguesa e/ou lngua estrangeira.
Comunicao
Tipo I Identificar comparativamente o efeito produzido por signos tipogrficos e cdigos
de imagem em diferentes contedos disponibilizados pela internet.
Tipo II Compreender os processos de recepo (interaco electrnica/interaco em
tempo real) dos textos/documentos na internet.
Tipo III Actuar criticamente com diferentes estratgias de visionamento e leitura de
textos disponibilizados na internet, tomando conscincia das diferenas entre eles.
Ficha-Exemplo 20:
A internet
Ncleo Gerador: Tecnologias de Informao e Comunicao (TIC)
Domnio de Referncia: Estabilidade e Mudana: da Sociedade ao Universo
(4)
Tema: Redes e Tecnologias
142
Unidade de Competncia 6: Intervir em questes relacionadas com mobilidade e urbanismo, mobilizando
recursos lingusticos e comunicacionais no reconhecimento das funcionalidade dos diversos sistemas de
ordenamento, da existncia de planeamento urbano, das oportunidades de trabalho em contextos rurais
e urbanos e do enriquecimento cultural que os fluxos migratrios geram, interpretando-os como factores
que reforam a qualidade de vida.
Ficha-Exemplo
de Critrios de Evidncia
CLC 21
Ficha-Exemplo
de Critrios de Evidncia
CLC 22
Ficha-Exemplo
de Critrios de Evidncia
CLC 23
DR1
DR2
DR3
Contexto
privado
Contexto
profissional
Contexto
institucional
Participar no processo de
planeamento e
construo de edifcios
recorrendo a
terminologias prprias e
procurando garantir
condies para as
prticas de lazer
Intervir em contextos
profissionais
considerando a
ruralidade ou
urbanidade que os
envolvem e procurando
retirar da benefcios
para a integrao
socioprofissional
Identificar sistemas de
administrao territorial
e respectivos
funcionamentos
integrados
Construo e
Arquitectura
Ruralidade e
Urbanidade
Administrao,
Segurana e
Territrio
As obras
O patrimnio rural e
urbano
As redes de
equipamentos
Ncleo Gerador: Urbanismo e Mobilidades (UM)
Domnio de
Referncia
Temas
Ficha-Exemplo
de Critrios de
Evidncia
Competncias Exemplo
Sugestes de Actividades
Ficha-Exemplo
de Critrios de Evidncia
CLC 24
DR4
Contexto
macro-estrutural
Relacionar mobilidades
e fluxos migratrios com
a disseminao de
patrimnios lingusticos
e culturais e seus
impactos
Mobilidades Locais
e Globais
As migraes
Anexo II
FICHAS-EXEMPLO DE CRITRIOS DE EVIDNCIA - REA CULTURA, LNGUA, COMUNICAO
143
Cultura
Tipo I Identificar diferentes necessidades dos espaos habitacionais em termos do
desenvolvimento de prticas de lazer (por exemplo, integrao de zonas verdes e outras
reas que possam promover o desenvolvimento de sociabilidades e a realizao de
actividades ldicas).
Tipo II Compreender de que modo diferentes estilos de vida correspondem a diversas
apropriaes dos espaos habitacionais.
Tipo III Explorar a relao entre a histria da arquitectura e os projectos delineados por
vrios arquitectos no que respeita especificamente a espaos habitacionais com enfoque
na arquitectura moderna e contempornea.
Lngua
Tipo I Identificar a terminologia relacionada com a construo e arquitectura (como por
exemplo, rea coberta, rea total, m2, projecto de construo, licenas, caderno de
encargos, etc.).
Tipo II Interpretar com xito leituras desta rea, apreendendo os sentidos dos textos.
Tipo III Interagir com outros elementos, do contexto privado, com vista a uma construo
e arquitectura harmoniosas e adaptadas s exigncias de vida e do gosto de cada um.
Comunicao
Tipo I Identificar, em contextos comunicativos, a referncia dectica e a respectiva
funcionalidade.
Tipo II Pesquisar e organizar informao, tendo como objectivo o debate em contexto
privado sobre as obras a efectuar, tendo em conta a construo e a arquitectura.
Tipo III Interagir com operrios e tcnicos especializados, utilizando terminologia
adequada, tendo em conta a situao de comunicao, com vista ao cumprimento do
caderno de encargos.
Ficha-Exemplo 21:
As obras
Ncleo Gerador: Tecnologias de Informao e Comunicao (TIC)
Domnio de Referncia: Cultura, Lngua, Comunicao no contexto privado
(1)
Tema: Urbanismos e Mobilidades (UM)
Cultura
Tipo I Identificar sectores de emprego relacionados com a crescente valorizao do
patrimnio rural e urbano por parte das autarquias.
Tipo II Perceber a adequao entre formao e profissionalizao, de modo a responder,
de forma qualificada, a novas necessidades do mercado, analisando, por exemplo, o leque
de projectos de formao, com diversos formatos (acadmicos ou de actualizao
profissional), na rea do turismo cultural.
Tipo III Explorar a relao entre a crescente procura de turismo cultural, os projectos
de bairros culturais (zonas concentrando diversos servios e eventos, muitas vezes
resultantes de projectos de revitalizao) e novas oportunidades de emprego.
Lngua
Tipo I Identificar algumas variantes fonticas, lexicais e semnticas da lngua portuguesa,
atravs da audio de falares de vrias regies e/ou de outros pases lusfonos.
Tipo II Compreender, atravs da interpretao de leituras vrias, que os fenmenos da
incluso e da multiculturalidade se prendem tambm com o domnio da lngua portuguesa
e/ou estrangeira.
Tipo III Interagir utilizando diversos nveis de lngua, de acordo com os interlocutores
e valorizando as diferenas lingusticas, para uma melhor integrao socioprofissional.
Comunicao
Tipo I Identificar diferentes suportes de comunicao oral e escrita, em lngua portuguesa
e/ou lngua estrangeira.
Tipo II Diferenciar textos utilitrios de textos literrios de vrias pocas, atravs das suas
caractersticas.
Tipo III Interagir em grupo, por exemplo, atravs de exposio ou debate, reforando
o interesse pela preservao, equilbrio e dinamizao do espao rural e urbano.
Ficha-Exemplo 22:
O patrimnio rural e urbano
Ncleo Gerador: Urbanismos e Mobilidades (UM)
Domnio de Referncia: Cultura, Lngua, Comunicao no contexto profissional
(2)
Tema: Ruralidade e Urbanidade
Anexo II
FICHAS-EXEMPLO DE CRITRIOS DE EVIDNCIA - REA CULTURA, LNGUA, COMUNICAO
144
Cultura
Tipo I Identificar diferentes redes de equipamentos (teatros, museus, bibliotecas, cinemas).
Tipo II Compreender as funes das redes de equipamentos, designadamente:
instrumentos de coeso, ordenamento e qualificao; plataformas de difuso cultural e
de formao de pblicos.
Tipo III Explorar as funes das redes de equipamentos mediante a anlise do
funcionamento de uma rede especfica por exemplo, Rede de Leitura Pblica ou Rede
Portuguesa de Museus.
Lngua
Tipo I Identificar e seleccionar terminologias, em funo da diversidade de redes e
equipamentos, em lngua portuguesa e/ou estrangeira.
Tipo II Descodificar informao de diferentes tipos, como por exemplo textos produzidos
a nvel da preveno rodoviria, sinalizao de estradas, formulao do cdigo da estrada,
etc.
Tipo III Intervir individual e/ou colectivamente, aplicando correctamente as regras de
interaco verbal em diversas situaes de transgresso rodoviria.
Comunicao
Tipo I Identificar e simular situaes comunicativas distintas para o uso de diferentes
expresses lingusticas em contexto privado, como por exemplo, no transporte casa /escola
/ casa, de crianas e de adolescentes.
Tipo II Compreender a estrutura e inteno de certos tipos de recomendaes , como
por exemplo, as do Programa de aco para a segurana rodoviria, ou, indicaes
de segurana, desrespeito do tempo de repouso para os condutores profissionais, consumo
de lcool, etc.
Tipo III Interagir, por exemplo, atravs da produo de textos numa linguagem formal,
procurando incentivar as instituies a melhorar as infra-estruturas rodovirias, com vista
eliminao de pontos negros.
Ficha-Exemplo 23:
As redes de equipamentos
Ncleo Gerador: Urbanismos e Mobilidades (UM)
Domnio de Referncia: Saberes, Poderes e Instituies em Cultura, Lngua,
Comunicao (3)
Tema: Administrao, Segurana e Territrio
Cultura
Tipo I Identificar diferentes comunidades imigrantes em Portugal e as causas principais
da imigrao.
Tipo II Relacionar a presena de comunidades imigrantes com novas tendncias em
termos de expresso cultural e artstica (por exemplo, o rap e os grafitti).
Tipo III Explorar em que medida a programao cultural de diversos equipamentos e
eventos contempla (ou no) o multiculturalismo.
Lngua
Tipo I Identificar aspectos diferenciadores da lngua portuguesa nos vrios pases
lusfonos.
Tipo II Compreender e admirar a riqueza lingustica da lngua portuguesa, acentuando
contactos de sculos e valorizando o seu cariz comunicativo.
Tipo III Intervir, atravs de um discurso oral e/ou escrito, evidenciando a expanso e a
importncia da lngua portuguesa no mundo.
Comunicao
Tipo I Identificar num mapa os pases onde se fala portugus.
Tipo II Compreender a importncia da lngua portuguesa como factor de unio entre
os povos que a falam.
Tipo III Intervir, atravs de artigos para os media, evidenciando a lngua como elemento
essencial ao funcionamento das sociedades e s relaes entre os cidados.
Ficha-Exemplo 24:
As migraes
Ncleo Gerador: Urbanismos e Mobilidades (UM)
Domnio de Referncia: Estabilidade e Mudana: da Sociedade ao Universo
(4)
Tema: Mobilidades Locais e Globais
Anexo II
FICHAS-EXEMPLO DE CRITRIOS DE EVIDNCIA - REA CULTURA, LNGUA, COMUNICAO
145
Unidade de Competncia 7: Agir em contextos diversificados conseguindo identificar os principais
factores que afectam quer a mudana social, quer a evoluo dos percursos individuais e sendo
capaz de mobilizar saberes relativos cincia e a dinmicas institucionais de modo a poder formular
opinies crticas perante variadas questes.
Ficha-Exemplo
de Critrios de Evidncia
CLC 25
Ficha-Exemplo
de Critrios de Evidncia
CLC 26
Ficha-Exemplo
de Critrios de Evidncia
CLC 27
DR1
DR2
DR3
Contexto
privado
Contexto
profissional
Contexto
institucional
Intervir tendo em conta
que os percursos
individuais so afectados
pela posse de diversos
recursos, incluindo
competncias ao nvel da
cultura, da lngua e da
comunicao
Agir em contextos
profissionais, com
recurso aos saberes em
cultura, lngua e
comunicao
Formular opinies
crticas, mobilizando
saberes vrios e
competncias culturais,
lingusticas e
comunicacionais
O Elemento
Processos e
Mtodos Cientficos
Cincia e
Controvrsias
Pblicas
Indivduo e Projecto
Teoria e experincia
Interveno em espaos
pblicos
Ncleo Gerador: Saberes Fundamentais (SF)
Domnio de
Referncia
Temas
Ficha-Exemplo
de Critrios de
Evidncia
Competncias Exemplo
Sugestes de Actividades
Ficha-Exemplo
de Critrios de Evidncia
CLC 28
DR4
Contexto
macro-estrutural
Identificar os principais
factores que influenciam
a mudana social,
reconhecendo nessa
mudana o papel da
cultura, da lngua e da
comunicao
Leis e Modelos
Cientficos
Universo: constituio e
interaco
Anexo II
FICHAS-EXEMPLO DE CRITRIOS DE EVIDNCIA - REA CULTURA, LNGUA, COMUNICAO
146
Cultura
Tipo I Identificar os diversos contextos que podem afectar a configurao das trajectrias
individuais (famlia, escola, locais de trabalho, redes de sociabilidades).
Tipo II Compreender de que modo as oportunidades/contextos de formao no formal
(aquelas que no conferem ttulos escolares) constituem uma das fontes da aprendizagem
ao longo da vida e podem contribuir para o reforo de recursos culturais.
Tipo III Explorar, a partir da prpria histria de vida e/ou da de outros, em que medida
a alterao da posse de um (ou mais) tipo de recursos econmicos, culturais, sociais
afectou a evoluo da trajectria pessoal.
Lngua
Tipo I Identificar em memrias, dirios, cartas, retratos, elementos de natureza informativa
que expressem trajectrias individuais ou colectivas.
Tipo II Compreender, em textos orais e escritos, as variedades lingusticas individuais
ou regionais.
Tipo III Actuar adequadamente face aos textos orais e/ou escritos, desenvolvendo a
capacidade de auto-anlise, conhecimento e aceitao do outro.
Comunicao
Tipo I Identificar aspectos de uma determinada situao de comunicao veiculada
pelos media, exemplificativa das relaes interpessoais.
Tipo II Compreender, atravs do visionamento/leitura de diversos media, as diferentes
intenes do emissor e os efeitos produzidos no receptor, consoante os aspectos distintivos
individuais ou contextuais.
Tipo III Actuar, com recurso informao facilitada pelos media, relatando vivncias e
experincias relativas ao conhecimento da (s) sociedade (s) onde a lngua portuguesa
falada.
Ficha-Exemplo 25:
Indivduo e projecto
Ncleo Gerador: Saberes Fundamentais (SF)
Domnio de Referncia: Cultura, Lngua, Comunicao no contexto privado
(1)
Tema: O Elemento (E)
Cultura
Tipo I Identificar os mtodos e as tcnicas que podem ser mobilizados em estudos sobre
temticas culturais anlise documental, inquritos, entrevistas, observao participante,
entre outros.
Tipo II Compreender a distino entre estratgias de investigao intensivas e extensivas
e de que forma os objectivos que orientam os estudos explicam a escolha de uma e/ou
outra.
Tipo III Explorar os benefcios de estudos com componentes de diagnstico e prospeco
para o mais eficaz funcionamento das organizaes, nomeadamente, na rea da interveno
e produo cultural.
Lngua
Tipo I Identificar, em textos de carcter narrativo e/ou descritivo, incluindo os do cnone
literrio, histrias de vida exemplificativas do valor das experincias profissionais.
Tipo II Compreender os papis dos diversos elementos integrantes da estrutura das
narrativas de experincias profissionais ou outras.
Tipo III Produzir enunciados orais e escritos, relatando experincias vividas e a sua
complementaridade com conhecimentos tericos adquiridos em contextos de educao
formal.
Comunicao
Tipo I Identificar situaes de comunicao veiculadas pelos media, exemplificativas
da relao teoria experincia, em contexto profissional.
Tipo II Compreender, atravs do visionamento/leitura de diversos media, a
complementaridade dos conhecimentos tericos e das experincias profissionais.
Tipo III Interagir, com recurso informao facilitada pelos media, com a finalidade de
demonstrar a complementaridade de conhecimentos tericos e das prticas profissionais.
Ficha-Exemplo 26:
Teoria e experincia
Ncleo Gerador: Saberes Fundamentais (SF)
Domnio de Referncia: Cultura, Lngua, Comunicao no contexto profissional
(2)
Tema: Processos e Mtodos Cientficos (PMC)
Anexo II
FICHAS-EXEMPLO DE CRITRIOS DE EVIDNCIA - REA CULTURA, LNGUA, COMUNICAO
147
Cultura
Tipo I Identificar nas controvrsias sobre intervenes artsticas em espaos pblicos
a diversidade de concepes do que arte, urbanismo e patrimnio.
Tipo II Compreender, em diversos casos de intervenes artsticas em espaos pblicos
(praas, jardins, transportes), os objectivos e os modos de apropriao das intervenes
por diferentes segmentos da populao.
Tipo III Explorar a relao entre polticas urbansticas e culturais e o menor ou maior
recurso a intervenes artsticas em espaos pblicos, recorrendo, designadamente,
abordagem de um projecto urbanstico e cultural de grande dimenso.
Lngua
Tipo I Identificar, seleccionando e organizando informao sobre o tema/temas em
debate, elementos lingusticos e no-lingusticos da comunicao oral.
Tipo II Compreender enunciados orais e escritos, sustentando pontos de vista relativos
aos temas objecto de debate, tendo em conta funes, normas reguladoras e cdigos
utilizados (lingusticos, paralingusticos, quinsicos e proxmicos).
Tipo III Intervir publicamente, no sentido de defender pontos de vista sobre temas de
actualidade, de modo a obter os efeitos retricos pretendidos, obedecendo s caractersticas
especficas da exposio de um tema e do debate (organizao e participao).
Comunicao
Tipo I Identificar informao, disponibilizada em meios de comunicao de massas,
relacionada com temas de actualidade.
Tipo II Compreender as intenes comunicativas dos interlocutores e a adequao s
situaes e aos contextos, em debates sobre problemticas de natureza cultural, cientfica,
scio-poltica e filosfica.
Tipo III Intervir publicamente, manifestando pontos de vista prprios e avaliando os dos
outros, recorrendo a materiais e suportes diversos.
Ficha-Exemplo 27:
Intervenes em espaos pblicos
Ncleo Gerador: Saberes Fundamentais (SF)
Domnio de Referncia: Saberes, Poderes e Instituies em Cultura, Lngua,
Comunicao (3)
Tema: Cincia e Controvrsias Pblicas
Cultura
Tipo I Identificar os principais factores que influenciaram a mudana social ao longo da
histria (ambiente fsico, organizao poltica, factores culturais).
Tipo II Compreender de que modo os factores culturais incluindo os sistemas de
comunicao influenciam a mudana, recorrendo abordagem, por exemplo, da inveno
da escrita e dos efeitos deste sistema de comunicao na organizao das sociedades.
Tipo III Explorar os factores de acelerao da mudana social no perodo moderno
(expanso do capitalismo industrial, desenvolvimento da cincia e do racionalismo, entre
outros).
Lngua
Tipo I Identificar, em diversos textos do domnio educativo (verbetes de dicionrios e
enciclopdias, artigos cientficos e tcnicos), informao relacionada com o tema.
Tipo II Compreender, em textos de diversa natureza (cientficos, literrios e outros),
pontos de vista sobre a constituio do universo e a interaco que o regula.
Tipo III Produzir textos orais e escritos, destinados ao debate de ideias sobre o universo
e/ou fruio esttica.
Comunicao
Tipo I Identificar situaes de comunicao relacionadas com o tema.
Tipo II Compreender os pontos de vista dos interlocutores, em situaes de comunicao
veiculadas pelos media, sobre a temtica da constituio do universo e da interaco que
o caracteriza.
Tipo III Interagir, com recurso a vrios suportes, em debates sobre o tema.
Ficha-Exemplo 28:
Universo: constituio e interaco
Ncleo Gerador: Saberes Fundamentais (SF)
Domnio de Referncia: Estabilidade e Mudana: da Sociedade ao Universo
(4)
Tema: Leis e Modelos Cientficos (LMC)
Você também pode gostar
- Resenha EmpreendedorismoDocumento3 páginasResenha EmpreendedorismoCassiano Carvalho100% (2)
- CLC4 - Comunicação Nas Organizações: A Gestão Do Tempo Na Atualidade O Que É A Gestão Do Tempo?Documento7 páginasCLC4 - Comunicação Nas Organizações: A Gestão Do Tempo Na Atualidade O Que É A Gestão Do Tempo?Paula GonçalvesAinda não há avaliações
- Núcleos Geradores para Certificação RVCC Secundário.Documento6 páginasNúcleos Geradores para Certificação RVCC Secundário.Duarte BrandãoAinda não há avaliações
- Mediação de Conflitos - Modelo HarvardDocumento2 páginasMediação de Conflitos - Modelo HarvardGrace TanikadoAinda não há avaliações
- Juhani Pallasmaa Habitar.Documento13 páginasJuhani Pallasmaa Habitar.Jéssica Cruz100% (5)
- Consagração de FilhosDocumento55 páginasConsagração de FilhosDebora AguiarAinda não há avaliações
- Como Surgiu o Empretec - HistóricoDocumento7 páginasComo Surgiu o Empretec - HistóricoAugusto César Carvalho FrutuosoAinda não há avaliações
- A Terapia Racional Emotiva de Albert EllisDocumento3 páginasA Terapia Racional Emotiva de Albert EllisAna Claudia Lehmckuhl100% (1)
- Ministração em Cura InteriorDocumento12 páginasMinistração em Cura InteriorAmanda Passarini86% (7)
- A Significação Do Falo TextoDocumento7 páginasA Significação Do Falo TextoMauro CarvalhoAinda não há avaliações
- ANQEP - Referencial Competências-Chave - Formação de Adultos - Nível Básico (2022)Documento4 páginasANQEP - Referencial Competências-Chave - Formação de Adultos - Nível Básico (2022)Jesús ManuelAinda não há avaliações
- CP - NG6-DR1Documento3 páginasCP - NG6-DR1Isabel Costa FerreiraAinda não há avaliações
- Santos D Sessões GRH 2019Documento118 páginasSantos D Sessões GRH 2019Ângela AlvesAinda não há avaliações
- Descodificação Do Referencial de CLCDocumento41 páginasDescodificação Do Referencial de CLCJoão OliveiraAinda não há avaliações
- Unidade de Competência 4 - Nucleo Gerador GEDocumento1 páginaUnidade de Competência 4 - Nucleo Gerador GELeonor Neves Alves100% (3)
- ng4 dr1Documento1 páginang4 dr1armiAinda não há avaliações
- CLC RosamaralDocumento12 páginasCLC RosamaralcarlallopesAinda não há avaliações
- Uc 7 DR2 FichaDocumento2 páginasUc 7 DR2 FichaisacnunesAinda não há avaliações
- Manual AprendizagemDocumento61 páginasManual AprendizagemAndreia Reis AgostinhoAinda não há avaliações
- Unidade de Competência 2 - Nucleo Gerador AsDocumento1 páginaUnidade de Competência 2 - Nucleo Gerador AsLeonor Neves Alves100% (6)
- Guia de Operacionalizaçao CLC 567Documento10 páginasGuia de Operacionalizaçao CLC 567Anonymous dSy3GRMt100% (1)
- CLC2 ReferencialDocumento2 páginasCLC2 ReferencialcarinadominguesAinda não há avaliações
- Para Os Formandos - Descodificacao-De-CLC2Documento28 páginasPara Os Formandos - Descodificacao-De-CLC2olfigueira9795Ainda não há avaliações
- ng5 dr3Documento2 páginasng5 dr3cmmguerreiro707Ainda não há avaliações
- CLC - NG7 - DR3 - ValidadoDocumento6 páginasCLC - NG7 - DR3 - ValidadoJéssica Lopes100% (1)
- Apresentação CLCDocumento25 páginasApresentação CLCpavaroti37Ainda não há avaliações
- NG7 DR3Documento2 páginasNG7 DR3José Manuel Moreira100% (2)
- Ficha de TrabalhoDocumento1 páginaFicha de TrabalhoNewSpace Centro de ExplicaçõesAinda não há avaliações
- Comunicar Ponto de VendaDocumento4 páginasComunicar Ponto de Vendamanuel07102014Ainda não há avaliações
- 3.1 Comunicação e Comportamento RelacionalDocumento73 páginas3.1 Comunicação e Comportamento RelacionalIsmael Cardoso100% (1)
- Apontamentos FilosofiaDocumento3 páginasApontamentos FilosofiaMafalda LopesAinda não há avaliações
- 2015-16 11º Matriz Do 4º TesteDocumento1 página2015-16 11º Matriz Do 4º TestedmetódicaAinda não há avaliações
- CP NG1 DR4 AssociativismoDocumento9 páginasCP NG1 DR4 AssociativismoGRAUZEROAinda não há avaliações
- Atividade 4Documento3 páginasAtividade 4António CostaAinda não há avaliações
- Atividade STC NG7 DR2Documento4 páginasAtividade STC NG7 DR2mjtviAinda não há avaliações
- NG2 DR1 DR2 DR3 DR4 22 22Documento5 páginasNG2 DR1 DR2 DR3 DR4 22 22Rute Alexandra LourençoAinda não há avaliações
- NG3 - Reflexividade e Pensamento CríticoDocumento23 páginasNG3 - Reflexividade e Pensamento CríticoClara Cardoso PereiraAinda não há avaliações
- CLC6 DR1Documento1 páginaCLC6 DR1sandra m-Ainda não há avaliações
- 10º G 1º TesteDocumento2 páginas10º G 1º TesteIsabelAinda não há avaliações
- Núcleo Gerador 6 Abertura MoralDocumento6 páginasNúcleo Gerador 6 Abertura MoralCassandra AmorimAinda não há avaliações
- CP8 DR1Documento3 páginasCP8 DR1tanihilAinda não há avaliações
- UFCD - 6685 - Domínio Intrapessoal Da Cognição, Emoção e Motivação - ÍndiceDocumento4 páginasUFCD - 6685 - Domínio Intrapessoal Da Cognição, Emoção e Motivação - ÍndiceMANUAIS FORMAÇÃOAinda não há avaliações
- Área de Integração TrabalhoDocumento3 páginasÁrea de Integração TrabalhoNewSpace Centro de ExplicaçõesAinda não há avaliações
- Reflexão Do Módulo CLC6 OLINDADocumento4 páginasReflexão Do Módulo CLC6 OLINDAmarina machadoAinda não há avaliações
- O Homem e o AmbienteDocumento8 páginasO Homem e o AmbientefilipacdpedrosoAinda não há avaliações
- Código Deontológico de Um Curso EFADocumento1 páginaCódigo Deontológico de Um Curso EFAJosé Henrique GuerraAinda não há avaliações
- 1 - Modelo de Pesquisa BIG 6 - TeoriaDocumento5 páginas1 - Modelo de Pesquisa BIG 6 - Teoriaefa6Ainda não há avaliações
- NG 2 - Ambiente e SustentabilidadeDocumento14 páginasNG 2 - Ambiente e SustentabilidadeLiliana OliveiraAinda não há avaliações
- Exercícios de Cálculo 1Documento2 páginasExercícios de Cálculo 1Arthur BarcellosAinda não há avaliações
- NG 3 Reflexividade e Pensamento Crítico CPDocumento2 páginasNG 3 Reflexividade e Pensamento Crítico CPCassandra Amorim100% (1)
- Redução, Reutilização e Reciclagem de RCDDocumento10 páginasRedução, Reutilização e Reciclagem de RCDNathalia FerreiraAinda não há avaliações
- Linhas Orientadoras NBDocumento10 páginasLinhas Orientadoras NBMarcio MendesAinda não há avaliações
- Descodificação Referencial NS - ÚLTIMA VERSÃODocumento5 páginasDescodificação Referencial NS - ÚLTIMA VERSÃOcarmengAinda não há avaliações
- Ficha Identif Sit Vida CPDocumento3 páginasFicha Identif Sit Vida CPDora Sota100% (2)
- EFA Planificação CLC1 PDFDocumento4 páginasEFA Planificação CLC1 PDFSónia BaptistaAinda não há avaliações
- ManualCLC5 PedroCorgaDocumento43 páginasManualCLC5 PedroCorgapedrocorga100% (1)
- cATALOGO NACIONAL QUALIFICACOESDocumento30 páginascATALOGO NACIONAL QUALIFICACOESFilipe SousaAinda não há avaliações
- Referncial Secundrio Com Fichas Exemplo 1201453587729456 2Documento150 páginasReferncial Secundrio Com Fichas Exemplo 1201453587729456 2juniortaro100% (1)
- Manual PDFDocumento150 páginasManual PDFsophiosca5745100% (1)
- RVCC - Escolar - OM 1 - FEV2014 PDFDocumento28 páginasRVCC - Escolar - OM 1 - FEV2014 PDFAna PachecoAinda não há avaliações
- Apresentacao modulo1-EFADocumento46 páginasApresentacao modulo1-EFAJesus InácioAinda não há avaliações
- Transcricao - CNQDocumento16 páginasTranscricao - CNQbetypereiraAinda não há avaliações
- Manual Facilitador Empreendedorismo PDFDocumento180 páginasManual Facilitador Empreendedorismo PDFNuno RolãoAinda não há avaliações
- Utf-8''guia de Operacionalizaà à o Dos Cursos EFA - Ano 2009Documento90 páginasUtf-8''guia de Operacionalizaà à o Dos Cursos EFA - Ano 2009Célia Pereira AlmeidaAinda não há avaliações
- EFa-Orientações Da ANQDocumento61 páginasEFa-Orientações Da ANQedglAinda não há avaliações
- Guia Metodológico ANQEPDocumento101 páginasGuia Metodológico ANQEPHelenaBaptistaAinda não há avaliações
- Ref Comp Chave B Sico 3 12.2020 9 de DezDocumento158 páginasRef Comp Chave B Sico 3 12.2020 9 de DezAna100% (2)
- Joyee Flynn - No Estilo O'Hagan - 04 - Um Grinder de BrioDocumento132 páginasJoyee Flynn - No Estilo O'Hagan - 04 - Um Grinder de BrioAna Vilas Boas100% (2)
- Goldman - Como Funciona A Democracia - Uma Teoria Etnográfica Da PolíticaDocumento360 páginasGoldman - Como Funciona A Democracia - Uma Teoria Etnográfica Da PolíticaAlice Rocha100% (1)
- João Marcus Jardim Fernandes PDFDocumento20 páginasJoão Marcus Jardim Fernandes PDFJoão MarcusAinda não há avaliações
- Jmatos 02Documento15 páginasJmatos 02brmarceloalvesAinda não há avaliações
- Eu Quero Desenhar Do ZeroDocumento73 páginasEu Quero Desenhar Do Zeroftmoraes100% (3)
- Aula 1 - Histórico Teste Psicologicos PDFDocumento43 páginasAula 1 - Histórico Teste Psicologicos PDFediomarrAinda não há avaliações
- A Meditação Antroposófica e Exercícios ColateraisDocumento9 páginasA Meditação Antroposófica e Exercícios ColateraisJonas Eduardo Santana100% (2)
- Os Idiotas Confessos - Nelson RodriguesDocumento4 páginasOs Idiotas Confessos - Nelson RodriguesEinar Larson - Sub Umbra Alarum Tuarum100% (2)
- PORT5 Projeto Integrador RPG de Super-Herois PDFDocumento20 páginasPORT5 Projeto Integrador RPG de Super-Herois PDFBianca Batista100% (1)
- Apontamentos para A História de Vila de Frades - Versão OficialDocumento353 páginasApontamentos para A História de Vila de Frades - Versão OficialPedro Henriques100% (2)
- Selo EJ 2015 - MODELO 01. Estatuto SocialDocumento12 páginasSelo EJ 2015 - MODELO 01. Estatuto SocialBruno De Almeida Nogueira100% (1)
- A Lógica Das Ciências Socias - Karl PopperDocumento13 páginasA Lógica Das Ciências Socias - Karl Popperuliana6quit6ria6d66cAinda não há avaliações
- POR12 - 2-Antonio Ramos RosaDocumento4 páginasPOR12 - 2-Antonio Ramos RosalaraAinda não há avaliações
- Datas de SignosDocumento3 páginasDatas de SignosFrancisco Menezes DA Silva100% (1)
- Entrevista Clínica X AnamneseDocumento22 páginasEntrevista Clínica X AnamneseMaísa B. Brum100% (1)
- Atividade de Teoria de CurrículoDocumento4 páginasAtividade de Teoria de Currículoeduardo joão Olivera FerreiraAinda não há avaliações
- Expressões Faciais - SliderDocumento13 páginasExpressões Faciais - SliderGeysson AlexandreAinda não há avaliações
- Palestra - Mediunidade Na Infância e JuventudeDocumento16 páginasPalestra - Mediunidade Na Infância e JuventudeSergio LinoAinda não há avaliações
- O Retorno Do SagradoDocumento6 páginasO Retorno Do SagradoANDREYAinda não há avaliações
- Ladrões Da AlegriaDocumento2 páginasLadrões Da AlegriaJose Benedito S. de Castro100% (1)
- Carta de Apresentação e Termo de ConsentimentoDocumento2 páginasCarta de Apresentação e Termo de Consentimentobarrosdutra19Ainda não há avaliações
- William Branham Um Profeta Visita A Africa Do SulDocumento278 páginasWilliam Branham Um Profeta Visita A Africa Do SulcidamendesAinda não há avaliações
- Trabalho Do Sistema Límbico ProntoDocumento19 páginasTrabalho Do Sistema Límbico ProntoSuelen Clara Oliveira100% (1)