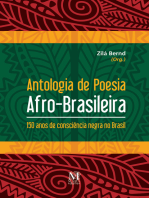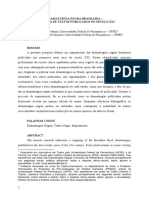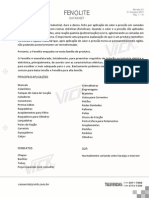Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Antonio Carlin Do Fausto
Antonio Carlin Do Fausto
Enviado por
openid_1V1iDxPo0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
29 visualizações262 páginascardernos negros.
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentocardernos negros.
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
29 visualizações262 páginasAntonio Carlin Do Fausto
Antonio Carlin Do Fausto
Enviado por
openid_1V1iDxPocardernos negros.
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 262
Carlindo Fausto Antnio
Cadernos Negros: esboo de anlise
Campinas - SP
2005
2
Ficha catalogrfica elaborada pela Biblioteca do IEL - Unicamp
An88c
Antonio, Carlindo Fausto.
Cadernos Negros: esboo de anlise / Carlindo Fausto Antonio. --
Campinas, SP : [s.n.], 2005.
Orientadora: Maria Betnia Amoroso.
Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Estudos da
Linguagem.
1. Teoria literria. I. Amoroso, Maria Betnia. II. Universidade
Estadual de Campinas. Instituto de Estudos da Linguagem. III. Ttulo.
Ttulo: Black notebooks: sketch of analyzes.
Palavras-chave em ingls (Keywords): Theory literacy.
rea de concentrao: Literatura Geral e Comparada.
Titulao: Doutorado
Banca examinadora: Prof Dr Vilma SantAnna Aras, Prof Dr Francisco Foot Hardman, Prof Dr J onas
Arajo Romualdo e Prof Dr Tnia Maria Alckmin.
Data da defesa: 28/02/2005
3
Carlindo Fausto Antnio
Cadernos Negros: esboo de anlise
Tese apresentada ao Departamento de Teoria Li-
terria do Instituto de Estudos da Linguagem da
Universidade Estadual de Campinas como parte
dos requisitos para a obteno do ttulo de Dou-
tor em Teoria Literria. rea de Concentrao:
Literatura Geral e Comparada.
Orientadora: Profa. Dra. Maria Betnia Amoroso
Campinas SP
2005
4
5
BANCA EXAMINADORA
Orientadora: Profa. Dra. Maria Betnia Amoroso
Profa. Dra. Vilma SantAnna Aras
Prof. Dr. Francisco Foot Hardman
Prof. Dr. J onas de Arajo Romualdo
Prof. Dra. Tnia Maria Alckmim
6
7
Dedico este trabalho
A minha mulher
ngela Bassualdo Antonio
A meus filhos
Missue Ina Antonio
Hussani Kamau Antonio
8
9
RESUMO
O esboo de anlise dos Cadernos Negros (1978-2004) , referenciado na cultura e
luta para a superao das desigualdades raciais, um painel descritivo do percurso de vinte
sete anos de produo coletiva de autores afro-brasileiros. O trabalho que colocou lado a
lado, numa relao dialgica, poemas, contos, teorias, autores, leitores, estudiosos e mili-
tantes, numa verdadeira encruzilhada, obedeceu composio seguinte: nos dois primeiros
captulos, fez-se um breve enquadramento histrico ressaltando a pr-histria dos Cadernos
Negros e, nos dois subseqentes, fez-se a descrio e anlise das recorrncias pautadas pela
produo literria e pela teoria desenvolvida pelos prprios autores. Por fim, foram retoma-
das as questes que constituem uma rede polifnica de adeso cosmogonia negra e os
lugares das noes textuais da negrura.
ABSTRACT
El anlises de los Cuadernos Negros (1978-2004) es una referencia la cultura y la
lucha por la superacin de las desigualdades raciales, es un cuadro descriptivo de los veinti-
siete aos de la produccin colectiva de los autores Afro-brasileos. Esta investigacin po-
ne en una relacin dialgica paralela: Poemas, cuentos, teoras, autores, lectores, estudiosos
lideres de la causa negra, en una verdadera encrucijada. En los dos primeros captulos se
hace una breve revisin histrica donde se resalta la prehistoria los Cuadernos Negros; En
los captulos tres y cuatro se hace una descripcin y anlisis de las recurrencias establecidas
por la produccin literaria y por la teora desarrollada por los propios autores. Finalmente
se retomaron los cuestionamientos que constituyen una coneccin polifnica de adicin a la
cosmogona negra y las nociones textuales de la negrura.
10
11
SUMRIO
PRIMEIRA PARTE
1. A Pr-Histria dos Cadernos Negros p. 13
2. Teatro Experimental do Negro e Cadernos Negros p. 16
SEGUNDA PARTE
1. A produo terica dos autores dos Cadernos Negros
e suas implicaes para o esboo de anlise da coletnea p. 23
1.1 Referenciais tericos p. 24
1.2 Criao e Discurso p. 26
TERCEIRA PARTE
1. Descrio: as recorrncias pautadas pelos poemas e teorias (1978 2004) p. 31
2. O Cadernos Negros 1 (1978) p. 32
3. Cadernos Negros 3 (1980) p. 41
4. Cadernos Negros 5 (1982) p. 54
5. Cadernos Negros 7 (1984) p. 68
6. Cadernos Negros 9 (1986) p. 80
7. Cadernos Negros 11 (1988) p. 89
8. Cadernos Negros 13 (1990) p. 94
9. Cadernos Negros 15 (1992) p. 100
10. Cadernos Negros 17 (1994) p. 104
11. Cadernos Negros 19 (1996) p. 106
12. Cadernos Negros 21 (1998) p. 109
13. Cadernos Negros 23 (2000) p. 113
14. Cadernos Negros 25 (2002) p. 125
15. Cadernos Negros 27 (2004) p. 134
QUARTA PARTE
1. Os volumes dos Cadernos Negros dedicados prosa p. 143
12
2. Cadernos Negros 2 (1979) p. 143
3. Cadernos Negros 4 (1981) p. 148
4. Cadernos Negros 6 (1983) p. 152
5. Cadernos Negros 8 (1985) p. 157
6. Cadernos Negros 10 (1987) p. 163
7. Cadernos Negros 12 (1989) p. 168
8. Cadernos Negros 14 (1991) p. 172
9. Cadernos Negros 16 (1993) p. 175
10. Cadernos Negros 18 (1995) p. 181
11. Cadernos Negros 20 (1997) p. 185
12 Cadernos Negros 22 (1999) p. 192
13. Cadernos Negros 24 (2001) p. 199
14. Cadernos Negros 26 (2003) p. 204
CONCLUSO p. 209
ANEXOS p. 227
BIBLIOGRAFIA p. 259
13
PRIMEIRA PARTE
1. A Pr-Histria dos Cadernos Negros
A srie Cadernos Negros, criada em 1978, o principal veculo, no Brasil, de pro-
duo literria referenciada na cultura e herana de matriz africana. Cada livro, desde a
primeira edio, provm de um processo de seleo que inclui leitores, crticos e protago-
nistas, isto , escritores e poetas negros. Alternando poemas nos anos pares e contos nos
anos mpares, a srie conta at o momento com quatorze livros de poemas e treze de contos.
A viabilizao da coletnea, ao longo dos seus 27 anos de existncia, se deu graas coti-
zao de cada um dos autores envolvidos. Os Cadernos so, portanto, fruto da organizao
coletiva de escritores e leitores negros.
Outros canais de participao do negro somaram-se ao nascimento dos Cadernos.
Enumerar aqui o significado social e literrio do advento da coletnea , de fato, compreen-
d-la no bojo de um movimento mais amplo, que tem a sua gnese nas primeiras dcadas
do sculo XX. A esse respeito compreende-se melhor a funo e a profundidade social e
poltica daquele momento, a dcada de 70, quando se examina mais de perto e diacronica-
mente alguns fatos.
Desde as dcadas iniciais do sculo XX, quando, de forma mais sistemtica e assu-
mida, os escritores negros passaram a buscar meios para apresentar o negro no teatro e na
literatura, enfrentaram o desafio da invisibilidade negra no passado. Alis, invisibilidade e
esteretipos constituram-se em barreiras quase intransponveis.
Contudo, esse desafio foi, nas aes do Teatro Experimental do Negro, 1944, no
Teatro Popular Solano Trindade, 1950, nas obras de alguns escritores e poetas, dentre eles
Solano Trindade, e na ao da imprensa negra, enfrentado de forma a possibilitar um ac-
mulo que vem se expandido. Questes postas por esses movimentos, notadamente no teatro
e literatura, foram introduzidas no cenrio literrio nacional, possibilitando a descoberta de
fontes referentes negrura nas artes e perspectivas analticas, em particular, a perspectiva
que enfoca literatura (teatro) e projeto identitrio negro:
O teatro negro, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, constitui um
desses territrios culturais que descentram um modelo ficcional e, num
percurso s vezes antropofgico, impe sua singularidade como um trao
positivo de reconhecimento. Nesse sentido, o Teatro Negro procura rom-
14
per a cena especular do teatro convencional, no apenas dissolvendo os
mitemas que moldam a imagem negativa do negro, mas, fundamentalmen-
te , decompondo o valor de significncia acoplado ao signo negro pelo
imaginrio ideolgico coletivo, erigindo, no seu anverso, um pujante efei-
to de diferena.
1
Dessa forma, no lanamento do primeiro volume dos Cadernos Negros, na cidade
de Araraquara, no ano de 1978, no primeiro encontro do Festival Comunitrio Negro Zum-
bi, concretiza-se a retomada de um processo que procurou, ainda na dcada de 40, rever
imagens e enraizamentos impostos pela literatura, pela historiografia, bem como dar visibi-
lidade ao negro, questionando a dimenso de excluso a que estavam submetidos, entre
outros fatores, por um discurso universal branco. Tal universalidade teve implicaes na
produo literria brasileira, na hierarquizao racial dos papis e na ausncia de histria e
profundidade para personagems e temas negros.
Quando foi lanado, em 1978, o primeiro volume da srie Cadernos
Negros, que tambm era de poemas, trazia o projeto de uma nova identi-
dade nacional a partir da literatura. A identidade, no entanto, um proces-
so, e seu projeto vai se modificando ao longo do tempo. Os textos deste
volume 25, de certa forma, atualizam aquele projeto inicial. Aqui est em
foco no s a experincia individual, mas tambm a coletiva, o fato de a
maioria dos afro-descendentes estarem sujeitos a viver certas situaes em
virtude da origem...
Nos Cadernos alguns temas foram se firmando: a religiosidade, a re-
flexo sobre a esttica do corpo negro, o protesto contra a discriminao
e, de uma forma cada vez mais constante, o tom mais intimista, o olhar
para dentro de cada um, para as vrias faces do sentir e do existir.
2
Por outro lado, o advento dos Cadernos Negros, alm dessa herana legada pelos ar-
ticuladores do Teatro Experimental do Negro (1944) e pelo movimento poltico orientado
pela Frente Negra (1931) , produto tambm de movimentos no mbito especfico da lite-
ratura e imprensa negra inaugurados na dcada de 70:
Antes dos Cadernos j haviam sido feitas tentativas similares. Em 1977 o
jornalista Hamilton Cardoso havia organizado a coletnea "Negrice 1".
Em 1976, uma entidade da cidade de Santos publicara a "Coletnea de
Poesia Negra".
Essas publicaes tinham em comum o fato de serem mimeografadas e vi-
rem no bojo de um incipiente movimento de imprensa negra. Uma das
1
MARTINS, Leda Maria. A cena em sombras. So Paulo: Perspectiva, 1995. p. 49.
2
Texto de apresentao. In: Cadernos Negros 25. Org. Quilombhoje. So Paulo: Ed. dos Autores, 2002.
pp. 13-14.
15
mais contundentes dessa imprensa era o jornal "rvore das Palavras".
Subversivo no seu contedo, falava de revolues e conscincia. Um dos
seus organizadores, J amu Minka, costumava distribuir os jornais no Via-
duto do Ch, ponto de encontro de jovens afro-paulistanos, muitos dos
quais eram atrados at aquele local por conta do movimento soul.
3
Foi neste clima que os militantes e escritores Cuti e Hugo Ferreira propuseram os
Cadernos Negros. A sugesto do nome foi de Hugo. Cuti diz que "(...) o Cecan - Centro de
Cultura e Arte Negra - naquela poca situado na Rua Maria J os, no Bairro do Bexiga, foi o
ponto de encontro entre escritores que iniciavam a srie.
4
A diviso dos custos da edio
do livro entre os autores participantes viabilizou a publicao naquele ano de 78 e durante
os anos seguintes.
5
Outro fato histrico relevante prende-se retomada, a partir da criao do Movi-
mento Negro Unificado Contra a Discriminao Racial, no ano de 1978, da luta pela supe-
rao das desigualdades raciais. Nesse aspecto, a produo da srie pea fundamental da
trade constituda, na sua base, pelo Movimento Negro Unificado Contra a Discriminao
Racial - MNUCDR - 1978 que, at 1982, foi uma Frente de Organizaes Negras e o prin-
cipal veculo nacional de conscientizao anti-racismo e o Festival Comunitrio Negro
Zumbi - FECONEZU - 1978 que, na trade, sintetizava as principais intervenes do Mo-
vimento Negro de Expresso Cultural.
Soma-se, ainda na dcada de 70 e construindo uma nova noo de cidadania, a ao
dos novos movimentos sociais encabeados, alguns, por mulheres e homossexuais e o as-
censo de movimentos de estudantes e trabalhadores. So tambm, do mesmo modo, refe-
rncias vitais, para compreenso daquele momento, as greves no ABC e o fortalecimento
de um movimento nacional em torno da anistia e pelo fim da ditadura militar.
Tendo em vista essas inquietaes sociais e polticas, o lanamento da coletnea foi
um meio catalisador de foras sociais (culturais e artsticas) que coube aos idealizadores
dos Cadernos Negros concretizar atravs de um projeto de identidade negra a partir da lite-
ratura. De forma resumida, o contexto imediato marcado pelas intervenes dos Movimen-
3
SILVA, Luiz. (Cuti). Cf. texto Um pouco de histria, publicado em Cadernos Negros 8. Org. Quilombho-
je. So Paulo: Ed. dos Autores, 1985.
4
Id. ibid.
5
Texto de apresentao. In: Cadernos Negros 20. Org. Quilombhoje. So Paulo: Ed. dos Autores, 1997.
pp. 15-16.
16
tos Negros, os legados da Frente Negra e do Teatro Experimental do Negro possibilitaram,
de forma objetiva, o advento dos escritores e poetas negros na dcada de 70.
3. Teatro Experimental do Negro e Cadernos Negros
Comparando-se a trajetria dos Cadernos Negros e do Teatro Experimental do Ne-
gro (TEN), poder-se-ia, de imediato, ressaltar uma semelhana de percurso. O TEN foi cri-
ado no Rio de J aneiro, em 1944, numa sucesso de acmulos polticos iniciados pela Frente
Negra Brasileira, 1931. Soma-se, ainda, FNB e ao TEN, o Teatro Popular Solano Trinda-
de, 1945. O trnsito dos militantes comprova, por si s, as inmeras tessituras polticas ur-
didas pela trade no perodo e na influncia estendidas s geraes futuras. Abdias Nasci-
mento, cone do TEN, foi da mesma forma figura proeminente na Frente Negra Brasileira.
Solano Trindade, por sua vez, estrelou no TEN e no teatro de orientao popular que osten-
tou o seu prprio nome.
Os Cadernos Negros, 1978, tm o seu advento na cidade de So Paulo no mesmo
perodo de retomada de um movimento negro de expresso nacional, o MNUCDR, Movi-
mento Negro Unificado contra a Discriminao Racial. O MNUCDR, alis, que se constitu-
iu, at 1982, numa frente de organizaes negras e abrigou nas suas fileiras militantes, es-
critores e colaboradores da srie CN.
No rol das interlocues encetadas pelo MNUCDR, temos, no mesmo perodo, a
primeira edio do FECONEZU, Festival Comunitrio Negro Zumbi, evento itinerante or-
ganizado por diversas entidades negras e circunscrito, espacialmente, ao estado de So Pau-
lo, em cujo espao festivo se deu, em 25 de novembro de 1978, o lanamento do primeiro
nmero dos Cadernos Negros.
Esse leque variado de perspectiva, nos dois perodos, dcada de 40 e dcada de 70,
revitalizam as atuaes dos chamados movimentos negros polticos e dos movimentos ne-
gros de expresso cultural.
Muitos grupos, na dcada de 40 e mais ainda na dcada de 70, no Brasil, surgiram
tendo a luta contra o racismo como fator de aglutinao. Tradicionalmente, porm, as aes
desses grupos esto, taticamente, "limitadas" aos aspectos culturais e procuram a busca de
identidade tnica ou so grupos que enfatizam, prioritariamente, os aspectos polticos. To-
dos sabemos que as manifestaes culturais so produtos histricos e, sendo assim, sabe-
17
mos tambm que essas manifestaes so polticas. Para a compreenso desse percurso
(TEN Frente Negra e Teatro Popular Solano Trindade e MNUCDR Cadernos Negros e
FECONEZU), bom ressaltarmos a existncia, no Movimento Negro, de grupos cuja nfa-
se recai, apenas por definio ou por uma questo didtica, nos aspectos polticos ou cultu-
rais. Parece-nos bvio a no existncia de posies puras, exclusivamente culturais ou ex-
clusivamente polticas.
6
Numa viso global e considerando, nessa totalidade, a questo cultural e a poltica,
no campo especfico do teatro, o TEN foi responsvel pela discusso e incluso dos negros
nos palcos brasileiros. Os nomes de Abdias Nascimento, Ruth de Souza e Eduardo Silva
so referncias desbravadas pela ao cnica do TEN. Alm, de forma histrica, de formar
a primeira gerao de atores e atrizes negros, o TEN editou, na dcada de 50, a revista Qui-
lombo e por fim, em 1961, na rea da dramaturgia, lanou a antologia Dramas para negros
e prlogos para brancos, at o momento, nica no mercado editorial brasileiro.
Na teia das convergncias ou semelhanas, avultam, em cada perodo e nas inter-
venes do TEN e dos Cadernos Negros, aes que extrapolam as delimitaes especficas
do teatro e da literatura.
As aes do TEN, no obstante as inmeras montagens e sua indiscutvel atuao
nos palcos, no se restringiam s encenaes. Os objetivos dos seus quadros, atores, atrizes
e encenadores, visava educao, arte e cultura. O movimento se propunha, atravs de ofi-
cinas e seminrios, entre outros meios, produo e fomento cultural centrado na negrura.
A troca de experincias, a divulgao da cultura afro-brasileira, dentro desse enfoque, nor-
tearam os encontros, seminrios, congressos e concursos dirigidos e realizados pelo TEN.
H um srie de eventos delimitados pela ao poltica e cultural do TEN. Muitas
dessas realizaes se confundem, desde a sua fundao, 1944, com a trajetria pessoal de
Abdias Nascimento seu principal expoente. Consta, na constituio desse rosrio, em 1945,
o Comit Afro-Brasileiro, em 1949, a primeira conferncia Nacional do Negro, em 1950, o
primeiro Congresso do Negro Brasileiro. Em 1955, entra, na pauta das aes, o Concurso
de Artes Plsticas sobre o tema do Cristo Negro. A Conveno Nacional do Negro (Rio/So
Paulo, 1945-1946) foi mais uma das conquistas do TEN. Das plenrias dessa conveno
saram, vale aqui o registro, as polticas pbicas de aes afirmativas para a superao das
6
ANTNIO, Carlindo Fausto. Carnaval, identidade tnico-cultural e educao no formal. (Dissertao de
18
desigualdades raciais e a incluso de um dispositivo constitucional definindo a discrimina-
o racial como crime de lesa-ptria. Ambas as propostas foram encaminhadas Assem-
blia Nacional Constituinte de 1945.
7
Contraditoriamente o TEN realizou tambm concur-
sos de beleza tendo no centro a mulher negra e reproduzindo, se levarmos em conta a pol-
tica de branqueamento, as gradaes de pele, isto , o trao nodal do racismo brasileira.
Os concursos, nas dcadas de 40 e 50, denominados Rainha das Mulatas e Boneca de Pixe
(sic) pontuam, exemplarmente, o que constatamos.
8
Pela anlise comparativa e, mais ainda, pela ao anti-racismo, sintetizadas nas tra-
jetrias do TEN e dos Cadernos Negros, podemos consider-los como parte dos movimen-
tos negros. Segundo os estudiosos dos movimentos sociais, uma noo de movimento ne-
gro diz respeito organizao de grupo de negros conscientizados das carncias, das pres-
ses sociais e da discriminao racial.
9
A percepo do racismo, na sociedade brasileira e a
sua superposio ao campo literrio e cultural, propiciou a coeso entre seus membros, en-
tidades ou organizaes negras, cujas bases ideolgicas permitiram gerar uma estratgia de
luta.
Estratgia de luta balizada pela percepo das contradies ancoradas no racismo
institudo como uma tradio entre ns, ou seja, um trao constituinte e recorrentemente
buscado para delimitar, racialmente, a hierarquizao das relaes no cotidiano e, por ex-
tenso, a historiografia nacional ou literria. Servem, como modelos explicativos dessa tra-
dio, o projeto identitrio nacional elaborado no romantismo, no naturalismo e no moder-
nismo. Igualmente o destino racial (ou seja, cor e raa) modela as discusses de identidade
brasileira, as lutas e as composies de poder na Repblica (1889), na passagem do traba-
lho escravizado para o trabalho de homens livres (1888) e nas sucessivas polticas adotadas
aps 1888 que, ideologicamente, reafirmam os projetos de cordialidade nas relaes raciais,
a propalada democracia racial, e o branqueamento ideolgico profundamente inculcado no
imaginrio e no simblico da populao brasileira que, do ponto de vista fsico, cada vez
mais negra.
mestrado). Campinas - SP, Faculdade de Educao da Unicamp, 1997. p. 109.
7
Folheto informativo publicado pela SEPPIR, Secretaria Especial de Polticas de Promoo da Igualdade
Racial, no FrumCultural Mundial, realizado entre os dias 30/6 a 3/7 de 2004, emSo Paulo.
8
MARTINS, Leda Maria. A cena em sombras. Op. cit., p. 79.
9
SILVA, Maria Auxiliadora. Encontros e desencontros de um movimento negro. Braslia: Ministrio da Cul-
tura / Fundao Palmares, 1994. p. 31.
19
O branqueamento ideolgico versus o enegrecimento fsico marca o centro das rea-
es dos escritores protagonistas dos Cadernos. Essa percepo possibilita um salto: os
movimentos negros inaugurados na dcada de 70, diferentemente dos movimentos surgidos
nas dcadas de 30 e 40, descartam a assimilao do branco. H um crescente investimento
na histria, na identidade e na compreenso integral da problemtica negra. A histria ofi-
cial, construda sob o ponto de vista do branco, revisada. Palmares e Zumbi ganham, atra-
vs do passado recuperado, centralidade nos discursos, nas prticas sociais, na leitura da
historiografia brasileira e na estratgia poltica dos movimentos negros.
O processo de luta traado pelos mantenedores dos CN passa, ento, pela conscin-
cia do racismo no Brasil com nfase no modo pelo qual ele se define e funciona. A consci-
ncia do racismo brasileira vai orientar as aes em cada um dos perodos.
Na dcada de 40 e na dcada de 70, o TEN e os Cadernos Negros percebem que a
atuao especfica no basta. importante uma ao mais ampla, o que significa levar em
conta a caracterizao do racismo na sociedade mais ampla, no teatro e literatura respecti-
vamente. Na ao descortinada pelos CN, os autores sugerem, o tempo todo, um plano, um
projeto literrio que considere o racismo no Brasil, a sua realidade concreta e a sua existn-
cia sistmica. Elementos analticos precisam ser viabilizados para realizar a tarefa de pr a
nu a invisibilidade corprea da maioria dos brasileiros que tem profundamente inculcada a
poltica de branqueamento.
Alm ou com a poltica de branqueamento, o racismo no Brasil caracterizado pela
ideologia de democracia racial. Como observar Cleber Maciel:
O fato de a democracia racial j vir sendo desmentida desde a dcada de
50 no impede que existam afirmaes de que o racismo no existe. As-
sim, a prtica racista real, pela manifestao do preconceito de cor e dis-
criminao racial, permuta-se numa ao que pode ser vista como normal,
isenta de m f e no discriminatria.
O autor acrescenta ainda que
(...) o racismo existe e sua cristalizao se d atravs da prtica de aes
concretas diversas. Entretanto a sua existncia negada pela utilizao de
20
afirmaes retiradas de que harmonioso o convvio entre os diversos
grupos raciais.
10
O combate sistmico ao racismo brasileira significa, em outras palavras, o enten-
dimento das mltiplas inter-relaes da problemtica racial.
11
Por conta desse combate sis-
tmico, os Cadernos vo atuar, fortemente, no enfoque da discriminao e da afonia em
torno da negrura no cotidiano e nos espaos de alcance dos seminrios, oficinas, festivais e
no contraponto com os movimentos negros e culturais. A superao do racismo exige uma
ao no cotidiano e mais ainda no sistema interno das organizaes negras e, principalmen-
te, da sociedade brasileira. no cotidiano das relaes que se d, no Brasil, o embate do
pas negro versus o pas do branqueamento do imaginrio, da invisibilidade fsica da negru-
ra, da naturalizao do racismo e do silncio e/ou anonimato do negro. Assim se articulam
as polticas do racismo e a sua realidade concreta.
A existncia sistmica, por sua vez, trata da compreenso de sistemas de aes, teo-
rias e discursos e de um quadro nico, multifacetado, no qual a histria do racismo se d.
Teorias e aes interagem e formam um conjunto indissocivel e muitas vezes contradit-
rio. O centro das contradies est no branqueamento ideolgico, arraigado, num pas que
tem negros em profuso e um processo de enegrecimento fsico flagrante.
O racismo exige, portanto, um discurso para construir a sua invisibilidade. Por outro
lado, necessrio tambm a traduo dos militantes e intelectuais negros. A atuao dos
Cadernos Negros, no eixo de militncia e literatura, cumpre esse papel de desvelar, nos
textos ou a partir dos textos, o projeto nacional que cria, permanentemente, a ignorncia do
racismo e do negro. Ignorncia, a bem da compreenso da realidade brasileira, preestabele-
cida e com funcionalidade legitimada e ativada na vida social, nas instncias do cotidiano,
nas quais estas aes e discursos so repetidos, multiplicados e naturalizados.
Os Cadernos formulam, assim, pr-condies para combater o racismo presente na
relao entre a sociedade, a literatura e a representao. A superposio da histria da nossa
sociedade com a formao da literatura delimitam e colocam, num s tempo, o campo lite-
rrio e o racial, igualmente, no cerne da questo. O pendor racista do embranquecimento
10
MACIEL, Cleber da Silva. Discriminaes raciais: negros em Campinas (1888-1921). Campinas: Ed. da
Unicamp, 1987. p. 26.
11
SANTOS, Hlio. A busca de um caminho para o Brasil A trilha do crculo vicioso. So Paulo:
Ed. SENAC, 2001. p. 175.
21
passa, alm das obras literrias, enquanto escrita da histria, pela historiografia literria e
nacional. O patrimnio tnico, por conta da histria brasileira, objeto das aes tericas e
literria dos autores da srie Cadernos Negros.
O enfoque sistmico, parte de uma rede racial e relacional, precisa de teorias. Os
textos dos Cadernos comprovam, ao longo dos vinte e sete volumes, o papel central de uma
produo terica para desnaturalizar o racismo e a necessidade de um projeto literrio cla-
ramente explicitado. Projeto, alis, necessrio para se contrapor aos idelogos do racismo,
do branqueamento, entre eles, Slvio Romero, Nina Rodrigues Gilberto Freire e Euclides da
Cunha, todos interprtes inaugurais da literatura, religio e cultura brasileiras. Todos, i-
gualmente, preocupados com o destino multitnico do pas, das raas cruzadas e que, na
viso deles, estaria fadado barbrie e degenerao por conta da miscigenao extrema-
da. Integra, portanto, o engendramento dessa ao terica dos CN, uma explcita inteno
epistemolgica, ou seja, a mobilizao de conceitos e materiais analticos que possibilitem,
produo literria, um processo de anlise precedendo a crtica ou a simples incluso da
palavra negro ou de denncia do racismo.
22
23
SEGUNDA PARTE
1. A produo terica dos autores dos Cadernos Negros e suas implicaes para
o esboo de anlise da coletnea
Objetivando o esboo de anlise da coletnea, cuja descrio ser realizada na ter-
ceira parte da tese, esse delineamento de percurso realizado aqui tem, como ncleo organi-
zativo, apenas o papel de justificar o porqu do interrelacionamento de textos, teorias e a-
presentaes na anlise descritiva dos vinte e sete livros da coleo.
Os contos, os poemas e os textos crticos produzidos pelos autores da srie e/ou pu-
blicados nos prefcios e apresentaes dos diversos volumes dos Cadernos tero, portanto,
a funo de revelar, num movimento dialgico, os traos e as noes textuais e identirrias
negras. E outras palavras, o esboo de anlise ter a tarefa de fazer surgirem, nas descri-
es, as variaes (de significados e sentidos) de um texto ou de uma posio terica na sua
relao com outros textos ou teorias num jogo de contatos, numa relao dialgica- anal-
gica e no entrecruzamento das diferenas e aproximaes.
H, nesse trabalho terico feito coletivamente pelos autores que publicam na srie,
trs categorias de textos crticos que se referenciam na produo. A primeira, presente des-
de os volumes iniciais da srie, constitui-se de auto-apresentaes nas quais os autores fa-
lam de si e, especialmente, do trabalho de criao. A segunda, presente nos prefcios e a-
presentaes, traz uma relao dialgica entre os idealizadores dos Cadernos Negros, os
autores inseridos nos livros e personalidades negras da rea literria, das cincias sociais e
da militncia poltico-racial. A terceira, feita no livro Reflexo sobre a literatura afro-
brasileira, 1995, resultado de discusses, sistematizadas por 8 autores dos Cadernos, a
propsito, dentre outras questes, da criao e da insero literria do negro autor e perso-
nagem.
Antes da justificativa terica com a qual esperamos mostrar o porqu desse vis, is-
to , de considerar a crtica dos prprios autores na anlise dos contos e poemas, estamos
considerando que a leitura dessa produo facilitar:
- a montagem de um roteiro de leitura esquadrinhando, na descrio dos contos e
poemas, as capas, contracapas, prefcios e dedicatrias presentes em cada um dos volumes
da srie;
24
- a compreenso da gnese da histria da criao literria dos Cadernos Negros re-
alando sua trajetria prvia, na senda dos movimentos negros de expresso poltica e cul-
tural, e o percurso de construo ancorado no concebido-vivido pelos atores sociais e pelo
autores e co-autores dos Cadernos;
- a resposta seguinte indagao: os textos crticos que acompanham os poemas e
os contos podero ( a hiptese que pretendemos verificar) fornecer chaves interpretativas
para a anlise dos poemas, dos contos ou para a definio dos traos de enunciao com os
quais, num movimento deslizante, os atores e seus interlocutores esto assinalando, atravs
ainda de traos, a diferena, a pluralidade e noes que relevem, como conceitos operacio-
nais a produo em si, o que ou o que significa, por exemplo, literatura, militncia, iden-
tidade negra e criao do ponto de vista dos escritores, dos estudiosos e dos leitores que
participam das apresentaes, capas e processo de seleo de contos e poemas?
1.1 Referenciais tericos
Gostaramos agora, depois da delimitao metodolgica orientadora desse captulo
inicial, de explicitar os referenciais tericos com os quais pretendemos justificar o porqu
das abordagens dos autores dos Cadernos Negros, a propsito de suas prprias produes e
as conseqentes (ou possveis) implicaes para a compreenso dos textos publicados.
Vamos nos valer, visando ao objetivo de justificar o aproveitamento das "teorias"
feitas pelos autores dos Cadernos, da compreenso dessa produo como uma das categori-
as do gnero discursivo. Conforme Bakhtin, os gneros discursivos so "tipos relativamente
estveis de enunciados".
12
A estabilidade, nesse caso, pressupe a recorrncia de temas,
abordagens e de um arcabouo literrio que, independente de ser incorporado ou rejeitado
pela presente anlise, deve, no mnimo, ser considerado.
Convergem para esse mesmo ponto as abordagens de Octavio Ianni
13
e Clvis Mou-
ra
14
que dizem, com outras palavras, que a produo dos Cadernos precisa tambm ser con-
siderada a partir dos parmetros delineados pelos prprios autores negros. Salienta-se ainda
12
BAKHTIN, M. (Volchinov, V. N.). Os gneros do discurso. In: Esttica da criao verbal. So Paulo:
Martins Fontes, 1997. p. 279.
13
Cf. IANNI, Octavio. O negro na literatura brasileira. Seminrios de Literatura. 3
a
Bienal Nestl de Literatu-
ra Brasileira. Fundao Nestl de Cultura. Rio de J aneiro: Editora UFRJ , 1990.
25
o fato de a produo veiculada pelos Cadernos, at o momento, no ter sido nem sequer
parcialmente investigada pela crtica literria nacional.
Da a necessidade de remeter-se estabilidade enunciativa construda pelos autores
dos Cadernos. A estabilidade enunciativa (a regularidade de determinados enfoques e a
relao entre os discursos tericos e a produo em si dos autores) poder ser buscada na
comparao dialgica dada pelos textos literrios e pelos textos que falam dessa produo.
Refora essa possibilidade o fato de o enunciado, segundo Bakhtin, "ser a unidade
da comunicao verbal" que se define por ser um "elo da cadeia muito complexa de outros
enunciados".
15
Alm dessa complexidade, o autor chama ateno para carter regulador dos
gneros de discurso, que so mecanismos de transmisso em rede da "histria da sociedade
histria da lngua" (aspecto regressivo) e, da mesma forma, da interao verbal (aspecto
projetivo).
No universo da coletnea Cadernos Negros, a transmisso em rede equivale, em
parte, tessitura entre a histria da produo literria da coletnea e a anlise do processo
criativo feito pelos prprios autores. Essa posio se confirma ainda mais na medida em
que o enunciado , na perspectiva bakhtiniana, uma unidade constituda pela alternncia
dos sujeitos falantes e, principalmente, (...) o enunciado est ligado no s aos elos que o
precedem mas tambm aos que lhe sucedem na cadeia de comunicao verbal.
16
O carter retrospectivo e prospectivo, condensado na cadeia de comunicao verbal,
provoca, no enunciado, "reaes-respostas imediatas e uma ressonncia dialgica."
17
A
ressonncia dialgica o ncleo, mesmo que transitivo, da relao entre os sujeitos a partir
de uma estabilidade que engloba o passado, o futuro e o presente numa semntica situacio-
nal. Por isso, Osakabe, baseado em Pcheux, diz que as estabilizaes podem ser captadas
(...) considerando o ponto de vista semntico e o ponto de vista situacional: a dualidade
enunciado-enunciao conta para ele na medida em que, a partir das constantes semnticas,
dos vrios discursos, ele vai tentar montar uma constante semntica situacional.
18
14
MOURA, Clvis. Prefcio dos Cadernos Negros 3 - poesia afro-brasileira. So Paulo: Ed. dos Autores,
1980.
15
BAKHTIN, M. Op. cit., p. 291.
16
Idem, p. 320.
17
Idem ibidem.
18
OSAKABE, Haquira. Argumentao e discurso poltico. So Paulo: Kairs, 1979. p. 32.
26
Assim, a leitura e a anlise, feitas pelos autores que publicam nos Cadernos, pode-
ro trazer elementos do "(...) contexto e situao que, de elementos externos, podem torna-
se internos ao modo de leitura e, a partir da, internalizar-se ao prprio texto."
19
1.2 Criao e Discurso
O fundamento dessa parte do trabalho, como destacamos antes, a tentativa de a-
proximao das teorias feitas pelos autores que publicam nos Cadernos e os seus prprios
textos em prosa e verso. E para sublinhar, talvez, as fronteiras entre o dois universos que
vamos alinhavar uma srie de textos de autores da coletnea. A idia mestra que os pro-
cedimentos poticos e narrativos, no olhar dos autores - tericos, podero facilitar a leitura
da trajetria dos CN. A teoria seria, a rigor, objeto e pauta para uma anlise dialgica.
Pretende- se mostrar que h um carter dialgico e convergente (s vezes divergen-
te) na escritura negra publicada pelos Cadernos e pelos textos que falam, teoricamente,
dessa mesma escritura.Carter dialgico que diz que a
(...) palavra perpassada sempre pela palavra do outro, sempre e inevi-
tavelmente tambm a palavra do outro. Isto quer dizer que o enunciador,
para construir um discurso, leva em conta o discurso de outrem, que est
presente no seu. Ademais, no se pode pensar o dialogismo em termos de
relaes lgicas ou semnticas, pois o que dilogo no discurso so posi-
es de sujeitos sociais, so pontos de vista acerca da realidade.
20
Acoplado produo literria dos Cadernos, temos um exerccio crtico orientado
pela interveno na realidade (entendida no texto em si e no contexto social brasileiro no
qual essa produo se referencia). A relao dialgica extrapola o texto, na articulao tex-
to literrio e discurso sobre essa produo, e adentra, nas posies dos sujeitos sociais, a
sociedade mais ampla. A atividade literria perpassada pela orientao de vrios discursos
ou por um mesmo discurso que, na duplicao, quer se cristalizar. O j dito, nos poemas e
contos dos CN, reafirma-se no que podemos chamar de discursos sobre a criao artstica.
O discurso, com intervalos de absteno, pontua a histria da produo da srie e
toca o cerne da relao literatura e cultura afro. Os discursos sobre a criao artstica reco-
lhem verdadeiras gemas desse universo. Alis, os autores dos Cadernos clamam por esse ir
19
LAJ OLO, Marisa. Op. cit. p. 88.
27
e vir da literatura e da cultura afro na leitura das relaes raciais. O objetivo estabelecer
possveis conexes entre um texto e outro, em teoria ou em verso, observando significados
que vo e voltam, sempre com certas nuanas de significado, geralmente perpassando as
manifestaes culturais da afro-dispora.
Nesse tocante, nem sempre o roteiro idealizado, pregado, reafirmado na teoria se
confirma nas poesias e contos. Vale enfatizar que o roteiro se confirma, sempre, parcial-
mente. Nossa posio metodolgica ressaltar as aproximaes e as variaes da produo
literria, nos contos e nos poemas, na relao com a teoria. Servem como exemplo textos
que, na contra-mo do fio crtico afirmado pelos discursos de incluso em profundidade da
temtica negra, circunscrevem-se apenas na superfcie de algumas manifestaes culturais,
citando apenas nomes de orixs sem, no entanto, aprofundar e introduzir discursos, dessa
mesma tradio, reportados numa linguagem potica:
Ogunt, Ksya e as senhoras do mar
So as sereias que encantam
os mares de Yemanj.
Eurya...
21
Mas h, nesse exerccio de aproximao, posies intermedirias. possvel situar a
questo percorrendo o fragmento do poema "O jogo da vida", cuja primeira estrofe esta:
O J ogo da Vida
Capoeira luta de libertao
Capoeira a nobreza de viver
A busca amorosa da verdade
As mos no cho, os ps no ar.
22
Condordamos que h nesta estrofe, de certa forma, a inverso de hierarquia pautada,
especialmente, pelos versos "as mos no cho, os ps no ar". Do mesmo modo, a simples
incluso da capoeira, "luta de libertao", como objeto potico, denota uma nova relao de
valores e poder. Por outro lado a capoeira sintetizada no movimento fsico das "mos no
20
FIORIN, J os Luiz. O romance e a simulao do funcionamento real do discurso. In: Bakhtin, dialogismo e
construo do sentido. Org. Beth Brait. Campinas: Ed. da Unicamp, 1997. p. 229.
21
Kaiamiteob. In: Cadernos Negros 19. Org. Quilombhoje. So Paulo: Ed. dos Autores, 1996. p. 106.
22
SANTOS, Edson Robson Alves dos. In: Cadernos Negros 25. Org. Quilombhoje. So Paulo: Ed. dos Auto-
res, 2002. p. 75.
28
cho, e os ps no ar", isto , circunscrita aos aspectos externos e de fcil apreenso, no
resolve por si s a questo da elaborao da linguagem potica e da complexidade da ma-
triz cultural negra, num todo, numa complexidade necessria, como teorizam, neste mesmo
CN 25, os textos da srie:
Escrever poesia aliar um impulso intuitivo, que se prope ou impe, a
um esforo expressivo envolvendo linguagem e cultura.
23
Existe, no texto acima, um discurso em cuja especificidade ou limite os poetas po-
dem confiar uma simulao real a propsito de poesia e cultura. Esse resultado parcial, rela-
tivo, deve ser entendido no em si, mas na relao de um discurso literrio que determina e
determinado pelo outro, o da cultura afro. A relao, portanto, continua. Nesse contnuo,
queremos, no obstante a produo dos Cadernos Negros que se distancia (mais ou menos)
desses referenciais, alertar para as ricas possibilidades de trabalhos que podem ser feitos a
partir dos poemas e narrativas que esto numa relativa correspondncia ou na tenso entre
as aspiraes tericas e os textos literrios.
Para tentar compreender a produo publicada, com nfase nessa mltipla determi-
nao dada por poemas e contos, procuraremos cotej-la, ao longo deste captulo, com a
produo terica e, ao mesmo tempo, colocaremos em evidncia aqui, depois dos textos
alinhados, os lugares-comuns demarcados pelos autores, identificando os valores estticos e
pautando as suas relaes com os textos e, por fim, procuraremos estabelecer uma relao
dialgica, de forma diluda no conjunto da exposio e nos momentos que se fizerem opor-
tunos, com textos publicados por Octavio Ianni, Domcio Proena Filho e Sebastio Uchoa
Leite, que tratam especificamente da produo literriados Cadernos.
A noo textual da negrura, que ser explicitada no conjunto desse captulo, lugar
privilegiado para a compreenso da srie e tambm para estabelecermos o dilogo com os
estudiosos que fizeram consideraes a cerca dessa produo. No pretendemos exaurir
todas as possibilidades dos textos selecionados, mas apenas levantar algumas hipteses
interpretativas acerca dessas reflexes, feitas pelos prprios autores da srie, a partir de
algumas relaes que se podem estabelecer entre fico, teoria e a questo negra .
Aps a leitura das "teorias", das formulaes encaminhadas pelos autores da colet-
nea, iniciaremos, conforme esboo que antecede a smula analtica dos poetas e contistas, o
29
estudos desses textos. Lembramos que, no tocante seleo, alinhamos os recortes tericos
de alguns autores cujas obras, contos e poemas, construdas em torno da singularizao
cultural e ativismo, so fundamentais, na opinio de alguns crticos, dentre eles Sebastio
Uchoa Leite e Domcio Proena Filho,
24
para a leitura da srie. Cuti, Oliveira Silveira, M-
riam Alves, Geni Mariano, le Semog, Oswaldo de Camargo e Paulo Colina so alguns dos
nomes referenciados pela crtica. Outros foram selecionados pela relevncia e pertinncia
das consideraes em torno das noes de literatura, identidade e criao, e pelo efeito de
contraste e semelhana que pudemos vislumbrar entre as suas produes e as "teorias".
Nossa inteno agora , primeiro, revelar o significado desse enquadramento da fon-
te crtica delineada pelo autores dos CN e, segundo, sistematizar a nossa tentativa de apro-
ximao do texto literrio com o qual procuraremos dialogar. Assim, em vez de fazermos
apenas uma sntese de nossas leituras, procuraremos, com essa metodologia, garantir-lhes a
devida funcionalidade na abordagem sistmica da crtica (feita pelos autores da coletnea) e
da produo em si dos Cadernos e, sobretudo, esboar os captulos seguintes.
23
SILVEIRA, Oliveira. In: Cadernos Negros 25. Op. cit., p. 131.
24
FILHO, Domcio Proena. A trajetria do negro na literatura brasileira. In: Revista do Patrimnio Histrico
e Artstico Nacional, n. 25. Rio de J aneiro, 1977. p. 171.
30
31
TERCEIRA PARTE
1. Descrio: as recorrncias pautadas pelos poemas e teorias (1978 2004)
O lanamento da coletnea Cadernos Negros no ano de 1978, a exemplo da expan-
so dos estudos e do engajamento para a superao das desigualdades raciais, no Brasil,
localiza-se no quadro de transformaes construdo por um processo iniciado, como desta-
camos na introduo desse trabalho, nas dcadas imediatas libertao jurdica do trabalho
escravizado, com os primeiros jornais negros, a partir das primeiras dcadas do sculo XX.
O Baluarte (1903), O Bandeirante (1910), O Combate (1912), e A Unio (1917)
mostram o esforo e a fugacidade da imprensa negra do incio do sculo XX. Estes exem-
plos nos revelam jornais voltados cidadania negra e de circulao e vida exgua e restri-
tos, todos, cidade de Campinas.
25
Esse levantamento, feito em Campinas, revela a dimen-
so desse fenmeno que ocorreu em vrias cidades do estado de So Paulo e do Brasil.
A presena de uma imprensa negra foi fundamental para a organizao das entida-
des negras, e para a viabilizao de espaos para jornalistas e escritores negros. Mediante
organizao negra e a conquista de novos espaos, temos uma maior presena negra nos
meios de comunicao, que no contexto do incio do sculo XX, na ao das Entidades
Negras Recreativas e de Auxlio Mtuo, na articulao da Teatro Experimental do Negro,
dcada de 40, e na retomada dos Cadernos, 1978, derivou da afirmao identitria e polti-
ca dos movimentos negros e de forma especial, em ambos os contextos, da articulao de
Movimentos Negros de Expresso Cultural com Movimentos Negros Polticos.
Considerando esse cenrio histrico e de acmulo sedimentado pela luta anti-
racismo e organizao negra, pretendemos buscar, atravs do estudo descritivo dos 14 vo-
lumes de poesia da coletnea , dados estatsticos , temas recorrentes e a pluralidade de pro-
tagonistas presentes em cada edio dos CN, para uma melhor compreenso do significado
global da srie. O que significa apontar e compreender o incio de um processo marcado
com o lanamento dos CN em 1978 e seu estgio atual. A partir da descrio ou conside-
rando tambm a descrio da srie, em resumo, a histria literria dos Cadernos Negros
pode ser escrita em seu momento original e em sua resultante atual.
25
MACIEL, Cleber da Silva. Discriminaes raciais: negros em Campinas (1888-1921). Op. cit., p. 93.
32
A opo descritiva centrada nas poesias e teoria se justifica, inicialmente, pelo vo-
lume de relaes comparativas e analticas desenvolvidas e ensinuadas, at o momento, nos
quatorze livros da srie. Nesse tocante, vale a pena, na trilha das recorrncias, explicitar as
marcas mais visveis construdas, coletivamente, em torno ou a partir da noo textual da
negrura, da problematizao de literatura universal ou universalizante, da militncia e pes-
quisa de linguagem e da rede polissmica de adeso cosmogonia negra.
2. O Cadernos Negros 1 (1978)
O primeiro nmero dos Cadernos foi dedicado poesia. Criam-se, depois desse
primeiro volume, as normas que regulam, at os dias atuais, as publicaes dos CN. Obede-
cendo a pequenas variaes, de ano-a-ano, os textos so selecionados num processo do qual
participam autores, leitores e especialistas em literatura. H, ainda, complementado o pro-
cesso de seleo, o fato de os autores se apresentarem, sempre, na fase de avaliao e esco-
lha dos poemas ou contos, com um pseudnimo e de submeterem os seus trabalhos a um
processo de seleo no qual o poema (ou conto) deve ser considerado bom ou timo pela
maioria dos envolvidos.
assim que se definem, a partir de 1978, os anos pares para a publicao das poesi-
as e os anos mpares para a produo em prosa, perfazendo, at dezembro de 2004, 14 li-
vros de poesia (os volumes 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 e 27) e 13 de contos
(as edies 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 e 26).
Participam dessa edio histrica dos CN, conforme o contedo dos poemas e enfa-
tizando quase que exclusivamente os temas da negrura, os seguintes poetas:
Henrique Cunha RJ, 26 anos, com os poemas: "sou negro, quantos negros, mulher
negra, so negros e cabelos". Angela Lopes Galvo, 24 anos, com : "negro-negro", "retrata-
o", "desencontro", "cercas" e "sede". Eduardo de Oliveira, nascido em 1926, com: "tnica
do bano", "em defesa da negritude aos ps da histria", "zumbi dos palmares", "qual seria
a cor de deus" e "altiplanos da Amrica". Hugo Ferreira da Silva, 31 anos, com: "mataram
um negro e depois um outro", "antes e ainda e o que um negro"? Clia Aparecida Pereira,
22 anos, com: "chibata", "caminheiro", "interrogao", "de costas para o espelho" e "camu-
flagem". J amu Minka com: "identidade", "minha vez" e "zumbi". Oswaldo Camargo, 1936,
33
com: "ousadia", "atitude" e "oh mame!" Luiz Silva, o Cuti, 26 anos, com: "meu verso",
"impresso", "sapo engolido", "vento" e "preconceito racial".
Os ttulos dos poemas so heterogneos, o que nos permite constatar, entretanto, a
variao dos modos de organizao dos poetas em funo do mesmo contedo de denncia
do racismo, bem como de retomada de uma dico identitria negra, nesse perodo, postu-
lada na localizao de Palmares e na disseminao nacional de Zumbi numa resultante de
cones das lutas e mitemas do presente.
Os poetas tornam-se, assim, cronistas da sua realidade. Dos 34 poemas somente
dois, "cercas" de Angela Lopes Galvo e "interrogao"de Clia Aparecida Pereira, no
tratam, de maneira direta, da questo especfica do racismo ou de questes relativas s con-
dies de vida, da cultura e identidade negras.
Nota-se aqui, e no conjunto dos 27 livros da srie, a participao minoritria das
mulheres. Nos CN 1, h somente duas vozes femininas.
Num dilogo que ser reafirmado na trajetria dos 27 exemplares dos Cadernos, h
fragmentos, na pgina 1 do exemplar de 1978, de poemas assinados por Blsiva, Lino Gue-
des, Solano Trindade, Carlos Assuno e Oliveira Silveira. Revigora-se, assim, a condio
de participao dos valores delineados historicamente pela produo literria feita por auto-
res negros. Assim que a produo dos CN se consolida sobre o mundo organizado ou
plasmado por outros autores dos quais os articuladores literrios dos CN no se separam e
em cuja produo h, de igual modo, a reafirmao dos passos atualizados de um processo
no caso de Solano Trindade, por exemplo, firmado em meados da dcada de 40 e, no caso
de Blsiva, numa poesia de combate nucleada na luta de libertao colonial africana e ma-
nifestaes polticas e culturais negras.
Nesse exerccio de interlocuo chama ateno, na contracapa do exemplar inaugu-
ral da srie, a referncia imprensa negra: "A imprensa negra ta ! Leia ,divulgue e assine
Jornegro."
O Jornegro, lembrado pelos organizadores dos Cadernos, compunha com as revis-
tas do recm batizado Movimento Negro Unificado Contra a Discriminao Racial e a Ver-
sus, na seo Latino-Amrica, um dos canais de expresso jornalstica de negros organiza-
dos na dcada de 70.
34
Essa articulao extremamente importante para entender como "a incipiente im-
prensa negra", no dizer dos prprios protagonistas da coletnea, se vincula ou facilita a
produo literria feita por negros e, ao mesmo tempo, como as relaes recprocas so
tecidas entre o campo jornalstico e o literrio. O valor de intercmbio-solidrio , entre
todos os valores que unem a imprensa negra e literatura produzida por militantes e/ou escri-
tores negros, a chave explicativa para a divulgao, na contracapa dos CN 1, do Jornegro,
veculo, alis, de referncia das polticas sistematizadas pelos movimentos negros e espao
ocupado por militantes e poetas que colaboraram tambm com a srie Cadernos Negros.
J amu Minka e Hamilton Cardoso, presentes no volume 3 dos CN, servem como referncias
de articulistas do Jornegro e da revista Versus
26
, preciamente, como diz Jamu Minka, da
seo Latino-Amrica da qual, vale aqui ressaltar , ele foi co-fundador alm de reprter,
redator e editor do J ornegro e co-fundador tambm, em 1978, dos CN.
Essa relao dialgica impresa negra e produo literria feita por negros pode faci-
litar o exame dessa teia de solidariedade. O que significa, em outras palavras, revelar como
o fenmeno de conscientizao que lhe constitui a causa se estrutura a partir de trs dados
apreendidos da relao imprensa negra e produo literria feita por negros, a saber: a uni-
dade temtica em torno da conscincia negra, a convergncia dos projetos, via textos, e de
certa similaridade no tocante superao do racismo e de valorizao, como mais um ins-
trumento, do registro escrito e a unicidade, no que diz respeito aos leitores, de tentativas de
alcanar um nmero maior de negros e negras atravs da leitura. O fato de o Caderno, lan-
ado em 1978, trazer a divulgao do Jornegro, um dos veculos da imprensa negra dessa
dcada, refora a tese: os escritores e jornalistas negros, a despeito das especificidades das
reas, assumem, conscientemente, papis intercambiveis nos lugares que ocupam respecti-
vamente e por esta razo que possvel a dupla militncia ou a dupla atuao.
Na apresentao dos Cadernos Negros 1, assinada pelos prprios autores e pondo
em destaque a data do lanamento do volume inaugural, em Araraquara, no Festival Comu-
nitrio Negro Zumbi, o popular FECONEZU, no dia 25 de novembro de 1978, temos um
registro importante do momento histrico e de relao com o continente africano. A frica
deliberadamente pensada e localizada no tempo e espao para responder melhor a objeti-
26
Hamilton Bernardes Cardoso publicou, conforme nos informa os Cadernos Negros 3, p. 142, o poema
Vontade, em Revista Versus, So Paulo, 1977.
35
vos previamente estabelecidos a partir da dispora negra e do projeto encetado pelos Mo-
vimentos Negros Brasileiros:
A frica est se libertando, j dizia Blsiva, um dos nossos velhos poe-
tas. E ns, brasileiros de origem africana, como estamos?
Estamos no limiar de um novo tempo. Tempo de frica vida nova,
mais justa e mais livre e, inspirado por ela, renascemos arrancando as
mscaras brancas, pondo fim imitao. Descobrimos a lavagem cerebral
que nos polua e estamos assumindo nossa negrura bela e forte. Estamos
limpando nosso esprito das idias que nos enfraquecem e que s servem
aos que querem nos dominar e explorar.
Cadernos Negros marca passos decisivos para nossa valorizao e re-
sulta de nossa vigilncia contra as idias que nos confundem, nos enfra-
quecem e no sufocam. As diferenas de estilos, concepes de literatura,
forma, nada disso pode mais ser um muro erguido entre aqueles que en-
contraram na poesia um meio de expresso negra. Aqui se trata da legti-
ma defesa dos valores do povo negro. A poesia como verdade, testemunha
do tempo.
Neste 1978, 90 anos ps-abolio esse conto do vigrio que nos pre-
garam , brotaram em nossa comunidade novas iniciativas de conscienti-
zao, e, Cadernos Negros surge como mais um sinal desse tempo de -
frica conscincia e ao para uma vida melhor, aqui posta em poesia,
parte da luta contra a explorao social em todos os nveis, na qual somos
os mais atingidos.
Essa coletnea rene oito poetas, a maioria deles da gerao que duran-
te os anos 60 descobriu suas razes negras. Mas o trabalho para a consci-
ncia negra vem de muito antes, por isso, Cadernos Negros 1 rene tam-
bm irmos que esto na luta h muito tempo. Hoje nos juntamos como
companheiros nesse trabalho de levar adiante as sementes da conscincia
para a verdadeira democracia racial.
27
A frica fonte de inspirao e os CN so referenciais desse tempo, desses valores,
dessa conscincia que, a cada poca, modifica os valores negros e a prpria concepo de
frica, tanto formal quanto substancialmente. Em outras palavras, a referncia frica no
significa, de modo algum, uma
(...) preocupao com a autenticidade, a resistncia e a pureza de algumas
manifestaes trazidas para o Brasil com a escravido... Por outro lado, a
frica insistentemente procurada no Brasil, por mais que possa corres-
ponder a certas realidades histricas ou contemporneas do continente a-
fricano, essencialmente uma frica cujas significaes so produzidas
ao longo do processo de formao da cultura brasileira.
28
27
Prefcio. In: Cadernos Negros 1 - poesia. Org. Quilombhoje. So Paulo: Ed. dos Autores, 1978. pp. 2-3.
36
Outro dado fundamental para a compreenso dos Cadernos, presente desde o pri-
meiro volume, a percepo orgnica, da subcidadania dada aos afro-brasileiros, de cada
autor em si mesmo, integrada histria do movimento negro e do papel ou funo da litera-
tura na construo identitria da negrura e, por extenso, na superao da invisibilidade
negra. Os textos biogrficos, que acompanham os textos poticos na edio histrica de
1978, reconfortam discusses especificamente literrias e a integrao dos eixos de militn-
cia e criao em si mesmo.
Abre os Cadernos, na abordagem que gira invariavelmente em torno do papel da es-
critura negra e das reflexes sobre autoria, o texto de Henrique Cunha J r reforando, no
por menos e considerando a rearticulao do Movimento Negro Unificado Contra a Dis-
criminao Racial, o significado do trabalho comunitrio: Eu penso que a vida s tem sen-
tido dentro de um trabalho na comunidade. A participao de cada um condio para di-
zermos que vivemos como negros, ou seja, que vivemos. (CN 1, p. 5)
Conquanto o fato que relatamos seja repetido insistentemente na trajetria dos 27
volumes que compem a coleo at o momento, no deixa de revelar a estrutura de uma
viso histrica. Vamos deter-nos nela um momento.
O fato que importa o momento de organizao de um movimento negro de expres-
so nacional em 1978, o Movimento Negro Unificado Contra a Discriminao Racial, e de
ao coletiva e comunitria que, de forma viva no passado e no presente, estende-se pro-
duo literria com a publicao dos CN. Os temas passam por Zumbi, Palmares, frica e
heris, alguns deles, como Robson Silveira da Luz, vtimas da violncia policial.
Os marcos de solidariedade e de enfrentamento explicitados, por Angela Lopes
Galvo, no primeiro nmero dos Cadernos Negros, do conta da questo negra e da mu-
lher: "Dessa forma o que eu escrevo reflete as minhas preocupaes, dvidas e questiona-
mento, enquanto mulher e negra, numa sociedade delimitada por valores brancos e machis-
tas." (CN 1, p. 11 )
Eduardo de Oliveira, Hugo Ferreira da Silva, Clia Aparecida Pereira, Osvaldo de
Camargo e Cuti giram, quer seja atravs da temtica, quer seja atravs do dados autobiogr-
ficos, em torno da problemtica de incluso do negro sujeito ficcional e social. J amu Minka
traz, conforme a texto introdutrio do livro, um enfoque de aproximao com a matriz afri-
28
SILVA, Carlos Benedito Rodrigues da. Da terra das primaveras ilha do amor: reggae, lazer e identidade
37
cana. A fuso entre o universo especfico da poesia e a frica amalgamam, segundo J amu,
num todo, a julgar pelo seu texto que diz ser dessa descoberta a sua base de inspirao cria-
tiva: "A poesia pra mim foi um impulso, uma revelao. Encontrei a linguagem potica a
partir da descoberta e identificao com minhas razes africanas." (CN 1, p.35 )
A frica no est no passado ou num lugar abstrato, poder-se-ia dizer que, pelo po-
ema que transcreveremos abaixo, o continente africano em trnsito pela realidade negra e
brasileira marcado pelos militantes negros e pelo acontecimento histrico, fora do qual as
noes de negrura, frica e identidade no podem ser percebidas:
Identidade
Nasci de pais mestios
Fui registrado como branco
Mas com o tempo a cor escura se fixou
Negro, negrinho
Voc negro sim,
A primeira ofensa!
Eu era negro sem saber
Adolescente, ainda recusava minha origem
Aprendi a ser negro o passivo, inferior
Reagi: sendo esta raa assim,
No sou negro no!
Recusei a herana africana
Desejei a brancura
Mais tarde soube
A inferioridade era um mito
A passividade uma mentira
O conhecimento trouxe a conscincia
Aceitei minha negrice
Me assumi!
Encontrei uma bandeira
Negritude!
Identidade resgatada
Ser negro importante
se identificar com minhas razes.
(J amu Minka, CN 1, p. 35)
cultural. So Lus: EDUFMA, 1995. p. 10.
38
A identidade com os valores negros, na poesia de J amu Minka, decorre dessa evolu-
o que, no contexto de aproximao com a militncia anti-racismo, revela as nuanas da
conscientizao racial e, nesse processo, sob os textos atentos de alguns poetas dos Cader-
nos, se impregnam de um tempo histrico, criador e produtivo. H um conjunto de poemas,
na primeira produo coletiva dos CN, que tem um valor de crnica anti-racismo. J amu
Minka , ao longo dos 27 anos dos CN, o autor que faz, a partir de uma produo exclusi-
vamente potica, a melhor aproximao como esse iderio de poesia-crnica:
minha voz, minha vez
Eu negro
voc branco
uma diferena
no uma excluso
a no ser que voc
insista no controle das regras
escolhendo meu lugar
permitindo minha vez
s quando lhe convm
Eu negro
Voc branco
Vantagem sua
Prejuzo meu
enquanto no compreenderem
no ser possvel pensar em ns
impedindo minha voz
Eu negro
voc branco
de que jeito no mesmo barco
se convivo com tua branquisse
enquanto probes minha negrura?
Eu negro
voc branco
amigos
s se as opinies tiverem peso igual
s quando deixar de exigir
minha adeso total
39
sua lgica incompleta
se respeitar minha especificidade
haver compreenso
e aprender comigo
as verdades acumuladas do lado de c
ento,
eu negro
voc branco
mais prximos
da verdade de todos ns.
(CN 1, pp.36-37)
H uma prefigurao de temas que integram as demais obras da coletnea, manei-
ra de um ciclo cuja primeira fase anunciasse as variaes (ou reafirmaes) subsequentes: a
(in)visibilidade do negro, o povo e os negros organizados, Zumbi e os heris esquecidos, a
mulher negra, a frica, os traos dados pelo cabelo pixaim, pela pele negra, pela revalori-
zao da negrura, numa seqncia insistente, mas sem grandes variaes, ao lado de uns
poucos poemas centrados num projeto identitrio no-militante. A temtica quase amorosa
e de abordagem do egosmo, do altrusmo, entre outros sentimentos situados alm ou a-
qum da ao militante, aparecem, no livro inaugural da srie, somente nos poemas, "cer-
cas", de Angela Lopes Galvo e "interrogao" de Clia Aparecida Pereira:
Cercas
Essa linha ilusria
que separa, delimita
altrusmo do egosmo
amor da desesperana
medo da confiana
fraqueza da segurana
me afasta, obscurece
e sobretudo questiona
a desconhecida que sou de mim mesma.
(CN 1, p.14)
40
Interrogao
Que importa acordar, se sonhar bom?
Que importa as horas, se o tempo voa?
Que importa amar, e sofrer em vo?
Que importa o sim, o que importa o no?
Que importa a guerra se a paz pouca?
Que importa lucidez se pareo louca?
Que importa tudo?
O que importo eu? O que importa voc?
O que importamos ns?
S importamos juntos, pois individualmente
Cada um de ns
no vale nada.
(CN 1, 31)
Um nico poema, de Oswaldo de Camargo, na primeira edio dos Cadernos, traz
explicitamente a influncia da produo potica brasileira da dcada de 60. No poema abai-
xo, ntido o tom e o universo simblico presentes, de forma emblemtica, na poesia de
J oo Cabral de Mello Neto. Os versos destacados,"Gume frio de uma faca"/ " fruto que
cresce seco"/ "spero, sem alegria", sedimentam os elos referidos acima e o poema, no to-
do, assegura ainda mais os liames temticos com obra cabralina:
Mesmo que seja meu grito
Gume frio de uma faca,
cortando o corpo do dia,
ferindo na hora exata,
devolvo a voz repousada
na minha boca insensata.
Frio de cobre, bordo
Rouco, de pouca ousadia,
Elejo meu pensamento,
Escondo-o , porm, ao dia.
fruto que cresce seco,
spero, sem alegria,
duro fruto da secura
que a vida nos propicia.
Mesmo que seja meu grito
um sopro de profecia,
devolvo-o na antiga safra
daquilo que eu no escolhia:
41
Recuso a face da treva
Diversa da que eu poria
no corpo do dia branco,
que nunca foi o meu dia,
nos flancos do dia branco,
que em cima de mim crescia
sua garra, seu ditame,
seu grfico e extrema ousadia.
(CN 1, p. 41 )
Cadernos Negros 3 (1980)
A coletnea 3, tambm dedicada poesia, edio dos autores, marca a constituio
do grupo Quilombhoje Literatura, grupo paulistano de escritores, cujos objetivos, alm da
publicao anual da srie Cadernos Negros, incluem a discusso e o aprofundamento das
experincias afro-brasileiras na literatura e cultura".
29
O livro traz, na contracapa, textos poticos de autoria de Nei Lopes:
Nossos poemas formam um grande rio.
E amamos e nos demos
E nos demos e amamos
E de ns fez-se um mundo.
(CN 3, p.5)
e Agostinho Neto:
No basta que seja pura e justa
a nossa causa
necessrio que a pureza e a justia
existam dentro de ns.
(CN 3, p.5)
A dupla orientao expressa na contracapa, parte da rede de relaes raciais buscada
desde a primeira publicao, soma referncias brasileiras e africanas. A apresentao feita
29
http://www.quilombhoje.com.br/quilombhoje/histricoquilombhoje - Consulta em 26/11/2004.
42
por Clvis Moura, um dos intelectuais mais representativos das cincias sociais no tocante
reviso do significado do negro na historiografia brasileira, ressalta a interveno dos
movimentos negros e a importncia do projeto de conscincia negra para a consolidao da
produo literria sintetizada, naquele momento, nos Cadernos:
J escrevemos, em outro local, que medida que o movimento negro con-
tra a discriminao avanasse surgiria uma gerao de escritores negros
poetas, contistas, romancistas, historiadores - como conseqncia dessa
dinmica de conscientizao tnica. J que a cultura oficial branca no a-
ceita as formas de manifestaes artsticas dos negros como literrias, a
no ser depois de faz-las passar pela peneira das normas estticas ofici-
ais, os escritores afro-brasileiros, ao se engajarem no movimento contra a
discriminao racial procuram, igualmente, protestar atravs de vrias
formas contra a discriminao cultural. (CN 3, p. 7)
Clvis Moura critica a prevalncia das normas impostas pelo colonizador e a total
desconsiderao aos valores orais da tradio africana. A naturalizao do racismo, em vir-
tude do afogamento da herana africana e da afonia em torno da cultura negra no Brasil,
erige-se, no dizer dele, como o principal fundamento da universalizao da brancura. A
partir do branqueamento, nas consideraes do pesquisador, h o solapamento das "formas
particulares de dizer".
30
Moura vai criticar e considerar, em primeiro lugar, "a aceitao das normas de com-
portamento e criao literria tidas com o corretas, eruditas, universais e imutveis,
31
que
esto intimamente relacionadas. Clvis Moura ousa, deste modo, pensar que a histria e o
acmulo da luta para superar as desigualdades raciais dispem das condies objetivas,
materiais e intelectuais, para se contrapor ao racismo e enfrentar o comeo de uma nova
trajetria. Na sua reflexo, a organizao poltica vai criar, na comunidade afro-brasileira,
mecanismos de comunicabilidade para superar os valores evolucionistas e eurocntricos
fortemente incrustados "na sociedade dominante e ideologia cultural dominante".
32
Mesmo que essa comunicao fique restrita ao universo delimitado pelo alcance dos
movimentos negros e dos Cadernos Negros, a apresentao valoriza o fato e o tempo emp-
rico da produo poltica e literria que rompem com o discurso da cultura oficial. O que
equivale a dizer, segundo Clvis Moura, que o negro "j articula uma linguagem literria
30
MOURA, Clvis. Cadernos Negros 3. So Paulo: Edio dos autores, 1980. p. 8.
31
Idem, ibidem.
32
Idem, ibidem.
43
prpria". O tempo emprico, subjacente anlise encaminhada na apresentao dos CN 3,
por Clvis Moura, pode ser entendido a partir da noo de tempo emprico sistematizada
por Milton Santos que diz:
O que conta mesmo o tempo das possibilidades efetivamente criadas, o
que, sua poca, cada gerao encontra disponvel, isso a que chamamos
tempo emprico, cujas mudanas so marcadas pela irrupo de novos ob-
jetos, de novas aes e relaes e de novas idias.
33
O tempo emprico , portanto, a soma das possibilidades efetivamente criadas pela
ao organizada dos negros que resultou, no estgio atual, na srie CN, no mbito literrio
e, num sentido mais amplo, no Movimento Negro Unificado Contra a Discriminao Raci-
al. O tempo emprico, como quer Milton Santos, construdo num processo relacional, ou
seja, ele traz o passado para o presente e a irrupo deve ser entendida, ento, como um
ciclo desencadeado historicamente na constituio da Frente Negra Brasileira, anos 30, e na
articulao dos movimentos negros brasileiros com os movimentos negros internacionais:
Os movimentos negros que retomaram a luta anti-racista nos anos 70 co-
mearam enriquecidos pela experincia dos movimentos anteriores Frente
Negra, Teatro Experimental do Negro, (etc), dos movimentos negros ame-
ricanos com o Pan-africanismo, e africanos com a Negritude. Contraria-
mente aos movimentos anteriores cuja salvao estava na assimilao do
branco, ou seja, na negao de sua identidade, eles investem no resgate na
construo de sua personalidade coletiva. Eles se do conta de que a luta
contra o racismo exige uma compreenso integral de sua problemtica, in-
cluda a construo de sua identidade e de sua histria contada at ento
apenas do ponto de vista do branco dominante. Como escreveu o historia-
dor J oel Rufino dos Santos: trata-se de tornar o negro brasileiro visvel a-
travs de seu passado recuperado(...)
34
A trilha de lutas desencadeada pela Frente Negra Teatro Experimental do Negro e
na dcada de 70 na articulao dos movimentos negros de expresso artstica e cultural, o
Festival Comunitrio Negro Zumbi, 1978, e os Cadernos Negros, com o poltico, o Movi-
mento Negro Unificado contra a Discriminao Racial, recompe o sentido coletivo e a
33
SANTOS, Nilton. Por uma outra globalizao: do pensamento nico conscincia universal. 6
a
ed. Rio de
J aneiro: Record, 2001. p. 173.
34
MUNANGA, Kabengele. Anti-racismo no Brasil. In: Estratgias e polticas de combate discriminao
racial. Org. Kabengele Munanga. So Paulo: Ed. da Universidade de So Paulo: Estao Cincia (Edusp),
1996. p. 85.
44
inseparabilidade das conquistas no plano poltico e social com as conquistas no plano liter-
rio ou artstico-cultural.
Clvis Moura fala, ainda, num ethos prprio e na recuperao, no texto, das matri-
zes africanas. Mas destaca, especialmente, a quem se dirige a produo dos CN:
Sua mensagem para a prpria comunidade negra que, embora lendo esse
autores tambm procura reafirmar a sua conscincia tnica atravs da poe-
sia. A poesia, o mais permanente de todos os gneros literrios e que na
frica circulou como elemento de comunicao oral durante milnios,
com a simplicidade dos alos, vem ,agora, medida que o negro brasileiro
se conscientiza, projetar-se como meio de comunicao e protesto.
35
Nota-se, assim, na relao entre os planos literrio e o poltico, o aprofundamento
sobre as relaes entre linguagem e sociedade Em que medida a produo literria veicula-
da pelos Cadernos determina a conscincia negra ou, de outro modo, em que medida a ide-
ologia, ligada ao contexto de exploso dos movimentos negros em oposio sociedade
mais ampla brasileira, determina a linguagem expressa nos poemas e contos da srie? As
estruturas sociais e a produo literria so ou esto entranhadas numa mtua determina-
o. Estas relaes entre sociedade e linguagem delimitam o conjunto de trabalhos inseri-
dos nos CN 3, 1980, edio da qual 21 poetas participaram e apresentaram textos tecendo
consideraes sobre a prpria produo e/ou revelando aspectos especficos do universo de
criao e do lugar da problemtica negra no processo global das suas escrituras.
H, entre os 21 poetas, somente trs mulheres: Angela Lopes Galvo, Magdalena de
Souza e Maria da Paixo. A amostragem registra a presena minoritria das mulheres, a
exemplo da coletnea inaugural de 1978, tambm na edio de 1980.
Participam ainda do livro: Abelardo Rodrigues, Aparecido Tadeu dos Santos, Aris-
tides Theodoro, Azael Mendona J nior, Henrique Cunha J r, Luiz Silva, o Cuti, Wilson
J orge de Paula, D. Paula, Eduardo de Oliveira, le Semog, Hamilton Bernardes Cardoso,
J amu Minka, J os Alberto, J os Carlos Limeira, J os Aparecido dos Santos Barbosa, Luan-
ga, Oliveira Silveira, Oswaldo de Camargo, Paulo Colina e Reinaldo Rodrigues de S.
Os temas, quase sem exceo, falam da tomada de conscincia que j vimos na pri-
meira coletnea. Mas a abordagem do mesmo tema (centrado na identidade ou na chamada
conscincia negra) no homognea, nem segundo os poemas, nem segundo as relaes
35
MOURA, Clvis. Cadernos Negros 3. So Paulo: Edio dos autores, 1980. p. 10.
45
frica e realidade brasileira, nem quanto aos textos de reflexo apresentados pelos autores
para discutir literatura e criao.
Novas posies so apresentadas a partir das referncias dadas pelo movimento ne-
gro. Zumbi e Palmares, nos Cadernos Negros 3, sero valorizados como lugar central do
projeto identitrio negro e, por isso, sero o lugar de uma coabitao dinmica com a tem-
tica da frica, quilombo, desnaturalizao do racismo, manifestaes culturais negras e
religies de matriz africana. Tais tema, manifestaes culturas negras e religies de matriz
africana, ausentes do volume histrico de 1978.
Nos trabalhos de Aberlado Rodrigues, na abertura do volume 3, temos, guisa de
mostrar a incluso desse enfoque de centralidade da saga palmarina, o poema Procura
de Palmares:
Como voz de faca
em vo
derrubando pssaros antigos
ou vento de homens
que sopram desejos
de velhos risos perdidos
em correntes,
preciso que o punho
seja espelho de nossa f.
E que meus olhos tremidos
estejam ainda na penumbra
da razo negada,
preciso que se galgue
a poeira levantada
e se ache
entre palmeiras
lanas
guerreiras
intactas.
(CN 3, p.13)
e o poema Zumbi que representam um pouco do conjunto desse exemplar dos
Cadernos 3:
As palavras esto como cercas
em nossos braos
46
Precisamos delas.
No de ouro,
mas da noite
do silncio no grito
em mo feito lana
na voz feito barco
no barco feito ns
no ns feito eu.
No feto
Sim.
20 de novembro
uma cano
guerreira.
(CN 3, p. 16)
Palmares e Zumbi so mitemas construdos no bojo da escalada, em nvel nacional,
dos movimentos negros sintetizados na frente Movimento Negro Unificado contra a Dis-
criminao Racial , portanto, bastante razovel a insero com maior freqncia desse
temtica com a qual os poetas (e tambm militantes) e a sociedade brasileira tm oportuni-
dade de um convvio, graas reviso histrica feita pela militncia negra, relativamente
intenso e, pelo que podemos observar hoje, prolongado. Lembramos, ainda, que no conjun-
to dos Cadernos 3, as abordagens de Palmares e Zumbi justificam a insistncia como uma
forma ideolgica de inculcar na vida, nos leitores, as perspectivas dos negros organizados e
cresce, dessa forma, a recorrncia a Palmares e Zumbi como orientadores de uma nova his-
tria contada s avessas da historiografia oficial brasileira.
Na edio nmero 3, as manifestaes culturais afro-brasileiras ganham centralidade
em muitos poemas e nas apresentaes de alguns poetas. Aparecido Tadeu dos Santos, cujo
nome africano Oubi Ina Kibuko, ao esboar as condies mnimas para a unio e a cons-
truo da fraternidade negra, dedica os seus poemas aos esforos realizados pelas entidades
negras "que lutam pela atualizao, elevao e valorizao do negro e tambm pela preser-
vao e divulgao de nossas culturas."
36
36
KIBUKO, Oubi Ina. Cadernos Negros 3. So Paulo: Edio dos autores, 1980. p. 24.
47
Essa ligao entre as entidades negras, intrinsecamente imbricadas na produo lite-
rria e nas relaes entre os movimentos culturais e polticos, tem seus paralelos nos smbo-
los traados pela singularizao cultural:
O exerccio da literatura associa-se, assim, tambm em sentido amplo, aos
movimentos de afirmao do negro, a partir de uma tomada de conscin-
cia de sua situao social, seja no espao dos povos da frica, seja no
domnio da afro-dispora e conduz, entre outros aspectos, preocupao
com a singularizao cultural mencionada.
37
Na perspectiva de Kabengele Munanga a valorizao e a preservao equivalem, na
construo do processo identitrio do negro, busca de sua identidade tnico-cultural o que
se configura uma estratgia cultural.
38
O poema abaixo, de Oliveira Silveira, parte dessa
conexo entre identidade e cultura:
J ongo
J ongo, meu jongo, como tu s lindo
Na voz de Clementina,
no terreiro, no jeito que a gente
se embala no teu som,
te dana em roda, canta,
bate no atabaque
(meu corao tambu,
meu candongueiro amor!)
alegre e lindo, nesse embalo
antigo e ancestral,
tu faz de mim, da minha vida,
do meu destino um ponto de demanda
que s aquela jongueira
l
pode desamarrar!
(CN 3, p. 116)
dessa forna que os negros buscam, na afro-dispora, os marcos e as tessituras en-
tre frica, quilombos e projeto literrio no qual os autores dos CN se inserem:
37
FILHO, Domcio Proena. A trajetria do negro na literatura brasileira. Op. cit, p. 175.
38
MUNANGA, Kabengele. Anti-racismo no Brasil. Op. cit, p. 85.
48
A volta frica e ao quilombo so entendidas por mim como estado de
reflexo que impulsiona as novas realizaes. o caminho histrico do
reconhecimento de si, na reconstruo da histria em oposio ao branco
opressor. Portanto frica, quilombo, escravido, nos meus escritos so
uma fase e um meio de nos explicar e nos entendermos e tomarmos cons-
cincia de nossa vida. Estes elementos oferecem energia revolucionria e
contm as formas comunitrias teis para nossa conscincia. Estamos no
Brasil e no sculo XX, portanto aqui e agora que se deve realizar aquilo
que temos de frica, quilombo e escravos.
39
O poema, de Henrique Cunha J r, aponta para os mesmos vetores:
Quilombo
Os homens ainda caminham pela noite
luz da lua no portam mais lanas
Nem mais as direes tem fuga para o mato
A me noite ainda embala o caminho
quilombola
So negras figuras luz da lua
Por entre sombras de edifcios
Atrs dos telhados das favelas
Nos cmodos escuros das penitencirias
So conspiraes silenciosas
Idias mais agudas que as lanas
Movimentos desencontrados e dispersos
Mas todas estradas tem um s destino
O quilombo est a
Nas pginas dos livros
Nas esquinas, nos campos
Nos pensamentos e sofrimentos
O quilombo est a em p de guerra
(CN 3, p. 46)
No engendramento dessa estratgia plurissignificativa, Munanga lembra como eram
concebidos, na frica, os quilombos:
As fugas em bandos organizados e a formao de resistncia ativa podem
ser interpretadas como estratgias de rupturas, porque os quilombos no
39
CUNHA, Henrique. Cadernos Negros 3. So Paulo: Edio dos Autores, 1980. p. 42.
49
eram simples refgios, mas sim tentativas de libertao e de construo de
novo modelo de sociedade inspirado nos quilombos africanos.
40
Na retomada da palavra quilombo, em sua realizao efetiva, o termo evocaria, para
os escritores da srie, um desses atributos percebidos por Kabengele e outros ligados tra-
dio, na qual o grupo est em relao direta. Essas manifestaes de sentidos devem-se,
em grande parte, tradicional mediao terica produzida pelos autores, que permeia toda
atividade literria dos Cadernos.
O corpo um dado, como forma de expresso, do qual o projeto identitrio negro
no pode prescindir. No Brasil, os condicionamento atuam, decisivamente, no corpo e nas
formas de expresso. Ao abordar os condicionamentos a que ficaram sujeitos os negros no
plano explicitamente literrio, o poeta Cuti, no texto "Literatura Negra brasileira: notas a
respeito do condicionamento", faz um balano e mostra os mecanismos de controle, na vi-
sada do poeta, uma constante na trade negro, Brasil e literatura:
Blitz no sentimento de negro uma constante. Acusado de rancor, resta a
alternativa de viver acuado em si mesmo,enquanto aprende as regras da
vista grossa e do escamoteamento da expresso. Na pauta do permitido
todos devem se esforar para o sustento de todas as notas da hipocrisia nas
relaes raciais... Hoje h um dado considervel na transformao, a pre-
sena dos descendentes, mais visveis , dos escravos. O texto escrito co-
mea a trazer a marca de uma experincia de vida distinta do estabelecido.
A emoo inimiga dos pretensos intelectuais neutros entra em campo,
arrastando dores antigas e desatando silncios enferrujados. a poesia fei-
ta pelo negro brasileiro consciente.
41
O nexo teoricamente sugerido pelo poeta passa pela relao literatura e militncia e
avulta, nesse ponto, o papel dos sentimentos e da memria na busca do conhecimento hist-
rico da questo negra:
O ressentimento pecado na bblia dos ladres. preciso ressentir em
paz, livre do medo, do remorso, do dio do capataz. No soluo ou ca-
minho, apenas a constatao de que a dor no gera riso e que guas passa-
das voltam ao moinho, Naturalmente, pela estrada da memria.
42
40
MUNANGA, Kabengele. Anti-racismo no Brasil. Op. cit, p. 84.
41
SILVA, Luiz (Cuti). Literatura negra brasileira: notas a respeito de condicionamentos. In: Reflexes sobre
literatura afro-brasileira. So Paulo: Quilombhoje / Conselho de Participao e Desenvolvimento da Comu-
nidade negra, So Paulo, 1985. p. 16.
42
SILVA, Luiz (Cuti). Cadernos Negros 3. So Paulo: Edio dos autores, 1980. p. 48.
50
O poema abaixo, casado com o seu tempo, no trai o que Cuti explicita nos textos
reflexivos, e sequiosamente enfrenta o entendimento da binmio literatura e militncia:
Parte do poema Tocaia
A palavra negro pulando de boca em boca
como se fosse uma pimenta acesa
os olhos queimando as vendas
o fogo
o vento das lembranas gerando o elo
das palavras-lanas
o batuque
as lanas afiadas em dias de pedra-limo
dias de cisma
de plvora que j t pronta
e palavras que se reencontram para reportar
um futuro
sem algemas.
(CN 3, p.50)
O que constatamos nos discursos caracterizadores dos poemas e dos textos dos CN
uma completa interlocuo. O que importa, na anlise e na produo literria, o modo
como a unidade de significao funciona em relao problematizao da relao entre a
sociedade, a literatura e a representao.
A noo de produo de texto, tecido coletivamente, requer que se problematize a
relao informao e comunicao. A informao, processo segmental e fechado em si
mesmo, no o motor dessa relao dialgica horizontal. Temos sim, nos Cadernos, um
processo de comunicao e de interlocuo, presente, entre as partes e o todo, ou seja, en-
tre a produo de cada poeta isoladamente e o conjunto do livro.
Os autores, o tempo todo, chamam os leitores para um campo constitudo, polisse-
micamente e ideologicamente, por recortes e pela apreenso de um todo que, no entanto,
permanece inacabado.
J amu Minka recompe, permanentemente nas suas poesias-crnicas, o funciona-
mento do racismo brasileira. O poeta lembra que a sua poesia est inserida (como parte
51
de um mecanismo em funcionamento) num certo lugar no interior de uma formao soci-
al."
43
Alia-se, opo poltica escolhida por J amu Minka e mais ainda para a compreen-
so do funcionamento dos discursos literrios e tericos, o fato de que vivemos em um
mundo exigente de um discurso, necessrio inteligncia das coisas e das aes.
44
Cabem
a, lado a lado, mltiplas escolhas entre as quais o nome, segundo a tradio africana, e a
constituio dos conceitos:
Assim como Cassius Clay preferiu ser Muhammad Ali eu escolhi J amu
Minka. Quem assistiu ou leu Roots (Razes) compreende o que isto signi-
fica.
Fui um dos fundadores de rvore das Palavras, da seo Afro-Latino-
Amrica do Versus e sou um dos redatores/editores do Jornegro.
45
Conceitos e discursos so fundamentais em especial na realidade brasileira na qual
h, no cotidiano e em todos os planos, a negao do racismo e do conhecimento do seu fun-
cionamento. Sem conceitos e discursos, seguramente no entendemos o seu funcionamento
que contraditrio e, a despeito de estar urdido s estruturas sociais, falaciosamente ne-
gado nos discursos.
Diante disso temos, sem cessar, a necessidade explicativa e engajada de intelectuais
e militantes negros. esse esforo de traduo do racismo que comanda os poemas abaixo.
Os dois primeiros so de J amu Minka; o terceiro, Para Domingos J orge Velho, de J os
Carlos Limeira:
Duas mulheres
Uma bem jovem
como essa gerao que surge
com a cabea mais negra
por dentro e por fora
mas ainda no pegou o jeito
em vez de ampliar a mente
espicha o cabelo
e justifica:
Acho que o cabelo no tem nada a ver
e assim mais prtico
43
DELEUZE, Gilles. Foucault. Trad. Cludia SantAna Martins. 1
a
ed. So Paulo: Brasiliense, 1988. p. 60.
44
SANTOS, Milton. Tcnica espao tempo: globalizao e meio tcnico-cientfico informacional. 2
a
ed. So
Paulo: Hucitec, 1996. p. 20.
45
MINKA, J amu. Cadernos Negros 3. Op. cit., p. 78.
52
A outra
j na casa dos 30
charmosa com seu cabelo duro
garante ser mais prtico assim
mas confusa pela branquice
teme que conscincia negra seja
racismo
(CN 3, p.82)
Gol Contra
Vibramos com seu talento precoce
fazendo do futebol do pas
campeo mundial
enquanto nossa cabea era s futebol
depositamos nele nossos sonhos de arquibancada
em campo nunca estava s
entravamos com ele
numa comunho mgica
Fora do campo, na vida
Deu chapu na gente
Passou pro lado de l
E ns aqui driblando as barreiras
Enfrentando a catimba
desse jogo sujo
que racista fingindo no ser
Instalado na fama
Ignorou sua raiz africana
preferiu privilgios
dos resduos assim se livrou
"acho que nem tenho cor"
Impossvel no ter sentido
na rua antes da fama
as barreiras da raa
mas, individualista
de$botou
embranqueceu
virou garoto propaganda
do jeitinho brasileiro e sacana que diz
negro aqui no tem problema
53
feliz
(CN 3, p. 83)
Para Domingos J orge Velho
Domingos, bem que voc poderia
Ter sido menos canalha!
Est certo que eras um Filho da Coroa,
Sdito leal.
E os negros de Palmares...
Ora, negro negro.
J orge meu caro
Entendendo que estivesses vendo seu lado,
Ouro, carne seca, farinha, eram bons pagos
VELHO, o que me di
o fato de teres com alguns milhares
De porcos, dizimado um sonho,
J usto de Liberdade.
E ainda por cima voltaste com
Trs mil orelhas de negros,
TRS MIL!
Ontem senti um tremendo nojo
Quando te vi como heri no livro
De Histria, do meu filho.
Mas foi no fim, muito bom
Porque veio de novo a vontade
De reescrever tudo
E agora sem heris como voc
Que seriam no mximo depois de revistos,
Assassinos, e bem baratos.
Atenciosamente
UM NEGRO
(CN 3, p. 92)
A tenso entre o estabelecido literariamente e a novssima produo dos Cadernos
Negros constitui o centro da argumentao do poeta Oswaldo de Camargo:
54
Alguns autores que , a meu ver, merecem ser lidos sempre: Machado
de Assis, Lima Barreto, Cornlio Pena, Adonias Filho (na prosa): Cruz e
Sousa, J orge de Lima, Carlos Drumond de Andrade (poesia) .
No acredito que nos possamos expressar verdadeiramente sem ela-
borao, sem ligao com as velhas e grandes correntes literrias: Leopold
Senghor, Langston Hughes, Aim Cesaire, Leon Damas, Nicolas Guillen,
Cruz e Sousa no fizeram grande obra partindo apenas de sua contempla-
o de negros, mas sim por terem aprendido a trabalhar com a palavra.
No acredito no improviso. Escrever difcil. Um bom poema pode
ser escrito em aps dez anos de viglia e de espera, mas vale mais que um
mau livro ou um livro medocre.
Por ltimo, um dado biogrfico que aparece em todos os meus livros:
sou de Bragana Paulista, filho de apanhadores de caf, ex-seminarista,
catlico. Tudo que escrevo est preso a isso.
46
Expressa-se assim, no bojo da produo dos Cadernos Negros, o conflito entre essa
produo, no institucionalizada, e aquela que, historicamente e normativamente, diz res-
peito ao institucional.
Quais os recursos lingusticos e extra-lingusticos que vo assegurar, na produo de
poemas e contos dos Cadernos, o ingresso no quadro da literatura brasileira esteticamente
aceita? Isto : alm de manter uma estabilidade no que concerne reproduzir ( ou criar e re-
criar) a partir de certos cnones estabelecidos, como os autores da srie CN vo criar ou
recriar considerando o dizvel no mesmo patamar espacial e simblico do que j est insti-
tudo? A ttulo de uma possvel resposta, Oswaldo de Carmargo deixa entreaberta a rea
movedia da elaborao, na qual a palavra o centro do trabalho de criao literria. De-
corre dessa delimitao que a reflexo sobre a linguagem relativiza o peso da tradio, das
escolas e correntes literrias e daquilo que aceito ou tem valor artstico.
Cadernos Negros 5 (1982)
Clvis Maciel, Henrique Cunha Jr, Luiz Silva (o Cuti), Esmeralda Ribeiro, Francis-
co Mesquita, J amu Minka, Jos Alberto, Mrcio Barbosa, Miriam Alves, Oubi Ina Kibu-
ko, Regina Helena e Marisa Helena do Nascimento Arajo, Tietra so os protagonistas dos
CN 5.
46
CAMARGO, Oswaldo. Cadernos Negros 3. Op. cit., p. 120.
55
Quatro autoras comparecem a esta edio, dentre elas, Esmeralda Ribeiro que faz,
vale aqui a nfase, a sua primeira participao. Atualmente, Esmeralda e Mrcio Barbosa
so os responsveis pela edio da srie.
A contracapa dos CN 5 traz uma retrospectiva, das anlises crticas, das edies an-
teriores. Os objetivos alinhavados pelos textos passam, na edio de 1978 e assinada pelos
autores, pela conscincia negra como instrumento para a verdadeira democracia racial. Na
anlise do ano de 1979 que ficou sob os cuidados de J os Correia Leite, um dos articulado-
res da Frente Negra, a nfase recai na tomada de posio dos autores da srie e no reencon-
tro de um projeto que recupera o passado na ao presente dos movimentos negros brasilei-
ros. Clvis Moura, no prefcio de 1980, CN 3, fala da importncia da retomada dos movi-
mentos negros e das possibilidades literrias descortinadas a partir dessa orgnizao.
Na edio de 1981, no texto de Theresa Santos, a nfase analtica fica por conta do
sonho e da realidade que, nos textos da coletnea, dizem mais da luta e significam mais
ainda no tocante conscincia negra.
Os textos introdutrios, antes do prefcio, tocam na problemtica negra que ocorre
no exerccio das manifestaes culturais e a partir de uma tomada de posio que, nesses
discursos, leva em conta no s as manifestaes em si, mas o contrapeso da histria e dos
condicionamentos advindos da sociedade e das classes dominantes. o que diz o texto ex-
plicativo da capa dessa mesma edio que exibe, numa aluso condio da negrura no
Brasil, um negro ou uma negra com mecanismos de controle remoto na cabea e lgrimas
no rosto. O texto didtico a propsito da imagem exposta na capa:
Os cegos da boa viso, os surdos da boa audio e os mudos da boa fala
voam alienados aos sons de pandeiros, cuicas, agogs, repeliques, enfim,
as baterias a bater unidas, abafando o tilintar do despertar das dores da "f
bem" maltratada.
47
O outro texto apresenta ndices de reao s condies adversas enfrentadas pelos
negros:
...L fora o teu silncio
revolta contida.
E ainda ele que fora
Dita:
47
BARCELLOS, Luis Cludio. Cadernos Negros 5. So Paulo: Edio dos Autores, 1982. p. 3.
56
Tumultua, tumultuava, tumultua
Como um co ladino
Esfomeado e turvo.
48
(Nivaldo Costa Capoeirando. Salvador BA)
A antroploga e intelectual Llia Gonzalez, uma das lideranas negras mais marcan-
tes da histria dos movimentos negros contemporneo, no prefcio da edio nmero 5,
1982, sob a responsabilidade editorial do Quilombhoje, mostra, com uso efetivo da palavra
cultura, que discutir a produo dos Cadernos Negros falar da questo cultural:
Comecemos por uma definio de cultura, a fim de que possamos desen-
volver esta exposio da maneira mais objetiva possvel: cultura o con-
junto de manifestaes simblicas atravs das quais os sujeitos sociais ex-
pressam suas relaes com a natureza e entre si. A primeira conseqncia
que a gente tira dessa definio a de que no se pode falar da cultura, de
maneira abstrata, mas de culturas diversas, antagnicas ou no, coexistin-
do ou no numa mesma sociedade. Por outro lado, a gente sabe que, em
sociedade como a nossa, sempre existem os explorados que sustentam
uma classe dominante. Por a, j podemos tirar uma outra diferenciao
apresentada: aquela entre cultura dominante e cultura dominada. Em con-
seqncia, fica explicitada a relao entre classe e cultura dominantes, de
um lado, e cultura dominada e conjunto dos explorados, de outro.
49
Considerando a formao scio-cultural brasileira, Llia Gonzalez convida o leitor a
uma vista de olhos no trip que lhe deu origem e na relao entre os amerndios, africanos e
europeus. ainda a antroploga quem nos lembra que indgenas e negros foram escraviza-
dos e exploradas pelos europeus. No dizer dela, os valores atribudos cultura dominante
expressam a viso, num sociedade de classes fundamentada no racismo e branqueamento,
dos grupos que mantm a posse e o controle dos modos de produo. Decorre, ento, "(...)
que as manifestaes culturais (negras indgenas) tm sido tiradas de cena, recalcadas pela
classe dominante de origem europia (bastante mestiada, do ponto de vista racial), que as
classifica como folclore e as coloca em museus de curiosidades, de coisas exticas."
50
Os valores atribudos pela classe dominante que constituem o uso unilateral da
cultura. Como as relaes de poder esto presentes nas manifestaes culturais, o que signi-
48
COSTA, Nivaldo. Cadernos Negros 5. Op. cit., 1982. p. 2.
49
GONZALEZ, Llia. Cadernos Negros 5. Op. cit., 1982. p. 3.
50
Idem, ibidem.
57
fica dizer que as manifestaes culturais so espaos hierarquizados nos quais as relaes
de poder no cessam. Assim, no Brasil, a cultura e os valores culturais apontados e divul-
gados so aqueles que lhe atribuem as classes dominantes que so, no entanto, radicalmente
diferentes dos que lhe atribuem as classes dominadas.
Por conta disso, Llia Gonzalez diz tambm e com outros termos que a tirada de ce-
na da cultura negra, no Brasil, vincula-se s estruturas sociais e aos mecanismos de violn-
cia policial, de discriminao explcita da cultura de matriz africana, reduzida a folclore, e
da subcidadania dada ao negro:
Mas acontece que todas as nossas manifestaes "folclricas" tm sempre
foram acompanhadas da presena vigilante da polcia dos "culturais" o
Cdigo Penal de 1890 dois anos aps a "libertao" dos escravos a-
pontava como criminosos, em seu captulo 13, justamente os "benefici-
rios" da "Lei urea": vadios e capoeiras. Nossas instituies "folclricas",
at pouco h pouco tempo, para funcionarem legalmente, tinham que "pe-
dir passagem" s delegacias de polcia dos "culturais", estamos falando
dos terreiros, blocos, escolas de samba, etc.
51
Feito o prembulo para delimitar o significado da cultura no contexto scio-cultural
brasileiro, a autora aborda os mecanismos usados para se apropriar, nos dias atuais, da cul-
tura negra. Trata-se do processo de transformao, com o devido esvaziamento dos seus
significados originais e em trnsito, da cultura negra em mera mercadoria geradora de lucro
que, como observa Llia, no repassado para os seus agentes ou produtores culturais, que
continuam reprimidos.
A represso a que esto submetidos os negros e suas manifestaes culturais se jus-
tifica, do ponto de vista da classe dominante brasileira, devido ao seu carter colonizado. A
"europeidade", na hiptese defendida pela antroploga, s pode ser afirmada atravs da
ideologia de branqueamento.
No fundo, "apesar de ser racialmente misturada, ou justamente por isso mesmo", a
classe dominante na fuga do espelho por temer, na imagem real do que , a possibilidade de
se ver prospectivamente e retrospectivamente na indigenidade e africanidade, trabalha rigo-
rosamente apenas a brancura e o esvaziamento da presena histrica, cultural e poltica de
negros e ndios num esforo de negao da realidade e de invisibilidade fsica e simblica
51
Id., ibid.
58
da negrura e da mestiagem que perpassam todas as classes sociais e o conjunto do socie-
dade brasileira.
A violncia cultural (e ideolgica do branqueamento) posta no cerne da questo de-
ve, se considerarmos os argumentos empregados por Llia Gonzalez, ser o centro da litera-
tura veiculada pelos Cadernos Negros. O projeto, sob a gide da escritura negra, precisa
fazer, no mnimo, contraponto ao silncio imposto pela cultura dominante. No ato de dar
voz aos silenciados pela cultura oficial, os sujeitos da enunciao da negrura podero esta-
belecer o lugar para se contrapor ideologia de branqueamento e de invisibilidade das ma-
nifestaes culturais negras e dos seus sujeitos produtores e, do mesmo jeito, na literatura
referenciada nessas manifestaes e sujeitos.
essa lio recebida da realidade brasileira que leva Llia Gonzalez a concluir:
Estamos querendo dizer apenas que, se no se leva em conta a questo da
violncia cultural, a ideologia de branqueamento ser amplamente vitorio-
sa; e, o que pior, sob a sua forma mais sutil , que a da plena ocidentali-
zao. Vale notar que no por acaso que os movimentos mais progres-
sistas, negros ou no, jamais conseguiram amplas bases populares (a Fren-
te Negra Brasileira, apesar de seus equvocos polticos, fica aqui como ex-
ceo que s confirma a regra).
52
A reflexo em contraponto que esto presentes aqui, nas vozes dos protagonistas
dos Cadernos e nas vozes dos tericos, so tentativas de somar o discurso da prtica dos
poetas e o discurso da teoria protagonizado, entre outros, por Clvis Moura, Llia Gonzalez
e Thereza Santos. Ambos mostram as condies sociais da produo dos Cadernos Negros
e, por outro lado, os textos poticos e tericos revelam as novas condies simblicas que
esses interdiscursos produzem:
Retrato
O pra-brisa
Da minha cabea
bruma espessa
de carapinha
planta daninha
o nariz chato
o retrato
em melanina
52
GONZALEZ, Llia. Cadernos Negros 5.Op. cit., p. 6.
59
Negros matizes
so os meus pulsos
os meus impulsos,
minhas razes,
so cicatrizes
no meu viver...
(Clvis Maciel, CN 5, p. 7)
As tessituras passam pela carapinha, pelo corpo e pela reflexo da luta de libertao
na frica:
Caminhos da Revoluo
Trabalhos forados
Veias lenhadas
Terras domadas
frica branca
Destino a morte
A pena? O racismo
Escravos colonizados
Miserveis do progresso
Silncio
Silncio sofrido
Dos mortos gemendo
O mais longo dia
Gritos ..... Rudos ..... Gritos.....
Ra Ta Ta T..............a ...............ta
Liberdaaaaaaaaaaade
(Henrique Cunha J r, CN 5, p.13)
Constroem-se, nos poemas apresentados por Maciel e Cunha J r., na linha do enga-
jamento racial, mesmo os textos no sendo idnticos, os aspectos ou traos dominantes da
conjuntura. No primeiro, assinado pelo poeta Maciel, existe a constatao da melanina e a
explicitao de um dado corpreo das razes constitutivas do nexo identitrio negro. No
segundo poema, de Cunha Jr., a frica, num poema datado, o centro da solidariedade e
de discursos libertrios que propiciam, num ciclo, reflexos na ao da militncia e literatura
negras da dcada de 70.
60
A multiplicidade de sentidos inerente linguagem se repe continuamente no pro-
cesso de criao e leitura. "E, como quem l cria junto com quem escreve, tornando poss-
vel a literatura, espero que nenhum ponto final seja o fim." (CN 5, p. 16)
Os campos esto embaralhados e abertos. O produto (os Cadernos Negros) e o pro-
cesso de leitura interno (feito pelos autores) e o externo (feito pelos leitores) tm uma mar-
gem indefinida.
O contexto constitui a base mvel para a apreenso do sentido. A sua composio,
no entanto, no tem um ncleo acabado, isto , um sentido nuclear, fechado, ou hierarqui-
zado. So muitas as aquisies e transitivamente passam pela interioridade, ancestralidade,
humanizao, incluso, autoria, parceria e outras que esto implcitas como nos lembra o
texto que, no seu desfecho, explica, como demonstramos na abordagem acima, os caminhos
transitivos abertos por escritores e leitores:
Somos aqueles que foram obrigados a comer espinhos e so obrigads a
vomitar flores porque a digesto no se realiza.
Somos aqueles que foram forados a no ser e hoje so forados a serem a
imagem da inrcia. Lutamos contra, por certo.
O poema universal que fazemos um vmito ancestral.
Ningum nada por dentro. A interioridade continua brotando em pala-
vras e atitudes. A honestidade e o trabalho esttico so um desafio.
A literatura, para ns negros, um dos caminhos para nossa humanizao.
O desvendar.
O trabalho rduo. A meta deixarmos de ser o "outro" na vida literria
de nosso pas.
Este ofcio de se dizer na escrita periga alimentar a falsidade.
Me esforcei para no seguir esta linha. E, como quem l cria junto com
quem escreve, tornando possvel a literatura, espero que nenhum ponto fi-
nal seja o fim.
53
O processo de construo de sentidos no qual esto, em tempo distintos, escritores e
leitores feito de relaes e atitudes alimentadas por palavras. So as palavras que vo ali-
mentar a literatura concebida como um vmito ancestral.
No vmito ancestral est embutida a idia de retorno. As palavras so formas de
expresso que nasceram ancestralmente com o espao da vida. O vmito , uma nova cria-
o, um retorno origem. O objetivo conhecer a origem e rearticular os vnculos com a
53
SILVA, Luiz (Cuti). Cadernos Negros 5. Op. cit., p. 16.
61
criao. Criao pressupe relao com passado e presente. Assim, o ato de expelir pela
boca em golfadas aquilo que no mais alimento, o excesso ou aquilo que deve ser rejeita-
do, parece ser referncia tambm ao presente histrico, realidade atual atravs ou a partir
do passado atualizado: somos aqueles que foram obrigados a comer espinhos e so obri-
gados a vomitar flores porque a digesto no se realiza.
Para tomar conscincia de si mesmo, ser humano numa realidade na qual corpo-
reamente e discursivamente a humanidade abstrada, o negro deve comear pelas formas
mais abertamente corporais da linguagem ancestral. Aqui, o dado corporal une o mito de
retorno ao histrico social. A digesto inconclusa, hoje, tem, no vnculo com a ancestrali-
dade, uma resposta que atualiza e rearticula o mito de origem com o mito de criao. E, por
fim, elaborando um micropensamento que, no avesso das explicaes universalizantes tem,
na discusso literria ou de enquadramento de literatura, margens indefinidas e leitores,
como quer o texto, criando junto com quem escreve.
O poema "Quebranto", de Cuti, um pouco do resultado do contexto no qual o ne-
gro brasileiro est inserido. A sua criao , na verdade, o efeito superposto do racismo ou
o modo como a discriminao introjetada pode ser tematizada:
Quebranto
s vezes sou o policial que me suspeito
me peo documentos
e mesmo de posse deles
me prendo
e me dou porradas
s vezes sou o zelador
no me deixando entrar em mim mesmo
a no ser
pela porta de servio
s vezes sou o meu prprio delito
o corpo de jurados
a punio que vem com o veredito
s vezes sou o amor que me virou o rosto
o quebranto
o encosto
a solido primitiva
que me envolvo com vazio
62
s vezes as migalhas do que sonhei e no comi
outras o bem-te-vi com olhos vidrados trinando tristezas
um dia fui abolio que me lancei de supeto no espanto
depois um imperador deposto
a repblica de conchavos no corao
e em seguida uma constituio que me promulgo a cada instante
tambm a violncia dum impulso que me ponho do avesso
com acessos de cal e gesso
chego a ser
s vezes fao questo de no me ver
e entupido com a viso deles
me sinto a misria concebida como um eterno comeo
fecho-me o cerco
sendo o gesto que me nego
a pinga que me bebo e me embebedo
o dedo que me aponto
e denuncio
o ponto em que me entrego
s vezes! ...
(CN 5, p. 18 )
Pode-se imaginar, feita a leitura do poema "Quebranto, o desdobramento da rela-
o literatura e militncia. Para isso, seria necessrio que esse contexto realmente fosse
considerado enquanto lugar, no o nico, do exerccio de recorrncia analtica e de criao.
Nas palavras de J amu Minka:
Para mim, a arte, alm de imitar e recriar a vida, deve estar comprometida
com a transformao, com o fim das alienaes. Exero a literatura acre-
ditando ser preciso - possvel - eliminar essa mentalidade de escravos, es-
sa postura individualista e conformista que nos faz repetir constantemente
"eu num t nem a", "num esquento", "quero o meu", "o resto que se f..."
A partir da poderemos recuperar as melhores tradies de nossos ante-
passados e nos reconstruir como povo.
54
54
MINKA, J amu. Cadernos Negros 5. Op. cit., p. 29.
63
Nesse ato de criao, o ponto de vista adotado pelos autores (os sujeitos variveis)
da srie Cadernos Negros , sobretudo, o da discusso do que literatura. Pode-se citar, a
posio de J amu Minka para quem a literatura, no seu exerccio pleno, espao para a atu-
ao militante, mobilizadora e de valorizao da cultura negra. Para Cuti, ao menos nesse
livro ou interveno, a literatura o canal pelo qual atravs do vmito ancestral, isto , da
relao com a matria (vida) ancestral, pode-se buscar ou reatar os vnculos com a realida-
de e com os leitores sem, no entanto, estabelecer uma concepo fechada. Ainda nessa
perspectiva, a literatura, sua funcionalidade e conceituao, passa pelo lugar ou papel de
quem escreve sem, vale a nfase, minimizar os dados corpreos e a conscincia racial.
Mas a interdependncia, no nvel nacional, dos fatores contextuais deve assegurar s
propostas (os textos da coletnea sugerem esses limites) um vnculo no que concerne s
tradies culturais negras. Certamente, ento, exercer a literatura significa, no dizer de J a-
mu Minka, incorporar uma viso contextual, que rompa com as facetas de um racismo si-
lenciado.
Os dispositivos constitudos pelos enunciados e pela visibilidade da condio do ne-
gro so postos e repostos, nos poemas e textos tericos, insistentemente.
J amu Minka, juntamente com Cuti, um dos cones dessa longa existncia da srie,
recupera em seus poemas-crnicas, tal como o fizera Henrique Cunha Jr, os avanos da luta
negra na frica. Seu poema, intitulado Zumbabwe, mostra que a conjuntura internacional
(a nacional tambm) conduz desejada atualizao das experincias frica-Brasil e negros
na dispora. A expanso da conscincia negra, em trnsito, se impe, mesmo que no se
faa igualmente, segundo os poetas.
Visto esquematicamente, tal processo descortinado numa perspectiva internacional
pode ter, como primeiro objetivo, a preocupao de defender situaes no tocante invisi-
bilidade da cultura negra e ao genocdio simblico e fsico dos negros. O objetivo recons-
truir, desse modo, a tessitura entre os povos na afro-dispora e frica retomando o nexo de
uma teia de solidariedade como o principal motor de uma luta que no tem fronteiras. O
importante, mesmo assim, que se instale a rede de cooperao que, nos poemas de J amu
Minka, passam pelo fim do racismo na Rodsia e pela exaltao a Bob Marley:
...
agora no mais Rodsia
fim da vida subvivida
64
na mata, escondido
um povo se organiza e decidido volta
recuperando tudo
Zimba
Zumba
Zumbi
Rodsia no fim
Zimbabwe lembrando Zumbi.
(CN 5, p.32 )
Bob, Bob, Bob Marley
Guitarra forte musicando a vida
poetizando a conscincia
(CN 5, p. 33)
No poema "Ejacorao" (CN 5, p. 32 ), Minka revela o tecido ertico criando uma
palavra para sintetizar o prazer do reencontro amoroso. A "Ejacorao" permite-nos vis-
lumbrar mais do que o ertico. O centro so esses elementos (a linguagem, o desejo) dos
quais o poeta se vale para criar a linguagem ertica e pensar e sentir, alm dos rgos sexu-
ais, o desejo ou uma forma de amor:
Quando tua ausncia se multiplica em dias
eu me divido em saudades
conscientes ou no
e de resto sobram poemas
quando a vida devolve oficialmente tua presena
o corao d voltas
e dispara ejaculando promessas de amor
O corpo exerce um papel referencial, por excelncia, exigindo a cumplicidade no
ato de "ejacular promessas de amor". H ainda no poema, em questo, a pesquisa, que cul-
mina, na criao de um novo vocbulo. No terreno lexical, o termo "Ejacorao" faz-se
presente, de forma significativa, no campo da pesquisa. As intervenes de J amu Minka e
de Tietra, que fecha as nossas consideraes no volume 5, prenunciam, como se pautas-
sem mesmo, uma crescente presena de poemas erticos, como veremos, nos CN 7 e 9.
65
J os Alberto, num caminho frequentado por muitos autores da coletnea, apresenta
um poema de homenagem ao Almirante Negro, J oo Cndido, e outros, a exemplo do que
vai abaixo, retratando o racismo brasileira:
Escada da Vida
So cinco degraus
E em cada um
Se ganha graus
Conseguindo o primeirinho
Bem de levinho
Te chamam de neguinho
Dando uma de tolo
Atinge o segundo
E ouve-se crioulo
O terceiro voc
Se procura um gueto
E o novo grau preto
O quarto triste,
Uma conquista no sereno
E o sistema te chama de moreno
O quinto o mais difcil
Porm encanta
Condecorando-se
Preto de alma branca
(CN 5, p.35 )
Mrcio Barbosa, atual organizador da publicao da srie e membro do Quilombho-
je Literatura, estria com 7 poemas, em seis deles falando do canto de liberdade, do canto
mulher amada e ao poeta Solano Trindade:
Um Canto de Liberdade
Ergue alto
Tua voz de tambor
E canta
Povo, ergue alto
Tua voz de tambor
66
E atira ao cu
E ao corao destes cruis homens
Teu canto de selva africana
(CN 5, p.41)
No poema Praa Ramos (CN 5, p. 43 ), do mesmo autor, a temtica vincula-se
denncia da violncia policial:
Quinta-feira
Seis horas da tarde
A polcia algemou
A negra senhora
Feito animal...
No poste...
Feito animal.
Os recursos, as experincias estticas, pr-existentes na literatura brasileira e na lite-
ratura aparecem nas intervenes de muitos autores da srie. Nos Cadernos Negros 5, Tie-
tra abre um dilogo com a questo negra e com a gente negra (Gil e Itamar) e com a produ-
o potica visual, concreta e com um dos seus tericos, Augusto de Campos:
"Ovo novo no velho. Fui-o outrora agora" o farol de augusto de campos
me ilumilevando por mares nunca dantes experimentados. o empurro pa-
ra cima o aqui e agora de gilberto gil e toda H(es) trias do negro de salo
tanto aqui como em salvador, como na jamaica ou na me frica... papo de
prazer de dor... itamar inventando, tantos criando, geovana, penha... tantos
talentos, tanta expresso... corao pulsando mudo.
a emoo nesta primeira vez junto ao muro de concreto pixando bem
grande (sem o perigo de ser pega de jeito) negro algum.
55
No poema S (CN 5, p. 59 ), de Trieta, esses caminhos so atualizados:
S
Sement
Semen
55
Tietra. Cadernos Negros 5. Op. cit., p. 58.
67
Sem
por cento
medo
se
V.
O campo sonoro, semntico e fonolgico esto, no poema " S ", de Tietra, numa
relao dialtica com o campo estritamente visual. Alm da disposio grfica, h ainda a
presena estatisticamente relevante do S/M/N no poema. Na mesma trilha, temos, tambm
de modo marcante no incio das palavras, uma intencional semelhana nos pontos de articu-
lao dos sons nasais e velares.
A leitura estritamente visual e/ou a interpretao fica a cargo do leitor. Se conside-
rarmos, no entanto, o texto de Tietra, podemos conceber, em certa medida, um paralelismo
com a criao literria apresentada aqui:
Ovo novo no velho. Fui-o outrora agora o farol de augusto de campos me ilumi-
levando por mares nunca dantes experimentados.
No poema seguinte (CN 5, p. 59 ), que vai, com uma economia lingstica altamente
produtiva, enfocar o corpo e o ato sexual em si, o eixo significante, reduzido, a poeta valo-
riza especialmente a seleo e combinao de palavras:
voc entra...
voc sai...
eu sus... eu sus...
voc vem...
voc vai...
eu piro... piro...
voc faz tudo
voc entra...
voc sai...
eu hummm... hummm
voc vem...
voc sai...
eu deixo
voc vem... voc entra... voc sai...
68
eu deixo
voc entra... voc vem ... fundo fundo
eu fecho
voc jazz.
Dessa forma, o desfecho do poema traz criativamente a relao desses significantes
(no ato final do sexo) com o jazz, um contnuo, e um dos pices culturais da afro-dispora.
No demais dizer, para os leitores, que, na origem, a palavra jazz significa pnis.
As manifestaes culturais negras so entrelugares da dupla fala ou dos mltiplos
caminhos sintetizados na encruzilhada, o lugar no qual o dialogismo se d, sem univocida-
de, produzindo efeitos de linguagem e realando o dilogo intertextual e intercultural. A
encruzilhada, na duplicao ou multiplicao dos sentidos, ou seja, no campo da intertextu-
alidade e da realizao intercultural (cultura negra na dispora) e transcultural (na relao
dos valores da afro-dispora com a cultura ocidental), alimenta os significados contidos nas
palavras jazz (pnis e multiplicao) e jaz (campa morturia, lugar de descanso ou de esgo-
tamento fsico, sexual).
As formulaes e as possibilidades que as as manifestaes culturais negras evocam
no cotejamento com os poemas so ricas em ensinamentos. A par de um inquestionvel
repertrio poltico e militante, h a lio da persistncia e da coerncia da unidade entre
teoria, produo literria e universo cultural negro.
Crescem, como veremos nos Cadernos Negros 7, essas malhas tecidas, com muita
freqncia, com e entre as manifestaes culturais reelaboradas no trnsito da afro-dispora
e nas franjas dos meios de comunicao.
Cadernos Negros 7 (1984)
Havemos de estancar o sangue das manchetes das Amricas.
Havemos de irrigar de mos dadas
os solos de frica; e
alheios s vontades de sia, Europa e Oceania.
(Clia, CN 7, p.27 )
69
Os Cadernos Negros 7 apresentam na introduo, assinada pelo Quilombhoje, a jus-
tificativa da ausncia, pelo menos nesse volume, do tradicional prefcio feito por intelectu-
ais referendados pela academia e crculo intelectual e, ao mesmo tempo, reconhecidos pela
comunidade negra. Neste nmero, o prefcio d lugar aos depoimentos dos escritores. Con-
forme nos informa o texto introdutrio, os depoimentos foram colhidos no dia da realizao
de um debate sobre forma e contedo dos poemas encaminhados pelos autores para publi-
cao.
56
A abordagem enfatiza, ainda e considerando a experincia da srie, que "a literatura
um ato social/poltico", construdo nas relaes imediatas e na escala do tempo, de alguns
autores e experincias, que trazem o passado para o presente.
O objetivo dos textos reflexivos prende-se necessidade de os autores discutirem a
prpria criao. O que significa debater, conforme quer o texto introdutrio, valores vincu-
lados representatividade literria, ao significado social e, por fim, discutir o real significa-
do dessa contribuio literatura negra. No tocante reflexo feita pelos autores percebe-se
tambm, nos CN 7 e em alguns poemas da srie, com efeito, que a teoria e a produo s
podem ser buscadas na articulaes da primeira. O texto de apresentao, com a tarja do
Quilimbhoje, chama ateno tambm para o significado diferenciado que cada autor em-
presta para uma mesma experincia literria e de vida.
57
A passagem transcrita abaixo oferece a vantagem de nos devolver ao centro do pro-
blema que estava sendo, na apresentao, preliminarmente aflorado. Aqui surge, no entan-
to, um desdobramento do problema, uma vez que a delimitao do que literatura ou o que
literatura negra recebe um enquadramento dos autores:
... Eu escrevo, no por causa disto ou daquilo mas porque no consigo no
escrever. uma forma de conseguir enfrentar o mundo, de existir; de con-
seguir resistir s coisas que violentam, que marcam.... A literatura tem um
pouco de intimidade; uma forma de viver de ser eu mesmo na sociedade.
Tenho a preocupao de conscientizar atravs da minha literaturam co-
municar determinados sentimentos - em particular o sentimento negro -
por que, enquanto negro, no posso me furtar experincia de minha con-
dio humana, alegre e triste.
Neste contexto, entra tambm a questo da forma, do produto final a-
cabado e a inteno enquanto escritor. Mas h sobretudo a necessidade de
que a literatura me satisfaa, me d prazer.
56
Cadernos Negros 7. So Paulo: Edio dos Autores, 1984. p. 5.
57
Idem, ibidem.
70
Existe uma literatura negra exatamente porque os sentimentos mais
profundos do negro foram pouco, ou quase nada, veiculados, e expresso-
dos atravs da arte da palavra no Brasil. O negro comea a escrever-se
depois desta malfadada libertao e ainda hoje o negro escreve com muito
receio de ofender o branco, como se o fato de ns escrevermos necessari-
amente fosse ofender o branco. No percebemos muitas vezes que quando
o branco se sente ofendido o momento exato de sua cura, da cura do seu
preconceito, do seu complexo de superioridade que faz tanto ele quanto
ns infelizes...
... A literatura negra no s uma questo de pele, uma questo de
mergulhar em determinados sentimentos de nacionalidade enraizados na
prpria histria do Africano no Brasil e sua descendncia, trazendo um
lado do Brasil que camuflado. Acredito que a literatura negra o prpria
branco pode acabar fazendo, dependendo da sua empatia com o universo
negro. Vemos hoje que fala-se muito de Palmares, de questes raciais, da
histria do negro no Brasil, mas fala-se muito pouco com relao aos sen-
timentos dos negros.
Eu me esforo para no escamotear meus sentimentos quando escrevo.
Quando vou levar uma certa mensagem, o sentimento que deve assumir.
Acho tambm que no h literatura negra sem literatura. A questo do tra-
balho literrio fundamental. Literatura uma arte que tem suas tcnicas,
seu universo. s vezes pode-se estar usando muito a palavra negro e no
se estar fazendo literatura. Se isto ocorre est-se falhando enquanto litera-
to, fugindo da responsabilidade do artista.
58
Ao visar a um enquadramento, a uma conceituao, o texto aponta retrospectiva e
prospectivamente para uma noo textual e de incluso da negrura ou da condio do negro
na literatura brasileira: "Existe uma literatura negra, uma literatura feita por negros preocu-
pados com sua condio existencial."
59
Nesse aspecto, Domcio Proena Filho observou
que
(...) tal posicionamento foge a qualquer jogo preconceituoso, alm de faci-
litar a caracterizao da matria no processo literrio do pas e a avaliao
mais objetiva da contribuio literria de representantes assumidos da et-
nia que, mesmo diante dos mais variados obstculos, tm trazido a pbli-
co, nas ltimas dcadas, a fora de sua palavra potica.
60
Soma-se, discusso da condio do negro na literatura, a necessidade de proble-
matizao da noo textual da negrura.
58
Cuti. Cadernos Negros 7. Op. cit., pp. 6-7.
59
BARBOSA, Mrcio. Cadernos Negros 7. Op. cit., p. 15.
60
FILHO, Domcio Proena. A trajetria do negro na literatura brasileira. In: Revista do Patrimnio Histrico
e Artstico Nacional, n. 25. Rio de J aneiro, 1977.
71
A cor, na noo textual da negrura e no ataque sistmico invisibilidade dos valores
de matriz africana, um dos dados indispensveis e cujo significado, construdo historica-
mente na afro-dispora, deve ser mobilizado. Antes, ento, para que a noo textual aflore
preciso considerar
(...) que no h literatura negra sem literatura. A questo do trabalho lite-
rrio fundamental. Literatura uma arte que tem suas tcnicas, seu uni-
verso. s vezes pode-se estar usando muito a palavra negro e no se estar
fazendo literatura. Se isto ocorre est-se falhando enquanto literato, fugin-
do da responsabilidade do artista.
61
Numa frmula sumria, poder-se-ia dizer que a literatura negra, que deve ser consi-
derada e avaliada no amplo da literatura brasileira, agregaria, alm das tcnicas e dos aspec-
tos explicitamente literrios, os espaos e tempos mticos, a memria coletiva e os desg-
nios scio-histricos dos afro-brasileiros:
A literatura negra est existindo por uma prtica nossa que assume uma
postura de luta... pois onde encontrar registro mais consistente e atualiza-
do dos sentimentos e reflexes enraizadas na condio afro-brasileira se-
no na literatura que ns brasileiros negros estamos fazendo?
Onde captar sinais mais evidentes da receptividade aos ventos renovado-
res da transformao que sopram da frica seno na chama que entre ns
se revigora como combustveis para as trilhas do futuro?
62
Trata-se de pensar a literatura brasileira, como querem os autores dos Cadernos Ne-
gros, em funo das especificidades histricas, culturais e em consonncia com as questes
especificamente literrias. O texto reflexivo, alis, adverte:
s vezes pode-se estar usando muito a palavra negro e no se estar fazen-
do literatura. Se isto ocorre est-se falhando enquanto literato, fugindo da
responsabilidade do artista.
63
Ao dizer que a literatura negra no s uma questo de pele, mas
(...) uma questo de mergulhar em determinados sentimentos de
nacionalidade enraizados na prpria histria do Africano no Brasil e
sua descendncia, trazendo um lado do Brasil que camuflado. A-
61
Cuti. Cadernos Negros 7. Op. cit., pp. 6-7.
62
MINKA, J amu. Cadernos Negros 7. Op. cit., p 11.
63
Cuti. Cadernos Negros 7. Op. cit., pp. 6-7.
72
credito que a literatura negra o prprio branco pode acabar fazendo,
dependendo da sua empatia com o universo negro.
64
O autor deixa entreaberta a necessidade, ao dizer que a literatura negra no s uma
questo de pele, de uma elaborao literria alinhavada com os valores histricos e cultu-
rais dos negros. Complementa a posio de Cuti, delineada acima, os textos de Mirian Al-
ves e Oubi Ina Kibuko respectivamente. Para Miriam Alves:
Escrever um ato social, um ato poltico, um ato de amor. A j est a
prpria importncia da escrita na sociedade de ontem, e de hoje, de ama-
h...
Existe uma literatura negra. Agora, qual a ideologia que esta literatura
est passando uma outra questo. Acredito que a literatura negra que ns
do Quilombhoje e outros escritores negros estamos preocupados em fazer
uma literatura negra engajada com outros valores, com a nossa viso do
mundo apesar de que a nossa literatura negra ainda uma literatura de
contraponto: eu me contraponho quilo que o branco acha que eu sou por-
que eu no sou. Isto apenas um aspecto, tem muitos outros a serem ex-
plorados e desvelados. ... Meu ato de escrever vem contribuindo pelo
compromisso de no parar, pelo compromisso de aprimorar. Pelo com-
promisso de ler outros autores, inclusive os brancos e ver que eles nos
descrevem como pessoas sem histria interior. Assim estaremos nos ar-
mando com a literatura deles mesmo que tanto nos negam... falando com
compromisso, com engajamento. Engajamento principalmente comigo.
Quando falo comigo uma coisa muito sria: comigo enquanto mulher,
negra, militante, comprometida com minha histria. E disto no abro
mo.
65
Oubi diz:
Eu procuro no meu trabalho falar de mim e das pessoas com as quais
convivo, procuro falar da nossa vida, uma coisa velada a sculos. Vejo
que medida em que ns negros procuramos falar de ns mesmos e do
meio em que vivemos muito importante porque daqui alguns anos tere-
mos uma pequena histria do Brasil contada por ns que fomos impedidos
de fazer parte da escrita no Brasil. A histria da contribuio dos nossos
antepassados e da nossa contribuio foi e continua sendo escrita de ma-
neira adversa nossa realidade por aqueles que nos dominam. O branco
no pode entrar na interioridade do negro e quando o negro coloca sua in-
terioridade para fora esta interioridade no se coaduna com o que a litera-
tura branca vem dizendo a nosso respeito.
66
64
Cuti. Cadernos Negros 7. Op. cit., pp. 6-7.
65
ALVES, Miriam. Cadernos Negros 7. Op. cit., p. 16.
73
No conjunto, as posies so complemtares. A negrura uma construo que en-
volve sentimentos e situaes tpicas, vividas, muitas vezes, no espao da escrita e do coti-
diano. visvel, nos textos de Cuti, de Mirian Alves e de Oubi Ina Kibuko, o lugar refe-
rencial do sujeito da enunciao e do enunciado da negrura. Todo sujeito enegrecido, em
seu imaginrio, o que enfatizam os autores, tem compromisso com a sua histria e cultu-
ra, num esboo de um ideal, de comunho, que vai aos poucos se completando. Por isso,
so muitas as aquisies caracterizadoras da noo textual da negrura.
So convergentes, ao analisar as expresses do texto negro, as posies de Leda
Maria Martins no que se refere negrura:
No termo que designa o objeto, negro, inscreve-se um primeiro desafi-
o. Do que se fala, quando se fala negro? Da cor do dramaturgo ou ator?
Do tema? Da cultura? Da raa? Do sujeito? Na verdade, de tudo um pou-
co, ou melhor, fala-se da relao de tudo. O negro, a negrura, no traduz,
neste trabalho, a substncia ou a essncia de um sujeito, de uma raa ou
cultura, nem um simples motivo temtico recorrente. O termo aponta, an-
tes de tudo, uma noo textual, dramtica e cnica, representativa. Essa
noo recupera o sujeito cotidiano, referencial, como instncia da enunci-
ao e do enunciado, que se faz e se constri no tecido do discurso dram-
tico e na tessitura da representao.
A negrura no pensada, aqui, como um topos detentor de um sentido
metafsico, ou em absoluto. Ela no apreendida, afinal, como uma es-
sncia, mas, antes, como um conceito semitico, definido por uma rede de
relaes. A anlise de expresses do Teatro Negro me leva a sublinhar
que sua distino e singularidade no se prende, necessariamente, cor,
fentipo ou etnia do dramaturgo, ator, diretor, ou do sujeito que se encena,
mas se ancora nessa cor e fentipo, na experincia e memria e lugar des-
ses sujeitos, eligidos esses elementos como signos que o projetam e repre-
sentam.
67
A partir dessa rede emerge, de modo tambm relacional, a noo textual da negrura.
No seu escopo, a negrura, no texto, materializa o dilogo intertextual, intercultural e trans-
cultural entre as formas de expresso mobilizadas do continente africano e formas de ex-
presso em (no) trnsito das populaes negras-africanas com as culturas ocidentais. Impli-
citamente, quando falam das tcnicas e do contraponto com a produo nacional, os autores
tratam dessas aproximaes. Em outros momentos, essas aproximaes se do na relao
do movimento soul music, do rap, do carnaval afro, da capoeira e da literatura.
66
KIBUKO, Oubi Ina. Cadernos Negros 7. Op. cit., p. 17.
67
MARTINS, Leda Maria. A cena em sombras. So Paulo: Perspectiva, 1995. p. 26.
74
Edu Omo Oguim, presente neste stimo volume dos CN, discursa e reala a tarefa
de somar os contedos dos movimentos culturais, no entendimento da produo explicita-
mente literria:
Aos 17 anos transferi-me para o Rio de J aneiro, entrando em contato com
o Soul MUSIC, com a equipe de SANTOS, DOM FIL e outras grandes
equipes de SOUL, em 76. Seis anos depois retorno a SALVADOR, dois
anos aps a criao do YL AIY, 1 Bloco Afro da Cidade. O universo
do SOUL com este novo universo do Bloco Afro me levou a reflexes, at
que chegaram s minhas mos os Cadernos Negros. Olhei em volta e no
encontrei nada similar em SALVADOR. Poetas havia, mas nenhum traba-
lho editado destes. Iluminado por Oxal, partir pra uma coletnea junto
com compositores de alguns Blocos Afros e membros do M.N.U. Da sur-
giu "CAPOEIRANDO" do qual fui organizador. Participei de uma outra
coletnea editada pelo C.E.A.O., intitulada "POETAS BAIANOS DA
NEGRITUDE". Participar dos Cadernos Negros realmente ampliar o
meu horizonte e o meu aprendizado nos caminhos da literatura.
68
Num movimento de aproximao com as geraes passadas, as teias tecidas na tra-
jetria de Solono Trindade so, com muito vigor, puxadas (nos depoimenos dos autores)
para a realidade atual como exemplo, bem sucedido, de entranhamento do universo literrio
com o cultural.
Tive a felicidade de ser vizinho de um dos maiores poetas, Solano Trinda-
de que, naquela poca, transformou "nossa rua" no maior palco da cultura
popular. E assim foi...
69
Mrcia Barbosa, a propsito do movimento soul music e literatura, fala que pela
existncia desses movimentos que ns, negros, ajustamos a nossa interpretao, a conscin-
cia identitria e a esttica "nova":
Escrever tem sido uma experincia gratificante. Sobretudo no sentido de
procurar uma esttica nova, mais humana, mais livre, condizente com a
nossa situao de oprimidos. Toda arte, desde que sincera e honesta, traz,
alm de um certo prazer espiritual, um contedo libertrio, emocional,
humano enfim. O mesmo humanismo que levou, por exemplo, o Movi-
mento Soul a mudar nossas conscincias. O resultado de tudo, de todo este
trabalho, desses movimentos, talvez independa de ns mesmos. Porm,
inegvel a importncia da nossa cumplicidade.
70
68
OGUIAN, Edu Omo. Cadernos Negros 7. Op. cit., p. 44.
69
MESQUITA, Francisco Maria. Cadernos Negros 7. Op. cit., p. 55.
70
BARBOSA, Mrcio. Cadernos Negros 7. Op. cit., p. 87.
75
Posta a questo terica desenvolvida pelos autores, podemos afirmar que nos CN 7,
poesia, os eixos temticos ou o plano de elaborao interna dos poetas giram em torno da
luta negra pela superao das desigualdades raciais. Passado e presente propiciam, confor-
me nos diz Carlos Assumpo, uma zona intermediria ou de articulao das vitrias dos
quilombos de ontem com os quilombos de hoje. No poema denominado "Minha Luta" essas
identidades se fazem presentes. A propsito do genocdio negro, o poema "Cavalo dos An-
cestrais" traz a mensagem que tem como cerne a denncia:
Minhas irms, meus irmos
Os ancestrais fazem de mim seu instrumento
Minha voz no minha voz dos ancestrais
Meus gestos no so meus so gestos dos ancestrais
...
Me fazem portador de sua mensagem
Eles que me mandam falar
Sobre Me frica violentada
Eles que me mandam falar
Sobre tanto sangue derramado na travessia
...
(CN 7, p. 20)
A manifestao dos ancestrais portadores de mensagens, como diz o poema, totaliza
um conjunto de gestos, atitudes e relaes que so vividas e percebidas no mbito do rito. A
universalizao das mensagens penetra nessas reas num outro poema de Assumpo que
transcrevemos, apenas um trecho, abaixo:
Batuque
Tenho um tambor
Tenho um tambor
Tenho um tambor dentro do peito
Tenho um tambor
todo enfeitado de fitas
Vermelhas
Pretas
Amarelas
E brancas
Tambor que bate batuque
Batuque bate
Que evoca
Bravuras
76
Dos nossos
Avs
...
Batuque
Que bate que bate que bate
Que fala de dio e de amor
Que bate que bate que bate
Sons curtos e longos
Que bate o toque de reunir todos os irmos de todas as cores
Num quilombo
Num quilombo
Num quilombo
(CN 7, p. 21)
Os batuques e a manifestao de entidades fazem parte de ritos com os quais o gru-
po est em relao direta. Ambos so aglutinadores de camadas significativas de pessoas e
grupos sociais. O carter ambguo desses eventos, o alto grau de participao nas suas ma-
nifestaes situam as intervenes de Carlos de Assumpo num plano de compreenso
dessas sentidos que perpassam os ritos, os eventos culturais e permeiam a vida de setores
significativos da populao negra.
O poema de Mrcio Barbosa, dedicado escola de samba Vai-Vai (CN 7, p. 89 ),
integra essa senda:
Vai-Vai
Onde a harmonia dos corpos
Lembra as curvas da serpente
Aqui trago o amor na ponta dos dedos
e os dedos por fora do amor
para o suor dos instrumentos
Doce o movimento das coxas na entrega
do msculo retesado no coro dos tants
com tudo o que me sobra de um corao despojado
e da pobreza dos ps abandonados
ao espasmo ritmado de uma alegria simulada
Sinais da frica em mim
que aqui voltam afinal
na impotncia desolada dos braos desunidos
dos pretos ritualmente se dando festa viril
dos braos
77
Vai -Vai
Sibilante esta serpente escura
Sinuosa na multido dos risos de marfim.
Nos CN 7, a seleo destacada uma prova, h muita poesia de combate:
Negritude
...
De mim
Parte NEGRITUDE
um golpe mortal
negrura rasgando o ventre da noite
punhal golpeando o colo do dia
um punho mais forte que as fendas de ao
das portas trancadas
da casa da histria
...
(Clia, CN 7, p. 24 )
Cantiga
Tranar teus cabelos negra,
Recordar canes
Ardentes dos dias de sol e das frias
Noites dos tempos, Tran-
ar teus cabelos tal qual
As cordas, as correntes e os aoites;
Sentir nas mos o acalanto do vento.
traar as linhas
do mapa de uma nao
escrever em tua cabea
uma negra cano
(Clia, CN 7, p. 25)
Minha luta
...
saibam que minha luta
Est enraizada nas lutas dos meus avs
E tambm saibam que minha luta
No s minha
78
a luta de todos ns
...
(Carlos Assumpo, CN 7, p. 18)
O poema de Mrcio Barbosa, dedicado frica, atualiza, na interveno discursiva,
o continente negro como um espelho no qual o eu potico se descobre e se renova:
A frica em mim
A frica em mim
sou eu que me renovo
nas razes frteis de um sonho humanitrio
um sonho nascido aceso
...
Eu preto negriciosamente preto e brasileiro
que redescubro em mim
essa floresta amotinada
das vigorosas civilizaes do Mali
s lutas libertadoras de Moambique e Angola
....
(CN 7, p. 90)
O trabalho com a linguagem e a desmontagem da falas racistas marcam as poesias
de Cuti. Na dedicatria, o poeta recria, do cordel brasileiro, uma cano de ninar:
MUUUUUUUUUUUUUUUUUUU..................
Para Zila Bernd
com licena!
sou o boi boi boi
boi da-cara-preta
no pego nenm
no fao careta
e nem como comunista
(CN 7, p. 34 )
Cuti reitera o papel da poesia e dos poetas no trabalho com a linguagem e na valori-
zao da palavra negro:
79
a palavra na lucidez
despindo seu desencanto
uma estrela nova
surge preta
na constelao do espanto
(CN 7, p. 36)
Outro aspecto importante na sua interveno diz respeito ao ertico e ao corpo. Te-
mtica, a bem da descrio da produo potica da srie, muito bem explorada nos Cader-
nos 5, 7 e 9. No poema em questo, o movimento do corpo, no "mar" e na volpia dos mo-
vimentos, captado, especialmente, pela cadncia sugerida por rimas internas:
Mar Glu- Glu
bunda que mexe remexe e me leva
num belo novelo de apelo e chamego
me pego a pensar que essa vida precisa envolver como tu
nesse dengo gostoso que nina e mastiga meu olho que vai atrs
sonho carnudo embalando as ondas ou dunas colinas montanhas veludo-
moventes do caminhar
balano de exuberncia a marolar a distncia...
a bunda mergulho e murmrio no mar glu-glu
a forma do espao repleto e nu.
(Cuti, CN 7, p. 34 )
No poema de Paula, W. J . o corpo e a manifestao do ertico esto no centro:
Ice-Dream
Teus lbios... framboesa.
Meu sorvete... chocolate.
Voc chupa...
A gente se aquece , se funde...
O gelo derrete...
Voc Amolece,
Eu me enrijeo.
Teus lbios... morango.
80
Minha cobertura... caramelo.
Arfando... gemendo,
Meu creme transborda,
Em jorros de emoo,
Prazer... e alimento.
(CN 7, p. 40 )
Cadernos Negros 9 (1986)
So vinte os poetas que participam dos CN 9. Seguindo o ndice, temos: Walter
Barbosa dos Santos, Snia Ftima da Conceio, Roseli da Cruz Nascimento, Regina Hele-
na da Silva Amaral, Oubi Ina Kibuko, Miriam Alves, Mrcio Barbosa, Manoel Messias
Pereira, J os Alberto, J natas Conceio da Silva, J amu Minka, J. Ablio, Francisco Mes-
quita (Chico), Esmeralda Ribeiro, le Semog, Cuti, Cristvo Avelino Nery, Carlos As-
sumpo, Benedita Delazari e Abayomi Lutalo.
Nos Cadernos Negros 9, podemos enumerar os poetas que esto, desde a estria da
srie, colaborando com a evoluo coletiva e alguns, na mesma linha, selando a sua trajet-
ria individual. Alguns nomes so, retrospectivamente no ano de 1986, assduos na trajetria
da coletnea e compartilham pontos comuns na abordagem da realidade dos negros no Bra-
sil e na problematizao do que , na perspectiva dos militantes e poetas negros, literatura.
Muitos dos nomes que sero destacados aqui j esboam um trabalho com marcas pessoais
e outros so mantenedores da srie:
Snia Ftima da Conceio, Oubi Ina Kibuko, Miriam Alves, Mrcio Barbosa, J a-
mu Minka, Ablio Ferreira, Esmeralda Ribeiro, le Semog, Cuti e Carlos Assumpo.
Os CN 9 no trazem tambm a apresentao assinada por militantes ou intelectuais
ligados luta anti-racismo. H, no lugar da apresentao, o chamado fuxico, isto , um tex-
to montado a partir de frases soltas e depois tecidas num nico texto.
Ao lado dos textos que tratam das condies de vida dos afro-brasileiros, o racismo
no cotidiano, poemas amorosos falando de negros e negras, poemas solidrios libertao
africana, h um conjunto muito significativo de poemas centrados na tradio dos orixs.
o caso dos poemas "Fora do Orum" (CN 9, p. 74), que faz referncia trajetria do Ile
81
Aiy, e o poema , "Canto de amor ao homem do samba batatinha", de J natas Conceio da
Silva (CN 9, p. 75), que tem como centro a questo cultural e o carnaval ijex. Cresce o
nmero de propostas articulando, na metapoesia, a discusso da negrura:
Falar negramente
nem claro
nem negligente
Tornar negro
sem ficar claro
sem clarear a mente
falar negramente
nem que para isso
eu fale naturalmente
Banir da lngua negra
a palavra racista
que algum implantou
no vacabulrio pobre, branco, manco
que o negro invejou
(Esmeralda Ribeiro, CN 9, p. 97)
Essa relao, que vem num crescendo na "evoluo" da srie, entre o processo de
criao e a tradio inclue, de forma consciente, uma composio potica prpria da cultura
iorubana. "No Orikis para este tempo", de Mrcio Barbosa, progressivamente sentimos a
confirmao da centralidade da relao com a cosmogonia negra e de aprofundamento do
universo interno da criao literria que, ao incluir o negro e a palavra negro, institui, ou
melhor, intui uma categoria de metapoesia com a qual a produo dos Cadernos, nos qua-
torze livros de poeisia, vai derivando a construo do verso e do signo negro:
Orikis para este tempo
1
O Poema,
palavra atirada no muro da pele
onde a voz afago
fogo a demolir as vertigens
lastro, rastro frtil
82
pasto, negrume afogado em mergulho
O poema esforo
no sabor deste incio
de um outro amanh
(CN 9, p. 48)
Ao lado dos poemas que discutem o poema e a incluso positiva da palavra negro,
temos nas reflexes o dilema da relao poeta, linguagem e criao:
Nem sempre o poeta se revolve em palavras. s vezes, deita a vida
sobre pgina e nenhum carinho de verso ou estrofe o conforta. A poesia
no terapia para carncia ou revolta. Hoje o abrao do prazer est aberto,
amanh deserto.
A pretenso que vale o conluio "eu", "tu" e as metforas. O que ata
e desata - O que brilha e no brilha. Nas vagas do poema possvel a soli-
do de uma ilha.
Raio de comunho no rebolio do escuro, o poema junta marulho e
murmrio, zumbido e gemido. Amalgama tudo. Pensamento e pgina,
pr-do-sol na vagina.
Se o leitor quisesse poderia olhar no olho do umbigo para ver-se tem-
po, embora o continuado cotidiano parado tente fechar com chave de ouro
as portas da poesia.
No ar um cheiro de paixo. O mar despeja espumas nos lbios. Sem
esta maresia e este sal, nada fica bom.
- Toca toc toc!
Pois no?
o leitor. Gostaria de entender...
Sim. Pode entrar. Desculpe que as palavras estejam suando tanto.
calor.
71
Esmeralda Ribeiro traz poesia concreta, visual. A pgina, o espao em branco, a lei-
tura visual, como se estivssemos diante de um quadro, aparecem das pginas 98 a 101:
ESTADO ESTADO ESTADO
Negro negro negro
ESTADO ESTADO ESTADO
ESTADO negro
ESTADO
negro
ESTADONegro
(CN 9, p.101)
71
Cuti. Cadernos Negros 9. So Paulo: Edio dos Autores, 1986. p. 113.
83
O poema de Miriam Alves, alusivo ao MNU (CN 9, p. 44), consolida a produo de
texto a partir do processo de produo do sentido poltico de uma das mais importantes
correntes dos Movimentos Negros:
MNU
Eu sei:
- havia uma faca
atravessando os olhos gordos
em esperanas
havia um ferro em brasa
tostando as costas
retendo as lutas
havia mordaas pesadas
esparadrapando as ordens
das palavras
Eu sei:
Surgiu um grito na multido
um estalo seco de revolta
Surgiu outro
outro
e
outros
aos poucos, amotinamos exigncias
querendo o resgate
sobre nossa forada
misria secular.
Exu, orixs e o ritual para os mortos (axex) formam um sequncia significativa.
Nos poemas seguintes, o pertencimento a uma totalidade, a uma pluralidade instituda e as
relaes de continuidade que passam, intermediadas por exu, pelos orixs (pela cabea - o
ori) e pela restituio, no axex, buscam uma dinmica de comunicao entre os diversos
sistemas do culto afro.
Exus
Exus soltos
nas matas virgens
84
dos sentimentos
arreliam medos
escavam toco seco
procuram verdades
escondidas nas encruzilhadas
sem despachos
(Miriam Alves, CN 9 , p. 42)
Oris
Num simples momento
a dimenso exata do imenso
e o mundo todo dentro de um passo
orixalesco este espao
vertical extenso do corpo
aconchegadamente o ori num crepsculo acidulado
o eb no mais belo humano movimento
(Mrcio Barbosa, CN 9, p. 49)
Poema axex para o Tonho
Mataram voc
Com muitos tiros:
desprezo
desemprego
desamor
racismo
Agora bias, FlorEgum
Na pazcincia desta lagoa de memria
guas de Oxum.
(Cuti, CN 9, p. 117)
um pingo dgua
em absurda mgoa
dilvio-lgrima
de luz e vento
Sumo e sonho
A vida move
em meio a tudo
eterna sina
85
de sermos um
cada qual
com seu ori
Na minha frente
quem sou eu?
O "Orfeu da Carapinha"
Eu ou tu?
Mas eu
sigo o sol
e sou ...............................EXU_______________________
(Cuti, CN 9, p.119)
Nos poemas apresentados acima, os orixs e os aspectos litrgicos dinamizadores
das divindades do panteo africano no cumprem apenas as funes religiosas. Toda a di-
nmica apresentada, de exu ao axex, so suportes simblicos, isto , recursos dessa tradi-
o mobilizados para o aprofundamento da questo literria e de incluso do grupo negro.
dessa forma que o processo de possesso, "a poesia me possui sem nenhum pu-
dor", adentra o universo da linguagem potica. Os contedos significantes das entidades,
exu e pombagira, expressos no vermelho e preto, vo traar o infinito dado pelos significa-
dos que passam pela caneta de trs pontas, referncia explcita a exu e implcita inspira-
o que "traa o infinito no papel" e, por fim, h ainda o afago, da senhora dos amores e
sentimentos, que "enxuga as mgoas mais ntimas":
A poesia me possui sem nenhum pudor
no meio da sala de visitas
Fico vermelho-preto
e a caneta de trs pontas
traa o infinito no papel
Os demnios no entendem
a tendncia deussumir
nos braos desta pomba que
gira
nas encruzas
e menxuga as mgoas
mais ntimas
(Cuti, CN 9, p.121)
86
Outro eixo muito visvel prende-se ao histrico social e pesquisa de linguagem pa-
ra transcender a univocidade do discurso militante:
Mahin Amanh
Ouve-se nos cantos a conspirao
vozes baixas sussuram frases precisas
escorre nos becos a lmina das adagas
Multido tropea nas pedras
Revolta
h revoada de pssaros
sussuro, sussuro:
"- amanh, amanh
A cidade toda se prepara
Mals
Bantus
geges
nags
vestes coloridas resguardam esperanas
aguardam a luta
Arma-se a grande derrubada branca
a luta tramada na lngua dos Orixs
"- aminh, aminh"
sussuram
Mals
geges
bantus
nags
"- aminh, Luiza Mahin, fal"
(Miriam Alves, CN 9, p. 46)
Para ouvir e entender "estrelas"
Se papai noel
no trouxer boneca preta
neste natal
meta-lhe o p no saco!
(Cuti, CN 9, p.116)
87
O movimento intercultural (negros das equipes de bailes com negros dos cultos) e o
movimento transcultural (negros com brancos atravs dos meios de comunicao de massa)
fazem uma feliz aproximao com o movimento negro de expresso cultural, a Bandal, e
tambm com as manifestaes artsticas e culturais negras difundidas no leque de ao dos
veculos de comunicao de massa e indstria cultural (o Soul):
Bandal
No palco a msica
a voz ijex, a tez e o orgulho
que existe em ns
descendentes do Ay
(Mrcio Barbosa, CN 9, p. 50)
O Baile
bom ficar exposto ao clima
dessa festa que me acolhe er
a msica verte e aflora flor e sendo
um jardim de cor transpira a riqueza
da negra esttica a noi-te-cendo
Por isso dano e sou
"Os Carlos" e "Chic Show"
"Musiclia" e "Zimbabwe"
SOUL no fundo instrumento da musa
(Mrcio Barbosa, CN 9, p. 51)
O valor da cultura negra como suporte simblico mais uma vez significativo no
desfecho do poema. A palavra SOUL substitui, por fora analgica e considerando o jogo
transcultural (negros com brancos), o verbo ser (sou).
A oralidade, outro ponto cardeal na dinmica da cultura afro, o centro no poema
de Mrcio Barbosa, cujo nome, "Malandragem", busca um entrecuzamento com a realidade
dos negros marginalizados e, ao mesmo tempo, com formas de expresso difundidas pelo
rap e samba de breque. A incluso do vocabulrio e da realidade de grupo de negros e/ou de
populaoes marginalizadas garantem as aproximaes:
88
Malandragem
Histria 1
Era meu amigo e disse-me um dia
esmagando forte a diamba entre o dedos:
"A, mano, t pela ordem"
Saiu ento para o mundo
e jogando brasa em cima de brasa
foi vacilo trilhando feliz o caminho da morte
Histria 11
Malandragem
Sentido de amor e moral
Ou vcio do cio e a erva
Ofcio de no vacilar
Intenso momento vivido
no drama do tiro
(CN 9, p. 51)
O ertico, outra recorrncia fundante do projeto de busca da corporeidade como
forma de expresso, encerra a interveno potica dos Cadernos Negros 9. No poema "Luz
na uretra", de Cuti, o ertico encarna a interao sentimento (corao) com os rgos sexu-
ais (pnis e vagina). A interao do smem com a vagina resulta, assim, numa totalidade:
Luz na uretra
O corao na cabea do pnis
sstole e distole sou-te
na vagina
e
num vo riacho
espalho-me
via lctea
no teu
infinntimo.
(CN 9, p.120)
89
Cadernos Negros 11 (1988)
Neste nmero, escrevem: J os Alton Ferreira (Bahia), Cuti, Esmeralda Ribeiro,
J amu Minka, Miriam Alves, Mrcio Barbosa Oubi Ina Kibuko, Oliveira Silveira, Snia
Ftima da Conceio. Vale registrar que a coletnea traz a tradicional auto-apresentao
que , alis, canal pelo qual os autores expressam, at essa edio, os mecanismos internos
do processo de criao. Nas edies seguintes, o espao dedicado auto-apresentao nos
livros reservados poesia ser , at os Cadernos Negros 23, 2000, interrompido.
O Cadernos Negros 11, no ano do centenrio da abolio do trabalho escravizado,
estampa na capa as crianas negras e, na contracapa, o significado dos nomes e da poltica
que orienta essa opo:
72
Nossas crianas. Agentes, atores , herdeiros de uma realidade histrica.
Nossas crianas no-abandonadas, representantes da certeza de uma traje-
tria que no comea e nem termina nelas. Seus nomes so reconhecimen-
to de uma identidade, porque elas so fruto de um marco que podemos
reivindicar como dado determinante de toda uma vivncia.
73
A nfase, no ano do centenrio de Lei urea, na voz dos protagonistas do CN, recai
na reafirmao de Palmares e Zumbi e pe em foco, de forma relacional, a literatura negra.
Temos, assim:
Talvez em nenhuma outra gerao a imagem de Palmares pudesse adqui-
rir tanta fora quanto nesta de fins de milnio acima. A Serra apresenta
ao observador o espetculo dos despenhadeiros. ... , antes, o contedo
pr-existente a cada idia, a escala de notas graves e agudas onde o som
da poesia existe j como possibilidade. ... A pessoa negra, dividida, bipar-
tida pelo atrito entre a fora social, que por um lado nega; e a fora interi-
or, que por lado a afirma; recompe-se inteiramente em nossa literatura. ...
Nossa recusa deve ser a resposta posio pequeno-burguesa do escritor
cantor das aparncias e das decadentes classes opressoras. Testemunha-
remos dessas classes aniquilamento. que nosso ato de escrever no
simples vaidade, e se o alcance estatstico, numrico, da literatura negra
ainda restrito, seu poder no revelado (velado) muito extenso. (...) Ele
reclama os cultos de Egun.
74
72
Kizzi Fatumbi, Handemba Mutana, Ayana, Mawusi, Kamau Hamadi, Fayoula, Fatoki, Abimbola, J amila,
Dara, Mugabe, Tafari Ahmadu, Andulai Ahmadu, Luana etc.
73
Contracapa dos Cadernos Negros 11. So Paulo: Edio dos Autores, 1988.
74
BARBOSA, Mrcio. Cadernos Negros 11. Op. cit., pp. 11-12.
90
Mantendo ainda a concepo central no CN, quando, no conjunto, os autores falam
que os textos resultam da coerncia interna (centrada na idia de uma literatura negra) e
externa referenciada nos movimentos negros e na superao do racismo, Miriam Alves,
considerando esse enfoque, diz: nas curvas deste caminhos que encontramos nossas res-
postas, nas encruzilhadas com e sem despachos que Exu abre novas frentes e Ogum apon-
ta a ao. Iroko informa que todo tempo tempo de aes. (CN 11, p.13) Dando, em se-
guida, o seguinte depoimento:
Estou em tempos de recordao. Lembro-me de uma oportunidade em que
lido o trabalho de um escritor foi dito que ele no escrevia sobre e en-
quanto negro, nos seus trabalhos no havia os ndices diretos. A afirmao
fez-me refletir o risco que estvamos correndo em reduzir nosso universo
criativo escravizando- o ao que dizer ser correto. Querendo fazer acreditar
que o caminho para o nosso fazer literrio est traado e pronto. Quem
no for por a no . O importante no crer nestas falsas verdades que
esto eivadas de velhos preconceitos tentando nos confinar a um determi-
nado lugar que pode ser porta dos fundos, barracos, cozinhas e outros lu-
gares onde nos encontramos na maioria, no por ser negro e sim por se-
gregao. Hoje esto tentando nos reservar a cozinha e portas dos fundos
da literatura. A noo de propriedade que vem do sculo passado est pre-
sente no socieade comunicativa como um todo. "O que de preto no tem
dono para todo mundo pr a mo. O que de branco propriedade pri-
vada". Qualquer semelhana com Casa Grande Senzala, no mera coin-
cidncia herana histrica. bom estarmos atentos a este tratamento e
no nos enganarmos com falsas novas cartas de alforria. No d pra negar
a existncia de uma literatura negra. No d para negar que escrevemos e
pensamos o que escrevemos. Ento cria-se um novo lugar do negro. reser-
va-se a cozinha da literatura com a patroa supervisionando os servios pa-
ra ver se sai tudo segundo os conformes da casa. difcil e fcil ser negro
escritor neste pas, fugindo sempre das ciladas. Criam-se Quilombos lem-
brando Palmares, para discutir estas questes fundamentais para a vivn-
cia da nossa literatura. Vrias vezes temos este Quilombo confundido com
Queto. Esquecem que Quilombo a princpio o local em que a democra-
cia para liberdade exercida com resistncia e criatividade. No Quilombo
existem ramificaes numa grande rede de comunicaes e espionagem
que sobe e desce morro e invade cidades num fortalecimento de causa e
no morte da causa.
75
A relativizao dos ndices diretos caracterizadores da literatura negra e a compre-
enso do papel histrico dos quilombos, na interveno de Miriam Alves, contribuem para
a compreenso crescente do lugar (sempre mvel e marcado por inmeras aquisioes e
trocas) da escrita negra.
75
ALVES, Miriam. Cadernos Negros 11. Op. cit., pp. 13.
91
Ainda trilhando as veias da escrita negra e a sua relao com a literatura brasileira,
J amu Minka constata, como outros autores da srie j o fizeram em edie anteriores, os
canais fechados e a restrio divulgao dos Cadernos e da escrita negra contempornea.
Alm desses canais fechados, o autor tece consideraes a respeito do intercmbio afnico,
por conta de questes histricas, dessa produo veiculada pelos CN e o contimente africa-
no, em especial, com os pases de lngua oficial portuguesa:
Vontade & Persistncia - Aps dez anos consecutivos de publicao
desta coletnea e com a vida literria cada vez mais frtil, estamos qui-
lombolamente revigorando a literatura brasileira. No entanto, uma presen-
a significativa de nossa produo nos meios de divulgao cultural ainda
um tabu. Porm, continuar a pensar a literatura no Brasil sem nossa pre-
sena instituir uma tica vesga que capta, e mal, apenas parte da diversi-
ficada feio brasileira.
Esperana Muito incmoda tambm a distncia entre instituies li-
terrias africanas (sobretudo dos pases de lngua portuguesa) e nosso tra-
balho. E, nos atalhos da desinformao, surgem os africanos com uma lei-
tura equivocada de nossa brasilidade negra. Vida & Cultura, suplemento
do Jornal de Angola, assim comentou, em 07-11-82, a nossa proposta de
uma literatura que reflita a condio afro-brasileira:
"... A frica continua assim para eles a colmatar uma brecha onde s o
regresso a ela poder significar a resoluo dos problemas que enfrentam
na sua sociedade, o que falso."
76
A afonia caracterizadora das relaes brasileiras com o continente africano assegu-
ra, em parte, esse olhar por parte da jornal angolano A viso generalizadora dos angolanos
no capta, na ao crtica dos textos tericos e da produo da srie Cadernos Negros, o
processo de construo, no imaginrio e no discurso, de uma noo de frica que no se
confunde, seno pontualmente, com a idia de retorno. A frica um artefato ou suporte
simblico, a exemplo das manifestaes culturais e religiosas, para a percepo e a constru-
o de estratgias de lutas manietadas aqui, mesmo que se considere, no processo, a liberta-
o dos africanos.
Assim que J amu no seus poemas, no CN 11, fala do Haiti, da frica do Sul da re-
presso e Apartheid e traz ainda um poema homenageando Carlos Drummond de Andrade.
Mrcio Barbosa tem como objeto de inspirao o FECONEZU: "Cantarei a mem-
ria de Zumbi como festa exusaca..." (CN 11, p. 43)
76
MINKA, J amu. Cadernos Negros 11. Op. cit., p. 36.
92
No poema dedicado ao FECONEZU, Mrcio celebra, a partir dos suportes simbli-
cos retirados das divindades, a negrura falando das tranas, da dana e ressaltando a funo
de Ogun: "a fora milenar de Ogun devastador, a exploso da mo erguida, o brao tenso, a
lmina pronta para defender com raa a branca era das dvidas." (CN 11, p. 44)
No CN 11, muitos autores procuram sistematicamente trabalhar a potica do amor,
sempre, ressaltando os corpos negros. Os dispositivos literrios, que so reafirmados nos
poemas de amor, revelam que por trs de um conjunto de tipos aparentemente diversos es-
to alguns mecanismos bsicos, sem os quais no seria possvel flagrar os planos subjacente
insero da temtica amorosa e do corpo, ambos, percebidos e determinados pelo ertico.
Os ttulos e o contedo revelam bem essa dimenso:
"Poemas da comunho da carne":
Querer-te como rima preciosa uma
pedra esculpida um ritual de amor
e arte em negrura colorida. Sim
querer-te o corpo como um templo
e cultuar-te ___ assim sagrada ___
a salgada e rubra hstia da vagina
(Mrcio Barbosa, CN 11, p. 45)
Os poemas dedicados aos cones da luta negra criam um sentido de unidade, sendo
seu ponto crtico a tematizao da idia de solidariedade, de comprometimento nos poemas,
textos e verbalizaes que so sempre idnticos na aproximao e, sobretudo, na tentativa
de estabelecer as teias para superar o racismo internacionalmente:
Mandela
1
Nenhum crcere pode prender, entre paredes de pedra
E musgo, a msica das passeatas, a voz rebelde dos jo-
Vens, o beijo de amor das mulheres no rosto negro dos
Homens, a aurora do novo mundo nos bairros de lata
e plvora.
(Mrcio Barbosa, CN 11, p.45 )
93
Oliveira Silveira, no CN 11, recria o poema Nega Ful, de J orge de Lima:
Outra Nega Ful
O sinh foi aoitar
a outra nega Ful
- ou ser que era a mesma?
A nega tirou a saia,
a blusa e se pelou.
O sinh ficou tarado,
largou o relho e se engraou.
A nega em vez de deitar
pegou um pau e sampou
nas guampas do sinh.
-Essa nega Ful!
Esta nossa Ful!,
dizia intimamente satisfeito
o velho pai J oo
pra escndalo do bom J orge de Lima,
seminegro e cristo.
E a me-preta chegou bem cretina
fingindo uma dor no corao.
- Ful! Ful! Ful!
A sinh burra e besta perguntou
Onde que tava o sinh
que o diabo lhe mandou.
- Ah, foi voc que matou!
- sim, fui eu que matou -
disse bem longe a Ful
pro seu nego, que levou
ela pro mato, e com ele
a sem ela deitou.
Essa nega Ful!
Esta nossa Ful!
(CN 11, pp. 56-57)
A recriao de poemas feitos por Jorge de Lima e Manuel Bandeira, entre outros au-
tores nacionais, visa, diretamente, romper os discursos que antes, nos versos desses poetas,
relegaram o negro, tema ou personagem, a um papel submisso, cujo efeito de linguagem,
assim, afirmava e/ou naturalizava o racismo.
94
As lutas contra o racismo passam, na interveno em srie, observando-se os vrios
ngulos de abordagem, pela linguagem ambgua que o define num jogo de mscaras que
diz, num momento, sim existe e, no outro, furta-se e diz no:
Ser e No Ser
O racismo que existe,
o racismo que no existe.
O sim que no,
o no que sim.
assim o Brasil
ou no?
(Oliveira Silveira, CN 11, p.54 )
Cadernos Negros 13 (1990)
CN 13, com dedicatria referendando a luta do povo sul-africano e Nelsom Mande-
la, no dizer dos prprios autores, "entrega aos leitores mais esta viagem por inusitados ca-
minhos da leitura. s tomar o trem da palavra"
77
e seguir Esmeralda Ribeiro, Cuti, Con-
ceio Evaristo, Mrcio Barbosa, Miriam Alves, Ablio Ferreira, Oubi Ina Kibuko e Ar-
naldo Xavier.
No h, no nmero 13, prefcio ou texto de auto-apresentao dos autores. O texto
informativo aparece, nesse volume, apenas na orelha do livro.
Uma informao apresentada no texto chama a ateno para o processo de democra-
tizao do pas e para as mudanas internacionais, entre elas, a queda do muro de Berlim,
os desastres ecolgicos, as revolues inconclusas na frica, Amrica, sia e o racismo no
mundo. Talvez estes dados possam significar muito no tocante compreenso do universo
temtico desse volume. O aprofundamento das relaes com a religio de matriz afro (e de
tentativas experimentais) atinge o seu pice nesse volume.
Esmeralda Ribeiro apresenta, inicialmente, poemas centrados na tradio religiosa
de matriz africana. No poema "justia", ela dessacraliza os deuses e os mitos e valoriza,
77
Cadernos Negros 13. Orelha do livro.
95
como sujeitos histricos, os bruxos e a ritualizao o que significa, literalmente, a adeso
dinmica dos cultos e atualizao, atravs de sucessivas rupturas de valores, dessa mesma
tradio:
J ustia
preciso
cagar nos deuses
cuspir nos mitos e
deixar os bruxos
com seus ritos
(CN 13, p. 9)
Nos outros poemas, de Esmeralda, aparecem os afoxs, e versos registrando a mani-
festao de Exu e de Ay, Rainha da cidade de Xang, pginas 10 a 12. O ncleo de poe-
mas centrados na tradio religiosa, no conjunto os poemas, expressa uma preocupao
com o espao em branco e com a disposio grfica e com o uso de letras garrafais. Cuti,
nos "7 poemas de paixo e volpia", passeia pelo amor e pelos corpos negros "e fui reve-
renciar a vulva/ perfumada/ cacho de negras uvas" (CN 13, p. 23 ). O exerccio em torno de
temas trabalhados por outros poetas acompanha a preocupao formal. E o caso desse poe-
ma de Cuti que dialoga com Arnaldo Xavier, poeta presente nos Cadernos Negros e com
forte preocupao visual:
Parodinha ao poema
"o negro engole o grego",
de Arnaldo Xavier
o negro engole o prego
crucifica o superego e:
- ego, ide!
Conceio Evaristo, no poema "mineiridade", revela um tom muito comum nos po-
emas de Adlia Prado. O incio e o desfecho do poema comprovam o que estamos afirman-
do: Quando chego de Minas/ trago sempre na boca um gosto de terra./ Chego aqui com o
corao fechado/ um trem esquisito no peito/ ... Chegando do Minas/ trago sempre nos
bolsos/ queijos, quiabos babentos/ da calma mineira./ duro, triste/ ficar aqui/ com tanta
mineiridade no peito. ( CN 13, p. 29)
96
O eu-feminino o centro do poema "Eu-mulher, da mesma poeta:
Eu-mulher
Uma gota de leite
me escorre entre os seios.
Uma mancha de sangue
me enfeita entre as pernas.
Meia palavra mordida
me foge da boca.
Vagos desejos insinuam esperanas.
Eu-mulher em rios vermelhos
inauguro a vida.
Em baixa voz
Violento os tmpanos do mundo.
Antevejo.
Antecipo.
Antes-vivo.
Antes- agora o que h de vir.
Eu fmea-matriz.
Eu fora-motriz.
Eu-mulher
abrigo da semente
moto-contnuo
do mundo.
(CN 13, p.30)
Mrcio Barbosa apresenta vrios poemas inspirados em Exu e, neles, repe, consci-
entemente, o lugar da divindade na relao com o grupo ou povo negro:
E assim exuir
exuar refluir
exuzir revoar
com exu exuir
Em trasexuesco
re-rir, gargalhar
deixando exuoso
o homem riar
E assim deixar vir
a essncia orixante
o teor exuente
97
o fecundante, o movente
pra poder refazer
os caminhos da gente
(CN 13. p.37)
Volta Re-volta desenvolve
O Exu
No embaa desembaa solta
O Bicho
(CN 13, p. 38)
No conjunto dos seus poemas, Mrcio Barbosa traz versos reafirmado o lugar e o
significado do eb que , conhecimento e restituio, espao relacional para busca e com-
preenso do "negrume":
faca escura
a nossa cor
rasgando o tempo
punho risonho
nocauteando
a dor e o mal
nosso negrume:
rio de ebs
resplandecente
nossa luta
universal.
(CN 13, p. 39)
O corpo e o ertico voltam nesse volume na e entre as relaes amorosas:
Tempos de amor
1) A boca em molhado crculo
envolvendo a pica
ou beijando com suavidade imensa
a sua virilha
2) A lngua tesa enfiada
na bunda
98
ou buscando em dana perfeita
da buceta o salino sabor
2) Em dois tempos o desejo inunda
Corpos marrons em mars de amor
(Mrcio Barbosa, CN 13, p. 43)
Os poemas visuais, neste edio, ficam sob a responsabilidade de Mrcio Barbosa:
como onDAS e SOMbras
tudo PASSA:
duram OBRAS e SAMBAS
(CN 13, p. 44)
Miriam Alves refora a impresso que temos de mergulho na tradio dos orixs e
de abordagem coletiva, no CN 13, de valores fincados na ancestralidade:
Gens
O Ori reclama
luz e calor
Gens repousam na ulterior
generosa fonte esquecida
Ori
Gens
Doces felicidades estagnadas
(CN 13, p. 47)
Ablio Ferreira, no poema "Exu", seguindo a tnica desse volume, aproxima o corpo
negro dos referenciais simblicos emblematizados pelo senhor dos caminhos, alis, seu
princpio estruturante:
Exu
Lbios vermelhos
Muito vermelhos
Acesos e acesos e haciendo-me entrar
99
- vem vem me ver por dentro
E eu vou fenda- acesso labirinto a chamar
A brasa chama rubra e corpo negro
(CN 13, p. 63 )
Num poema de Oubi Ina Kibuko, O trnsito pelo rap (a poesia ou canto falado)
usado para denunciar a violncia praticada contra os negros:
Inspirao in rap
Abro todo dia o jornal e... no sei
por onde comeo a ler. A violncia virou
um vendaval e o grande perigo e viver.
na rua, no trem, na escola, no me-
tr ... Outro inocente foi assassinado por
mais uma besta que o sistema treinou.
Voltava do trabalho, sem maldade,
sem malcia... de bobeira foi parado no-
vamente pela polcia. Penso eu que esta
histria exige uma explicao. Por que
meganha implica sempre sempre com
negro?
J no se goza em lugar nenhum de
um pouco de felicidade! Sempre aparece
a polcia para humilhar a nossa dignidade.
Ser que para ser tratado com respeito
pela corporao, preciso que negro ande
com uma CALIBRE 12 na mo?
(CN 13, p. 74)
Arnaldo Xavier, que faz a sua estria na srie, fecha o livro de nmero 13 com um
poema-prosa hermtico e confirmando, como adverte Sebastio Uchoa Leite, sua disposi-
o para a pesquisa e experincias formais. Segundo Uchoa existem poetas negros
(...) que se dedicam, mais recentemente, recuperao de linguagens afro
e seu universo simblico, ou com a experincia lingustico-formais, inclu-
sive no plano visual. Este segundo caso est representado por Arnaldo
Xavier, cujas caractersticas experimentais podem inclu-lo no grupo dos
100
poetas da linguagem , embora, por outros aspectos, pudesse figurar tam-
bm como militante.
78
Cadernos Negros 15 (1992)
A capa continua apresentando imagens fortes de crianas e de negros(as). Os auto-
res Carlos Assumpo, Celinha, Conceio Evaristo, Cuti, Eliane, Esmeralda Ribeiro, Elie-
te, Roseli, Mrcio Barbosa e J amu Minka tm os seus rostos na contracapa. A auto-
apresentao feito pelos autores continua fora dos Cadernos Negros 15 .
O volume 15 no apresenta prefcio assinado por especialista em literatura ou mili-
tante histrico dos Movimentos Negros. H um texto, sem assinatura, provavelmente de
responsabilidade do Quilombhoje, que fala da possibilidade de a poesia traduzir a comple-
xidade "das nossas relaes raciais cotidianamente vividas".
Por conta desse enfoque, os objetivos alimentam os mesmos ideais sintetizados nas
edies anteriores: "Os versos fazem despontar a vida dos protagonistas Negros da civiliza-
o contempornea e na linguagem concretizam-se alguns recursos da nossa herana afro."
O processo de seleo, coletivo, coube aos prprios autores que opinaram e sugeri-
ram alteraes. Leda Tenrio e Gizlda Melo Nascimento, especialistas em literatura, cola-
boram no processo de seleo que contou ainda com a leitora Benedita Aparecida Lopes.
Os efeitos de sentidos que comandam os dados trazem especificidades geogrficas
pertinentes s cidades e aos estados em que vivem cada um dos autores. Cabe, a propsito,
lembrar que este foi, at o momento, um dado pouco (ou no) explorado nas edies anteri-
ores . Dos dez poetas dos Cadernos Negros 15, seis moram no Estado de So Paulo: Carlos
Assumpo (Franca - So Paulo), Celinha (So Carlos - So Paulo), Cuti (So Paulo), J amu
Minka (So Paulo), Mrcio Barbosa (So Paulo) e Roseli Nascimento (So Paulo), dois
moram na cidade do Rio de J aneiro: Conceio Evaristo e Lia Vieira e dois em Minas Ge-
rais (no existe referncia cidade): Eliane Francisco e Eliete Gomes.
A participao fica, ao menos nesse volume, restrita Regio Sudeste do Brasil, e
muito concentrada nas maiores cidades do pas. Temos, por conta da relao Movimento
78
LEITE, Sebastio Uchoa. Presena negra na literatura brasileira. Rio de J aneiro: Patrimnio Histrico e
Artstico Nacional, n
o
25, 1997. p. 113.
101
Negro e Cadernos Negros, no Estado de So Paulo, uma relativa interiorizao que segue,
nos vinte sete Cadernos publicados, a articulao dos Movimentos Negros de Expresso
Cultural com os Movimentos Negros de Expresso Poltica. As trajetrias das poetas oriun-
dos de Franca e So Carlos so reveladoras. Clia, para citar apenas um dos casos, mili-
tante do Grupo Congada que foi, na dcada de 70, com o Evoluo de Campinas, um dos
grupos de vanguarda da luta anti-racismo no Estado de So Paulo.
A aproximao com a tradio afro aparece nos poemas dedicados aos filhos dos
poetas. A Cantiga N 2, de Celinha (CN 15, p.12), ofertada ao filho Cau Kamau, e o
Acalando a Daina (CN 15, p.12), da mesma autora, so mostras dessa relao. Conceio
Evaristo segue, na pgina 17, o mesmo expediente no poema dedicado filha Ain. Trata-
se, ento, de constituir o corpus destas produes a partir de marcas deixadas pela cultura
afro na escrita, mesmo que coexistindo somente na superfcie dos textos.
Outros indcios, inscritos na estrutura formal dos poemas, podem igualmente sugerir
a destinao oral e religiosa das palavras adaptadas ao universo afro ou linguagem. o
caso de cotejamos esses significados num pequeno trecho do poema "Ancestrais" de Celi-
nha na pgina 16: "Ao toque do tambor africano/ nada impedir / a divindade dos sentimen-
tos de Oxum." Esmeralda Ribeiro, no longo poema intitulado Quel, do qual transcreve-
mos uma estrofe, diz:
E assim
no fiz esta poesia
porque as frustraes
eram rouxinis subversivos
e para escrever voc, Quel
- cano africana
partido alto
tant de batuque
na casa dos mortos -
As contradies do racismo brasileira ficam no centro do poema "Branco Negrei-
ro" (CN 15, p. 27), de Cuti, que problematiza a identidade flcida do branco brasileiro, que
sobredeterminada, apesar da aparente proximidade e cordialidade, pela no adeso luta
negra:
102
fala gria
no sai da macumba
tem sombra de samba no p
arremedo de ginga na bunda
mas detesta movimento negro
bloqueia
tem medo que um sol preto
brote em sua cabea
raios salientem lminas
e o passado acontea
amanh
ao contrrio.
A questo racial , vencendo os preconceitos de incluso dessa temtica, fonte de
inspirao. dessa forma, driblando a "palidez da pgina", que a inspirao ser processa-
da, " em nome da raa" que "minha rvore da vida", no enfoque de Cuti, "vence a palidez
da pgina":
No vou me deixar calado
na palidez da pgina
minha rvore da vida
escreve com suas razes
o corpo da minha fala
quando o dia se ri
ou a noite gargalha
em nome da raa
que o verso em fogo se espalha
(CN 15, p. 32)
Mrcio Barbosa cria uma dimenso de pesquisa na qual a palavra e os elementos di-
nmicos do ritual de macumba se fundem (CN 15, p. 63 ):
Num poema-eb
a palavra a pemba
A: PALAVRA:PEMBA: NO: POEMABO:
[ MAPEIA:UM:PONTO
no terreiro pontos so riscos
marcas de giz
PONTOS.SO.RISCOS. fundamentos
Fundam e a
f
103
u
n
d
a
m at a raiz
numpoemaebapalavrapemba
funde guerra e abrao
arrianopeito-ronc
pomba girando que s
explodeemdanasguerreiras
a palavra pemba facho
alegriamacumbeira
um imenso despacho
Procedimento anlogo aparece no poema B(ORI): "enfim, um alguidar surge em
meus braos/trevas/ um curto vo, depois o ej: finssimos rios correndo para o centro da
terra: !Ogunh!" (CN 15, p. 65)
Repassando poemas de J orge de Lima e de Manuel Bandeira, os autores encarnam
uma tpica de reviso ou de releitura de temas desenvolvidos por nomes consagrados da
literatura brasileira. Essa fuso de enfoques diferentes produziu um discurso em que o re-
corte racial tira o negro da passividade, transmitindo, ento, verses que conseguem trans-
portar o leitor do texto para a vida, do discurso verbal para o discurso social, propiciando a
problematizao da condio do negro. O que no dizia o poeminha do Manuel (CN 15,
p. 64 ), de Mrcio Barbosa, diz:
Irene preta!
Boa Irene um amor
mas nem sempre Irene
est de bom humor
Se existisse mesmo o Cu
Imagino Irene porta:
- Pela entrada de servio - diz S. Pedro
dedo em riste
- Pro inferno, seu racista - ela corta.
Irene no d bandeira
ela no de brincadeira
104
Cadernos Negros 17 (1994)
Na edio de nmero 17, sem auto-apresentao dos autores, os escritos coligidos
por Esmeralda Ribeiro, J amu Minka, Miriam Alves, Oubi Ina Kibuko e Snia Ftima
Conceio giram em torno da abordagem do racismo brasileira. o que diz com outras
palavras, na apresentao, Clvis Moura. O principal feito dos Cadernos Negros, se consi-
derarmos a ponderao de Moura, configura-se na elaborao de uma contra-ideologia raci-
al. Por isso, certas abordagens e anlises se repetem s vezes com a variao somente do
contexto. Os poemas, cotejados entre si, demonstram as similaridades que se cruzam com
as relaes raciais. Avulta, assim, a tpica reveladora de Palmares, de Zumbi e dos corpos
negros, da violncia policial e do 20 de novembro:
Calendrio
20 de novembro
Natal negro
Zumbi vem num tren histrico
Trazendo presentes de resistncia
(Oubi, CN 17, p. 62)
O ertico se introduz, nos Cadernos Negros 17, como uma varivel para se pensar
as aproximae sonoras ou a aproximao, atravs dos gestos erticos, dos corpos e da co-
municao amorosa:
Sarro
Massa caa coa
pescoo moc buo roa
seio sal cu suor
bombo no bonde bunda na banda
(Oubi, CN 17, p. 66)
Te amo
A lembrana concreta
Teu hlito roa-me a face
O desejo
afasta
105
o ridculo
No suor o visco
do esperma
Na boca o gosto
do falo
Indecentes
Tuas mos
Tateiam meu corpo
o orgasmo varre
valores, pecados
Te amo.
(Snia, CN 17, p. 72 )
Colaboram, no processo de seleo dos poemas, a professora de literatura Marisa
Lajolo e o leitor Eraldo M Ferreira. A edio selou, o que se constitui num fato relevante,
uma parceria entre Quilombhoje Literatura e editora Anita Garibaldi.
Na introduo, assinada por Mrcio Barbosa, existem dois destaques. O primeiro
valoriza a co-edio Quilombhoje e Anita Garibaldi e a possibilidade, efetiva, de a parceria
poder ampliar o universos de leitores. Tal ampliao, conforme assegura o texto introdut-
rio, sem abdicar das caractersticas da coletnea, que gira em torno da proposta esttica,
poltica e cultural. O segundo aspecto enfatizado pela introduo diz respeito funo do
Grupo Quilombhoje Literatura. Em sntese, o Quilombhoje, tal como querem os seus orga-
nizadores, o canal pelo qual os escritores negros vo viabilizar os debates em tono de lite-
ratura e cultura. No dizer dos articulistas do Quilombhoje, ainda na introduo:
A vida coletiva no est fora da literatura. Se na elaborao literria
o que conta, principalmente, a capacidade do autor trabalhar com
sua subjetividade e com suas habilidades individuais, este autor ex-
pressa, na verdade, alguma coisa que encontra significao na vida
coletiva, da qual nenhum de ns est ausente.
79
A reflexo realiza aqui um antigo processo: tentar entender as razes pelas quais os
negros esto excludos e condenados invisibilidade. Subordinada ao anti-racismo e
79
BARBOSA, Mrcio. Cadernos Negros 17. So Paulo: Quilombhoje / Anita Garibaldi, 1994. p. 15.
106
valorizao da cultura negra, a potica expressa nos CN encara o poema como canto de
louvor negrura e cultura afro, o que constitui uma espcie de incentivo terico e potico
visibilidade negra, tomada como a construo de um modelo da ao militante, que erige
a negrura como padro desejvel de ao poltica e literria. Por isso, logo na apresentao
de Clvis Moura, o enfoque recai na relao entre os Cadernos Negros enquanto "(...) m-
dulo de afirmao tnica e, ao mesmo tempo, um marco de reflexo para aqueles que no
acreditam no poder de criao literria do negro.
80
A propsito da rejeio da indstria editorial e dos meios de comunicao, vale a-
companhar os relatos de Clvis Moura e Mrcio Barbosa, na apresentao e introduo
respectivamente. Na apresentao, Clvis Moura fala que a rejeio revela dois preconcei-
tos, a saber, um cultural e outro racial. Mrcio Barbosa fala dos mecanismos externos de
classe e raa que limitam a circulao da srie.
Cadernos Negros 19 (1996)
Al Elaza Fun, Alzira Rufino, Ana Clia da Silva, Conceio Evaristo, Cuti, Domin-
gos Moreira, le Semog, Esmeralda Ribeiro, Henrique Cunha J r., Jamu Minka, Jnatas
Conceio, J orge Siqueira, Kaimiteob, Land Onawale, Lep Correia, Lia Vieira, Manoel
Messias, Miriam Alves, Onildo Aguiar, Oubi Ina Kibuko, Snia Ftima Conceio, Tere-
sinha Tadeu, Verglio Rosa Filho, Waldemar Euzbio Pereira. So 24 os poetas do dcimo
nono nmero dos Cadernos Negros .
Nesta a edio h um crescimento acentuado de autores em relao s edies 13 (8
poetas), 15 (11) e 17 (5). A auto-apresentao, presente nas edies inaugurais da srie,
ficou fora do projeto editorial do CN 19. Participaram do processo de seleo os escritores
e especialistas em literatura J oo Silvrio Trevisan e Oswaldo de Camargo e, na categoria
de leitora, a professora Benedita Aparecida Lopes.Alm da editora Anita Garibaldi, a edi-
o contou com o apoio cultural da Editora Convivncia.
80
Idem, p. 9.
107
Autores de Belo Horizonte, Fortaleza, Rio de J aneiro, Santos, So J os do Rio Pre-
to, So Paulo e Sorocaba se fizeram presentes. A distribuio dos autores, no que diz res-
peito s entidades negras ou setores dos movimentos negros, foi a seguinte:
Al Eleazar Fum responsvel pela livraria Griot, Alzira Rufino coordenadora do
coletivo de mulheres negras da baixada santista, Ana Clia militou no MNU, Henrique Cu-
nha J r. militante do Movimento Negro, J natas Conceio atua como coordenador do
projeto de extenso pedaggica do Bloco Afro Il Aiy, Kaimeteob coordena o ncleo de
cultura e religio da UNEGRO PC do B Campinas, Land Onawale do Grupo Angola
Pelourinho, Lep Correia e Om risa Og, Lia Viera milita no MNU e no Movimento de
Mulheres, Miriam Alves participa do Quilombhoje Literatura, Snia Ftima Conceio
tambm integra o Quilombjoje Literatura, Teresinha Tadeu atua no Conselho Municipal
da Comunidade Negra de Santos, J amu Minka participa de projetos polticos e culturais
afro-brasileiros de imprensa e literatura, Esmeralda Ribeiro faz parte do Quilombhoje e
Cuti fundador e componente do Quilombhoje Literatura.
Permanece, nos CN 19, 1996, a co-edio Quilombjoje e Anita Garibaldi. A capa
acompanha o projeto bsico da coletnea de inverso dos valores atualizados na sociedade
brasileira. Engendrada numa gramaticalidade visual de auto-afirmao da negrura, nova-
mente a capa expe negros e negras em profuso.
Os textos de apresentao, na contracapa e orelha do livro, trazem reflexes de Oli-
veira Silveira, do Grupo de Cultura Negra de Porto Alegre, Edna Roland, do Glds - Ins-
tituto da Mulher Negra e J oo J orge Santos Rodrigues, diretor de cultura do Grupo de Cul-
tura Olodum. A apresentao assinada pelo QuilombhojeLiteratura. As epgrafes ficam
por conta de Solano Trindade e da pesquisadora Leda Maria Martins. Solano e Leda tocam
nos dilemas que so reatualizados pela memria. Para Solano Trindade, poeta, criador, o
poema atravessa e atravessar os sculos:
Meu poema
cantado atravs dos sculos
Leda Maria Martins, pesquisadora, fala dos vazios que desorientam e orientam a
memria:
108
Os vazios do verbo
encenam os tempos da memria
tessitura imaginria
de estranho e familiar desejo
Edna Roland, na orelha inicial do livro, enfatiza o processo coletivo e a regularidade
das publicaes, elogiamdo a regularidade das inseres da temtica negra e da vida do
negro na saga aberta pelo Quilombhoje e pela srie. A inverso, se considerarmos a invisi-
bilidade do negro no Brasil e os argumentos postos pela pesquisadora, cria as condies
para o protagonismo ou como diz Edna Roland: Os Cadernos criam um espao para o ne-
gro escrever a partir de si mesmo. A estudiosa chama ateno ainda para a produo poti-
ca negra recente que, em sua perspectiva de anlise, construda pela oralidade, pela musi-
calidade da fala e orilizada o que, no dizer dela, significa ser a escritura negra marcada pela
percepo aguda do cotidiano negro. Edna faz os leitores saberem que no cotidiano e na
relao com a cosmoviso negra se d tambm o encontro com identidade negra.
J oo J orge, diretor cultural do Olodum, na orelha que fecha o livro, recupera os sig-
nificados da poesia africana de expresso em lngua portuguesa e seu papel no projeto iden-
titrio dos negros baianos e, por extenso, brasileiros. Desse ngulo, o autor acentua o papel
dos poetas e autores negros, na dcada de 80:
Os Cadernos, com seus poetas instigantes, cantadores das coisas e da cul-
tura do nosso povo, foram um poderoso guia intelectivo e abstrato para o
empreendimento de uma nova poltica cultural entre os Afro-baianos. Na-
quela poca dos anos 80, pensvamos apenas nos nossos tambores. Em
nossa viso de mundo a poesia era apenas a msica dos protestos nas ruas.
Porm foi a leitura constante dos Cadernos Negros que nos abriu o mundo
e iluminou o nosso caminho para o Novo Mundo.
81
Na contracapa, Oliveira Silveira fecha o ciclo de reflexes e de representantes dos
Movimentos Negros a tecer consideraes, nos CN 19, a propsito da produo ininterrupta
da srie. Silveira organiza a sua anlise a partir da identificao de um processo recproco
que parte da frica, Amrica e Caribe, tendo como centro os EUA, e chega ao Brasil. H
uma composio ou uma trama de solidariedade entre os Cadernos e uma certa produo
literria feita por negros no Brasil. Para Silveira, os poetas oriundos dos Movimentos Ne-
81
J ORGE, J OO. Cadernos Negros 19. So Paulo: Quilombhoje / Editora Anita, 1996. Orelha final do livro.
109
gros interagem num mesmo campo (num campo nico) com instrumentos distintos para a
resistncia e organizao contra o racismo.
O fato de os poetas-militantes estarem presentes, de modo muito forte nos CN 19,
reflete-se na temtica engajada. A distribuio desses elementos no livro obedecem a uma
ordem complexa do ponto de vista da variao mas, no entanto, de baixa densidade e varia-
o no tocante ao universo potico. A violncia policial, a discriminao sofrida pela mu-
lher negra, o genocdio dos jovens negros, o racismo cordial etc.
Existe um ncleo de poetas, neste nmero dos CN, que cria um espao especial no
qual a militncia e a poesia se encontram. Pois se a militncia tem aspectos importantes
para a consolidao identitria do negro, como a denncia do racismo e o reconhecimento
dos valores culturais negros, ela permite um conjunto de gestos (e aes literrias) que, nos
poemas, s se realiza na juno de procedimentos rtmicos e imagsticos em comunho com
a negrura ou militncia. Os poemas de Cuti, le Semog, Henrique Cunha J r., Esmeralda
Ribeiro, J amu Minka, J natas Conceio e Virglio Rosa Filho se enquadram nessa ltima
possibilidade.
Cadernos Negros 21 (1998)
Nos Cadernos Negros 21, esto Alzira Rufino, Carlos Correia Santos, Carlos Gabri-
el, Conceio Evaristo, Cuti, Domingos Moreira, Esmeralda Ribeiro, J orge Siqueira, Kasa-
buru, Land Onawale, Lep Correia, Loureno Cardoso, Marcos Dias, Miriam Alves, Sid-
ney de Paula Oliveira, Suely Nazareth H. Ribeiro. Os CN 21 no insere, antes da mostra
potica de cada autor, os texto de auto-apresentao.
A apresentao, feita na orelha do livro, ficou a cargo de Flvio J orge Rodrigues da
Silva, militante da Soweto Organizao Negra e secretrio Nacional de Combate ao Ra-
cismo do PT. Ele enumera os feitos da gerao de 70, isto , os novos sujeitos polticos, a
afirmao identitria e a organizao dos movimentos negros que, numa das suas frentes,
tem, na articulao do Quilombhoje e na literatura, "(...) um instrumento que influencia
110
uma nova maneira de encarar a vida e de transformar a realidade, a partir de um olhar e de
um modo de ser negro".
82
O CN 21 contou com colaborao, no processo de seleo, do escritor Oswaldo de
Camargo (SP), da professora Benedita Aparecida Lopes (SP), do escritor Ablio Ferreira
(MG) e da Doutora J ussara Santos (MG). Oswaldo de Camargo contribui com um texto
reflexivo na contracapa. Em poucas palavras Camargo fala da importncia da Literatura
Negra e da necessidade de rebater o vazio social. Devido a isso, a observao de Marcel
Mauss, O escravo no tem personalidade, no tem corpo, no tem antepassados, nem me-
mria, o prprio vazio social - ficou sendo por muito tempo o espelho do homem negro,
mesmo aps a abolio. Para Camargo:
(...) a Literatura Negra Brasileira (negros escrevendo diante de si e de sua
terra) rebate o vazio social de que fala Mauss. E preenche-o com mem-
ria, lembrana do antepassado, resgate de personalidade. Poemas, contos,
textos reflexivos passam, finalmente, a ter a marca do homem negro, jo-
gando luz, com a luminosidade dos excludos, sobre um pas chamado
Brasil. Com a Literatura Negra finda- se, nas Letras ptrias, a viso parci-
al e manca do pas da bonomia racial. E insere- se nela, com numerosa
presena, o autor negro, que, a partir de Lus Gama, no sculo XlX, pode
dizer "ns tambm somos". Cadernos Negros, historicamente, e um dos
responsveis por essa realizao.
83
Fizeram-se presentes, em nome do Quilombhoje e respondendo pela apresentao,
Esmeralda Ribeiro, Mrcio Barbosa e Snia Ftima. O foco da apresentao prende-se ao
modo como os leitores recebem a coletnea. O projeto, iniciado em 1978, de dar visibilida-
de produo de escritores afro-brasileiros enfrenta, conforme explicita o texto assinado
pelo Quilombhoje, inmeras dificuldades e, dentre elas, a demora excessiva para vender as
edies, o que suscita algumas indagaes e dvidas que passam pela discusso do alcance
literrio (e da qualidade) do Cadernos:
Essa realidade estabelece dvidas em nossos coraes. Teramos nos e-
quivocado diante de nossos prprios valores? Ser que no estamos nos
fazendo entender? Ser uma questo de qualidade literria? Dvidas...
Dvidas...
84
82
SILVA, Flvio J orge Rodrigues da. Cadernos Negros 21. So Paulo: Quilombhoje / Editora Anita, 1998.
Apresentao do livro.
83
CAMARGO, Oswaldo de. Cadernos Negros 21. Op. cit. Contracapa do livro.
111
A apresentao faz aluso presena significativa de autores, 16 poetas, envolvidos
nos CN 21. Se considerarmos a participao restrita na edies 13 (8 poetas) e 17 (5 poe-
tas), o registro revela uma preocupao dos organizadores da srie com relao dissemi-
nao da produo e, ao mesmo tempo, com o acesso de novos escritores.
A propsito da produo em si, os poemas retratam momentos introspectivos e de
crticas ao cotidiano, no entanto, o elemento nuclear dos CN continua sendo "a questo da
vivncia afro-brasileira." Vivncia construda, em muitos versos, a partir da tradio cultu-
ral afro-brasileira referenciada na capoeira angola o caso do poema de Land Onawale,
nos remanescentes de quilombos, na poesia de Kasaburu e nos maracatus, no batuques e na
congadas nos versos de Lep Correia. H tambm nessa edio poemas construdos numa
linha de pesquisa ou de incorporao de um vocabulrio Kimbundo.
85
Xitunda
A noite corre l fora
Beijando o mar e os campos
E no meu peito, silente,
Muita saudade de ti.
Em meio a um batuque de sonhos
"Xaxato" teu corpo esguio.
E volto, apesar dos anos
A ser "muzangala" esperto.
Mana Gida
Muzelekete mama
Pudera ocupar, teu negrume
Como ocupo o desta noite,
Tambm ser xaxatado, velar a vinda do sol
No ptio-raiz, ancestral
Que transformou-se em mulher
Rasgando minhalma negra
Assim como a noite rasga a luz
E penetra no dia, fazendo-se senhora...
At ao amanhecer!
(Lep Correia, CN 21, p.92 )
84
Cadernos Negros 21. Op. cit., p. 11.
85
Conforme o autor Lep Correia, Cadernos Negros 21. Op. cit., p. 92. Xaxato: acaricio (Kimbundo); um-
zangala: adolescente; muzelekete: donzela.
112
Ao lado dos poemas que valorizam a herana lingstica, no conjunto, os temas fa-
lam do branqueamento:
Mrtir luta no ringue
no so ventos alsios
que nos espicham cabelos e medos
de sermos o que j no sabemos
que somos
no se trata de moda
este raspar a cabea de jogadores
e bailarinos
e dos jovens todos que os imitam
quando o corao um mrtir
a antimemria seu ringue
o adversrio (no disfara)
est sempre nossa frente
com seu dio viking
essa vergonha no cabelo
balanando ao vento
um c
orte no superclio
dificultando ver
o inimigo
porque o sangue escorre
pelo nosso rosto
invisvel.
(Cuti, CN 21, p. 46)
A violncia policial e a recuperao e divulgao dos remanescentes dos quilombos
esto presentes no poema Caminho de Ana, do Cafund, de autoria de Kasabuvu, (p. 70), e
nos poemas "Tambores silenciosos", (p. 90), "Negra Cecita"(p. 91) e "Xitunda", (p. 92)
todos de Lep Correia, que procuram recuperar o vocabulrio kimbundo.
As palavras quilombo, molambos, banzo,vimbundos, Traor, keto, ngolo, Kalunga,
Congo, batuques, congadas, maracatuquei, Xitunda, Xaxato, muzangala, muzelekete, Ciata,
Mandela, mussunda e Quissanje completam o rosrio vocabular de matriz africana.
113
Cadernos Negros 23 (2000)
Os textos presentes na orelha dos CN 23, organizao do Quilombjoje, so de res-
ponsabilidade de Antonio Carlos dos Santos Vov, presidente do Il Aiy, e Maria da Pe-
nha Guimares, Coordenadora do Departamento J urdico do Instituto do Negro Padre Batis-
ta. O msico Thaide, rapper, fecha, na contracapa, as anlises que desvelam os significados
do alcance literrio da srie. No dizer do artista do Movimento Cultural Hip Hop, os CN
so anuciadores do respeito, da auto-estima, da conscincia, da inteligncia e da informa-
o. No conjunto, numa abordagem convergente, os autores, na orelha e contracapa do li-
vro, reforam a trajetria dos Cadernos e o seu papel de quilombo contemporneo.
Escrevem, nos CN 23, Cristiane Sobral, Cuti, Elivelto Corra, Esmeralda Ribeiro,
Fausto Antnio, J amu Minka, J natas Conceio, J os Carlos Limeira, Land Onawale,
Sidney de Paula Oliveira e Therezinha Tadeu, perfazendo um total de 11 poetas.
Neste ano, a publicao no conta mais com a parceira da editora Anita Garibaldi.
No texto de apresentao, Esmeralda Ribeiro e Mrcio Barbosa, vozes do Quilombhoje
literatura, analisam as dificuldades vividas no processo de confeco e de venda dos livros
e, ao mesmo tempo, elogiam a adeso, cada vez mais significativa, de novos autores.
Nessa edio, os textos foram selecionados num processo coletivo, tradio da his-
tria da coletnea, que contou ainda com a professora e leitora Benedita Aparecida Lopes,
os professores Carlos Alberto Teixeira e Eduardo Passos, e as leitoras Evelin Cristina Sil-
veira da Silva e J anaina Machado.
Este nmero dos CN retoma, a exemplo das primeiras publicaes, a auto-
apresentao na qual cada autor fala um pouco de si e do seu trabalho de criao. Na pro-
duo potica da srie a auto-apresentao foi interrompida nos CN 11, 1988.
Os CN 23 , talvez, um dos mais expressivos no tocante trajetria das mulheres.
Os poemas referidos na condio feminina expressam uma fora de representao que, a
nosso ver, aponta a imagem corrosiva e militante de um eu feminino enegrecido presentes
nos escritos de Cristiane Sobral e Esmeralda Ribeiro. Os versos de Cristiane Sobral, que
seguem as reflexes, parecem confirmar a nossa impresso de um eu feminino irnico:
S porque estou em outra cidade,
Passo batom vermelho, subo o comprimento
da saia justa,
114
uso suti transparente
e rebolo o bundo.
86
A busca temtica pela imagem afrodescendente permeia tambm a produo feita
pelas mulheres na srie. Da mesma forma, o eixo de militncia percorre passa a passo a
trajetria. inegvel que os textos das escritoras retratam, notadamente no incio dos pri-
meiros volumes da srie, o embate contra a discriminao. No que a literatura fique total-
mente revelia desse projeto. Mas seus textos so ainda freqentemente movidos por uma
espcie de mobilizao militante. Mas ao longo da coletnea, as posies e a capacidade de
representao imagtica, num acmulo, vo emergindo nos procedimentos de uma linha-
gem literria que elas, autoras, introduziram previamente ou no processo de consolidao
da coletnea.
O avano pode ser comprovado na leitura das escritoras e poetas que publicaram
com relativa insistncia nos Cadernos. Alguns nomes soam familiares: Miriam Alves, Es-
meralda Ribeiro, Lia Vieira e Conceio Evaristo representam as inseres mais freqentes
na coletnea e somam trabalhos muito significativos.
Outras escritoras e poetas alcanam o mesmo padro publicando a partir do final da
dcada de 1990. Nessa novssima gerao, chama a ateno, por exemplo, logo na estria,
os poemas de Cristiane Sobral. Ela compreendeu alguns dilemas da condio da mulher e
soube diz-los, na edio de nmero 23, quando escreveu sobre a condio libertria e afe-
tiva feminina:
No vou mais lavar os pratos
No vou mais lavar os pratos.
Nem vou limpar a poeira dos mveis.
Sinto muito. Comecei a ler . Abri outro dia um livro
e uma semana depois decidi.
No quero mais o lixo para a lixeira. Nem arrumo
A baguna das folhas que caem no quintal.
Sinto muito. Depois de ler percebi
a esttica dos pratos, a esttica dos traos, a tica,
a esttica.
Olho minhas mos quando mudam a pgina
dos livros, mos bem mais macias que antes
86
SOBRAL, Cristiane. Cadernos Negros 23. So Paulo: Quilombhoje, 2000. p. 20.
115
e sinto que posso comear a ser todo instante.
Sinto qualquer coisa.
No vou mais lavar. Nem levar seus tapetes
para lavar a seco. Tenho os olhos rasos dgua.
Sinto muito. Agora que comecei a ler quero entender.
O porqu, por qu ? e o porqu.
Existem coisas. Eu li, e li, e li. Eu at sorri.
E deixei o feijo queimar...
Olha que feijo sempre demora para ficar pronto.
Considere que os tempos agora so outros...
Ah, esqueci de dizer. No vou mais.
Resolvi ficar um tempo comigo.
Resolvi ler sobre o que se passa conosco.
Voc nem me espere. Voc nem me chame. No vou.
De tudo o que jamais li, de tudo o que jamais entendi,
Voc foi o que passou.
Passou do limite, passou da medida,
Passou do alfabeto,
Desalfabetizou.
No vou mais lavas as coisas
e encobrir a verdadeira sujeira.
Nem limpar a poeira
e espalhar o p daqui para l e de l pra c.
Desinfetarei minhas mos
e no tocarei suas partes mveis.
No tocarei no lcool.
Depois de tantos anos alfabetizada, aprendi a ler.
Depois de tanto tempo juntos, aprendi a separar
meu tnis do seu sapato,
minha gaveta das suas gravatas,
meu perfume do seu cheiro.
Minha tela da sua moldura.
Sendo assim, no lavo mais nada, e olho a sujeira
no fundo do copo. Sempre chega o momento
de sacudir,
de investir,
de traduzir.
No lavo mais pratos.
Li a assinatura da minha lei urea
escrita em negro maisculo,
em letras tamanho 18, espao duplo.
Aboli.
No lavo mais os pratos.
Quero travessas de prata,
Cozinha de luxo
e jias de ouro. Legtimas.
116
Est decretada a lei urea.
87
A historicidade da construo feminina resulta da identificao dessas vozes inme-
ras vezes veladas, isto , dos sujeitos. Essa identificao desnuda as condies objetivas
das mulheres e as formaes ideolgicas: Para compreender este processo comecemos por
dizer que a categoria do sujeito a categoria constitutiva de toda ideologia: no h ideolo-
gia sem sujeito.
88
Tal equao, sujeito e ideologia, pode revelar as propriedades da produo feminina
na coletnea Cadernos Negros. A militncia e a relao com uma linguagem corrosiva so,
num processo contnuo, assimiladas pelo repertrio da negrura e submetidos ao ngulo de
viso individual das poetisas e escritoras negras, que os processam nos ncleos de um eu
feminino. A insero potica, nos CN 23, remarca a produo feminina na coletnea a partir
de trs faces que se desenham no projeto que se pode chamar de espao feminino. Tera-
mos, desse modo, um primeiro momento que se caracteriza pelo embate militante, um se-
gundo que emerge na sntese militncia e linguagem corrosiva , irnica e o terceiro que se
dimensiona numa clara perspectiva de feminilizar a literatura. No trs eixos entrevistos
aqui, abre-se um campo para os compromissos extraliterrios que, no entanto, no impli-
cam no esvaziamento da dimenso esttica.
Quanto constituio de um eu feminino enegrecido, a produo dos Cadernos,
alm dos nomes j citados, responde, de forma especfica, s questes que a realidade dos
afrodescendentes coloca. Assim, temtica negra, cultural, o texto responde com uma voz
interna, s vezes marcadamente feminina, tendo em vista os desejos, expressos nos textos,
de revelar as vozes veladas, silenciadas pelo racismo e machismo :
Sonho de consumo
Se voc quiser vai ser com o cabelo tranado
Resposta na ponta da lngua
Teste de HIV na mo.
Se voc me quiser desligue a televiso
Leia filosofia e decore o Kama sutra. Muito bem!
Se me quiser esteja em casa
Retorne as ligaes e traga flores.
87
Idem, pp. 18-19.
88
ORLANDI,Eni P. Discurso e leitura. So Paulo: Cortes; Campinas: Editora da Unicamp, 1988. p. 56.
117
No venha com teorias sobre ereo
Ou centmetros a mais.
Nem sempre vou querer sexo
Nem sempre vou dizer tudo
Ou acender a luz.
Posso usar ternos ou aventais. Qual a diferena?
As noites sero sempre intensas luz de velas.
Se voc realmente me quiser, ouse digerir a contradio.
Me ajude a ser uma mulher diante de um homem.
Quem disse que seria fcil?
89
Dessa forma, ao falar da incluso do negro, os poemas incorporam componentes
intrnsecos da negrura e, a partir da, falam da prpria condio feminina. A condio femi-
nina surge como elemento necessrio elaborao da forma discursiva abaladora, capaz de
transfigurar realidades e lanar um tom irnico ao mundo. O trecho do poema No vou
mais lavar pratos, de Cristiane Sobral, opera uma polarizao entre o mundo real marcado
pela insero anti-racismo e o universo interior da artista, a entrever a libertao da mulher.
Cristiane Sobral ao situar o seu lugar no processo de criao ressalta o momento de
entrega ou de inspirao: "Quando escrevo, me sinto inteira de frente para o mundo. Fazer
poesia um grito de liberdade."
90
Atravs ou a partir dessa busca de liberdade, ela realiza,
no poema, a satisfao, mesmo que transitria, do amor e da exploso de eu feminino por
caminhos fechados, historicamente, mulher e mais ainda mulher negra. O desejo e a
satisfao provisria do amor:
O amor tem a memria da situao.
A paixo tem amnsia da desiluso.
O amor meio assim, dos outros.
Meio malas prontas. Meio check-in.
Infinitamente provisrio
(CN 23, p. 16)
A mesma Cristiane Sobral, na trilha das inverses dos papis, diz:
Paradoxo
No quero um amor infinito sem emoo
89
SOBRAL, Cristiane. Cadernos Negros 23 . Op. cit., p. 50.
90
Idem., p. 15.
118
Quero um amor gozo translcido.
Inteiro, ousado, contraditrio.
Gosto dos lenis de hotel, das boas trepadas.
Da chuveirada em banheiro alheio.
Durante o dia preservo a rigidez dos meus costumes.
O comprimento sbrio das minhas saias.
A retido dos gestos.
Sob a luz do sol assino todos os relatrios.
Discurso nos seminrios.
noite quero sexo e cachos de uva.
Preservativos importados e sutes presidenciais.
Hora marcada, tempo hbil. Prazer.
Sob a luz da lua quero encher a boca de esperma
e de palavres.
Gozar tranquila desta minha paradoxal posio.
Mas no deseje ser meu dono.
Tenho marido e filhos me esperando em casa,
assistindo televiso.
(CN 23, p. 17)
Somando a condio de mulher e a problemtica negra, a poeta prope:
No vou mais lavar os pratos
No vou mais lavar os pratos.
Nem vou limpar a poeira dos mveis.
Sinto muito. Comecei a ler. Abri outro dia um livro
e uma semana depois decidi.
No levo mais o lixo para a lixeira. Nem arrumo
a baguna das folhas que caem no quintal.
....
No lavo mais pratos.
Li a assinatura da minha lei urea
Escrita em negro maisculo,
em letras tamanho 18, espao duplo.
Aboli.
No lavo mais os pratos.
Quero travessas de prata,
Cozinha de luxo
e jias de ouro. Legtimas.
Est decretada a lei urea.
(CN 23, p. 18)
119
As vozes femininas e da negrura, de Cristiane Sobral, Esmeralda Ribeiro e Therezi-
nha Tadeu, tambm criam poemas tecidos numa comunho com a auto-apresentao.
Ainda transitando pelo amlgama da condio negra e da mulher, Esmeralda Ribei-
ro, no seu fazer potico, procura "as palavras que deixem as pginas com perfume mais
escuro e com fragrncia de mulher".
Cenas de emoes
1
gravando
Sabe, meu guri,
Na nossa casa, alm do clido cheiro de gim
Ficaram teus olhos colados em mim.
(CN 23, p.48)
Dizendo como ser a sua poesia, Cuti fala da qualidade das palavras, do discurso ou
da espcie de ao verbal que devero configur-la: Creio no vo das palavras e na capa-
cidade que elas tm de semear novos sentidos de existir.
91
Nas intervenes de Cuti, trs posies se conjugam: a primeira da condio de
vida dos negros; a segunda a do prprio autor interposto, o militante negro, que reflete sua
vida na da personagem ou do eu lrico, tornando-se dela inseparvel, dentro de uma situa-
o do racismo brasileira de que participam, e que constitui a terceira posio: a discusso
da poesia mesma. A criao, o universo oscilante e digressivo que o poema tem, quando
objeto potico, facilita a compreenso desse amlgama elaborado para discutir a linguagem
(a prpria poesia) e os mecanismos, dados pela prpria linguagem, para a excluso do ne-
gro. Os poemas "Inverno aquecido (CN 23, pp. 28-29) e Teoria" (CN 23, p. 27) so re-
presentativos dessas posies:
Inverno aquecido
um qu de cigarra
no silncio de formiga
91
Cuti. Cadernos Negros 23. Op. cit., p.25.
120
contra a violncia velada
impedindo que se prossiga
o poema com a sua navalha
faz-lhe um talho na cara
j no incio da briga
se a fala na sala
veio causar ojeriza
incomodado se mude
vai-se tocar na ferida
um porqu de cigarra
no silncio de formiga
o rubor da vergonha
ante a alegria dos pobres
e a conscincia poltica
s pode lembrar
que a riqueza misria
moto-serra por dentro
em febre suicida
um laroi de cigarra
em pai-nosso de formiga
cu de permeio
sonho
e s o medo de ser se pla
de mastigar nuvens
respirar estrelas
pelas veias
fluir cometas
e sair desta
apologia do nada
ideal de vida morta
inimiga
em noite calada
acende-se a luz:
um buqu de cigarra
no incndio que formiga
Teoria
grilhetas cientficas insinuadas
contra quem
acabou de nascer
121
nzinga ou chacka reencarnado
misso gentica
de efetuar vingana
do povo escuro contra os caras-plidas?
Grilhetas cientficas sempre insinuadas
para manietar o sol
e conter as ameaas
Na poesia de Cuti, o ertico, como uma forma de perceber e sentir a negrura, mais
uma vez o elo de expressividade literria e corprea:
primeira pista
Chuvas intralabiais
deixam as pernas
bambas
sinfonias e sambas
se entrelaam em festa
o corao
mestre-sala da febre
performance de beija-flor
umidescncias ntimas
afloram os poros
o perfume que sobe
faz sabor em todos os sentidos
(CN 23, p. 26)
Da mesma forma, numa outra perspectiva, existe a percepo corprea para afirmar
posturas e valores da conscincia negra:
Trincheira
falaram tanto que nosso cabelo era ruim
que a maioria actreditou
e ps fim
(raspouqueimoualisoufrisoutranourrelaxou...)
ainda bem que as razes continuam intactas
122
e h maravilhosos plos crespos
conscientes
no quilombo das regies
ntimas
de cada um de ns
(CN 23, p. 36)
Ainda em Cuti, temos o dilogo com Cruz e Sousa, que revitaliza, em "Conversa
com Cruz de Sousa", um lugar de destaque para a palavra e para o poema em si:
Conversa com Cruz de Sousa
A toda hora paredes sobem, Cruz
a cada passo
a cada sonho
impondo a queda no desnimo
em seguida
a nossa velha fnix
sacode as cinzas
e vem o sol nascendo pleno
logo novos muros de clara angstia
sobem com a nvoa das derrotas
mas a palavra rota
feito louca
salta
se enfurece
fura o cerco
muda o plo
e espera
enquanto recupera a fora
a toda hora, Cruz
o branco passado encobre
a luta nossa cada dia
que desafia
em gestos de libertao
nessa espessa fumaa de moscas
onde a fresta se faz
com o corao
a toda hora, Cruz
reacende a nossa
123
a tua luz
(CN 23, pp. 34-35)
J amu Minka nome presente, com algumas excees, ao longo da totalidade dos 13
volumes dos Cadernos dedicados poesia, reafirma, no exemplar 23, a poesia crnica
anti- racismo brasileira:
Brasil cordial
Raiva do racismo?
relaxe,
e a manha?
aqui a raiva no ganha
o jeitinho d samba
acaba em gol
e corre-corre pras loiras
geladas ou no
Conscincia afro, pirraa
e o Brasil rechaa
aqui beleza pura
o equilbrio da mistura
antepassados, passado
raspe
alise
espiche
a cor que muda moda
no enfeza, enfeita o mundo
O n ser pobre, no preto
negue tudo que seja negro em tudo
no melhor se ver na tev
ser sucesso da vez?
J pensou? "E agora com vocs..."
(CN 23, p. 66)
Impostura
O Brasil do invasor que nos pariu
no pgina virgem
124
o domnio inquestionvel da brancura
nossa histria, foda
nos contos de fada
dedos de trapaa desenham opresso
e seus disfarces
Brancura tatuada em ns pode ser
Bero da loucura
que se cura
na crioulao escrita
da vida em luta
com as foices da impostura.
(CN 23, p. 67)
Espichaim
Desejo ardente, a cara
a coroa, inveja
a gestao do trauma
o extremo oposto do detestar-se
branquificar-se
o alvo absoluto daquela nsia negromestia
mesmo agora, tempo de intensas tranas
e beleza afro
Vale tudo
posturas postias
e o vcio compulsivo de cabelos henecrescidos.
(CN 23, p.71)
J os Carlos Limeira (CN 23, p. 82) segue a linha de combate anunciada na estria.
O flagrante, contraditrio, das relaes raciais d o tom a sua poesia:
Ando por estes pelourinhos
Ainda vivos, embora festas
Polindo pedras com ps cansados
Carregando o peso futuro
Rastas rasgam becos com louras presas
Rompendo antigos (mal) tratados
Louros arrastam negras
Recentes antigos usos mltiplos
Como os primeiros
125
Em Negrice, Land Onawale (CN 23, p. 90) mergulha nas teias movedias da
memria:
h em mim veias que anseiam
aos incontveis caminhos da existncia
h em mim uma memria
que vem lamber ou devastar
as praias rasas do presente
Sem vacilar, o poeta conta a histria revisitada pelos militantes da gerao consci-
ncia negra, em Z de Maio (CN 23, p. 91):
Cravamos um sol
Bem no meio do outono!
E afugentamos, sem pena,
Aquela plida sombra.
Agora, h uma letra a mais
em maio:
um fonema imprescindvel,
como um grito.
A mesma temtica aparece nos poemas de Sidney de Paula Oliveira (CN 23,
p. 101):
Candomblack
Black cradle
come back
Cadernos Negros 25 (2002)
Os CN 25 trilham, no que diz respeito capa, a exaltao da negrura. Uma jovem
negra ocupa, abaixo das letras garrafais que anunciam os Cadernos Negros poemas afro-
brasileiros, as pupilas e o imaginrio dos leitores.
A orelha do livro continua sendo espao efetivo para a constituio de uma das par-
tes da rede identitria daqueles que fazem e/ou procuram a coletnea. A rede, as orelhas e
os prefcios da srie nos sugerem um conjunto de relaes que ligam militantes, estudiosos,
126
enfoques anliticos, posies de grupos organizados e de gestores pblicos negros. A noo
de rede, de acordo com o projeto literrio veiculado pelos Cadernos, possibilita um proces-
so de comunicao, isto , de solidariedade em torno de pontos que so fundamentais para a
superao das desigualdades raciais.
Os diferentes sujeitos desse rede tm, assim, posies convergentes. Na orelha de
abertura do volume que celebra 25 anos, Carlos Alves de Moura, presidente da Fundao
Palmares, declara: 25 anos de um tempo voltado para a construo do respeito aos valores
culturais africanos no Brasil. Assim, colaboram eficazmente com o processo de afirmao
da identidade e da auto-estima de negros e negras.
92
Na orelha que fecha o livro, a vereadora negra Claudete Alves faz um breve balano
do alcance e da relevncia dos Cadernos ressaltando, especificamente, o projeto literrio:
Fico feliz em poder ler e ver que, no campo literrio , mais e mais conseguimos nos servir
da poesia, do encanto e dos contos para dizer o vai dentro desse povo que h anos externa
seu grito preso na garganta".
93
Na contracapa, ao lado dos nomes do autores Al Eleazer Fun, Andria Lisboa de
Sousa, Atiely Santos, Conceio Evaristo, Cristiane Sobral, Cuti, Domingos Moreira, Ed-
son Robson Alves dos Santos, Esmeralda Ribeiro, J amu Minka, J os Carlos Limeira, Lus
Carlos de Oliveira, Mrcio Barbosa, Miriam Alves, Oliveira Silveira, Oubi Ina Kibuko,
Ruth Souza Salene, Sebastio J S, Sidney de Paula Oliveira, Thyko de Souza, Zula Gibi, a
rede racial tem como protagonista o rapper Xis:
Acredito que os Cadernos Negros tenham sido um dos contatos mais
doces que tive com a cultura negra no incio da dcada de 90. Foi dessa
poca que conheci pessoas ligadas ao movimento negro, e consequente-
mente algumas entidades.
Cadernos foi inspirao, motivo de reflexo e questionamento. Negros
poetas? Quem so? De onde vieram? O que fazem da vida?
Questionava como militar fazendo arte acorrentado, refletia sobre o
projeto de contos e poesia...
Hoje vejo com satisfao a chegada de mais um livro. Cadernos Ne-
gros 25 , com certeza, a continuidade do grande papel exercido por esses
escritores h mais de duas dcadas, tambm com certeza o sonho de
muitos irmos e irms sendo concretizado.
92
MOURA, Carlos Alberto de. Cadernos Negros 25. So Paulo: Quilombhoje, 2002.
93
ALVES, Claudete. Cadernos Negros 25. Op. cit.
127
Atravs dos Cadernos Negros percebemos ainda mais o talento da cul-
tura negra, fugimos dos esteretipos esporte e msica e, com isso, temos
mais essa rica herana literria para deixarmos aos nossos filhos e netos.
94
A noo de rede (se que se pode ainda somente falar em noo), no caso, urdida
no campo de atuao dos militantes negros e dos movimentos negros avana para um arca-
bouo, isto , um conceito sobre o qual se baseia uma grande fonte de coeso e de continui-
dade de polticas culturais, literrias e sociais inclusivas dos afro-brasileiros. Em sntese,
esse conceito pea central de uma perspectiva de vida social e de compreenso da dimen-
so e da herana africana. A propsito, os textos do exemplar 25 da srie enfatizam essas
dimenses tal como reconhecem, no recorte apresentado acima, respectivamente os textos
de Xis e Carlos Alves Moura na orelha e contracapa do livro.
guisa de um balano, na apresentao, sob os cuidados do Quilombhoje, os moti-
vos norteadores da edio de 1978 so retomados e atualizados:
Quando foi lanado, em 1978, o primeiro volume da srie Cadernos
Negros, que tambm, era de poemas, trazia o projeto de uma nova identi-
dade nacional a partir da literatura. A identidade, no entanto, um proces-
so, e seu projeto vai se modificando ao longo do tempo. Os textos desse
volume 25, de certa forma, atualizam aquele projeto inicial. Aqui est em
foco no s a experincia individual, mas tambm a coletiva, o fato de a
maioria dos afro-descendentes estarem sujeitos a viver certas situaes em
virtude de sua origem. Mas o mundo que estes poemas retratam bem di-
ferente daquele de 78. Em termos polticos, o pas se democratizou e o e o
discurso libertrio negro contaminou a sociedade. No campo da escrita,
nossa literatura atingiu pblico e universidades.
Nos Cadernos, alguns temas foram se firmando: a religiosidade, a re-
flexo sobre esttica do corpo negro, o protesto contra a discriminao e,
de forma cada vez mais constante, o tom intimista, o olhar para dentro de
cada um, para as vrias faces do sentir e do existir.
95
Os legados dos valores africanos, radicados no Brasil, se fazem atuais nas poesias
que se fundamentam, enquanto tema e contedo, na consubstanciao da religiosidade do
complexo jeje-nag. Talvez, como orienta o trecho do poema Cuidado, de Mrcio Bar-
bosa, transcrito abaixo, a conjuntura do ano de 2002 explique, em parte, a presena de tan-
tos poemas alicerados na tradio dos orixs:
94
Rapper Xis. Cadernos Negros 25. Op. cit.
95
RIBEIRO, Esmeralda; BARBOSA, Mrcio. Cadernos Negros 25. Op. cit., pp. 13-14.
128
mais que um ator: capitalista do mercado das almas
o tal pastor atira, ofende orixs, fala mentiras
...
quem, afinal, est a servio do mal?
Aquele que desrespeita o prximo
que acumula riqueza espalhando o dio
ou aquele que cultua um ancestral?
A posio de resposta conjuntura e o tom exclusivamente militante fica bastante
evidente especialmente no poema de autoria de Mrcio Barbosa. Na nsia de responder aos
ataques feitos s religies de matriz africana, o poeta reduz a sua criao a um simples pan-
fleto. No demais lembrar que os planos sonoros, imagsticos e as acuidades literrias no
so nem se quer superficialmente explorados.
Por outro lado, para responder aos ataques evanglicos e/ou se contrapor afonia
em relao compreenso da cosmogonia negra, a poesia militante vai buscar os funda-
mentos da relao com os orixas e com a religiosidade. Al Eleazar Fun traz, no CN 25, no-
ve poemas, dentre eles, seis reverenciando Obatal, Iemanj, Omulu, Ossaim e os que
transcrevemos dedicados respectivamente a Xang e Loguned:
Vejo os olhos lindos de Deus
Vejo os olhos lindos de Deus
E so uns olhos de fogo
Nossos jovens em vestimentas de guerra
Esto por todo o mundo.
Kau-Kabyesil
Loguned
Deus h de ser um ser matemtico
Silencioso, Senhor de todas as horas.
Deus h de Ter predileo pelas horas
de final de tarde, do incio da noite.
Ter preferncia pelo azul e amarelo.
Mas jamais deixar de tingir de vermelho
a barra do dia, loci loci logum.
Deus h de Ter preferncia pelas distncias
e, disso eu sei, no abrir mo da solido.
Deus, luz e ausncia de luz
129
e minha inocncia a tremer no frio do amor.
Andria Lisboa de Sousa nos poemas lgbr Obnrn (mulher guerreira) e Oxu
segue, pelo menos do ponto de vista temtico, os mesmos passos de Al Eleazar Fun e do
conjunto do livro, quando repassa nos versos a religiosidade.
A relao com o mundo natural, com a vida, a morte, o mistrio, o destino mister
da religio. No projeto identitrio dos Cadernos, a religio , portanto, entendida como um
plo gerador de valores mltiplos e positivos da matriz negra e africana.
Nos poemas "guas de Paraguassu e "Ers" de Jos Carlos Limeira aparecem as
mesmas abordagens, apesar da diferena de enfoque, a que nos referimos nos poemas de Al
Eleazar Fun. Nesse movimento iterativo, cuja perspectiva de anlise j assinalamos, avul-
tam quantitativamente as temticas religiosas mesmo que apresentem leituras diferentes da
cosmoviso e religiosidade de raiz africana. O fragmento do longo poema "guas de Para-
guassu" (CN 25, p. 94) e o poema dedicado aos Ers (CN 25, p. 99) trazem as somas de
possibilidades das quais apenas em parte esse pequeno nmero simboliza:
guas de Paraguassu
As guas do Paraguassu
So Abebes, espelhos, luzes profundas
Donde emergem perfeitas, belas
Kayalas de Dandalundas
E vo todas elas ao Rumpayme Ayono Runtoloji
No fim da tarde, quando mais suave a brisa
Para conversar, sem alarde, com Guaicu Luza.
Ers
So mimos, soltos, atrevidos
So correrias, energias, sentidos
So meigos, troas, falas, sorrisos
So chuvas
Desapego lgico tecnologia
Dourados, ouro, puros
Amor
So eles, so elas
Foras amenas, felizes, alegrias
So estrelinhas
130
So o brilho farto
So os ventos
So tudo, e a tudo atentos
Ao Orun, aos encantos, aos doces, vida
So a eternidade em novo dia
So crianas negrinhas, mais do que lindas
So pura poesia.
Na tentativa de comunho com os leitores, ou quem sabe na tentativa de aproxima-
o com a tradio cultural e religiosa, no so poucos os poemas construdos a partir da
oralidade. Com efeito, a oralidade dispe, certamente, de recursos que, no discurso potico
de J os Carlos Limeira, dentre outros, procura anular as distncias entre o poeta, sujeito da
enunciao, e o leitor. o que diz, com todas as letras, o poema "Um poema novo" (CN 25,
p. 100):
Quero um poema novo, embalado feito ovo
Bom de ler, ouvir, cantar, berrar, sentir
Falado nas caladas, nos becos, nas feiras
Que ambulantes comentem, prostitutas decorem
Presos representem no Natal, Carnaval, Paixo
Quero um poema novo dito nas sinaleiras
Pelas bocas dos meninos de rua, e sirva para tema
Do gari brincar com o tonel, um poema musical
Concreto, desconcerto, ps do ps-tudo
Espalhado pelos guetos, e no papel posto
Depois de usado, sirva para enrolar baseados
Fumado e lido, que inunde ,invada os sentidos
Recitado no buzu, filas, bancos, motis, quartis
Um poema favelado, que deixe de bico calado
Poderosos do imprio, um poema sacana e srio
No-panfletrio, de bom uso dirio, frio e calor
Um poema cheio de vida, e se para nada mais sirva
Que seja um poema de amor
O reconhecimento desse projeto aparece na apresentao que capta o movimento a-
travs do qual a religiosidade, os valores culturais negros e o combate violncia racial so
sistematicamente tematizados na histria dos Cadernos Negros. Trata-se, nos CN 25, de um
ponto de vista que recupera as formulaes tericas dos prprios autores. Dessa forma, o
enfoque da matriz africana surge da focalizao externa (a conjuntura e ou resposta afonia
131
em torno dos valores negros a que fizemos referncia antes) ou daquilo que os autores fa-
lam da sua prpria criao. Andria Lisboa de Souza declara: Escrever, para mim, mer-
gulhar nas imagens profundas de nossa resistncia e beleza de bano, resgatando nossa an-
cestralidade e dignidade.
96
No limite desses campos, o texto resulta de uma aproximao com a ancestralidade
numa trama simultnea com os outros vetores de restituio, num totalidade, da condio
existencial e social do negro. dessa forma que o poeta Edson Robson Alves dos Santos se
encarrega (no momento que diz: "A poesia como o acorde de um berimbau"
97
) de organi-
zar essa aproximao com o universo da capoeira e da oralidade:
Onde nasceram meus amores
O capoeira que sobe a ladeira do Pel
Sente na pele a chama do passado de Salvador
Onde jogaram Mestre Bimba, Canjiquinha e Mar
Onde nasceram meus amores capoeira
e minha mulher
Nossa histria de luta de revolta de Mal
o tino da vida lutar pra se defender
Dos soturnos pores das senzalas pra viver
Livre como a semente na terra a crescer
(CN 25, p.73)
O jogo da vida
Rezei meu salomo
Uma louvao pro gunga (berimbau)
Um beijo no patu
Capoeira vai jogar
capoeira vai jogar
(CN 25, p.76)
No poema Sentimento (CN 25, p. 77), o mesmo Edson Robson alerta ou chama a
ateno, para os valores ancestrais e ldicos:
96
SOUZA, Andria Lisboa de. Cadernos Negros 25. Op. cit., p. 27.
97
SANTOS, Edson Robson Alves dos. Cadernos Negros 25. Op. cit., p. 69.
132
Trago as inflncias da religio na poesia
...
Minha poesia brota dos seres da negrada
Influncias ldicas de meus ancestrais
Esmeralda Ribeiro nos poemas "frica-Brasil" e "Sabedoria" transita tambm pela
ancestralidade e discusso da questo racial nesse binmio "frica-Brasil:
nessa frica-Brasil
que eu cultuo
num candombl reinventado
todas as divindades
(CN 25, p. 81)
Alm de refletir sobre os valores ancestrais, Esmeralda Ribeiro acompanha, ainda
num fragmento do poema "frica-Brasil", o exerccio de valorizao da oralidade:
De onde eu vim os griots contam histrias
os griots que aconselham o futuro da minha vida
amorosa
Oralidade tem sua continuidade hoje, no Brasil, no repositrio da tradio oral das
comunidades-terreiros principalmente no que se refere transmisso de mitos explicativos
da origem do mundo, do homem e dos prprios orixs.
A arte de narrar ou a tradio do canto falado dos afoxs, por exemplo, moderna-
mente incorporou artefatos da mdia e da indstria cultural e de massa. O rap, tal como o-
corre na narrativa oral da tradio da arte potica dos orikis e nas cantigas de capoeira ou
nos desafios, se constitui numa fonte, principalmente entre os jovens afro-brasileiros, de
estruturao potica centrada na oralidade.
Thyko de Souza, no poema "Foi assim que conheci o rap" (CN 25, p. 182), um -
timo exemplo:
Morava no interior, era bia-fria
estudava de noite, trabalhava de dia
Ficava p. da vida com a vida que vivia,
Ir pra So Paulo era tudo o que queria...
133
Fazia poesia para espantar o tdio
Escrever era um santo remdio.
Mas a gente tambm se farta da cura
e foi nessa hora que minha loucura
me fez cantar a poesia.
No tocante discriminao racial e ao projeto de branqueamento, os poetas Cuti e
J amu Minka do as cartas, tal com o fizeram nas edies anteriores, sem meias palavras:
ramos os que o silncio encapuou de branco
e o riso esparadrapou as feridas
os que nos sonhos perderam o sentido de ir
em meio a poas de maio
cheias de pinga e desprezo
abraados misria
(Cuti, CN 25, p. 61 )
J amu, alm da poesia/crnica anti-racismo, explicita teoricamente as balizas que re-
gem ou que constituem o seu eixo, quase monotemtico, de poesia deliberadamente a servi-
o da militncia: Quando escrevo exercito uma reflexo que nos ajuda a reconhecer as
clulas de racismo que se reproduzem nas estrelinhas da comunicao e da cultura brasilei-
ras.
98
Seu poema "So Paulo fashion weeks" (CN 25, p. 87), traduz muito bem o que J amu
Minka diz:
Negros no desfile s nossos olhos de platia
Espectadores da prpria excluso
no vestibular da moda, preferem brancuras
e suas reservas de vagas
Por aqui sempre houve
por escrito, udio ou vdeo
blablabl sobre chances da mistura
aquele engodo antigo pra gringo ver
negro na passarela, s vezes
no singular
a exceo da regra pra que no se atrevam
a ser mais que um
98
MINKA, jamu. Cadernos Negros 25. Op. cit., p. 85.
134
Brasil fashion years and years
para negro servir, guiar, vigiar, limpar
distribudas as migalhas
cenrio garantido pra celebrao das regras
a superfesta dos privilgios da branquice
A exaltao ou problematizao dos corpos negros e da negrura fecham uma das
foras motrizes desse volume e da srie como um todo. Oliveira Silveira, para quem "es-
crever poesia aliar um impulso intuitivo, que se prope ou impe, a um esforo expressi-
vo envolvendo linguagem e cultura"
99
faz uma srie de poemas sobre o cabelo e o pendor
de embranquecimento ainda em marcha no Brasil. O desfecho do poema "Cabelos que ne-
gam" (CN 25, p. 133) representativo dessa srie:
e exercem o mesmo ritual
do cabelo que branca no tem
ou no usa
e exercem o mesmo ritual
do cabelo de branca:
rolam pelo ombro, espaldas
ou bem abrandados deslizam
no pente, escova, dedos
da preta que queria ser
a parda que ser ser
a clara que queria ser
a branca.
Cadernos Negros 27 (2004)
Os CN 27 trazem vozes ativadoras dos discursos constituintes da marca iniciada nos
anos setenta. Sob o efeito das sugestes histricas, o percurso da enunciao de J oel Zito
Arajo, na orelha inicial do livro, acentua a importncia da produo na sua trajetria de
sujeito negro e cineasta: Foi a que comecei a ler tambm os autores afro-americanos, a-
fro-martiniquenses e caribenhos, alm dos africanos.
99
SILVEIRA, Oliveira. Cadernos Negros 25. Op. cit., p. 131.
135
Na rede de relaes entranhadas nas participaes desse volume e do conjunto das
edies, h desdobramentos internos e externos. Assim as relaes vo sendo multiplicadas
numa sintaxe que insinua uma contrapartida produo estritamente literria: Com certe-
za, Cadernos Negros estar dentro do meu cinema de uma forma ainda mais presente que a
citao aberta que fiz em Filhas do Vento, atravs do personagem Dorinha.
Na orelha final as consideraes ficam sob a responsabilidade de Matilde Ribeiro,
Ministra da Secretaria de Promoo da Igualdade Racial:
Os Cadernos Negros j entraram para a histria do pas, melhor dizendo,
para a histria da literatura brasileira. Tornaram-se referncia fundamental
no exerccio de pensar e sentir a populao afro- brasileira. Smbolo de
unio entre pessoas de diferentes organizaes do movimento negro e po-
sies polticas, ao longo das 26 edies as histrias, fatos e criaes de-
nunciam, emocionam, excitam e fazem mais alta a voz da populao ne-
gra.
Na contracapa, Vanderli Salatiel aponta o lugar dos Cadernos Negros na literatura
brasileira e a sua contribuio na elevao do orgulho e auto-estima dos afro-descendentes.
A apresentao, que ressalta o amadurecimento da produo dos Cadernos ao longo
dos anos e que, da mesma forma, enfatiza no livro atual a preocupao que os autores tm
no tocante palavra escrita e ao mergulho nas condies de vida dos afro-brasileiros, as-
sinada por Ana Rosa, estilista de cabelo afro e produtora do Grupo Cultural Estilo e Raa.
A sinfonia de vozes ativadas pelo percurso dos CN apresenta, nas efemrides, a voz
do militante Arnaldo Xavier hoje nosso ancestral, no diapaso da elaborao da linguagem:
E que esta linguagem seja exatamente o sentido (quizilista), o gesto (xangtico), a suges-
to (eblica), a careta (quilombstica), a escrita (exuzaca) que o corpo do Negro aponta de
forma prpria e irreversvel.
Esto nos CN 27 os poetas Basilele Malomalo, Cuti, Dcio de Oliveira Vieira, Ed-
son Robson Alves dos Santos, Elio Ferreira, Esmeralda Ribeiro, Fausto Antnio, Helton
Fesan, J amu Minka, Lep Correia, Lus Carlos de Oliveira, Mrcio Barbosa, Oubi Ina Ki-
buko, Sidney de Paula Oliveira e Suely Nazareth Henry Ribeiro.
A apresentao do africano Basilele Malomalo , na nsia de trazer as imagens do
continente africano, repleta de marcas simblicas que sedimentam a passagem de uma tra-
136
vessia cultural, social e, no caso de Malomalo cuja lngua materna no a portuguesa, tam-
bm lingstica. Assim que a seu texto estabelece, inicialmente, na identificao sonora:
A musicalidade da minha poesia a voz do povo.
O fragmento do poema A saga negra (CN 27, p. 14) um mediador desse percur-
so de auto-investimento no som e povo:
Eu quero lhe contar o conto
a saga da nossa histria negra
que ningum lhe contou
Ao escutar os sons do meu berimbau
Na formulao terica do texto de Cuti, a linguagem e a palavra negro so ativadas
para anular os efeitos destruidor do signo negro que moldam os sujeitos que, iludidos pela
representao e reificao e circulao do racismo, recolhem, no raramente, via linguagem
uma imagem corrosiva de si mesmo e, numa dupla interiorizao, reproduzem um lingua-
gem viciada por um crculo que anula o valor produtivo e positivo da palavra negro numa
linguagem igualmente limitada:
A palavra: exrcito de sinais repleto de desertores. Possibilidade de
se abrirem frestas entre os mistrios humanos. Incompletude sem-
pre. Com certeza existencial dos incautos, a palavra ser sempre ca-
verna com medo do relento csmico, na dependncia direta de nos-
sa capacidade de gerar em ns mesmos a iluso do mundo e aplic-
lo ao cotidiano. Centelha de um sistema feito lngua, idioma, ela a-
bre ou fecha nosso olhar em direo coisas e s pessoas. E a pala-
vra negro: uma caixa de ressonncia para o meu corao.
(CN 27, p. 21)
O combate contra a ideologia e a prtica do racismo adentra, na estrutura e contedo
dos poemas, para interrogar a identidade que ainda absorve a linguagem e o silncio em
torno do negro palavra e sujeito respectivamente:
Ali a armadilha
nas palavras evasivas
(CN 27, p. 24)
137
a tua mscara no me disfara
no encobre a minha cara
a tua mscara me escancara
silncios conluios fao
com e escurido da platia
de minha pele
abrindo a luz
do meu abrao
(CN 27, p. 22)
Dcio de Oliveira Vieira constri a sua fala pelo enfoque do poder da poesia: Sinto
que a poesia um agente transformador, que realmente sintetiza o poder de transformar a
dor. (CN 27, p. 31)
A construo com a identidade, na poesia de Dcio de Oliveira Vieira, se faz na
relao que alguns poemas estabelecem, numa espcie de dilogo, com heris negros. O
autor envereda por um caminho, como dizem alguns crticos, de recuperao dos negros
nas artes ou a recuperao dos heris negros esquecidos pela historiografia oficial. Nessa
linha h, na srie, textos falando de Arthur Bispo do Rosrio, Lus Gama, Lima Barreto,
Solano Trindade e Cruz e Sousa. Aqui o autor recolhe, nos versos, os negros Chico Rei:
De seiscentos que de frica saram,
apenas cem aqui chegaram,
dentre eles um prncipe
cujas lgrimas jamais abortaram.
(CN 27, p. 33)
E J oo Cndido, o almirante negro:
Prisioneiros da pele, o drago singrou
os mares da ignorncia e do preconceito
a bordo da armada
uma multido de passos tristes
aguarda.
(CN 27, p. 38)
138
Edson Robson Alves dos Santos reala o movimento assimtrico desenvolvido pe-
los autores dos CN no que diz respeito ao afogamento no anonimato da questo negra. Soa
forte o seu eixo de interveno: Se escrevo porque tentam nos calar. (CN 27, p. 39) A
temtica de valorizao dos heris, recorrncia expressiva nos CN, repassada tambm
pela veia criativa no poema O Almirante Negro (CN 27, p. 41):
Na ilha das cobras prenderam o negro
Que nas guas da Guanabara
Fez Hermes tremer de medo
Os heris evocados, as situaes revistas, os episdios aventurosos e tudo quanto
pode servir de quadro, espao temporal aos poemas e contos configura-se em funo do
drama que cada protagonista da histria afro-brasileira viveu em contraponto ao mago da
situao vivida hoje pelos autores da srie. Nesse caso, o importante no apenas integrar,
enquanto tema, os marginalizados pela histria. Aqui o que se vislumbra moldar de dentro
para fora, isto , aprender, numa releitura da histria, a realidade negra que sai da trajet-
ria, por exemplo, do Almirante Negro.
Elio Ferreira ancora na palavra a sua partitura terica: A palavra a voz das nos-
sas vivncias. A palavra encanta, seduz, participa; capaz de abalar os sistemas de opres-
so. A palavra um girassol convergindo para metais e tambores. (CN 27, p. 48)
Na realizao potica em si, Elio repassa, no poema Amrica Negra, a Amrica e
o Brasil. As palavras de apresentao so mais convincentes.
Esmeralda Ribeiro fala das mscaras, das personas: Se escrevo porque no meu
conto de fadas inventei-me poeta; na terra do faz-de-conta sou escritora. (CN 27, p. 59)
Os poemas da autora adentram o espao da militncia a partir dos referenciais herdados da
tradio dos orixs. As aproximaes so seguras no Ritual de Ageum (CN 27, p. 61):
Descongele o olhar daquele policial,
Que, supondo-se autoridade mxima,
deixa em migalhas sua dignidade,
aquea o dio em seu corao,
mas no quarto escuro agradea,
em oraes, pelo tiro que,
sendo suspeito ou no,
voc no levou.
139
Por ltimo,
coloque dentro de um alguidar
humilhaes, pessimismo, migalhas da dignidade,
tempere com dend e amasse at virar farofa
decore com sete pimentas vermelhas
num sagrado ritual
sirva na encruza para cada um,
o homem da cruz, Maria Padilha e Exu
saborear.
A palavra tem centralidade nos poemas e argumentos de Fausto Antnio. Na sua
concepo:
A palavra o centro do processo de criao. O sentimento apenas um
dos artifcios (ou parte) dessa engrenagem, ou melhor, dessa vida comple-
xa. O poema, forma e contedo, elabora e condensa, atravs do som, da
cor (a imagem) e do nmero (o pensamento), o espao sem limites da cri-
ao e do criador (...)
(CN 27, p. 66)
Fala de Pedra e Pedra (CN 27, p. 68), poema firmado em torno de oito partes que
se comunicam, serve bem de sntese:
A linguagem no espelho
Muda, nunca pra no seu rosto.
Mas tua face oculta
quando de perfil
a mesma que fala.
Sem gesto - fala oculta,
Fala de pedra em pedra.
Fala muda e sem eloquncia.
S um frio olhar.
Um imemorial silncio
Falando por dentro.
A relao produtiva e/ou com os leitores parece-nos, num prazer imediato, o vis
central do poeta Helton Fesan: Se escrevo porque sim. Passarinho canta porque sim, ca-
chorro late porque sim, beb chora porque sim e escritor escreve por querer sim. ( CN 27,
p. 73) Os cinco poemas apresentados nesse volume precisam de um processamento liter-
rio maior.
140
J amu Minka toca, de imediato, no cerne da questo racial e sistematiza uma premis-
sa: Inspirados nos que ousaram antes, vivemos o desafio da fertilizar a literatura do Brasil
com oportunidade para textos com atitudes afro. (CN 27, p. 81) No poema Pedestal do
Zero (CN 27, p. 82), na linha de crnica anti-racismo e de desvelamento dos mecanismos
do branqueamento, temos:
Convm a quem cabeas em profuso padronizadas
na inexpresso fatal?
... e desafiar Ronaldinhos e Alexandres pra contrariar
a submisso mental
de quem anunciou que frica na cabea
defeito que no tem jeito.
Os demais poemas, Envenenando garotinhas, Mercado canibal, Difcil ser afro-
centrado, Bela e crespa, Polticas de desempretecimento e Apostando na ignorncia,
repassam a democracia mgica, o imprio da brancura, a negao da carapinha, a mulatice
e o cinismo racial brasileiro.
Lep Correia, para quem a poesia um lenol bordado de suspiros, segredos, e
alinhavado de sentimentos (CN 27, p. 89) cria poemas nos quais a matriz do candombl
angola aparece conjugando as teias do Brasil-frica: Quero ver crescendo esta frica
menina... Brilhante como um ancestral... Como um Inkise/ Restaurando a criao. (CN 27,
p. 90)
Lus Carlos de Oliveira elevou a palavra posio central na pea de abertura, pois
ela que constri, na articulao dos sujeitos, os sentidos: O som no tem a velocidade da
luz, mas a palavra ilumina. (CN 27, p. 97) O poema Codaque Bleque (CN 27, p. 98), do
qual extramos um trecho abaixo, toca os nveis da concepo sugerida a partir da palavra
que ilumina:
Muito mais recentemente existe
Filme para mquinas fotogrficas
Prprio a realar a beleza do negro da negra.
As sombras so metamorfoseadas
No entorno do rosto.
O ricto ao sorriso.
Como se a beleza fosse esteta
141
E a luz exegeta em arco-ris
No olho de quem olha.
De noite, sem fleche
Codaque Bleque.
Ou ainda no poema Fsica-tica (CN 27, p. 99):
Negro:
Ausncia total de luz.
Presena total de negros:
Luz!
Mrcio Barbosa assevera que a poesia pode ser a arma dos que guerreiam pela
paz( CN 27, p. 103) Os poemas de Mrcio, todos centrados na cultura e realidade negra,
so marcados pela oralidade numa cadncia de repente/rap. Uma das estrofes do poema
Vai o povo (CN 27, p. 104), nessa linha, registra:
mandando um gole pra exu
que ainda Segunda-feira
danando no curuzu
nas rodas de capoeira
vai o povo brasileiro.
Numa das estrofes intermedirias do poema Panfleto (CN 27, p. 110) as marcas
repente/rap ficam ainda mais evidentes:
eu convoco os parentes
e os amigos e os patifes
e os trutas e os crentes
e as putas e os dementes
eu convoco as crianas
ainda tenho esperana
e convido os macumbeiros
Oubi Ina Kibuko capta nos seus poemas o cotidiano do povo negro. Na pgina
dedicada apresentao o roteiro aqui previamente estabelecido se expressa assim: Sinto
que a poesia como a fotografia: uma composio de imagens, sons e sentidos, captados no
142
corao cotidiano do nosso povo... (CN 27, p. 113) Nos poemas, marcados pelo universo
do Movimento Cultural Hip Hop, as manas e os manos do as cartas e o ritmo:
A palavra cantada
juventude municiada
tomou de assalto
palcos praas ruas
rimando verbos consequentes
A palavra tocada
orquestra em didjei vinil
criatividade nos dedos
rotao vudum-vudum-vudum
(CN 27, p. 114)
Sidney de Paula Oliveira passa pela palavra, pelo signo negro retocando os matizes
da srie na valorizao da negrura e da linguagem que a viabiliza: A palavra Lavra meu
ser e me livra de ser um ser sem palavra, a palavra lida e sentida laureada e lavrada em ne-
gro livro tem meu aval e meu crivo. O poema anlogo (CN 27, p.124), do qual retiramos
a estrofe abaixo, passa pela discusso que conjuga a identidade negra e mostra um jogo
duplo no qual a palavra lavra a identidade negra nas teias da linguagem:
carecem da negra identidade
quem imita a mula
e ao opressor acata
gente que se anula
se intitula mulata
no se nota
desvaloriza-se e desbota
carrega o fardo e engole o fel
trabalho rduo e cruel
identifica-se com o pardo
papel.
Suely Nazareth Henry Ribeiro fecha a coletnea com o poema Dvida. Os laos
com a cultura negra, com a cadncia do samba, no salvam o poema que carece, ainda, de
amadurecimento.
143
QUARTA PARTE
1. Descrio: as recorrncias pautadas pelos contos e teorias (1979 2003)
O esboo de anlise dos Cadernos Negros se desdobra em dois movimentos distin-
tos e convergentes. No primeiro, foi feito o levantamento descritivo dos poemas, das teorias
e das recorrncias temticas e de autoria. No segundo, ser realizada, da mesma forma, ob-
servando a especificidade das narrativas, a sistematizao dos contos e das teorias referen-
ciadas nesta produo e/ou realidade afro-brasileira.
2. Cadernos Negros 2 (1979)
Doze autores escrevem nos Cadernos Negros 2: Abelardo Rodrigues, Aristides Bar-
bosa, Aristides Theodoro, Henrique Cunha J r, Cuti, Ivair Augusto Alves dos Santos, J os
Alberto, Maga, Neusa Maria Pereira, Odacir de Mattos, Paulo Colina e Snia. As mulheres,
tal como ocorreu na produo potica, nos Cadernos Negros 1, formam uma minoria. Ape-
nas trs vozes femininas esto presentes nos CN 2.
A apresentao, de J os Correia Leite, militante remanescente da Frente Negra, traz
para o presente o vis comparativo, sintetizando, sucintamente, a importncia da continui-
dade desses movimentos e evoca, ainda, de modo relacional, o campo de articulao dos
espaos culturais e da imprensa negra na produo literria do passado e do presente:
Digo isto porque no passado tambm foi assim. Foi deste devaneios, das
tertlias literrias nas colunas da chamada imprensa negra, que extravasa-
ram os anseios para o alvorecer de uma luta de fundo ideolgico, e que fi-
caram indelveis em nossa memria. ... Mas, eu vejo neste trabalho, no
seu conjunto, uma tomada de posio que pode chegar ao reencontro, no
do princpio de uma luta mas sim, da continuao daqueles ideais que fi-
caram perdidos no passado.
100
Aberlado Rodrigues que abre a coletnea fala, no texto destinado as reflexes teri-
cas, um pouco dos seus limites: Este meu conto faz parte de um livro indito, onde j me
preocupava com o ser, o sentir negro no mundo. anterior aos meus poemas. Acredito que
falta algo mais neles(s).
144
O texto de Aberlado Rodrigues nos revela um pouco das dificuldades e dos anseios
literrios dos protagonistas desse livro. Comparativamente, se levarmos em conta a estria
dos CN 1 (poesia), inegvel uma melhor desenvoltura dos poetas na abordagem da cria-
o literria e, mais ainda, na prpria produo. Ser que produo militante, na sua verten-
te potica, estava mais bem afeita aos desgnios construdos coletivamente pelos movimen-
tos negros e literrios? A impresso que temos, inicialmente, que a poesia militante par-
te, desde as primeiras produes, retratando com muita (ou mais) fora o cotidiano dos ne-
gros. Diferentemente, os contos oscilam.
A estria de Tempestade e Alegria, conto de Aristides Barbosa, situa-se no scu-
lo XIX, no tempo que o ministro Eusbio de Queiroz extinguiu o trfico de escravos, mas
ativou, em conseqncia, o comrcio interprovincial da mercadoria humana. E nesse pro-
cesso no tardou que surgissem fazendas de criao de negros como as de criao de ga-
do
101
A estria retrata o fracasso do comerciante, branco, Chichuma que, com a promulga-
o da Lei do Ventre Livre (28 de setembro de 1871), sofreu prejuzo total nos seus neg-
cios. A questo negra aparece, no entanto, de forma visvel no desfecho das aes:
O som dos atabaques invadia-lhe a casa como mensageiro da alegria
dos negros, em plena euforia nas senzalas.
Festejavam - remungou Chichuma, dando um murro na mesa. - Maldi-
tos. Como ser que souberam?
Mal sabia ele que as mensagens de Luiz Gama corriam cleres pelas
fazendas, como rastrilho de fogo em capim seco.
102
Mas, no conjunto, o primeiro dado que chama a ateno no tanto a presena do
tom militante, seja nas narrativas situadas na atualidade, seja nos contos situados no passa-
do escravocrata , mas o uso que deles (o passado e o presente) se faz no conto. O papel do
narrador, no universo dos contos e dos personagens, no se limita a fornecer o tema da re-
presentao da luta negra, mas sim acompanhar o desenvolvimento da histria (do enredo)
assinalando, muitas vezes na superfcie da narrativa, os momentos ou os aspectos contradi-
trios da realidade do negro:
Voc no arrumava emprego condizente com a sua instruo ginasial. (...)
E voc cada dia mais triste, desconfiado. (...) Comeou a beber cachaa
100
LEITE, J os Correia. Cadernos Negros 2. So Paulo: Edio dos autores. 1979. Prefcio
101
BARBOSA, Aristides. Cadernos Negros 2. Op. cit., p. 14.
102
Idem, p. 22.
145
com um pouco mais e regularidade (...) Voc ficou contente e nem se
lembrou de verificar que na proposta que voc tinha preenchido havia o
item: COR.
103
O trabalho de Cuti, do qual retiramos os traos que definem o lugar do personagem
pelo estabelecimento de uma relao implicativa com a discriminao racial, d realce, nu-
ma explcita opo, ao carter factual. Muitos textos mergulham diretamente na questo da
discriminao e na elucidao do racismo. O texto
104
Olhe, de Cuti, situa a discusso
racial na atualidade, dcada de 70. A elaborao literria fica subordinada ao iderio de
denncia do racismo mas, mesmo assim, usa um recurso muito expressivo de exposio do
personagem que, sob esse efeito, aparece na narrativa como um ser ntimo do autor e mais
ainda do leitor. O centro, sem digresses, passa pelo desemprego e racismo:
105
No adianta ficar pensando que uma desgraa ser negro.
A Corrida, de J os Alberto
106
, toca diretamente nas veias da violncia racial. O
texto emblemtico a respeito das dificuldades de incluso, nas narrativas, do tom mili-
tante. No conto, os aspectos literrios localizados em torno do clmax, do suspense, no en-
redo, e da elaborao dos dilogos ficam apagados. No entanto, a problemtica racial apa-
rece sem rodeios. A utilizao do repertrio militante, somada a uma srie de dificuldades,
como os efeitos caracterizadores dos personagens, o carter estereotipado dos mesmos e a
reduo ao enfoque apenas militante das falas e dos gestos, a pressa na elaborao da tra-
ma e outros (entraves comuns numa produo coletiva que se inicia) fazem lembrar as difi-
culdades pertinentes produo em prosa.
A consolidao de um repertrio militante e a significativa elaborao da noo
textual da negrura, na prosa, nesse volume de estria, vai deixando, mesmo assim, as suas
marcas. Alis, este especfico esforo uma das razes da fisionomia vincadamente assu-
mida, nas histrias situadas no passado ou no presente e nos papis assumidos pelos perso-
nagens, quando, nas suas trajetrias, revelam mais ou menos a condio do negro. Mas to-
dos os trabalhos, de algum modo, buscam um nexo com a questo negra.
103
Cuti. Cadernos Negros 2. Op. cit., p. 38.
104
Idem, p. 9.
105
Cuti. Cadernos Negros 2. Op. cit., p. 38.
106
ALBERTO, J os. Cadernos Negros 2. Op. cit., p. 62.
146
Assim, as representaes temticas esto divididas, conforme as intenes dos auto-
res, em contos situados no passado escravocrata o caso do conto Tempestade e Alegria,
de Aristisdes Barbosa
107
, na atualidade, O ltimo trem, de Abelardo Rodrigues
108
, alis,
narrado em primeira pessoa. Recurso usado, talvez, para tratar, de forma mais direta, da
angstia de um negro demitido e que reconhece, nessa situao, a condio do negro: en-
to eu acho que as coisas vo ficar brancas.
Petco, de Aristides Theodoro, um conto muito bem estruturado, cuja histria
repousa no fantstico. Petco se v, no plano da ao articulada pelo fantstico ou sobrena-
tural, diante do (...) pai-dos-belzebus e sentia o odor forte de enxofre a penetrar-lhes as
ventas.
109
H ainda lendas ou narrativas em cuja ao os autores confiam um pouco da tradi-
o dos negros velhos e negras velhas contadores de histrias, guardies da memria.
Chico dos Pampas, de Henrique Cunha J r.
110
, inspirado num poema de Clia,
111
publica-
do nos Cadernos Negros 1, um exemplo dessa saga. No dizer do autor, Chico dos Pam-
pas quer, deseja ser um conto ou uma histria para criana. Cunha pontua, didaticamen-
te, as bases tericas para que isso, efetivamente, se realize:
Todo adulto em parte um pouco daquilo que escutou e viu quando crian-
a. Precisamos ento encontrar substitutos para as brancas-de-neve e os
super-homens, que so a negao da nossa imagem e realidade. Este conto
um dos vrios caminhos desta procura. Fica a sugesto aos mais velhos
de contarem histrias de livros negros crianada.
112
Os griots, os velhos e as velhas contadores de histria repem a relevncia daquilo
que est na memria pronto para explodir: Em todas as terras, em todos os lugares os sons
de Chico trouxeram a revolta, as lutas.
113
Os mecanismos detonados pela memria articulam, atravs da linguagem, uma es-
pcie de revanche, no plano simblico, e uma atualizao, na integrao do leitor com o
tempo e a ao da histria. Dessa forma, a estrutura do conto Chico dos Pampas recupera
107
BARBOSA, Aristisdes. Cadernos Negros 2. Op. cit., p. 14.
108
RODRIGUES, Abelardo. Cadernos Negros 2. Op. cit., p. 6.
109
THEODORO, Aristides. Cadernos Negros 2. Op. cit., p. 30.
110
CUNHA J NIOR, Henrique. Cadernos Negros 2. Op. cit., p. 32.
111
Idem, p. 36.
112
Idem, p. 31.
113
Idem, p. 35.
147
uma gama de recursos comuns em narrativas fixadas no passado e/ou na tbua da memria.
O passado, nesse caso, , acima de tudo, um meio de reafirmar, como um exemplo moral,
um fato que se deseja eterno, perene. Assim, os recursos vo num crescendo encantando o
leitor: Dizem que quem conta um conto, assim que a negra velha e Imagine vocs
que os pais de Chico
114
e outros recursos para prender ou trazer o leitor, como cmplice,
para o interior da histria.
Ivair Augusto Alves dos Santos,
115
em Uma Crnica de Necessidade, problemati-
za os conflitos provocados pelas privaes e que redundam em morte, em suicdio do per-
sonagem.
H nfase em casos verdicos, lendas e crenas legadas pelos negros contadores de
histrias. O conto Chico dos Pampas, de Henrique Cunha J r., tem, como personagens,
escravos libertos.
Fogo Cruzado, conto escrito em terceira pessoa por Paulo Colina, retrata, com
discursos diretos e indiretos, a violncia racial e policial.
116
Tio Tio, de Neusa, um contato com o mundo da violncia, da morte atravs
da descrio da vida de Tio que, depois de morto, deflagra lembranas de conscincia ra-
cial nas falas da narradora:
Como reconhecer morto o homem que me havia dito que o importante no
era apenas meu prato estar cheio de comida, mas sim de toda a Comuni-
dade negra deste pas, desonradamente a mais explorada e a que mais tem
fome?
117
O feiticeiro, de Odacir Matos, pode ser classificado no rol dos textos, desse pri-
meiro volume de contos, que buscam elo com os ritos e aspectos da tradio religiosa ne-
gra. A histria do feiticeiro Gizenge e de Belinha tem um fim trgico e mgico ao mesmo
tempo. Belinha, depois de descobrir os poderes de feiticeiro de Gizenge, se envolve afeti-
vamente com um branco e morre queimada e de forma misteriosa: Ela estava queimadi-
nha, roupas, sapatos, cabelo e tudo, s ficaram os ossos.
118
114
Idem, p. 32.
115
SANTOS, Ivair Augustos Alves dos. Cadernos Negros 2. Op. cit., p. 50.
116
COLINA, Paulo. Cadernos Negros 2. Op. cit., p. 104.
117
PEREIRA, Neusa Maria. Cadernos Negros 2. Op. cit., p. 77.
148
Cadernos Negros 4 (1981)
Dezoito contistas escrevem nos Cadernos Negros 4: Aristides Barbosa, Aristides
Theodoro, Celinha, Henrique Cunha J r., Cuti, le Semog, Geni Mariano Guimares, Ha-
milton Cardoso, Hlio Moreira da Silva, Henrique Antunes Cunha, J os Alberto, J os Car-
los Limeira, Luiz Cludio Barcelos, Oswaldo Camargo, Oubi Ina Kibuko, Paulo Ricardo
de Moraes, Ramatis J acino e Snia Maria.
A apresentao, emocionada, assinada por Thereza Santos que afirma a necessida-
de desses contos ou desses gritos, gritos conscientes de luta, de razo.
119
Nos CN 4, temos, em parte, alguma semelhana com os temas do CN 2. H contos
baseados em contadoras de histria e a reproduo, como fizeram os autores dos CN 2,
de narrativas construdas no perodo de trabalho escravizado. Neste exemplar se multiplica-
ram os temas sobre a realidade dos negros nos centros metropolitanos, as dificuldades sala-
riais e na mobilidade no emprego e tambm o casamento inter-racial no conto Z Preti-
nho, o Graxeiro, (p. 50) J os Alberto, em Embosca e Homossexual, apresenta contos
curtos, anuncia temas para uma futura elaborao. Esporte Clube Corao Saudoso, de J os
Carlos Limeira, (p. 67) passeia pela violncia policial e mostra a reao negra encarnada
por Tti, negro e futebolista. O personagem, alimentado pelo tom militante do escritor, en-
carnando o ttulo de melhor do time surra, sem d, um policial racista. O texto bem es-
crito e procura consolidar, positivamente, o negro-personagem com histria e mobilidade
narrativa ascendente.
le Semog traz, sem novidades, o texto Tormento.
Geni Mariano Guimares publica duas crnicas. A primeira, J andira Morena, cur-
tssima gira em torno do relacionamento de J andira Morena (negra) e Neco (portugus
branco) e que acaba, o racismo no d trguas, na impossibilidade de casamento e herdei-
ros: (...) pena que voc morena... pxa, se voc fosse branca... a gente casava, fazia.
(CN 4, p. 37) A atitude discriminatria de Neco aciona as defesas da negra: Cuidado!
J andira Morena castra nego nos dentes. No sabe ainda o que ela fez com o Neco portu-
gus? Vai bobo, vai... (CN 4, p. 37) Hstria da V Rosria, o outro texto de Geni Ma-
118
MATTOS, Odacir. Cadernos Negros 2. Op. cit., p. 93.
119
SANTOS, Thereza. Cadernos Negros 4. So Paulo: Edio dos autores. 1981. p. 5.
149
riano Guimares, apresenta mais uma histria reverenciando as negras contadoras de hist-
rias. (CN 4, p. 37)
Z Pretinho, o Graxeiro, de Henrique Antunes Cunha, A revoluo dos sonhos:
macumba, revoluo e cachaa, de Hamilton Cardoso, so textos que mergulham no coti-
diano dos afro-brasileiros expondo mazelas que vo do alcoolismo s agruras do mercado
de trabalho. Rosemiro, o negro, um lutador, de Hlio Moreira da Silva, (CN 4, p. 45) fala
de um protagonista dos ringues e do abandono social.
A abertura de J eremias Um e J eremias Dois, de Aristides Barbosa, revela um
pouco da histria contada a partir do contexto de vida e da trajetria pessoal do autor:
O meu personagem J eremias, deste conto, no uma decepo nem
como negro, nem como homem, pois apenas algum que se enquadra
perfeitamente nessa dimenso humana.
Participando de uma antologia de contos de temas negros de iniciativa
de jovens da minha raa, procuro trazer sempre alguma coisa que traduza
a experincia que colhi ao longo dos meus anos de existncia, ou seja, os
temas, o ambiente, enfim, tudo que possa dar ao leitor uma idia de como
ramos nesse fragmento de histria em que tenho vivido. Os J eremias, as
fazendas, as histrias de assombraes, as valentias, tudo so reminiscn-
cias de quadros que presenciei .
Viagem ao Inferno narra um passeio pelo prprio Inferno e compe, com J ere-
mias Um e J eremias Dois, a saga de lendas desse volume: Seu Theotnio, sois bem vindo
ao Inferno. Mandei-lhe chamar na qualidade de crtico literrio que s, a convite do nosso
chefo, Lcifer... (CN 4, p. 13)
Tendncia confirmada pela auto-apresentao do autor:
Como poeta sou ligado aos problemas de ordem social, escrevendo contos
me volto mais pra lendas que ouvi na infncia, no meu serto, que por sua
vez, eram povoados de Inferno, purgatrio, mula-sem-cabea, caipora,
lobsomem, me-dgua, terrveis onas de dentes de sabre, revoltosos etc.
(CN 4, p. 12)
Celinha, em Os Donos das terras e das guas do Mar, na voz e na ao da Preta
Babaa, d centralidade para a ancestralidade, ancianidade e oralidade ao relevar, na ao
do seu texto, a negra Babaa que, ancorada na ancianidade, erige-se como autoridade e por-
ta-voz da histria e da memria reatualizada. (CN 4, p. 19)
150
Encontros Fnebres entre Amigos, de Henrique Cunha J r., mostra as reflexes de
um personagem defunto. O negro-defunto faz um balano diante dos olhos e das falas da-
queles que esto presentes no velrio: Na verdade no os queria aqui diante do meu cai-
xo, mas sim antes. (CN 4, p. 23)
A bivocalidade compreensiva passa pela morte e pela vida:
Vida e morte, dois desiguais caminhando juntos, aparentemente distantes,
incompatveis, contendo um as verdades e incertezas do outro. So dois
valores estranhos caros amigos, incgnitos, misteriosos e incessantes, se
nunca pensaram, absolutamente iguais sem nenhuma oposio; existe tan-
ta morte na vida, como vida em igual quantidade no morte.
(CN 4, p. 23)
O morto constata, num discurso feito por um poltico, que a questo negra foi apa-
gada e reage:
J se foram os panteras negras, as independncias de Moambique e An-
gola, as rvores das Palavras e coisas mais, e nada disto ficou no fraco
discurso que acabamos de aturar.
(CN 4, p. 26)
Os recursos, quaisquer que sejam, tm a funo de reconfortar a discusso negra ou
elaborar a insero literria que considere, por dentro, o negro. assim que o funcionamen-
to do discurso literrio incorpora os recursos para mostrar, no prprio discurso ou na tra-
ma social na qual ou atravs da qual ele se viabiliza, o racismo.
Atitude no Peito e Lembranas das Lies so os dois contos ofertados por Cu-
ti, nos Cadernos 4. No conto Lembranas das Lies, o funcionamento condicionado do
discurso racista, de modo muito forte e com uma linguagem, at comovente, vai produzir,
na interseo do discurso eurocntrico personificado na voz da professora D. Isabel em
oposio ao personagem-narrador, um contra discurso que se articula, tambm, no prprio
discurso opressor para alimentar a sua revanche.
De imediato, se levarmos em conta a apresentao de Cuti, podemos constatar que
os dois textos, isto , o de apresentao do autor e de fico, no assumem posies contr-
rias no tocante problemtica racial. Mesmo pertencendo a ordens distintas, a realidade e a
151
fico incidem sobre os sujeitos reais. Primeiro na dado evidente da corporeidade: Negro
e gente h de ser um dia redundncia pra todo mundo. E porque no somos invisveis, ho
de topar com a gente bem dentro deles, acesos. (CN 4, p. 27)
Essa visualizao do negro persegue a produo ficcional de Cuti . No texto Lem-
branas das Lies, narrativa feita no espao escolar, o autor capta o desconforto dos ne-
gros diante da viso que generaliza e, ao mesmo tempo, no reflete a histria dos negros ou
dos negros escravizados:
A palavra escravido vem como um tapa e os olhos de quase todos mole-
ques da classe estilingam um no sei o qu muito estranho em cima de
mim. E ela recomea sempre do mesmo jeito acentuado: Os negros es-
cravos eram chicoteados... e d mais peso palavra negro e mais peso
palavra escravo! Parece que tem um martelo na lngua e um p-de-cabra
abrindo-lhe um sarcasmo de canto de boca, de onde me faz caretas um
pequeno diabo cariado. A cada investida dela vou mordendo meu lpis,
triturando-o.
(CN 4, p. 27)
A palavra da professora condio, como nos ensina Bakhtin, de constituio de
qualquer discurso:
120
Eram humildes e no conheciam a civilizao. Vinham porque o
Brasil precisava de ? ... Vejamos quem que vai responder... (CN 4, p. 28)
O discurso da revelia, da mesma forma, nasce , ou melhor, criado nas ambivaln-
cias do dito e do no aceito. O discurso, muitas vezes, especialmente quando o sujeito (real
ou ficcional) se defende de posies j fossilizadas socialmente, provoca deslocamentos de
sentidos na medida em que as posies cristalizadas no so reproduzidas e sim refutadas:
Tremo, encolhido, dolorido, diante da possibilidade de ser chamado.
Eu queria sumir. Meu corao bate na vertical e meus intestinos se revol-
tam. Saio apressado da sala sem pedir licena. Chego privada em tempo.
Cago o desespero das entranhas. (...)
Ela continua. A cada palavra do discurso pressinto uma nova avalan-
che de insultos contra mim, e contra um eu mais amplo que abraa meu
iguais na escola e estende-se pelas ruas envolvendo muitas pessoas...
(CN 4, p. 27)
120
FIORIN, J os Luiz. O Romance e a Simulao do Funcionameto Real do Discurso. In: BAKHTIN, M.
Dialogismo e construo do sentido. Beth Brait (org). Campinas: Editora da UNICAMP, 1977. p. 230.
152
Os elementos que constituem o ncleo argumentativo do personagem so revitaliza-
dos na fala do prprio autor. A conscincia racial e de grupo no so apagadas na apresen-
tao do autor, pois fazem parte do seu dia-a-dia, seus discursos se repetem e devem, na
opo do autor, ser explicitado na cadeia discursiva manifestada no texto, como demons-
tramos antes, e no contexto no qual ele se insere como sujeito real :
Desculpem se falo por mim e por outras pessoas. que tenho famlia
grande e amigos, e sempre conto com eles para acabar com a Mentira que
nos derruba pra manter a opresso por cima.
(CN 4, p. 27)
Cadernos Negros 6 (1983)
Cadernos Negros 6 tem 16 contos. Snia Ftima da Conceio a nica mulher
desse volume que contou ainda com Cuti, le Semog, J os Alberto, J os Carlos Limeira,
J os Carlos Aparecido dos Santos Barbosa (Luanga), Mrcio Barbosa, Oubi Ina Kibuko,
Paulo Ricardo S. de Moraes, Ramatis Jacino e Valdir Ribeiro Floriano.
Na capa soam fortes as palavras de Llia Gonzales:
a voz desse pova ta (...) com suas metforas ela diz muito alm do que
a conscincia (dominante) se esfora por afirmar e fazer crer, justamente
porque seu compromisso essencial com a verdade.
a partir dessa tela de fundo que figuram tambm, como um trofu, as capas dos
exemplares de 78, 79, 80, 81 e 82.
O prefcio e a anlise, guisa de uma pr-apresentao, foram feitos por Vera Lcia
Benedito. Sua abordagem encaminha, do memo modo, uma resenha crtica desse exemplar.
Ao longo dos 27 anos, o primeiro e nico trabalho que considera, na ntegra, cada um dos
contos. As incurses crticas, nos 27 volumes da srie, se pautaram, invariavelmente, por
enfoques mais abrangentes e no pelo esmiuamento da produo recm lanada.
A pesquisadora ainda, no que lhe cabe, fala das diferentes posies assumidas pe-
los escritores negros em face da realidade racial brasileira na qual texto e contexto, a rigor,
so repropostos:
153
Felizmente, a preocupao daquele que escreve, que tem por ideologia e
objetivos finais o despertar da conscincia do negro para seus valores, ho-
je mais do que nunca, est em saber como fazer uma boa literatura e no
como ser literatura oficial, marginal ou independente.
121
Do nosso ponto de vista, no conto de abertura, de Cuti, Impacto Potico, o objeto
ficcional, o foco, a vaidade ou mais precisamente as mscaras sociais com as quais o per-
sonagem, Idelbrando Camargo, poeta negro, vende nos crculos literrios e social uma ima-
gem construda de exageros e autopromoo. O conto constitui-se num plano da realidade,
mesmo sendo fico, no qual podemos ver a vida de Ildebrando como representao do
mundo das palavras e das aparncias. Segundo o prprio texto, uma aura, alis, desfeita
pela imperfeio de uma paixo sbita: Ildebando se apaixou irremediavelmente, at
perder sua aura de importncia produzida com muito esforo e mentiras. (CN 6, p. 10)
Conto que , pela ao muito bem planejada no tempo e espao, uma poesia voltada s ca-
madas irreais que, no raramente, se colocam nos discursos e para ns mesmos como reali-
dade.
Na interveno de le Semog, temos o dilogo indireto na carpintaria de A Seiva
da Vida. Conto no qual a Seiva, o prprio smen, rende dinheiro e fama para J orge
Ganga que, no final, na relao sexual com a prpria me, envelhece num timo de tempo e
morre. Vale destacar, nesse texto que merece um estudo parte, as relaes amorosas copi-
osamente descritas.
O militante, de J os Alberto, um monlogo interior: (...) voltar ou ficar, vol-
tar para reunies e panelas, eventos, passeatas, bl-bl-bl com ch e bolacha, mesmas
conversas, mesmos problemas, mesmas cobranas... (CN 6, p. 25)
Tanclau, ou de como o nego descolou hospedagem dos federais, de autoria de
J os Carlos Limeira , trata das artimanhas usadas, nos momentos difceis, para sair de uma
enrascada. Como salienta o autor, poeticamente, nas palavras finais do conto (CN 6, p. 30):
Nossos malungos tm artes
que no se aprendem na escola
por isso aprendemos bem cedo
pouquinho depois de nascer
o rir da misria e do medo
e resistir, sobreviver.
121
BENEDITO, Vera Lcia. Cadernos Negros 6. So Paulo: Edio dos autores, 1983. p. 5.
154
Preso numa blitz, Tanclau se faz de estrangeiro, africano. A histria, com muito
humor e ginga, tem esse centro. O espao e o tempo passam pelas entidades do movimento
negro, blocos afro e geografia de Salvador assim que o espao, a quinta dimenso do
cotidiano, revela o tempo dos homens banais e que circulam. As chamadas reas opacas e
os homens lentos, na arguta reflexo de Milton Santos,
122
falam, de forma enegrecida, e
com humor.
Liliputiano, de Luanga, um conto mnimo cuja composio grfica e sonora,
expressas no ttulo, revelam o exerccio do autor de trazer, para o alto da pgina, em letras
enormes, numa sntese, o itinerrio criativo do texto feito a partir do universo infantil. O
tom ldico das relaes (com as crianas) est presente na organizao entrecortada pela
interveno infantil:
- Ponha a mo na minha barriga.
- Ah... eu no
(CN 6, p.31)
A narrativa rpida, como sugere o ttulo numa composio tpica da nossa infncia,
capta o cimes, a insegurana e a coragem tambm nos olhos e gestos infantis:
- Me d a mo que eu o coloco.
Hesitante, ele estendeu o brao.
- Isso, abra-a e encoste.
(CN 6, p.31)
Os registros, do universo encantado e encantador da infncia e da pr-infncia, so
muito bem captados nas frases curtas que contam o nascimento e a relao, quase sempre
de cimes, das crianas. O mvel do texto so as crianas e os seus sentimentos marcados
por afetos e palavras titubeantes e, s vezes, inesperadas.
Em O odu caiu bom, Mrcio Barbosa retrata os conflitos raciais e a busca por as-
censo. A problemtica toca, a partir de Lus Fobeda e Guatumb, os redemoinhos das rela-
es tensas e as margens enganadoras da mobilidade social, conquistada s custas do iso-
lamento, e de um progresso que, no caso nosso, dos negros brasileiros, sempre relativo,
122
SANTOS, Milton. Tcnica, espao, tempo: globalizao e meio tcnico- cientfico informacional. So
155
ou seja, a ascenso individual no significa a mobilidade ascendente do grupo e/ou quadro
familiar. O progresso e a mobilidade relativa e relativizante ficam flagrantes nos argu-
mentos com os quais o narrador apresenta os eixos do isolamento-evolucionista do perso-
nagem:
Lus Fobeda lembrava-se da sua poltica de individualizao para o pro-
gresso e que consistia no seguinte: cada negro de bem deveria isolar-se
do restante da plebe de marginais e entregar-se ao estudo e ao trabalho e-
xaustivos .
(CN 6, p.36)
Elae Quando a Chuva Parar, de Oubi Ina Kibuko, trazem cenas e esboos cria-
tivos que, no entanto, no se configuram exatamente como contos acabados. Ob Koss, o
texto mais longo, ancora sua carpintaria (ao, espao e tempo) numa histria estrelada por
animais, provavelmente na savana africana. O conto, no entanto, no se consolida.
Ela, o texto de abertura que faz aluso garrafa de bebida, recolhe provrbios ca-
racterizadores do alcoolismo e dos vcios:
Assim como a bebida se tornou campanheira de um fraco, assim como o
fumo se tornou ponte de fuga para um covarde, assim como o cido se
tornou fortificante para uma cabea que se deixou vencer...
(CN 6, p.40)
Dessa forma, o conto deixa, na sua composio, a marca do poeta para expor, atra-
vs dos versos, tal como querem o texto e a prpria experincia de vida do escritor-poeta,
um poeta bbado viajando pelo interior das nossas veias medulares, recitando:
Na mesa d um bar
sob a meia luz
h muitas garrafas
vazias de vida
e muitos copos
transbordando de
solido!
(CN 6, p. 41)
Paulo: Hucitec, 1996.
156
Sabor bem brasileiro, de Paulo Ricardo de Morais, narra, de forma linear e rpida,
um pouco do universo estereotipado do bom brasileiro. A noo, muito difundida entre
ns e no mundo, passa pela inviabilidade da alteridade. O brasileiro a que o texto se refere
gosta de(...) mulheres, samba e cachaa e no domingo de ir ao futebol. (CN 6, p. 47) Do
mesmo autor, Os cadveres, um texto despretensioso, em que dois defuntos, um branco
e um negro, disputam, no escuro, um lugar no tmulo ornamentado e pr-destinado ao de-
funto branco.
J acira e J lio Cesar, de Ramtis J acino, fala das fantasias sexuais do negro J lio
Cesar. Jacira, uma mulher branca e gostosa, mobiliza, s escondidas, a libido dele. O conto
curtssimo e muito bem humorado. Mostra com habilidade a sublimao do ato sexual
que se desloca numa fantasia ativando, na masturbao, a expressividade do encontro (a
seduo) entre linguagem e desejo:
- Deixa eu ver a calcinha...
- Azul!? Nossa! Como ficam bonitas em voc.
- Olha, vem c. Tira esse vestido, fica vontade. No tem perigo nenhum,
sua boba.
(CN 6, p. 51)
Snia Ftima da Conceio, voz feminina isolada, isto , a nica mulher da colet-
nea, constri dilogos para flagrar as coisas do dia-a-dia. O cotidiano vem tona atravs
dos personagens Dona Maria e Sr. J oo, que tecem comentrios diversos. O texto se encai-
xa, num cotejamento com o conjunto desse volume, como um relato.
O conto Merdau, de Valdir Ribeiro Floriano, fecha as produes dos CN 6. Os
fatos vividos por um jornalista perpassam a histria que, tal como o nome do conto, uma
mescla e pe lado a lado, tambm numa mescla, o personagem e o autor.
Numa visada mais atenta produo desse volume, avulta o lugar do personagem.
No entanto, no basta incluir o personagem negro. Os autores, dentre eles, Cuti, J os Carlos
Limeira, les Semog, o sabem bem. Existem outras armadilhas quando nos deparamos com
um campo minado no qual a ao, o tempo, o espao e o texto, englobando a carpintaria
narrativa, so planos fundamentais da arquitetura ficcional e da incluso do personagem.
Modelam essa arquiterura, sem esquematismo, a preocupao com a representao
social dos personagens e a hierarquizao dos papis e a relao com o corpo simblico da
157
tradio cultural negra. A igualdade racial (social) no passa margem do problema real do
negro personagem. Ora, a humanizao do personagem negro passa, ento, pela complexi-
dade da prpria narrativa.
Uma questo, no entanto, no anula a outra. Isoladas, as representaes sociais, as
profisses exercidas por negros e brancos no resolvem as relaes de poder. Estas s so
transfiguradas quando o personagem negro tem, sobretudo, ou melhor, necessariamente,
histria, problemtica e recebe, atravs da escrita, o poder de construir ou desconstruir, com
e a favor do seu grupo, a linguagem, a prpria escrita e os cdigos que delimitam histori-
camente a intransitividade dos negros nos lugares sociais e dos personagens nas narrativas.
Cadernos Negros 8 (1985)
Anita Realce, Cuti, le Semog, Esmeralda Ribeiro, J. Ablio Ferreira, J os Carlos
Limeira, J os Luanga Barbosa, Mrcio Barbosa, Miriam Alves, Oubi Ina Kibuko, Ramatis
J acino, Snia Ftima da Conceio, Valdir Ribeiro Floriano e Zula Gibi so os protagonis-
tas dessa edio. As mulheres so minoria, tambm nesse volume. Entre os 14 contistas, h
apenas 5 mulheres.
J amu Minka, na Tarja branca da nossa capa, texto de apresentao e alusivo ca-
pa dessa edio, repe o nexo orientador da produo literria sintetizada nos Cadernos:
Nossa arte fruto da rvore da vida. Por isso tem razes espirituais, traz o
sabor do sonho e da vontade, conserva a cor da histria e carrega a consis-
tncia do fruto-semente para a horta da transformao.
O onrico, o sagrado e a realidade so os lugares atravs dos quais a escritura negra
vai se estruturar. essa necessidade que orienta nos Cadernos 8, seguindo os mesmo obje-
tivos da edio anterior:
(...) os Cadernos Negros 7, poemas afro-brasileiros, nos quais foram
transcritos depoimentos dos escritores entrevistados. Os textos diversos
esto presentes no volume de contos e, nessa coletnea, versam, da mes-
ma forma, sobre aspectos variados da literatura, da leitura e distribuio
da srie.
123
123
Cadernos Negros 8. So Paulo: Edio dos autores, 1985. p.5
158
le Semog indaga, na sua reflexo, a que tipo de pblico deve ser dirigida a literatu-
ra negra. (CN 8, p. 8). Esmeralda Ribeiro, uma das vozes femininas da coletnea e da hist-
ria dos Cadernos, enfatiza que a literatura negra deve romper o distanciamento intelectual
da comunidade. (CN 8, p.10) J. Ablio Ferreira, ao falar da importncia dessa produo, se
orienta a partir de trs dados da realidade.
Primeiro, no plano individual, prende-se oportunidade, mpar, que os escritores e
poetas tm para publicar anualmente, nesse caso, especificamente, 27 anos ininterruptos.
Segundo, na relao com a comunidade negra, a vitalidade do efeito de conscientizao
tnica. Terceiro, no plano histrico, o rompimento da afonia no tocante negrura na litera-
tura. No plano histrico, do mesmo modo, vital destacar o efeito de uma produo liter-
ria encaminhada por militantes negros e movimentos negros, numa frente, sem trguas de
1978 a 2005. (CN 8, p. 10)
J os Carlos Limeira, poeta e contista baiano, expe as dificuldades editoriais e a
urgncia para buscar novos leitores e ultrapassar, na atrao e publicao anual, o eixo Rio
So Paulo. (CN 8, p. 11) J os Luanga Barbosa pontua o lugar de figurante dos persona-
gens negros na literatura brasileira. (CN 8, p. 12) Mrcio Barbosa discute igualmente a a-
bordagem de personagens negros na literatura de brancos (CN 8, p. 12)
Miriam Alves salienta as dificuldades de falar de literatura num pas com tantos
problemas sociais e raciais. (CN 8, p. 13) Na voz do poeta Oubi Ina Kibuko os Cadernos
so o nosso Quilombo literrio. Ele ressalta, assim, o lugar para criar, discutir e publicar de
forma coletiva. (CN 8, p. 14). Valdir Ribeiro Floriano outro autor que ressalta a fora co-
letiva, o processo cooperativo. (CN 8, p. 15) Zula Gibi, por ltimo, discute a importncia
para a auto-estima de quem escreve e de quem l os CN.
Os textos dos autores, somados produo literria em si dos Cadernos Negros,
procuram acionar um circuito discursivo e, para que ele se complete, preciso que haja a
adequao relativa entre seus significados tericos e o corpo literrio propriamente dito.
Internamente, na relao dialgica irmanada e imantada pelos autores, os significados, os
sentidos dessa elaborao precisam ressoar. Externamente, essas ressonncias precisam
incidir no sistema de representao dos receptores, os leitores, os crticos etc.
Segundo Cuti, por exemplo, necessrio romper o condicionamento social e as i-
dentidades estticas. (CN 8, p. 7) Para que se produza o efeito dialgico, a relao de a-
159
proximao com a escrita significativa para os sujeitos negros (escitores e leitores), fun-
damental estreitar as relaes entre os discursos desses sujeitos. Por conta desses sentidos:
De pouco adianta s arrolarmos termos de origem africana, usarmos da
palavra negro, se o fazemos com uma arte queixosa e subnutrida de viso
crtica. Isso no redime a nossa condio de marginalizados em nossa
prpria terra pelo supremacismo branco.
(CN 8, p. 7)
Desse modo, a realidade assim constituda, inclui-se a a literria, revela-se nos
propriamente como o espao de exigncias, de rupturas nas relaes de poder postas ou
mascaradas nos textos e na criao. Ora, dessa possibilidade de transformao interna, an-
tes, deve-se acolher criticamente o contexto:
Criar ousar, ir alm do que pensam e pensamos que somos. A auto-
censura a primeira barreira:
O poema veio vindo
veio vindo
veio vindo
Chegou ali parou!
Porque deu um branco.
(CN 8, p.8 )
A palavra negro o centro. Ora, a inibio do negro se configura, da mesma forma,
na inibio significante e significativa da palavra negro. A noo textual da negrura cons-
tri se e tambm construda nesse movimento relacional com uma rede que inclui a es-
critura negra e, ao mesmo tempo, os sujeitos portadores desse mesma negrura. Da palavra
negro e do negro, convm recordar, a propsito, o que diz Cuti:
uma questo semntica, mas tambm ideolgica. Quando digo: - sou
negro, entendo-me em toda dimenso humana da palavra (nascimento,
ascendncia, crescimento, nacionalidade, morte, memria e, com isso, to-
da sorte de sentimentos, emoes, razes e experincias existenciais) que
encerra situaes passadas, presentes e futuras vividas pelo meu povo. Eu
nele Onde est a limitao? O colonizador deu ao termo um significado
segundo seu dio e projeto de opresso que vigora at hoje.
Reinventemos, alterando profundamente a semntica da palavra negro.
Dela s excluem humanidade os racistas e aqueles que no percebem ser o
160
significado das palavras tambm questo de ginga e malandragem na
transformao. Disse e tenho dito:
a palavra negro
que muitos no gostam
tem gosto de sol que nasce.
(CN 8, p.21)
O sentido da palavra negro se situa nos meandros da organizao interna dos textos
mas, do mesmo jeito, concorrem para a compreenso, como mostraram os fragmentos
colhidos dos depoimentos dos autores, aspectos extradiscursivos, as condies de produ-
o, de recepo e o espao social onde tais discursos (extradiscursos) circulam.
Desse modo a escrita, de alguns contos dos Cadernos Negros 8, ficam submetidas a
uma lgica do enunciado e da enunciao e, igualmente, pela maneira de contar a histria e
de instituir personagens, isto , de criar um ser linguagem (ou um ser da linguagem)
124
comprometido com a negrura. O conto O Dito pelo Dito Benedito, de Cuti, se insere,
exemplarmente, nesses domnios.
Apoiando-se nessas proposies, a pesquisadora J lia Maria Amorim de Freitas, em
O escrito pelo escrito mal escrito, afirma, no resumo da sua exposio, que o texto de
Cuti O Dito pelo Dito Benedito (...) reflete sobre o jogo de linguagem sobre o qual se
constri, dilatando fronteiras entre oralidade e escrita. A mquina de escrever vista como
metonmia do processo, em que se inclui a releitura da figura do intelectual negro.
125
Nessas fronteiras, captamos na saga do narrador, um preto que escreve (CN 8,
p. 22) o mesmo jogo de linguagem na qual a oralidade e a escrita refletem o simblico e a
relao, atravs de exu e dos orixs, com a cosmogonia negra. Em face disto, a mquina
de escrever vista como metonmia do processo no qual exu metfora da comunicao.
O texto Penumbra, de Anita Realce, curto, tem apenas uma pgina, e trata do
gozo, inconcluso fisicamente, mas de comprovado prazer pela narradora-personagem que
registra depois que toma conscincia do sonho: Estou gozando o que no fiz, mas...
124
DELEUZE, Gilles. Foucault. Trad. Cludia SantAnna Martins . So Paulo: Brasiliense,1988. p. 65.
125
FREITAS, J lia Maria Amorimde. Cadernos CESPUC de Pesquisa. Belo Horizonte: PUC Minas
CESPUC,1986. p. 31
161
El Semog, em Insnia da moa, com discurso indireto, avana a narrativa com
frases concisas: Arreganhou as pernas na pia do quarto e lavou a xoxota. O rosto. Os sova-
cos. Maquilou-se. A ao, o tempo e o espao, as falas interpostas dos personagens, no
incio da narrativa, ganham fora pela qualidade expressa pela narrativa.
Avanando pelos contos dos Cadernos 8, chegamos ao texto Ogun, de Esmeralda
Ribeiro. Num texto que incorpora, de forma alegrica, marcas conquistadas pelos Movi-
mentos Negros, entre elas o 20 de novembro. Maria Cesrio, filha de pai negro com uma
branca italiana, funcionria pblica, enfrenta no trabalho o preconceito e a discriminao. O
texto usa alegorias para situar a histria. Maria Cesrio trabalha, por conta desse perspecti-
va, no prdio Aqui no h racismo. Aluso, franca, realidade racial brasileira. O conto
explora essas contradies que passam, necessariamente, pelo prdio Aqui no h racis-
mo. O texto se move pela relao com o mundo da brancura ou pelo pendor nacional de
embranquecimento: Voc uma morena to bonita (CN 8, p. 35)
Pendor de brancura materializado na averso ao telefone preto, cuja negrura provo-
ca profunda decepo em Maria Cesrio. Em sntese, a questo que se impe (prope)
essa: como lidar ou que fim dar ao telefone preto. O telefone, a prpria realidade das rela-
es raciais brasileira, o mvel desse conto que tem, leitor, outros lances.
J . Ablio Ferreira se insere com o Conto A Casa de Fayola. A histria marca o re-
encontro de Alexandre e Fayola. Cenas de sexo, no plano sexo pelo sexo sem significado
maior para a trama, sugere uma preparao mais segura na ao para significar mais para o
texto. A trama se d no reencontro do casal que, no final da histria de amor, redunda na
morte, por envenenamento, de Fayola. As motivaes do assassinato no ficam evidentes.
H a exposico, na falas e gestos, dos desentendimentos de dois negros em posies soci-
ais e culturais distintas. Fayola na favela e candombl e Alexandre, o nome um dado
significativo, formado e com dinheiro guardado e com a firme deciso de abandonar aquela
vila na qual nascera e conhecera Fayola.
J os Carlos Limeira escreve, nessa edio, O dia de Fuga e Bons tempos. Nos
Bons tempos, evocando as lembranas, faz o relato, em primeira pessoa, das peripcias do
personagem, talvez o prprio autor, pelo Maciel. As putas, os redutos de capoeiras, entre
eles Mestre Bimba, pautam Os bons tempos.
162
Boimate o conto-causo de J os Luanga Barbosa. dele ainda, nesse exemplar, o
conto Coliseu City. No conto, como um bom contador de histria, tudo est no seu lugar.
Assim, de forma breve, temos apresentado o Boimate, um tomate gigante. Com dilogos
rpidos, a histria revelada num crescendo. H assassinatos e um desfecho sobrenatural
tal como ocorre nos causos do interior ou na habilidade verbal dos contadores de histria.
No conto Outra histria de amor, Mrcio Barbosa vai intercalando informaes so-
bre oxum, ogum e outros orixs e desenhando os personagens Inila e Agbal.
Miriam Alves participa com Um s gole e, nas falas e nas aes passadas e co-
moventes, vai traando ou martelando as dvidas e as lembranas da personagem negra,
Maria Pretinha, que queria, numa encenao escolar, ser Maria, claro, de J esus:
- Maria no podia ser da sua cor.
Chorei, as lgrimas corriam entrecortadas por soluos. Isto fazia a hilari-
dade da crianada que improvisava um coro: - Maria no preta, nossa
Senhora. Maria no preta, me de J esus.
(CN 8, p. 69)
O estudante, de Oubi Ina Kibuko, um relato das dificuldades raciais vividas pe-
lo personagem que tambm o narrador do conto. O espao no qual a histria transcorre
repleto de referncias negras: Escola Municipal Lima Barreto, Rua Clarim do Alvora-
da, Hospital Luiza Mahim etc.
Ramatis J acino entra, nesse volume, com um conto despretensioso. Emiliano, que
tambm o nome do narrador, vive numa cadeira de rodas atravs da qual, apesar das difi-
culdades de locomoo, repassa a vida e olha, da varanda, o mundo.
Mais uma histria, de Snia Ftima Conceio, so relatos. Falta uma estrutura
narrativa. Ficam os problemas (o excesso de filhos e a bebida) que, alis, giram e passam,
com poucas variaes, pelos personagens Maria e J os.
Saberne, de Valdir Ribeiro Floriano, um texto que se quer poltico e faz a dis-
cusso de forma muito pouco elaborada literariamente.
Um bom conselho, de Zula Gibi, na ausncia de entendimento, os personagens se
apaixonam metaforicamente num ato sexual poltico, isto , feito de recursos retricos.
163
Cadernos Negros 10 (1987)
O prefcio, tal como ocorreu nas edies de nmeros 7 e 8, d lugar aos textos
transcritos de depoimentos dos escritores.
O av, de Abayomi Lutalo, enfoca a transmisso oral dos legados negros passa-
dos pelos velhos. Faz um relato montono. No h ou no mobiliza os recursos de que a
temtica necessita.
Os ltimos dias de ressurreies de Cirillo La Ursa tem como ncleo o fantstico,
ou, mais ainda, o absurdo. O texto hermtico, labirntico e descontnuo. Para caracterizar
o absurdo, esse trabalho de Arnaldo Xavier, autoriza os personagens a dizerem:
O caranguejo. A cigarra. E o violino. A cada galho: a cigarra gralhava. O
caranguejo crocitava. Ouviolino miava. O caranguejo gralhava. Ouviolino
crocitava. A cigarra miava.
(CN 10, p.17)
Cuti nos textos Alegoria, J ornada, Visita e Avenidas passa pelas condies
de vida dos negros e pelo enfoque do racismo. assim que Alegoria mostra o Mulato-
Cafuzo-Negro-Crioulo, numa referncia realidade racial brasileira, na qual h tantos ne-
gros e, da mesma forma, tantos nomes para escamotear ou apagar essa presena. No tiroteio
racial brasileiro no qual o negro alvo de numa espcie de eugenia, Mulato-Cafuzo-Negro-
Crioulo uma ttica, mas no a nica, pra trazer para o mesmo campo aqueles que esto
dispersos, no conto a vitria certa:
Desembainha a lmina ognica. Com ela faz uma profunda inciso no lu-
gar do ferimento e consegue extrair o desespero do peito. Puxa o cantil e
sorve uma golada de quilomboscncia.
(CN 10, p.32)
Incidente na raiz a histria de J ussara, uma negra, que pensa que branca.
Ningum lhe disseram o contrrio. Nem o cartrio. Num exerccio permanente de bran-
queamento ela mutila o prprio corpo: Com queimaduras qumica na cabea, foi interna-
da s pressas, depois de alguns espamos e desmaios. (CN 10, p. 35)
164
Queda livre passeia pela saga da incluso da condio do negro. Num texto m-
nimo, o autor trata alegoricamente a questo negra e de gnero:
E a mulher caminhava sobre o tnue fio que ligava o edifcio Orgulho
Torre da Dignidade. (...)
Um novo silncio de estupefao imobilizava a todos. Sobre o fio,
uma outra mulher iniciava sua caminhada no mesmo sentido, seguida de
outras, muitas outras. Todas Negras.
(CN 10, p. 36)
O conto Opo , de le Semog, exprime, na mtua complementaridade entre o
narrador-personagem, primeira pessoa, o sentido do suicdio e do desfecho da histria.
Vigora no texto a prpria projeo do autor. A narrativa, ativada na perspectiva de primeira
pessoa, delineia um campo no qual personagem e autor se confundem:
Fui prato cheio: negro e poeta. Complexo , porm perfeito na questo da
forma potica, enquanto instrumento de luta. Completo enquanto negro
com contedo, muito parecido com aquele poeta negro do Embu.
(CN 10, p.39)
H, ainda, outros lances estreitando as trajetrias quando a histria real, passada na
dcada de 70, vem tona: (...) a esquerda, dos filhos da direita, pegou os melhores car-
gos, os melhores salrios e tambm as armaes que cabe ao segundo escalo. ( p.40)
Na obra de Esmeralda Ribeiro, Vingana de Dona Lia, tudo projeto numa nar-
rativa que compe-se de dois planos nos quais a histria se desdobra. Primeiro, na cena de
linchamento do Milton relao amorosa envolvendo Roseli e o Dr. Milton e, segundo, na
vingana de Dona Lia, com recursos de macumba, no desfecho do conto.
O Morro dos Pretos, de Henrique Cunha J r., apresenta o espao, o prprio morro,
e a histria de opresso, em cujo mbito se d a relao tensa, violenta dos trabalhadores
rurais e dos seus exploradores. Fica evidenciada, na citao da SUDENE e nas notas da
ditadura militar, a vontade de compartilhar as Passagens da Aurora Revolucionria.
(CN 10, p. 57)
J . Ablio Ferreira encontra no conto Doda aspectos da vida e da realidade da vio-
lncia policial, no Bexiga, de cujo espao retira significados e atualiza os elementos signifi-
165
cantes, para a narrativa, presentes no carnaval de escolas de samba. Natal, tambm de
Ablio, mostra, no pulsar do corao, a exploso natalina.
Nos Cadernos existe o tempo todo esse dilago da poesia com a prosa. Esse pulsar
recproco acontece no Lobo de Botas, de J os Carlos Limeira, que deixa exposta a in-
vestidura dessa afinidade:
Adlia dos olhos de mar
de sonhos de noite de lua
basta um s do teu olhar
pra iluminar toda esta rua.
(CN 10, p.75)
Numa trabalho recheado da geografia e da vivncia do prprio autor, a narrativa a-
vana sua ao recolhendo, no traado de Maninho, o espao de Salvador. Saltam aos o-
lhos os nomes, isto , os planos espaciais que revelam com intimidade Baiacu, Santo Ama-
ro... Itaparica. O autor recolhe, nesse itinerrio, os sentidos com os quais as falas ganham o
significado banal da quinta dimenso do espao, o cotidiano no qual os homens e suas rela-
es so o centro. O espao banal pode ser percebido, com toda a sua fora, pelo vigor des-
critivo que diz muito da localidade e mas ainda da localizao dos personagens. Os luga-
res esto, ento, entranhados nos homens e na histria:
Maninha agora s passava dois ou trs dias por semana em Salvador. De
resto, ficava pela Ilha comprando mercadorias. Tinha realmene adquirido
um saveiro grande e costumava cobrir desde Baiacu, Santo Amaro e Cai-
xa Prego at Bom Despacho e Itaparica.
(CN 10, p.77)
Nessa relao de tempo e espao a poesia contribui , no entanto, com uma nova pos-
sibilidade de comunho:
Mariana-
- Rebocado, piripicado maninho safado.
- Rebocado, piripicado maninho safado.
(CN 10, p.79 )
166
Pode-se objetar, ento, que tal recurso comum numa produo que soma, de forma
alternada, publicaes de contos e poesias. Parece-nos, pela insistncia das marcas poticas
na construo dos sentidos de leitura e de deslocamento semntico dos personagens, no ser
somente compreendido esse processo pela lgica de edio dos Cadernos, mas como um
recurso literrio, ou seja, significativo.
a partir desses ritmos e sentidos que O lobo de botas, o Capito Felcio, nas noi-
tes e na ausncia do Delegado, ludibria a todos para afagar a sua amante. Ao, espao e
tempo concorrem para a organizao ascendente da histria.
J natas Conceio da Silva inseriu-se nesse livro com Margens Mortas, conto no
qual A histria depois, muito depois ficou assim. (CN 10, p.81) Nessa busca, em que o
autor confia memria um papel nuclear, didtico o texto de apresentao atravs do qual
baliza o sentido do seu percurso e da criao: Sou um homem e um escritor preocupado
basicamente com a memria. Nada para mim mais importante. (CN 10, p.81)
Nessa recordao do passado que tem um margem vazia, uma nova leitura surge nas
suas transcriaes, na sua crtica, em sincronia com o presente da criao.
Na obra de J natas pulsa, para comungar com o prprio sujeito-escritor, a tenso
entre a histria e a memria. (CN 10, p. 81) No texto, o discurso indireto capta ou reflete
essa tenso. As margens mortas, lugar de uma comunicao fechada, em que viviam Lin-
doso Cardoso, DAurora e as filhas Miralva, Rosa e Maria o cenrio de um plano de Lin-
doso para liquidar, com formicida, a famlia: Depois de contadas as datas na folhinha mar-
cou o dia. - No Dia de Corpus Christi, tem comunho, tem procisso, se demora.(CN 10,
p. 82) assim, meio alucinado, que Lindoso Cardoso antes de concluir o seu ato rememora
e recolhe os futuros mortos que, no plano em marcha, ainda vivem mas, no dizer dele, es-
to prximos do fim, pois : Quanto menos somos, melhor passamos. (CN 10, p. 83)
Mrcio Barbosa se valeu, para incluir personagens negros, jovens e do universo das
favelas, da oralidade e de uma tcnica de roteiro que pontua e vincula os meandros internos
da narrativa com os ganchos externos soprados pelo histrico-social. Quando o malandro
vacila traz, subjacente linguagem oral, uma expressiva tcnica de roteiro cinematogrfi-
co. As chamadas que aparecem, a ttulo de referncia para o leitor, antecedendo a cada um
dos 33 blocos que compem a histria, lembram tambm as manchetes jornalsticas. Cada
fragmento do conto iniciado por uma frase:
167
De como ele quase deixou a pretinha, A, otrio, segura... Eu avisei
voc pra largar a Kizzy, otrio., Que est acontecendo, preto?
(CN 10, 85)
Destinam-se, sim, estas frases, como chamadas de texto jornalstico, unificao
do discurso fragmentado da narrativa e/ou orientar o leitor e, ao mesmo tempo, resumir a
idia de cada um dos episdios que compe, na ntegra, o conto. Os recursos de roteiro e
manchete jornalstica fundam uma gramtica textual atravs da qual os personagens Kizzy
e William trafegam pela oralidade e pelos recursos visuais.
H dois tempos: o cinematogrfico dado pelas marcas rpidas sintetizadas nos ttu-
los oralizados: Certo, Preta. Ento eu vou me adiantar. (CN 10, p. 88)
E existe, ainda, no corpo dos 33 blocos que estruturam o conto, o tempo da narrati-
va, este, marcado pela escrita e, dessa forma, sujeito lgica dessa modalidade. No tocante
s chamadas, h um pronto manuseio de suas funes. Recurso ideal, portanto, para um
roteiro jornalstico ou cinematogrfico, texto, alis, que se utilizam desses suportes para
operar ou facilitar a comunicao. O exemplo aqui evidencia bem a realidade a que estamos
nos referindo: Era um carro de polcia. (CN 10, p. 91)
O registro rpido dos acontecimentos, feito de enquadramentos, a gramtica oral e
visual de Quando o malandro vacila . Mas apenas uma parte dessa construo textual.
Em contrapartida, a escrita, nesse conto marcado pela oralidade cinematogrfica
das chamadas, transita numa outra dimenso temporal. Na escrita, no corpo do texto feito
de discurso indireto, a rigor, o tempo mais lento. possvel entrever esse descompasso
temporal nesse fragmento inicial do conto e na chamada que abre o bloco seguinte:
1. De como ele quase deixou a pretinha
Tudo parecia irreal. O exagerado silncio noturno, as mortias luzes
amareladas despejando-se violentamente dos postes, a sensao da pele de
Kyzzy muito forte em suas mos. E ele teve a impresso de que nunca
tomaria o nibus para voltar pr casa. Mesmo aquele Volkswagen todo
estourado, pintado num brilhante azul de ofuscar os olhos parecia trazer a
morte subindo a rua em sua direo. E ele estava certo. O carro trazia
Mezinha, o branco da favela, que parou ao seu lado com um revolver ca-
libre 38 na mo:
Ai, otrio, segura...
(CN 10, p. 85)
168
O arquivamento da histria tem duas seqncias, todas fortemente marcadas por
uma dimenso cnica de um roteiro acoplado narrativa. assim que se do, intermediadas
pelos recursos cinematogrficos, as aproximaes das linguagens escritas e orais nas quais
a condio de vida do negro est inserida do comeo ao fim.
Marta Monteiro Andr, no conto O jantar, relata o percurso de infncia de Lino.
O conto rpido e capta, no plano da memria, a realidade dura da discriminao e da po-
breza vividas por Lino e J orge. Na festa de formatura: A cada vez que nos aproximva-
mos do grande portal , ramos empurrados para trs. (CN 10, p.102)
As realidades afetivas inconciliveis orientam as Cinco cartas para Rael. Miriam
Alves exibe, numa meditao romntico-reflexiva, os sentimentos de uma mulher abando-
nada.
Oubi Ina Kibuko, em Meditao afetiva, mostra lances de conscientizao e de
amor entre Kayod e Michele.
Os que morrem no vero, Como podia ser, se no fosse como e Para ter uma
boa morte so as partes que compem o conto Vida Provisria, de Ricardo Dias . Os
texto so mnimos . Os que morrem no vero expem a violncia e a fatura de um tiro-
teio entre marginais, todos negros, e a polcia. Os jovens negros, no fim da operao,
entram na dura estatstica das execues.
Sem nenhuma sofisticao na forma e no contedo, Snia Ftima da Conceio,
Nos casos de amor, mostra os desencontros afetivos de Zulmira. No h nada alm dos
relatos marcados pelo desencanto e fim do relacionamento.
Cadernos Negros 12 (1989)
O dcimo segundo volume tem dezesseis contos e onze autores no total, sete escri-
tores e quatro escritoras. A auto-apresentao abre, em destaque, cada um dos contos aqui
presentes.
Ablio Ferreira inicia, com o conto intitulado Caador, os Cadernos Negros 12. O
poema de Caetano Veloso, em epgrafe, bastante revelador do contedo do conto:
169
Caador
Eu queria querer-te e amar o amor
Construir-nos dulcssima priso
Encontrar a mais justa adequao
Tudo mtrica e rima e nunca dor
Mas a vida real e de vis
E v s que cilada o amor me armou
Eu te quero (e no queres) como sou
No te quero (e no queres) como s.
O autor, nome assduo nas ltimas inseres da srie, apresenta um texto no qual o
personagem Odorico envereda pela discusso e mais ainda pelo questionamento do prprio
nome e das relaes (discursivas) que discernem (ou no) um ser do outro. O nome justo,
a exemplo da escrita justa, influencia, no nada inconseqente, segundo Odorico, o pro-
cesso de nomeao:
Eu era gordinho quando ela me olhou pela primeira vez. Essa viso deve
t-la inspirado a escolher este nome que, sem dvida, contraria a minha
forma fsica atual.
Por outro lado, a imagem que desejamos ver, a aparncia, a parcialidade de tudo,
aqui centradas no nome e na sua influncia e na quase inseparabilidade do eu e tu, o
mvel das reflexes do conto :
Eis tu, ai, ento, a me olhar. Mas o que vs apenas a imagem que querer
ver. Rico, tu me chamas. Eu te olho, ternamente... Questionarias, dis-
cutirias comigo na busca desesperada do que queres que eu seja. Assim,
colados, achas que me confundo contigo.
(CN 12, p. 9)
Assim que Odorico, o Rico, como prefere, mergulha na relao afetiva ou de pro-
ximidade carregando, da mesma forma, as preocupaes que podem discernir, como ele
mesmo diz: o que sou e o que s (CN 12, p. 9)
No outro texto de Ablio Ferreira, Gestos, existe, numa espcie de conto contido,
um esboo para compor uma histria futura. H, at aqui, apenas uma cena.
Questo de afinidade, de Geni Mariano, intercala, na narrativa, as relaes afeti-
vas de Magui, uma negra casada com um branco, e o seu amante, Lo. O encontro afetivo
170
com Lo, o amante, descamba para o plano do passado e para a trajetria de vida e de mor-
te do seu av, que morreu envenenado com cacos de vidro modo.
O fragmento abaixo, do conto No Ponto, revela a elaborao nos dilogos e a
marca da invergadura narrativa de Cuti nesse volume:
Era uma jia negra. Eu a conheci num inverno de doer.
Noite. E este nibus que no vem... !
- Tem fogo?
- No - respondi com um sorrisinho recheado de imagens erticas, pro-
vindas de um calor diferente.
Ela no gostou nada daquela baba de garanho demod. Virou o rosto.
Percebi a gafe.
- Desculpe-me! - apelei.
(CN 12, p. 23)
Enquanto o pagode no vem, tambm de autoria de Cuti, reafirma os mesmos
investimentos dispensados, com maestria, nos dilogos e na evoluo da ao narrativa:
- J oel, esse aqui que te falei. Aquele da faculdade...
- Ah, o que gosta de samba? Vai fazer tese, no vai?
- .
- Muito prazer.
- Pode sentar, Orlando.
- Vai com a gente na cerveja? Ah, no bebe...
A rapaziada t chegando logo mais
- No, Orlando... O pessoal aqui nesse boteco faz samba da pesada. No
em garrafa e caixa de fsforo, no. O pandeiro t vindo a junto com o
tant, tamborim e cavaco.
(CN 12, p. 26)
A aproximao, o medo mtuo e a repulsa entre Bigail e uma barata alinham o tex-
to, Desejo esquecido na memria, de Esmeralda Ribeiro, da adeso temtica desenvolvi-
da em A paixo segundo G.H., de Clarice Lispector. Algumas frases revelam a dimenso da
influncia das reflexes de G.H.: Barata um ser que o tempo no decifra. ou Por que
este ser impe distncia e nojo? (CN 12, p. 33)
Po da inocncia, de Luis Cludio Lawa, estruturado em discurso indireto, um
mergulho na infncia mutilada pela fome e abandono. Mesmo com os pais, Adnis era, at
interromper a sua curta existncia, o retrato da inocncia e desamparo: Foi ao bule em
171
cima do fogo. Tinha umas gotas de caf. Bem ralinho, amarelado. E uma barata morta.
Retirou- a . Deve estar com gosto de caf, refletiu. (CN 12, p. 39)
O texto abaixo, que tem passagem pelo processo de caracterizao de Adnis,
comovente:
O menino escondeu um pedao de sabo. E numa noite clara de lua cheia
lavou a roupinha. E foi missa. L o padre assustou-se, ao ver num con-
fessionrio uma criana que no sabia nem ave-maria. Recomendo-lhe ir
ao catecismo. O menino pergunto-lhe se tinha muito pecado. O padre
confirmou. Disse que quem nunca confessou nem comungou tem pecado.
No desfecho, Adnis descobre que no tem pecado e se mata:
Foi ao armarinho e pegou a lata: Formicida Tatu...
Adnis morreu. O Adnis se suicidou!
A dimenso do abandono salta, com fora, quando o irmozinho de Adnis apare-
ce em cena:
O mais novo aproximou-se do caixozinho. O rosto contorcido do irmo
no lhe sugeria dor. Estava era com fome. Quem sua volta poderia pre-
encher o buraco que se avolumava, vindo pelas pernas, passando pela
barriga e chegando j cabea.
(CN 12, p. 42)
Mrcio Barbosa, atualmente um dos responsveis pelas publicaes da srie Cader-
nos Negros, participa com um texto que explora aspectos grficos. H uma profuso de
RRR , CRAHHHH e Bruuummm que cortam uma boa parte do texto Tranca estava indo
ao J otab. O recurso grfico serve para situar a significao deflagrada com o acidente:
Porm o automvel - um mercedes vermelho - exibiu sua fratura de feios ferros retorci-
dos e ningum passa naquele instante. (CN 12, p. 45) No mais temos um acidente e
Tranca ruminando, enquanto socorre ou deseja a morte das vtimas, o encontro com Lu-
ana, mulher baixinha, atraente. (CN 12, p. 45)
Vidinha, de le Semog, narrado em primeira pessoa, precisamente o significa-
do contido no ttulo, que revela e comprova uma realidade extratextual sem novidades.
172
Um dia ela foi flor nos jardins, de Arnaldo Xavier, continua a experincia formal
anunciada em edies anteriores.
Em Alice est morta, Miriam Alves narra a morte da personagem-ttulo e os arti-
fcios usados para conduzi-la at o lixo. Em Brincadeira 1, a mesma autora, situa, na
relao infantil, uma cena tpica de discriminao que redunda em morte: Ei, Mussum, t
feliz hoje? Zinho gostava de Mussum, mas no queria ser chamado assim. Zangou-se:
Meu nome J oo. O que Mussum, ficou nervosinho? No quer um mezinho para re-
frescar? (CN 12, p. 72) A reao de Zinho fatal: Abobalhados, recolheram o campanhei-
ro morto e desfigurado. Murmuravam aparvalhados, insanos: Brincadeira. Foi Brincadei-
ra. (CN 12, p. 73)
Presena e Antes que me espremam so textos militantes e Como uma mulher
de verdade resume-se num pequeno esboo despretensioso, todos de Oubi Ina Kibuko.
Snia Ftima Conceio, Em tempos de escravos, na ltima produo desse vo-
lume, apresenta um texto de pouca imaginao e centrado na insero e abordagem da dis-
criminao.
Cadernos Negros 14 (1991)
Os escritores Conceio Evaristo, Cuti, Esmeralda Ribeiro, Henrique Cunha J r. , Lia
Vieira, Mrcio Barbosa e Oubi Ina Kibuko assinam os contos do volume 14. No h pre-
fcio e nem a auto-apresentao desenvolvida, por exemplo, nos Cadernos 12. Oubi Ina
apresenta treze pequenos textos. A coletnea, no conjunto, tem sete contos.
Conceio Evaristo pe em cena, na abertura, Di Lixo e Maria, dois contos cu-
jos narradores se apresentam em discurso indireto. Di Lixo, quinze anos, sem pai e me,
morador de rua o retrato dos jovens abandonados. A propsito, Di Lixo, cujo nome
referncia ao ato de chutar latas de lixo, morre aos 15. Maria mostra que o mundo negro
e da pobreza esto extremamente prximos. Mas este mundo tem propriedades estranhas.
Maria, empregada domstica, dois filhos, morre linchada. Fora confundida com ladres.
O batizado, de Cuti, foca, com discurso indireto, com planos e com intervenes
em blocos dos personagens em momentos distintos, a festa e a briga inesperada. Tudo
regado a cachaa e expondo a realidade dos negros e dos seus observadores: A vizinhana
173
solta a imaginao e chama a polcia, que chega bem depois do deixa-disso ter colocado
os mveis no lugar e as pessoas no juzo. (CN 14, p. 22)
Diz-se, a propsito de uma criao literria, que a histria verossmil quando se
ajusta realidade. A realidade ficcional no exatamente a realidade objetiva. A verossimi-
lhana ancora-se na realidade mais ampla, mas no caso do sobrenatural e do fantstico exis-
tem outras realidades interpostas, sobrepostas atuando. No texto apresentado por Esmeral-
da Ribeiro, Guarde segredo, do qual transcrevemos um trecho elucidativo, a discusso
pode ser comprovada:
Gritei chamando vov. Fui entrando, entrando ouvi o Lima Barreto es-
crevendo mquina. Conversavam e riam muito. Por um momento, juro
t-lo ouvido dizer: Espervamos por voc. Entre. Eu pensava: Tudo es-
t acontecendo ao mesmo tempo.
- Voc matou Cassi J ones? - Ele interrompeu o meu devaneio.
- Matei - respondi. Como soube disso?, interrogue- me.
- Bravo! Esse era o outro final que queria para o cafajeste do Cassi J o-
nes.
(CN 14, p. 28)
O verossmil, no texto de Esmeralda, dado pela relao com a desconstruo da
histria original criada por Lima Barreto e refeita, sob os efeitos ideolgicos dos movimen-
tos negros contemporneos, para uma melhor adequao realidade atual.
Ver vendo, de Henrique Cunha J r., explicita as condies de aproximao com o
continente africano. Fico e realidade esto entranhadas na histria em si e no exerccio de
incluir, nas franjas do narrado, a impresso e/ou o relato real do militante negro. O que h
a desvendar, nesse trajeto, so os dois movimentos. O primeiro nos navios apinhados de
negros para o trabalho escravizado e o segundo, no retorno, que se caracteriza como fruto
de uma permanente rebeldia e auto-determinao negra.
Foram sete, de Lia Viera, localiza a histria num morro e com uma eficaz caracte-
rizao dos personagens e espao. Desse espao-cenrio de vida e do seu cotidiano, marca-
do pela violncia sexual e tantas outras, saem as mulheres negras para a vida. A vilania
pr-anunciada pelo histrico do seu Safa-Ona vital para a compreenso do enredo da
histria:
174
Seu Safa-Ona, buliu comigo dizendo gracinhas. (...)
A histria do seu Safa-Ona ainda ia acabar mal. Eu mesma ia ter que fa-
lar com seu Sete.
(CN 14, p. 40)
Nesse mundo inspito, Maria do Balaio, Flor de Liz, Aruanda e Luanda perfilam
nomes e uma atmosfera feminina e de contato com os orixs e com a violncia, anunciada,
que explode:
Aruanda aninhada no cho. A vela se seu Sete apagada. Me arrepiei . Fi-
quei ali. Achei- me perdida. Amaldioei baixinho: - Filho da puta! Foi
quando o raio cortou os cus e dividiu os meus pensamentos que foram
indo, indo, e s voltaram quando os vizinhos comearam a gritar que eu
acabara com o seu Safa-Ona.
(CN 14, p.41)
Carne, conto de Mrcio Barbosa, apresenta um plano de construo que revela a
constituio de um escritura centrada na literatura e militncia. Existe uma sntese analgi-
ca. O aspecto de militncia, o texto aqui uma excelente referencia, no se limita a produ-
zir discursos anti-racismo. H um deslocamento para a incluso de uma parte da realidade,
na qual esto os homens comuns: Alba, Man, Kamau, Jamila etc.
Outro procedimento inclusivo da condio do negro, numa narrativa muito bem es-
truturada como a que se apresenta no conto Carne, vincula-se apresentao, a exemplo
de um noticirio, dos fatos:
Policial acusado de racismo pode ser reconhecido hoje, dizia um dos re-
cortes. Aquilo o interessou. Leu mais: J orge Franklin de J esus vai hoje
corregedoria da polcia civil para reconhecer os policiais que o prenderam
... um dos policiais chegou a dizer que negro em carro novo suspeito e
se corresse ele atirava... Passou os olhos pelos demais: empresria acu-
sada de racismo no Paran, briga entre faces aumenta na frica do Sul.
(CN 14, p. 45)
A conciliao de literatura e militncia, na trajetria da srie Cadernos Negros, se-
gue lances que passam pela caracterizao dos personagens e dos espaos nos quais se do,
numa espcie de ajuste literrio, a manifestao dos personagens e das suas aes orienta-
175
das ou orientadoras desses efeitos de fico e realidade. Em outras palavras, so efeitos de
linguagens. Efeitos, alis, marcados pela incluso de recursos, por exemplo, jornalsticos
que vo assegura ao texto Carne, de Mrcio Barbosa, um adequado processamento do
eixo literatura e militncia racial. O conto mostra que no se trata, apenas, de entrar em
contato com os fatos diretos ou a verdade dos fatos, mas estabelecer literariamente uma
relao de conformidade entre as significaes artsticas (dadas pelo texto escrito) e o sis-
tema de representaes dos personagens negros e movimentos negros. Estamos consideran-
do, nesse plano, que o mundo do personagem e todos os demais recursos da escritura esto
extremamente prximos da experincia acumulada pela militncia.
Atltica Blitz, Um prncipe encrencado, Um toque de afeto, Canto carnava-
lesco, Um ditador de raa, Acordo violado, conto do home, Por uma razo de
existir, Inspirado numa charge de J aguar, Com foras quase semelhantes, O embru-
lho, Preldio amoroso e S assim possvel foi formam a microcadeia de planos e ce-
nas apresentados por Oubi Ina Kibuko que, no entanto, no se constituem em conjunto,
devido a variedade de enfoques, um conto e nem isoladamente, cada cena, um trabalho
literariamente consistente.
Cadernos Negros 16 (1993)
Fato inusitado at esta edio, dos dez autores, que fazem parte deste Cadernos Ne-
gros 16, seis so mulheres, o que constitui uma maioria. Representam as incurses femini-
nas as autoras Conceio Evaristo, Esmeralda Ribeiro, Eliane Rodrigues da Silva, Eliete
Rodrigues da Silva Gomes e Lia Vieira. Os escritores esto representados por Aristides
Barbosa, Cuti, Mrcio Barbosa e Oubi Ina Kibuko.
Na contracapa, no texto de autoria do Quilombhje, somos informados que as especi-
alistas em literatura Gizla Melo do Nascimento e Isis Valria Gomes e a leitora Marisa
Mateus dos Santos participaram do processo de seleo dos textos coligidos aqui. A apre-
sentao assinada pelos escritores Cuti, Esmeralda Ribeiro, Mrcio Barbosa, Oubi Ina
Kibuko e Snia Ftima Conceio. Representando, tudo indica que sim, o grupo Quilom-
bhoje.
176
guisa de um melhor enquadramento e compreenso, o texto de apresentao, inti-
tulado Um pouco de histria 2, complementa, ao longo dos anos, uma outra publicao,
de 1985, cuja inteno, segundo os escritores, erafornecer dados sobre nossa atividade e
o contexto em que ela se inseria. (CN 16, p. 11)
Hoje, os propsitos so, portanto, os mesmos. Somam-se, ainda, os dados novos e
colhidos pela periodicidade e persistncia da srie:
Sem ultrapassar a edio de 2.000 exemplares por ano (de 1978 a 1992),
podemos aferir agora um total de 20.000 em toda a srie. Para ns, alm
desta publicao coletiva, importante lembrar os 7.000 livros referentes
a 8 ttulos de obras individuais dos membros do Quilombhoje, incluindo
as de trs que j se afastaram do grupo (J amu Minka, Ablio Ferreira e
Miriam Alves).
(CN 16, p. 12)
A partir dessa base surgem outros nmeros que revelam, de forma expressiva, a es-
trutura coletiva e a concepo que viabilizam, nesses 16 anos, nas publicaes anuais, 66
autores. (CN 16, p. 12)
A microcadeia constituda pelos autores, ao longo dos 16 anos, perpassada pelo
nexo comunicativo traado pelo Quilombhoje. No dizer dos apresentadores, vale aqui sali-
entar, o Quilombhoje no o conjunto dos autores dos Cadernos Negros. (CN 16, p. 13)
No obstante essa delimitao, o grupo institui, na sua ao, a teia horizontal cujo sentido
aproximar os textos, os autores e as somas de enfoques. Isto a macrocadeia do processo
na qual, da mesma forma, a ao dos Cadernos constri-se acrescendo uma unidade que
extrapola os textos e reconstri-se , igualmente, numa relao dialgica, com segmentos da
populao e dos movimentos negros. A unidade referida inclui e traz implicaes nas rela-
es com os leitores. No demais reafirmar que os contos e poemas dos Cadernos Ne-
gros visam comunicao com os leitores:
A fico e a poesia negra brasileira seguem os avanos e recuos do seg-
mento de onde nascem, mas por vezes vo frente, abrindo-lhe o cami-
nho.
(CN 16, p. 12)
177
No um circuito fechado. Isto significa, na compreenso dos mantenedores da s-
rie, entender o lugar social e literrio dessa produo. De outro modo, isto significa que o
processo literrio, por uma parte, e as aes militantes, por outra, no so realidades que se
opem, nem que uma opera (sem tenses) camuflando a outra. Estamos, na perspectiva dos
Cadernos, diante de formas diferentes mas complementares de expresso e/ou enfrentamen-
to de um mesmo problema, qual seja, o racismo e o universo simblico atravs dos quais
ele se perpetua, se no o enfrentarmos, nos textos ou pior ainda, no silncio no qual ele ten-
ta se eternizar.
A organizao, as publicaes coletivas e o vnculo orgnico militncia racial
e/ou racial-literria expem um trilha de lutas e de campos do conhecimento em conflun-
cia (em consonncia) e o negro, aqui no h meias palavras, no centro. Mas o nmero de
possibilidades e enfoques tem nomes e articulaes que os escritores desejam explcitas:
Tambm sabamos da necessidade de se afastar o silncio opressivo sobre
a memria; conquistar para nossas vidas a perenidade da palavra impres-
sa; revisitar e divulgar nossos autores, recuperando o sentido de uma tra-
dio literria; ofertar o Movimento Negro para a necessidade de valori-
zao da leitura, para o poder que tem a literatura de mover em profundi-
dade as pessoas; romper com a subservincia esttica,; incentivar a busca
dos parmetros da literatura das dispora africana, subsidiar as novas ge-
raes com este mergulho na cor da pele, revelando seu contedo simb-
lico, sua dimenso humana; impulsionar e valorizar a subjetividade do
contingente afro- brasileiro ; no ter papas nas letras ao falar do racismo e
suas variadas escamoteaes verde- amarelas. esttica
(CN 16, p. 13)
A vivncia afro-brasileira d a tnica dos Cadernos 16. Aristides Barbosa, no conto
Tia Fren e o frentenegrino, situa esse experincia na dcada de 30. Os nomes, expressos
no ttulo, so indicativos dessas relaes e a histria tambm. Alis, os personagens Maciel
e Bide, o Alcebades, nesse conto arquitetato com discursos direto e indireto, so apresen-
tados Frente Negra.
Conceio Evaristo participa com o conto Duzu-Querena. A autora d-nos uma
gramtica da realidade do texto e do contexto expostos por uma escritora e, do mesmo
modo, entrega-nos a tarefa de extrair deles a estrutura gramatical. Assim, o narrador, de
imediato, situa o lugar e as condies objetivas de Duzu:
178
Duzu lambeu os dedos gordurosos de comida, aproveitando os ltimos
bagos de arroz que tinham ficado presos debaixo de suas unhas sujas. Um
homem passou e olhou para a mendiga, com uma expresso de asco. Ela
devolveu um olhar de zombaria.
(CN 16, p. 29)
Se, no primeiro momento, a narrativa nasce da utilizao descritiva da personagem
como se fossem as situaes irreversveis, no segundo momento surge uma interveno do
narrador intrometendo-se, numa participao consciente, e dando asas ao personagem:
Se as pernas no andam, preciso ter asas para voar.
(CN 16, p. 30)
E dessa forma que a personagem viaja para o passado, a infncia e a sua trajetria
pessoal e familiar, e arma discursivamente e num vo a materilizao das asas e um sentido
de felicidade:
Duzu voava quando perambulava pela cidade. Voava quando estava ali
sentada porta da igreja. Duzu estava feliz. Havia se agarrado aos del-
rios, entorpecendo a dor.
(CN 16, p. 31)
Vida em dvida, de Cuti, nos revela o mundo da violncia recheado por exterm-
nio e ameaas. A morte assalta esse conto cuja ao se desenvolve, no apenas uma ques-
to do espao, nos movimentos e gestos animados pela violncia. O enredo, a servio da
histria, trama, atravs de discursos diretos e indiretos e com a participao ativa dos per-
sonagens e do narrador que emblematiza, em certa passagens, um ngulo que ativa as teias
construdas pela militncia: Onde andar o Padre Bastista, que tanto protegia a molecada,
sobretudo os que desejavam trabalho? (CN 16, p. 42)
Dvida em Vida, tambm de Cuti, assenta, em discursos fossilizados pela socie-
dade brasileira, a sua estrutura para tratar dos direitos retroativos, lgico, dos negros . A
narrativa se serve, para esse intento, de frases personagens ou frases que sincreticamente
expem personagens coletivos:
179
( ...) destacam- se os Brancos cujos Melhores Amigos so Negros, os No
Tive a Inteno de Ofender, a Senhora Democracia Racial - exibindo seu
rosto de duas mil plsticas - e o Deputado Amor no Tem Cor. Bem
frente do conferencista notava-se o Reverendo Somos Todos Iguais.
(CN 16, p. 46)
As frases se apresentam como um sistema falacioso para encobrir a realidade racial
brasileira. Apesar de cada frase possuir um valor, a idia no se d de forma segmentada.
As frases personagens movem-se, todavia, no campo de pelo menos duas hierarqui-
as, relacionadas de uma maneira ou de outra ao contexto, mas de forma antittica. H, num
mesmo espao mas com funcionalidades distintas, a hierarquia da luta anti-racismo e a hie-
rarquia do pendor de embranquecimento e de negao do racismo. As mesmas frases ou as
diferentes frases no permanecem iguais a si mesmas, do ponto de vista da composio de
idia; surge uma agitao semntica que enriquece o aspecto literrio que, a despeito do
ardor militante subjacente ou explcito, cria na prpria narrativa, entendida como um espa-
o, o lugar dos sentidos que se do, enfim, no seio de um contexto ( literrio e extra-
literrio) dinmico e complexo.
Eliane Rodrigues da Silva e Eliete Rodrigues da Silva Gomes so parceiras no conto
Queci-Quece, cuja histria se desenvolve no sculo dezoito, em Minas Gerais. As autoras
contam, de forma linear, a fuga de Isabel, a Queci-Queci, pssaro livre e belo, para um
quilombo. (CN 16, p. 52)
Esmeralda Ribeiro rompe barreiras com procura de um borboleta preta. O per-
sonagem vivido por uma telefonista, numa atitude de intromisso, acompanha, numa linha
cruzada, a histria de uma mulher, Leila, que tem um borboleta preta no tero. Os perso-
nagens entram e saem com os dilogos que descortinam o motivo detonador da ligao:
- Por favor, encontre a minha Borboleta Preta.
- O qu? Como, Leila?
- No sei pra onde ela foi, Baby.
(CN 16, p. 54)
A telefonista, tal como uma cmara ou um gravador, vai recolhendo e revelando a
histria, mas pede segredo: Mas, ningum do Centro Humanitrio deve saber que narrei
essa histria. (CN 16, p. 54)
180
Lia Vieira segue a saga de Esmeralda Ribeiro e da vida, igualmente, para mulheres.
Por que Nicinha no veio? e He-Man so texto concisos. No primeiro, retrata-se
a vida na cadeia e a relao de Nicinha com a sua filha presa. O atropelamento de Nicinha
fecha o mundo externo para a detenta, mas revela com as janelas da vida que transcorria,
talvez da mesma forma, aqum e alm dos muros, uma sina de igualdade entre os mundos:
nica amiga, cumpriam juntas a pena, uma dentro outra fora das grades. (CN 16, p. 64)
No segundo, He-Man, revela o mundo infantil, a pobreza e as circunstncias (sociais e
raciais) que empurram os destitudos, desde a mais tenra idade, para o roubo.
MrcioBarbosa trabalha dois contos. Espelho, discurso indireto e direto para revelar
o racismo, capta na televiso, a partir da trajetria de uma menina negra que queria ser mo-
delo, a invisibilidade da negrura ou como diz J oel Zito Arajo a negao do Brasil:
126
- Eu gosto do seu cabelo , do seu nariz... e sua pele.
- Mas no tem modelo preta na TV.
(CN 16, p. 72)
Roedores fala de homem que se rataniza:
Apertaram-se mais ainda quando ele virou-se para vocs. Ameaador.
Dentes descomunais que poderiam destro-los. Um grito!
- Uma pedra!
Tiro forte, certeiro. A cabea do roedor esmigalhada. Sangue. A nusea
invandindo-os.
(CN 16, p. 75)
A aluso ao racismo fica exposta neste fragmento: Nos bares, piadinhas racistas
entre goles de cerveja. noite, com raiva, vocs caavam ratos. Usar as coisas dos negros e
jog-los fora. Atitudes de ratos...(CN 16, p. 76) A ratanizao dos racistas e a conseqente
contra-violncia aflora ainda mais nessa cena:
Vocs abservavam as terrveis mozinhas suajs, os olhinhos medocres.
Viam como inspiravam repulsa ao mexerem as cabecinhas cata de res-
tos. Quando podiam, vocs arremessavam uma pedra num deles que, es-
magado, ficava exposto ao nojo pblico.
126
Arajo, J oel Zito Almeida de. A negao do Brasil: o negro na telenovela brasileira- So Paulo: Editora
SENAC So Paulo, 2000.
181
A metfora da ratanizao o mote para a separao do casal: Nenhuma palavra
sobre os brancos. O amor transforma-se. As diferentes cores dos seus corpos, que antes
nem eram notadas, desde ento forneciam justificativas para recusas. (CN 16, p. 78) Um
no pode saber o qu o outro verdadeiramente sente. (CN 16, p. 79)
Os roedores revelam um pouco da trajetria de Mrcio Barbosa, na evoluo lite-
rria dos Cadernos. Sem limitaes e sem o uso restrito da molilizao panfletria, tem
comprovado, ao longo da construo da srie, um excelente domnio dos recursos e tcni-
cas narrativas, com as quais coloca em evidncia os indcios reveladores das posies que
incluem a vertente constitutiva da temtica da militncia.
Reencontro, de Oubi Ina Kibuko, mostra um encontro no trem do metr. Aba-
yomi e Kawame trocam dilogos e vivem uma atmosfera de proximidade afetiva passando
pela questo negra e pelas estaes. A ltima parada, de forma emblemtica e significante,
a Estao Luz. (CN 16, p. 92)
Obsesso, de Snia Ftima da Conceio, passa pelos relacionamentos fratura-
dos. A obsesso, sintetizada na procura por uma camisa xadrez de flanela, apenas uma
veia ou canal pelo qual o cotidiano e as coisas da vida vo sendo expostas.
Cadernos Negros 18 (1995)
A capa dos Cadernos Negros 18 soma imagens negras e textos escritos por militan-
tes de trs das organizaes mais importantes dos Movimentos Negros. Gevanilda Gomes
dos Santos fala pela SOWETO Organizao Negra, Milton Barbosa responde pelo MNU
e J uarez Tadeu de Paula Xavier pela UNEGRO Unio de Negros pela Igualdade. Os mi-
litantes enfatizam, cada um a seu modo, a persistncia e a importncia dos Cadernos Ne-
gros e do Quilombhoje no contexto brasileiro.
A edio ficou, do ponto de vista editorial, sob a responsabilidade do Quilombhoje
e da editora Anita Garibaldi.
A apresentao, sob a responsabilidade do Quilombhoje, recupera as lutas e os le-
gados negros construdos desde Palmares at a dcada de 70. No ano alusivo aos trezentos
anos do advento de Zumbi e Palmares, as aproximaes com a saga dos quilombos no
182
poderia ser furtada. assim que os oito autores, selecionados entre outros, por Benedita
Aparecida Lopes, o professor Muniz Sodr e o escritor Oswaldo de Camargo, tm a tarefa
de continuar, na literatura, a saga dos Movimentos Negros do presente e do passado.
Ablio Ferreira, Conceio Evaristo, Cuti, Esmeralda Ribeiro, Lia Vieira, Mrcio
Barbosa, Ramatis J acino e Snia Ftima da Conceio sos as estrelas dessa edio Cader-
nos e da escritura negra nos trezentos anos de Zumbi.
Um exerccio narrativo de Ablio Ferreira abre o livro. Alterando a sequncia de
comeo, meio e fim ou introduzindo recursos para quebrar a sequncia linear, o texto utiliza
um fato do nosso dia-a-dia para rescrever Sete viagens coletivas que formam, a rigor,
apenas seis verses. A stima, como veremos nas concluses, deve ou melhor, pode ser
feita pelo leitor. A mesma histria repetida e recriada principalmente com a intromisso
do narrador e com a alterao de enfoque dada graas s posies assumidas pelos persona-
gens que, em cada uma das verses, mostram um novo ngulo de abordagem. O incio de
cada uma das verses elucida o que pontuamos:
1
Mas que mulher folgada. V s. Quase me estraga o ganha-po. ... No
quero nem pensar se todo mundo resolve protestar contra a superlotao
do nibus. (p. 11)
2
Gosto de levar a vida na flauta. Malandragem, sabe, como que ? Eu te-
nho uma coisa que no sei explicar.
3
Podia acontecer com qualquer um de ns. Voc vai at a rodoviria, pega
uma fila enorme e compra sua passagem com antecedncia. J ustamente
para ter tranquilidade na hora de viajar.
4
Preferir desembarcar, andar um pouco, voltar para a rodoviria. No me
incomodei de embarcar mais tarde.
5
Aquele deve ser bicha. Eu, heim?!... Sentiu-se mal, sufocado, chiou. Pura
veadagem.
183
6
Um absurdo. Eu no me sentaria naquele banco assim, com aqueles res-
qucios de vmito. Pedi gentilmente ao motorista que chamasse algum
para limpar.
A improvisao ou o exerccio criativo deixa uma margem aberta para o leitor mon-
tar a verso de nmero sete. Os mltiplos sentidos, as possibilidades que ficam descobertas
com as seis perspectivas sugerem esse jogo de flexibilidade, agora, com a participao
ativa do leitor.
O prximo texto Ana Davenga, de Conceio Evaristo. Gostaramos de desta-
car, antes da leitura do conto, a atuao da autora em questo e tambm ressaltar a trajetria
de Esmeralda Ribeiro, Lia Vieira e Miriam Alves, at o momento, pelo que pudemos per-
ceber, vozes importantes na constituio, no bojo da srie, de um eu feminino enegrecido.
Desde os primeiros volumes dos Cadernos Negros, a presena feminina tem sido
marcante. Numericamente pequena em alguns livros, mas mesmo assim muito significativa
do ponto de vista da introduo, podemos dizer assim, de uma retrica capaz de insuflar ao
cotidiano e ao banal a condio existencial da mulher negra, trao presente no conto Ana
Davenga, cuja histria envolve roubo e a morte de Ana e Davenga, seu marido.
O melhor amigo da fome e Sada marcam a participao de Cuti. O primeiro
uma cena rpida envolvendo um mendigo. Sada, intercalando discursos indiretos, diretos
e fluxo de conscincia, nas malhas impossveis do alcoolismo, narra a morte de J urandir,
cuja existncia confunde-se com o vcio.
Esmeralda Ribeiro, no texto O que faremos sem voc?, articula um histria que
tem uma configurao de conto policial. Com recursos de flash back, o crime, os suspeitos
e as dvidas so, afinal, elucidados. Os aspectos significantes e significativos do conto pas-
sam pela questo racial. Saltam, aos olhos, os nomes, mas h outras interlocues com a
causa negra no texto e no contexto. O Reparation Hotel encarna, no espao, as aes de D
J orja, relaes pblicas, negra, do Sr. Holl, proprietrio do hotel e do tambm negro Pedro
Mauro do Movimento Indenizaes Agora. Pedro Mauro aparece morto no poo do ele-
vador do hotel. O assassino, depois dos apartes e discusses, recursos fundamentais num
conto policial, apresentado ao leitor.
184
Operao Candelria no traduz somente a realidade da violncia contra negros e
o crime organizado. O texto durante o desenrolar das aes apresenta um painel giratrio
no qual o espao e os personagens vo aparecendo e a histria, da mesma forma, tem o seus
lances perfilados. O alto comando da polcia e os empresrios do crime falam a mesma ln-
gua: Besta/6 anunciou, ao fazer-se visvel. - Bom dia! saudou e deu a contra-senha,
dizendo em seguida: - Sou enviado da Besta/1. A autora se serve, ainda, de um recurso,
tpico de dirio, apresentado as datas, os horrios, os dias da semana para situar melhor o
clmax e o desfecho da chacina: Segunda feira - 20 de julho manh(CN 18, p. 49)
Viver outra vez tematiza a relao afetiva entre geraes distanciadas no tempo
mais prximas nas idias. um texto, no entanto, despretensioso. Sob a pena de Mrcio
Barbosa, a militncia poltico-racial e a violncia contra jovens negros ilustram, como pano
de fundo, o ato de viver outra vez de um senhor, militante poltico, e uma jovem que por
fim engravida.
Ramatis J acino faz mais uma apario nos Cadernos Negros escrevendo dois con-
tos. No primeiro, Espies, o personagem narrador, primeira pessoa, conta o modo e as
razes pelas quais os vizinhos, numa favela, o espiam atravs da fechadura e das paredes.
No segundo, O cercado, a idia mostrar as sucessivas cercas que exigem contnuos
esforos e solidariedade para serem, mesmo parcialmente, vencidas. Os conflitos nos dois
contos so prximos e conciliveis de uma mesma recorrncia. Em outras palavras, cercado
ou vigiado os conflitos pem a nu o isolamento humano.
Snia Ftima da Conceio escreve, como ltima pea literria desse volume, o
conto N 505. Prises de loiras meliantes e o racismo materializado no medo, inculcado,
e real da violncia racial expressam, na ao policial e nas propagandas, essas teias:
- No disse! a polcia sim.
(CN 18, p. 70)
Precisa-se auxiliar contbil
Escolaridade de 2 grau completo
Experincia de um ano
preciso boa aparncia.
(CN 18, p. 75)
185
Cadernos Negros 20 (1997)
O vigsimo nmeros dos Cadernos traz, na orelha incial do livro, as consideraes
assinadas por Haroldo Macedo, diretor responsvel da Revista Raa. O olhar negro sobre
a palavra, sobre a vida e o significado da srie no tocante resistncia elevam, no discurso
de Aroldo Macedo, os Cadernos Negros altura, na sua importncia e trajetria, aos Qui-
lombos. Aqui trata-se, na realidade, de um Quilombo literrio.
A orelha final do livro ficou a cargo de Kljay dos Racionais MCs. As relaes
sempre tangentes entre educao, leitura e a realidade racial marcaram as abordagens do
militante do Rap, ou se quiserem, do Movimento Cultural Hip Hop.
Dulce Pereira, presidente da Fundao Palmares, elabora, na contracapa, uma expo-
sio que recupera o significado histrico da srie. Na reflexo de Dulce, os Cadernos, nes-
se singular movimento coletivo, trouxeram para o mbito literrio a perspectiva textual e
os acmulos da expresso literria afro-brasileira urbana.
O prefcio, de Carolyn Richardson Durhan, professora da Texas Chistian Univer-
sity, destaca a vivncia da tradio afro e a identidade negra como parte da realidade do
pas. A pesquisadora pondera ainda a propsito do cenrio literrio e extra-literrio cons-
trudo pela interveno da srie. Diz a estudiosa que a produo dos CN estende-se por va-
riados temas e perspectivas narrativas. Em sntese, os Cadernos criaram uma literatura
com uma conscincia negra, cujas abordagens passam pela herana africana, pelos valores
religiosos afro-brasileiros e redimensiona o legado do trabalho escravizado. (CN 20, p. 10)
Na concluso, Carolyn pe em destaque o foto de essa produo ter rompido os limites da
lngua e fronteiras territoriais . assim que os Cadernos so, hoje, estudados e publicados,
entre outros lugares, nos Estados Unidos e na Alemanha:
Suas obras so estudadas em universidades prestigiosas dos Estados Uni-
dos - entre elas, Princeton University, Tulane University, University of
California, Texas Chistian University, e outras. As estantes de dezenas de
bibliotecas universitrias tm cpias das obras de autores afro- brasileiros
que Cadernos Negros apresentaram ao pblico. A influncia da srie Ca-
dernos Negros na frica, Amrica do Norte e outras partes da Amrica
Latina se deve em parte ao estudo dos acadmicos que escrevem sobre as
obras e apresentam seus trabalhos em congressos internacionais e publi-
cam suas anlises nas revistas dedicadas crtica literria.
(CN 20, p. 12 )
186
A apresentao, escrita pelo Quilombhoje, repassa setenta e oito, ano no qual
houve o advento dessa produo. A lugar das greves no ABC, os protestos estudantis e os
estertores da ditadura militar delimitam, em parte, o lanamento dos Cadernos. Conside-
rando esses fatos, no mbito da luta anti-racismo, os processos de mtua influncia entre
conjuntura nacional e a retomada de um instrumento poltico de expresso nacional, O
Movimento Negro Unificado Contra a Discriminao Racial, determinam um novo centro.
O marco inicial, o Movimento Negro Contra a Discriminao Racial, hoje o histrico
MNU, nos argumentos dos apresentadores, estende-se, numa articulao mais ampla, com
a criao do Festival Comunitrio Negro Zumbi, o FECONEZU, o qual reunia negros
preocupados em preservar sua herana cultural e organizar-se politicamente. ( p. 15)
No se pode entender os Cadernos Negros sem este contexto, ou seja, os Movi-
mentos Negros de Expresso Poltica e os Movimentos Negros de Expresso Cultural com
os quais os Cadernos Negros dialogam a centralidade de um projeto de superao das desi-
gualdades raciais. O primeiro exemplar, lanado no Festival Comunitrio Negro Zumbi,
uma prova dessas interlocues e do dialogismo imanente ao processo:
O primeiro volume de Cadernos era um livro feito em formato de bolso,
reunindo oito poetas. Foi lanado no FECONEZU, realizado, em 78, na
cidade de Araraquara. Antes dos Cadernos j haviam sido feitas tentati-
vas similares. Em 1977 o jornalista Hamilton Cardoso havia organizado a
coletnea Negrice 1. Em 1976, uma entidade da cidade de Santos publi-
cara a Coletnea de Poesia Negra.
127
Estes, porm, no so os nicos fatores que explicam o carter de um circuito de in-
terveno dos Movimentos Negros. Encontram ressonncia e so fundamentais para as pu-
blicaes, que eram mimeografadas, um incipiente movimento de imprensa negra e um
movimento cultural mobilizador da juventude negra. (CN 20, p. 15)
O jornal rvore das Palavras, cuja organizao editorial, entre outros, ficava a
cargo do poeta J amu Minka, interliga os movimentos, construdos no mbito da luta polti-
ca e literria, com o movimento soul , com os jovens negros frequentadores do Viaduto do
Ch e dos bailes da comunidade negra paulistana.
127
Conforme Cuti ( Luiz Silva) , no texto Umpouco de Histria. publicado emCadernos Negros 8 ( org.
Quilombhoje) . So Paulo: Ed. dos Autores , 1995.
187
Conforme afirma o texto de apresentao, Cuti e Hugo Ferreira propuseram os
Cadernos. A sugesto do nome foi de Hugo. Segundo Cuti, O CECAN - Centro de Cul-
tura e Arte Negra -, naquela poca situado na Rua Maria J os, no Bairro do Bixiga, foi o
ponto de encontro entre escritores que iniciaram a srie
128
Em 1980, nasce o Quilombhoje. O que caracteriza o Quilimbhoje justamente a
capacidade no s de discutir os textos da srie e a produo individual dos autores, mas
tambm facilitar as articulaes, de uma forma coletiva , do processo de seleo e de conti-
nuidade dos Cadernos.
Da formao inicial do grupo, no perodo no qual Cuti era o responsvel pela orga-
nizao dos Cadernos Negros, contamos os seguintes nomes: Abelardo Rodrigues, Cuti,
Mrio J orge Lescano, Paulo Colina e Oswaldo Camargo.
No ano de 1982, na poca da edio do volume 5, h um significativo crescimento
do grupo Quilombhoje. Entram para a histria, alm de Cuti, os nomes de Esmeralda Ribei-
ro, J amu Minka, J os Alberto, Mrcio Barbosa, Miriam Alves, Oubi Ina Kibuko, Snia
Ftima da Conceio e Vera Lcia Alves.
A edio atual, os Cadernos Negros 20, apresenta, frente do Quilombhoje, os es-
critores Mrcio Barbosa, Esmeralda Ribeiro e Snia Ftima da Conceio.
No tocante aos CN 20 (1997), o prefcio, na voz da pesquisadora americana Carolyn
Richardson Durham, esboa uma anlise geral enfatizando a variedade temtica referenci-
ada na vida dos afro-brasileiros sempre, num exerccio iniciado com os CN 1, com os
componentes racial e cultural permeando os discursos e as aes de narradores e persona-
gens dessa trajetria de valorizao da matriz africana e dos negros na dispora.
Neste plano, nos argumentos da estudiosa americana:
(...) os autores analisam elementos como a discriminao institucionaliza-
da, a brutalidade policial, o desemprego, a violncia contra os meninos de
rua, os conflitos urbanos entre grupos minoritrios, a assimilao cultural,
a miscigenao, os heris afro-brasileiros esquecidos na histria, o contato
com as outras culturas negras nas Amricas, a fome e a misria, a quali-
dade de vida e outros temas. uma literatura que inclui a via na fazenda
nordestina tanto quanto a existncia na cidade industrial do sul.
(CN 20, p. 11)
128
Id .Ibid.
188
Os Cadernos, nas suas narrativas, abrem espaos para os temas expostos acima e
para outros, presentes na vida cotidiana e na memria cultural da afro-dipora, que ora a-
tualizam pedaos do discurso de literatura e identidade negra, ora os combinam com frag-
mentos de outras formaes discursivas, resultando, muitas vezes, em solues que incor-
poram recursos jornalsticos, como no primeiro conto que abre essa coletnea. No texto
escrito por Ablio Ferreira, Policiais morrem em acidente com viatura (p. 21), a histria
se serve de uma matria jornalstica. Fictcia ou no, o que importa o recurso usado com a
finalidade de combinar mecanismos de produo de texto, nesse caso, recursos da modali-
dade jornalstica para ampliar os efeitos e alcance da ao literria desenvolvida. O pr-
texto, cuja manchete o prprio ttulo do conto, comea assim:
Dois policiais morreram ontem, depois de baterem com a viatura nmero
0588 contra uma rvore, na altura do Km 100 da rodovia Princesa Isabel.
Ronaldo Veronezzi (5) e J osu da Silva (27), os ocupantes do veculo.
Eles morreram no local.
(CN 20, p. 21)
No conto, com recursos de discurso direto e indireto, descobrimos que o texto jorna-
lstico, construdo com objetividade, no flagrou a totalidade do acontecido:
Nego J uca caminhou ao redor do que sobrara do carro. Um outro policial
tinha o rosto contorcido, o pescoo preso na lataria - Nego J uca pisou so-
bre a lataria, pisou, pisou, pisou e pisou at que fez silncio.
(CN 20, p. 29)
Estes contatos personalizados pela questo especfica, em contraponto com as mo-
dalidades jornalsticas, no perdem a sua validade, mas potencializam novos enfoques e
criam, de igual modo, novas instncias destinadas a resolver problemas especficos de uma
noo textual inclusiva da negrura que, nesse conto, se desloca das questes, digamos cul-
turais, para se alojar na tcnica narrativa que inclui o olhar ideolgico do narrador.
Tudo por causa de um cinto, de Aristides Theodora, apresenta um histria bem
humorada e sem grandes invenes. Ainda do mesmo autor, temos o conto O homem que
liquidou um trovo a tiro de clavionete, no qual o autor cria uma narrativa apoiada no
fantstico. Delorido da Silva, uma espcie de capataz da Fazenda Ouricuri do Norte, de-
189
para com duas montanhas em forma de duas bolas de neve. No lance derradeiro do conto,
depois de atirar numa das bolas, a menor, descobre que so troves.
Cuti assina, nesse volume, trs ttulos, a saber: Trajetos, J ogo de cintura e Co-
luna.
Trajetos faz uma imerso na ancestralidade e na discusso, no plano do No-
Ser, do branqueamento ou como quer o texto, dos perigos da neblina. A ancianidade
caracterizada pelo velho que indica os caminhos e os perigos da neblina. Nesse contexto,
trs negros fazem um balano das suas trajetrias de vida. A morte fsica fica condicionada
morte da conscincia racial. O texto trabalha com smbolos como ginga, cachimbo de
barro e o valor positivo de adeso questo negra para vencer o pendor de embranqueci-
mento.
J ogo de Cintura, cuja ao se desenrola num prdio, tem dilogos rpidos e revela
a destreza do autor para construir, no espao de um prdio, uma histria a partir de motivos
banais.
Coluna mostra o inesperado de um roda de macumba. Sexta-feira. Cantoria,
roupa branca, gente girando, tambor comendo solto. (CN 20, p. 55)
E acontece a incorporao: Uma luz intensa na garganta desfolhou uma imensa
gargalhada que encheu o salo. (CN 20, p. 57)
Domingo, 11:18 AM/61, A fadiga do poeta, Mel com porrada e Classifica-
dos so os textos escritos por le Semog.
Domingo, 11:18 AM/61 pinta, num texto de duas pginas, um quadro comum a-
ps a ressaca. A fadiga do poeta cuida de conceituar a paixo e de falar do amor de for-
ma subjetiva. Mel com porrada fala de uma fome metafrica que provoca o desenlace
de um relacionamento: (...) e por isso comeu a casa por dentro. Mas dava para perceber
que no era fome, daquela fome de fome, pois de tudo ele deixou um resto, uma migalha.
(CN 20, p. 68) Classificados um stira aos anncios que pedem pessoa de boa aparn-
cia. O texto curtssimo , no entanto, convincente.
Cenas, de Esmeralda Ribeiro, um texto desmontvel. Composto de sete cenas,
o conto se d como resultado da elaborao jornalstica de Ayn. As histrias so recolhi-
das do Disque-Violncia a partir dos dilogos telefnicos.
190
Fausto Antnio, na sua estria na srie Cadernos Negros, apresenta Arthur Bispo
do Rosrio, o Rei. A incurso revela os meandros da loucura e de recuperao de um heri
da criatividade afro-brasileira. Tcnica de teatro e monlogo interior juntam-se aos planos
de memria, passado e autobiogrfico para recriarem a trajetria de vida do alucinado
genial, o Bispo, e do lugar da loucura na narrativa dos Cadernos.
Henrique Cunha Jr. navega no conto O olho azul do cachorro. O acontecido na
histria revela as coisas do Brasil mulato: (CN 20, p. 107) Um co, de olhos azuis, que s
entendia ingls e era treinado para reconhecer ladres.(CN 20, p. 110 )
Sonhos imortais capta a realidade dos migrantes que chegam e so ludibriados pe-
los descaminhos da cidade de So Paulo. Iracema Rgis fala desse universo que tem dois
plos distintos, quais sejam, a chegada ( a esperana) e o retorno (a desiluso).
A valsa dos mariontes e Conto real, de Kasabuvu, tratam respectivamente do
espao de apresentao circense e de um sonho animado, conforme o texto, por Shaka
J nior.
A barriga mida, de Lep Correia, mostra a fome e o seu enfeito no corpo e vida
de uma criana:
- Ora, mame. A senhora s sabe dizer isso... arre!
- D um muxoxo. E a velha, cheia de pacincia, bota o neto no colo,
mostra a goteira, faz besouro bzuuu!! Mas o neto no quer acordo...
(CN 20, p.132)
Assoviando a viso,ainda de Lep Correia, trata de um sonho no qual Zumbi,
subindo a Serra da Barriga, aparece assobiando. O autor faz uma analogia com o parto:
Tirei a placenta dos olhos e chorei. (CN 20, p. 134)
Xala,
129
Mama Benedita! , tambm de Lep Correia, tem como centro os lti-
mos momentos de vida de Mama Benedita que, a propsito da incluso do vocabulrio
kibundo, faz a passagem assim:
Um belssimo casal de makunji, a mandado de Lembaranganga, veio
para conduzilo a dibata dia Nzambi...
130
L se foram no maior paleio...
- Sala io Nzambi
131
, Mama! Que ele te guarde. Minha herana frtil
tua imortalidade.
129
1. Xala=Kimb.. Adeus
130
dibata dia Nzambi=kimb.. manso celestial, divina
131
Sala io Nzambi=Kimb..adeus, vai com Deus, me!
191
Sala io Nzambi, Mama!
(CN 20, p.138)
Lia Vieira, no conto Os limites do Moinho, traa um dilogo, depois do Encon-
tro da Unio de Escritores e Artista de Cuba, com os produtores de arte e cultura da ilha e,
por extenso, com a geografia igualmente. O conto , antes de tudo, roteiro o dirio da
prpria autora.
Pavor na rua Treze mostra o extenso do preconceito contra negros. A simples
presena de um negro desarmado, numa rua deserta, cria uma situao de medo. Um ho-
mem branco e uma loira arquitetam, como prisioneiros da realidade racial brasileira, um
assalto que jamais iria acontecer. O negro, afinal, no tinha uma arma e queria, caro leitor,
apenas acender o cigarro:
Ningum por perto, agora ele tinha de ir at o fim. Puxou o volume do
bolso: um mao de cigarros. Tirou um e perguntou:
- Preciso acender. Vocs tm fogo?
(CN 20, p.162)
Anel de noivado toca na questo do amor e do relacionamento entre negros e bran-
cos. Aqui, no final da histria, o amor e as afinidades unem um negro e uma negra A noiva
branca, no conto de Mrcio Barbosa, num exerccio de inverso dos valores cristalizados
no Brasil, fica sozinha.
Abajur um conto com forte interveno descritiva. O amor entre duas mulheres
convence literariamente. H ternura e um ato de traio inesperado, envolvente. Grafica-
mente o conto est montado em planos iniciados com palavras introdutrias em letras gar-
rafais: O VENTO, A BARCA, A TARDE, CALOUSE, SENTIA-SE, MASTIGANDO, A
BRISA... (CN 20, p.173). Os quadros iniciados com substantivos so aqueles mais lentos e
de descrio mais copiosa. Os quadros iniciados com verbos aceleram o tempo da narrativa
e do dinmica ao que pe lado a lado, numa cena de sexo, J orge e Nadir e a exploso
de Clodite que se sentira trada por Nadir a quem amava. O reencontro selado aos beijos:
Cl beijou as suas lgrimas ternamente. Beijaram-se prolongadamente e
se abraaram forte e demoradamente.
(CN 20, p. 184)
192
Will Martinez, pelo levantamento que pudemos fazer at agora, primeiro escritor
branco no transcurso da srie Cadernos Negros. Quilombo Valadares, escrito com dis-
cursos indiretos, revela a linhagem da sua estria: A histria de J os Carlos Valadares,
ento com onze anos, s no morreu... (CN 20, p. 190)
Expem ainda discursos que revelam diretamente a interveno dos personagens:
(...) porta caneca cho rua terra viela homem arma tiro em mim outro canto pula porto
dona Maria gritando Ogum cachorro latindo pulando fugindo cachorro homem com arma
CORRE... (CN 20, p. 189)
A saga de J os Carlos Valadares ou Quilombo Valadares acaba com o trfico de
drogas no morro, mas assassinado, pelo filho de Z Rato, enquanto dormia.
Cadernos Negros 22 (1999)
Carlos Gabriel, Conceio Evaristo, Cuti, Esmeralda Ribeiro, Lep Correia, Lia Vi-
eira, Mrcio Barbosa, Miriam Alves, Ricardo Dias, Ruth Souza Saleme, Will Martinez e
Zula Gibi.
Abdias do Nascimento, na contracapa, diz: Os Cadernos Negros, expresso de ex-
celncia do Movimento Negro, atravessam o milnio com a grandiosidade de terem sido
uma das mais importantes marcas da cultura e da luta do povo negro nesse sculo.
No 22 volume do iderio dos Cadernos Negros, no texto introdutrio, o Quilom-
bhoje ressalta as conquistas que, apesar dos obstculos mercadolgicos e dos modismos,
medraram em torno e a partir, sempre buscando novos sentidos, do acervo literrio e co-
letivo do patrimnio cultural negro. (CN 22, p. 9)
Os textos desse volume foram selecionados num processo coletivo que contou com
a participao dos escritores Al Eleazar Fun, Carlos Gabriel, Cuti, Fausto Antnio, Iracema
Regis, Mrcio Barbosa e Will Martinez; dos especialistas em literatura Mrcia Peanha e
Niyi Afolabi e das leitoras Benedita Aparecida Lopes e Vera Lcia Barbosa.
Seguindo o mesmo procedimento empregado na anlise dos volumes anteriores, to-
maremos como ponto de partida o conto Picum, de Carlos Gabriel, para em seguida
considerar o restante do corpus.
193
Carlos Gabriel intervm, na abertura, com o conto Picum. H, nesse texto feito
de interaes, duas histrias que se cruzam e que valorizam a tcnica narrativa empregada
pelo autor. Partindo inicialmente da histria de Carolina, a me de Manoel, a ao narrati-
va, por conta da histria de abandono, coloca lado a lado Dona Carolina e o bandido Pi-
cum. Assim, a velha vai para o asilo e deixa Manoel sozinho com a bela mulata Cleonice,
sua mulher, que implicava com a velha: Que a velha j falava besteira, que fazia feio na
frene das visitas. (CN 22, p. 11)
Picum criado desde pequeno no abandono: Na creche passava horas com fome,
cagado, mijado. (CN 22, p. 13) Na escola, Picum, o J os Carlos da Silva, tambm no
se deu bem, gostava apenas da hora da merenda. So duas histrias cruzadas. A velha no
asilo e Picum na cadeia. A natureza dessa interao, com a mo do destino, marcada pela
memria. Depois de um fuga do presdio, numa noite de natal, Picum se esconde no asilo.
Ao lado de Dona Carolina que espera h quatro anos uma visita dos filhos e de Dona Ange-
lina que espera pelo namorado, concretiza-se, como lugar da memria e da carncia mtua,
o encontro.
Conceio Evaristo fala aos leitores atravs do conto Quantos filhos Natalina teve?
Num resumo, o prprio texto elucida a pergunta.
Ela sorriu feliz. Era a sua quarta gravidez e o seu primeiro filho. (...)
Os outros eram como tivessem morrido pelo meio do caminho. Foram da-
dos logo aps e antes at do nascimento. As outras barrigas ela odiara.
(CN 22, p. 21)
O ltimo filho, produto de uma relao indesejada, seria s seu. O homem, que a vi-
olentara, estava morto. Natalina cuidara disso:
O movimento foi rpido. O tiro foi certeiro e to prximo que Natalina
pensou estar se matando tambm.
(CN 22, p. 28)
Depois de vrios abordos, aquilo que num primeiro momento pode parecer um non-
sense, torna-se, contudo, mais inteligvel quando se considera que os filhos de Natalina que
194
foram abandonados e ceifados pelo abordo, no interior dela mesma, repassam os limites da
vida e da morte:
Brevemente iria parir um filho. Um filho que fora concebido nos frgeis
limites da vida e da morte.
(CN 22, p. 28)
De certa maneira, Natalina relativiza o carter absoluto das virtudes ou dos defei-
tos, mostrando, por assim dizer, seu avesso:
Guardou mais do que a coragem da vingana e da defesa. Guardou mais
do que a satisfao de ter conseguido retomar a prpria vida. Guardou a
semente invasora daquele homem.
(CN 22, p. 28)
Ao assumir a gravidez, ela resolve, talvez, num misto de nonsense ou de avesso do
avesso, revelar a situao e mais ainda a sua prpria ausncia:
Estava ansiosa para olhar aquele filho e no ver a marca de ningum, tal-
vez nem a dela.
(CN 22, p. 28)
Nos domnios do amor a razo desaparece ou novos (ou velhos) esclarecimentos fa-
zem- se, sempre, necessrios. Vale pena , por isso, acompanhar o que sustenta o texto T-
chan, de Cuti, que coloca em cena uma prostitura loira que s transava com negros:
Loirinha fogosa adora fazer tudo com nego. (CN 22, p. 29)
Nesse mundo de aventura, ela acaba se apaixonando por um negro: Era desses bo-
nites. (CN 22, p. 30) O impasse est armado. No demais dizer que os amores supem
o fim das estruturas desse ofcio:
Mas ficava me ninando, entende? A, eu abri jogo: Voc meu homem!
No vai mais pagar, no! Ele no aceitou... Pensei em abandonar a profis-
so. Sabe, naquela de viver uma vida de certinha... Eu queria casar, sim.
Ia ter trs mulatinhos. Dois meninos e uma menina.
(CN 22, p. 30)
195
O conto trafega pelos caminhos do amor, do casamento, dos filhos e dos acertos cu-
jos elementos mnimos e indispensveis so limitados pelo desequilbrio inicial e final:
Olha, eu sou uma mulher que quase foi feliz. Mas o destino me fodeu. O
filho da puta, depois daquele encontro, chegou a me mandar flores.
(CN 22, p. 31)
A imposio do amor e da prostituio se debatem:
Cada vez que penso nele, s sinto saudade, falta. E a merda que no
consigo mais voltar para a profisso. No consigo, Karina. E a grana t
to curta! Emprego t to difcil.
O restabelecimento do entendimento da situao parece cada vez mais distante da
Loirinha fogosa:
Sabe, no sei se voc acredita... Bem, eu fui numa cartomante. No vai rir
de mim, mas... Sabe, ela disse que um dia ele vai ser meu, s meu.
(CN 22, p. 32)
O que caracteriza a histria, entretanto, a ideoligizao insinuada pelas falas, prin-
cipalmente da dupla articulao ou do tom irnico. A histria mero pretexto ou pano de
fundo para o elemento estruturante da ao de dar voz e vida a personagens negros, nesse
caso, um negro bonito que, aparentemente, nem fala ou aparece diretamente naquilo
que se constituiria o foco da narrativa.
A histria do texto o Encontro, o segundo de autoria de Cuti, simples. Trata-
se de um seqestro que pe lado a lado o pai, rico, e o filho, at ento desconhecido, que
nascera de uma relao tpica da nossa herana casa grande senzala:
- Mas... pense um pouco... Eu nunca te fiz nada...
- Fez! Lembra da empregada Maria? No lembra, no ?
... Lembra daquela crioula que saiu da tua casa esperando um filho teu?
Lembra? ...
196
Observando-se a histria de Sempre suspeito, de Esmeralda Ribeiro, v-se que a
temtica cuida da discriminao racial. Nesse conto a ao policial desempenha papel cen-
tral no conflito:
- Olha, aqui, no papel. O nmero 318 e no 308, na descrio olocal
fica numa viela e no numa fbrica... (...)
- Cacete, quase ns fizemos uma merda. amos estourar os miolos des-
se macaco ...
(CN 22, p. 43)
Negros sempre suspeitos, erro de endereo e dos nomes dos procurados acentuam o
teor racista da investida dos agentes da lei.
No me dem flores, ainda no foco narrativo de Esmeralda Ribeiro, valoriza as car-
tas e uma histria construda a partir delas:
O qu, dona Idalina!? No entendi direito!? A senhora quer ditar cartas
para que as escreva como se fosse sua filha, depois quer que eu as poste
no correio, endreando-as a senhora mesma.
(CN 22, p. 46)
Temoporal no barraco de Binho, de Lep Correia , um conto curto mas tem, do
ponto de vista da estrutrura, tudo muito bem articulado. Como assinalamos, a respeito dos
suportes narrativos, a ao vai num crescendo:
Era a bacia, apanhada por um pedao de telhado em sua borda. Um chine-
lo, como que dizendo adeus, a acompanhou e a me... meus Deus...?!
Tudo escureceu!
(CN 22, p. 52)
O espao se impe no significado da ao e na caracterizao da cena final que, pe-
los fragmentos espaciais, devolve a me numa atmosfera de dvida. Pinho, quando lembra
do temporal, traz, no plano da memria , na imagem do chinelo da me que flutuava, a
quase certeza da sua morte:
Nooo, sozinho no Binho gritou, como que adivinhando que sua me
teria tido o mesmo destino da bacia. Sim, ele tinha visto o chinelo acenar
o adeus e mergulhar no precipcio...
(CN 22, p. 53)
197
A certeza que me est viva vem, como tudo nesse conto mnimo, de forma sinttica
e com a mesma fora e velocidade do temporal:
Binho meu pirroto!
No canto da parede...perna enfaixada, rosto ainda com resto de sangue,
cabea com tampo de esparradrapo... Era ela! Sem chinelos, mas estava
ali...
(CN 22, p. 53)
Em Rosa da Farinha, de Lia Vieira, encontramos, por um lado, uma histria sem
conflitos, uma recuperao do passado, e, por outro lado, uma histria introduzindo cor-
respondncias entre geraes do passado e contemporneas. Para abarcar essa realida-
de, a narradora desfila os dotes e as trajetrias de v J oaquim e v Rosa. O tempo do tra-
balho escravizado, as casas da farinha e os poos dgua assinalam um percurso que remon-
ta, vezes, os idos de 1857. O poder da herana e a fora da memria insuflam vitalidade
e, conforme o texto: dessa fuso de tempos perdidos que desejo fazer o meu tempo; essa
colheita de tempo fugazes. (CN 22, p. 62)
No conto Frias, de Mrcio Barbosa, nota-se a presena de vrios enquadramen-
tos espaciais e discursivos para contar a histria de amor de Carolina, amor por Renato
que, segundo a mulher apaixonada, sobrou fisicamente apenas num presente: O cordo
tinha sido um presente daquele com quem seus pais a proibiram de casar se, e que ela no
conseguia esquecer (CN 22, p. 67) Existe, portanto, nos seus constantes envolvimentos
com negros, numa espcie de busca do amor perdido: Era ele a quem procurava, todos os
anos , em todos os outros iguais a ele. (CN 22, p. 67)
Retorno de Tatiana, de Miriam Alves, mostra a fora expressiva do discurso de
primeira pessoa, nesse momento numa aluso mentruao:
Sinto vidas e mortes correndo em minhas veias...
No-nascido, o ser rio menstrual...
(CN 22, p. 71)
No plano de interveno de Tatiana percebe-se uma espcie de delrio. No discurso
de terceira pessoa, num distanciamento, mudando o foco narrativo, lemos:
198
Ela delirava palavras desconexas - algo parecido com mgica, ou talvez
alguma praga - todo ms antes de a menstruao chegar, num filete tnue
aumentando gradativamente.
(CN 22, p. 72)
teros e terra-me so os registros verbais mais frequentes nos delrios de Tatiana
que, por fim, determinam, segundo a histria, o seu retorno ao mundo dos orixs.
Trabalhando em silncio repassa a militncia numa linha de ao: (...) mas para
fazer algo de bom pra um irmo nego no preciso reunio, onde todos falam bonito e nin-
gum decide nada. (CN 22, p. 81) Ricardo Dias no avana nos aspectos narrativos e a
histria, a exemplo do trecho acima, excessivamente linear. No texto Amigo por conve-
nincia, ainda de Ricardo Dias, sobram os limites de um histria ainda sem estruturao
literria convincente que, no entanto, discute questes como machismo, racismo e relacio-
namento afetivo entre brancos e negros:
Aparecida, para pagar a lngua, arrumou um namorado branco, com o qual
se dava bem. Mas ficava em sua lembrana o pedido que seu pai lhe fize-
ra, pouco antes de morrer, de que se casasse com um negro.
(CN 22, p. 88)
Ruth Souza Saleme vem para o conjunto da coletnea com o conto Caguira
132
. A
autora aborda a saga de uma mulher, Vasty, que sofre das dores do parto mesmo depois
de o filho j ter nascido. A maldade e os infortnios da criana retornam, para o tero, na
forma dura das contraes.
Will Martinez participa com Me Negra. O conto lento e apresenta uma pas-
sagem, despretensiosa, pela realidade do negro no perodo do trabalho escravizado.
Zula Gibi encerra o livro com o texto Caindo na real. O centro aqui o amor ou a
euforia e depresso orientados pelos sentimentos que, num ato inesperado, aproximam
duas mulheres:
Dormimos abraadas ali no tepete, transformado em fina relva orvalhada.
No fosse um corpo branco e o outro negro, um mosaico improvisado, se-
ramos um s ser.
(CN 22, p. 109)
132
Caguira ( folclore brasileiro) - sentido figurado de pessoa infeliz, amargurada transitoriamente, malfico
passageiro.
199
Cadernos Negros 24 (2001)
Eduardo Silva, ator remanescente do TEN, escreve na orelha de abertura dos Ca-
dernos 24. A orelha final recebe o texto de J oo Batista de J esus Flix, pesquisador, ex-
militante do MNU e da SOWETO. Ambos os textos destacam o trabalho persistente da
srie. A contracapa, assinada pela doutora Rhonda Michelle Collier, enfatiza a presena
negra em cada livro da coleo e o lugar, atravs da leitura, no qual os negros se encontram.
Na fala da estudiosa americana, a propsito desse ponto de encontro e comunho, destaca-
mos: Eles convidam os afro-americanos a aprender o portugus para entrar no mundo,
onde s vezes nos encontramos com ns mesmos e outras vezes gritamos por no termos
entendido as experincias dos outros.
A apresentao, sucinta, ficou a cargo de Esmeralda Ribeiro e Mrcio Barbosa. Os
textos, selecionados coletivamente, receberam ainda a chancela crtica de Adriana Moreira,
Bolsita do Programa de Pesquisa, Ensino e Extenso em Relaes tnicas e Raciais do
Departamento de Sociologia da USP. Benedita Lopes, professora de portugus, Carlos Al-
berto Teixeira, poeta, Cristina Barbosa, produtora cultural, Graa Grana, professora uni-
versitria, Luzia Bonifcio, formada em Letras Neolatina, Mrcio Macedo, Bolsita do Pro-
grama de Pesquisa, Ensino e Extenso em Relaes tnicas e Raciais do Departamento de
Sociologia da USP. MC Thyco, Produtor cultural, Nyi Afolabi, escritor e professor de Tu-
lane University, New Orleans, EUA e Sidney de Paula Oliveira, poeta e advogado.
O buraco negro, Pixaim e A discrdia do meio, todos de Cristiane Sobral,
abrem a produo em prosa e marcam a estria da autora, nos CN, nessa modalidade.
Buraco Negro, narrado em primeira pessoa, no vai alm do vis comparativo en-
tre o buraco negro e o processo depressivo: Cada vez mais agarrada s paredes deste
poo profundo, percebo como uma depresso pode ser adesiva. (CN 24, p. 11)
Pixaim mostra os efeitos fsicos e psicolgicos da rejeio ao negro. O conto, que
intercala discurso de terceira e primeira pessoa, fica devendo literariamente.
No conto A discrdia do meio a natureza do conflito que abre e fecha a ao
prende-se relao entre dois irmos negros. A famlia o ponto de referncia da histria,
, alis, no seu interior que ocorrem as discusses e as desordens entre J upira, uma negra
quarentona retinta e seu irmo, J upi, um mulato do cabelo liso, cheio de traos de bran-
200
co na cara. (CN 24, p. 19) O pice do conflito revela que o tema foi tratado, ao nosso olhar
e na perspectiva de valorizao da negrura, inaquadamente:
Voc nunca me aceitou porque o meu cabelo bom, e eu no estou nem
a, enquanto voc gasta os tubos para esconder a sua carapinha, preta
complexada... Sou filho do amor de minha me com um branco que soube
lhe dar valor e prazer, ao contrrio da estupidez do seu pai, que herdou
junto com o seu pixaim.
(CN 24, p. 21)
Inventrio da guas, de Cuti, tece poeticamente na descrio Muros baixos, au-
sncia completa de gradis, pontas de lanas ou cacos de vidros voltados para o cu. (CN
24, p. 23), e depois nos marcadores de tempo: Seis horas e trinta minutos e Doze ho-
ras (CN 24, p. 24), a histria que apresentada em blocos.
Os recursos discursivos, atravs dos quais os personagens falam, indiretamente ou
diretamente, passam pela ancianidade de dona Amlia, negra, 73 anos e pela memria do
av. A rua dos Inventrios das guas, 37 casas, s moradores negros, foi o cenrio para o
acontecimento fatal. Depois de uma perseguio, dois agentes da Lei, policiais numa
ao de execuo, tpica da periferia, so metralhados por espinhos sados de uma rvore
que nascera de um raio.
Delimitado pelo fantstico, esse episdio mstico tem, nos seus primrdios, antes do
raio, o nascimento de uma rvore a partir de Gregrio, um negro fugitivo do trabalho escra-
vizado, cujo corpo transformara-se num frondosa figueira e, depois da ao da natureza,
numa paineira. Essas informaes chegam aos leitores pela memria do av, bom salien-
tarmos, a partir de um dos blocos narrativos a que fizermos referncia a pouco. O desenlace
agudo e terminal posto assim: da paineira saem os espinhos que fulminam os policiais:
Um policial: ... eu no enforquei ningum ... era ladro... tira, tira os espi-
nhos... di, di muito...
Outro policial: no, no... tinha de matar...era ordem.. tinha fugido, fu...
gi...do.
(CN 24, p. 29)
E na Folha Vespertina: Terror na Casa Verde. Metralhados por espinhos. Policiais
morrem misteriosamente. (CN 24, p. 31)
201
Dir-se-ia , portanto, que a justia humana (feita pelos homens antes injustiados) e
a justia divina, na ao do raio (talvez a fora de Iyans), tm como objetivo preservar
uma relao dinmica com o corpo e as vozes da religiosidade negra, cuja expresso se
desencadeia numa reza: Acendeu o fogo e rezou muito, reza que a me dele tinha ensina-
do, reza de Angola. (CN 24, p. 27)
A complexidade da reza une o presente ao passado numa dinmica para enfrentar o
racismo e a violncia policial. A ltima interveno de Dona Amlia, quando vai ao encon-
tro do jovem foragido, didtica:
Depois, acompanhada de uma brilhante sombra, levanta-se e caminha.
J untas vo cuidar do jovem fugitivo, que, no fundo do poro, certamente
est com fome e medo, pois sabe que a inocncia no tudo quando se
trata com policiais.
(CN 24, p. 29)
A presena de uma modalidade textual tpica para retratar o dia-a-dia ou fatos cro-
nologicamente encadeados, portanto, a funo de um dirio orienta a carpintaria do conto
Ela est dormindo, de Esmeralda Ribeiro. As marcas de dirio esto expressas e alinham
o primeiro, mas no nico nexo de compreenso da histria:
Todo mundo tem sua casa Interior arrumada?
Dia 13 de janeiro
As mulheres do Grupo permaneciam mudas
Quem j no fez loucuras pela pessoa amada?
Todo mundo tem sua Casa Interior arrumada?
(CN 24, p. 33)
O conceito de pessoa na cosmogonia nag passa pelo compreenso da morte. Marco
Aurlio Luz, no livro Agad: dinmica da civilizao africano-brasileira, concebe o con-
ceito de pessoa ara-aiy, isto , ser vivo, e o autor ainda pontua, para efeito de sublinhar,
quedevemos comear a nos referir ao orix Iku, morte.
133
Si Ori, de Fausto Antnio, num foco narrativo que perpassa presente e passado,
pe lado a lado, no plano de memria, Mil empreendendo uma viagem e Masai momentos
133
LUZ, Marco Aurlio de Oliveira. Agad: dinmica da civilizao africano-brasileira. 2 ed., Salvador:
EDUFBA, 2000. p. 45.
202
antes de ser cremado, transita pela compreenso desses referenciais de vida e morte. Todos
presentes, em sntese, no Si Ori, que significa literalmente abrir a cabea. Dessa forma, a
morte de Masai, sua restituio ao universo, amplia os sentidos de ori que caracteriza o
destino pessoal (sempre morte e vida) e outros entrelugares comuns humanidade:
E o corpo seguiu para o crematrio, a exemplo do nascimento, absoluta-
mente s. O trem venceu, depois de mais uma parada, mais uma estao, e
Mil repetira mais uma vez: Desde a eternidade, Masai. Redes e mortes
sucessivas e, sobre esses tempos, a alma descalvada, silenciada.
(CN 24, p. 49)
As histrias das nossas histrias, no conto As Gameleiras, de Henrique Cunha
J r., no interior da estrutura narrativa, so os meios trabalhados pela retrica que, como um
smbolo da negrura, quer a histria como histria do coletivo: No minha, nossa. Faz
parte dos caules e troncos africanos nas razes brasileiras. (CN 24, p. 51)
A retrica, nesse conto, so griotagens, em outras palavras, histrias contadas por
negros velhos que aqui traam as linhas da discriminao e do preconceito. A vtima, o
negro Arias, vai a julgamento levando a certeza da condenao. O Clarim da Alvorada, os
militantes da Frente Negra e as falas contraditrias conduzem o leitor pela realidade racial
brasileira e para o veredicto final que, a despeito da imprensa e do julgamento antecipado
da sociedade, decreta a inocncia de Arias.
Lia Vieira, no seu Maria Dia, monta um repositrio da vida e das vivncias de
Maria Dia que traz os caminhos da personagem nos muitos encontros com a histria do
prprio nome, com a morte e com a desapropriao do bairro no qual morava.
luz, de Mrcio Barbosa, mais um conto desse livro que repassa as teias da
memria. Primeiro, nas enumeraes culturais da matriz afro-brasileira, que se revestem
dos nomes de Luis Wagner, Bebeto, Djavan, Ivone Lara, Thaide e dos lugares, entre eles,
So Paulo Chic e Royal, pontos de baile e de encontro da negrada. Lembranas:
Ah, os bons tempos... Assim que o porteiro anunciou a visita da tia e do
irmo, comeou a pensar nos bons tempos... Lembrava-se de uma mulher
mida, com um sorriso frgil e contente me meio a tudo isso.
(CN 24, p. 82)
203
Os fatos luz das lembranas recompem o amor do sobrinho pela tia que, vitimada
por diabete, encontra-se no hospital entre a vida e a morte. Mas no escorregadio da mem-
ria: Ele danava com a tia, que no era to mais velha... Somam-se, s lembranas do
amor quase impossvel, as marcas duras da violncia familiar: (...) um dia pegara escondi-
do um dinheiro da carteira de seu pai e tomara uma surra que o deixara marcado por vrios
dias. Na pele e na alma (CN 24, p. 85)
O conto A cega e a negra - uma fbula, de Miriam Alves, tem como protagonistas
Ccilia (negra) e Flora (cega). H a presena de uma aranha tecendo suas peripcias acro-
bticas (CN 24, p. 89) num contraponto com a vida de Ceclia.
Flor de agosto... felicidade, de Vera Lcia Barbosa, a primeira publicao da
autora. O texto conta as amarguras e as pequenas alegrias afetivas de Flor inclusive aquelas
vividas no relacionamento com o africano Cltus. Vale apenas como exerccio para futuras
realizaes literrias.
Foi mesmo alegria de festa, de Euzbio Pereira, revela que o autor sabe escrever.
Emoldurando a histria a partir da engorda de um leitozinho: Pequeno, mal nutrido, ron-
cando fraqueza e carecendo compaixo, era apenas um leitozinho.
A perspectiva, o foco est centrado num menino que cuida da engorda do porco ,
ainda, empresta os olhos, os ouvidos e a fala para iluminar as pequenas histrias (ou ce-
nas) envolvendo a tia, o primo, o cinema e as condies objetivas que ficam na memria
como uma partitura do passado. Um bom exemplo ocorre diante do cinema, sem sapatos, o
jovem precisou, a tempo, recuar:
O encontro seria na porta do cinema. Primeira semana no deu para en-
trar. Cheguei at a praa e resolvi voltar. ... Na altura do Grande Hotel
So J os, a idia de retornar j era deciso concluda e pacificada. Reparei
que no tinha sapatos. Nem um pra enganar. Todo mundo arrumadinho.
Uma merda.
(CN 24, p. 105)
Zula Gibi encerra o 24 exemplar da srie com New York. O conto um passeio
pelo ertico. O encontro entre duas mulheres detonado depois da morte da me de Carol,
que trabalhava de empregada para Laura: Laura se arrepiou inteira, mas no interrompeu.
Fechou os olhos e deixou-a brincar de criana grande. (CN 24, p.113)
204
Cadernos Negros 26 (2003)
As relaes entre literatura, cinema e o projeto identitrio negro fazem parte dos
argumentos do cineasta J eferson De, que escreve na primeira orelha dos CN 26. Neusa Ma-
ria Poli, professora e militante, assina as reflexes publicadas na Segunda orelha do livro. A
professora atualiza o elogios aos mecanismos de conscientizao criados em 1978. Na con-
tracapa, Rappin Hood, rapper e msico, fala da ausncia de publicaes especficas para a
populao afro-brasileira. O Signatrio do Movimento Cultural Hip Hop salienta, portanto,
a relevncia dos Cadernos que, na sua anlise, atinge em cheio esse objetivo. A apresen-
tao recebe as rubricas de Esmerada Ribeiro e Mrcio Barbosa.
O processo de seleo que envolveu uma parte dos autores dialogou, igualmente,
com profissionais das mais variadas reas. Os nomes e as profisses que sero perfilados
agora revelam a extenso do que afirmamos: Benedita Lopes, professora de literatura,
Cludio Thomas, militante do Sankofa e do Movimento Hip Hop, Cristina Barbosa, produ-
tora cultural, Elizabeth Oliveira Dias, Coordenadora Pedaggica da Rede Municipal de
Ensino de So Paulo, Maria da Conceio Oliveira, produtora cultural, Rutt Souza Salene,
escritora e produtora cultural, Vera Lcia Barbosa, terapeuta e escritora.
Os autores Conceio Evaristo, Cuti, Dcio de Oliveira Vieira, Dllemar Monteiro,
Esmeralda Ribeiro, Eustquio Lawa, Helton Fesan, Lia Vieira, Lourdes Dita, Mrcio Bar-
bosa, Miriam Alves, Oubi Ina Kibuko e Zula Gibi formam o script narrativo da 26 edio
da srie. Os treze autores alinhados acima, dentre eles seis mulheres, produziram, no total,
dezoito contos.
Beijo na Face, de Conceio Evaristo, trata do amor, ou como diz o texto:
(...) um novo amor que vivia e se fortalecia na espera do amanh... que se
revelava por um simples piscar de olhos, por um sorriso ensaiado na me-
tade das bordas de um lbio, por um repetir constante do eu te amo, decla-
rao feita, muitas vezes, em voz silenciosa, audvel apenas para dentro,
fazendo com que o eco dessa fala se expandisse no interior mesmo do
prprio declarante.
(CN 26, p. 11)
205
Essa criao afetiva elabora, uma presena incrustada nos poros da pele e da me-
mria, as motivaes que impem um novo discurso que, ao mesmo tempo, faz desabro-
char, na personagem Salinda, uma nova mulher. Vale registrar aqui a natureza homossexual
dos afetos de Salinda. A renovao sentimental pela qual ela passa, a histria revela, de
modo a prender o leitor, s nos estertores da narrativa. Na arquitetura do conto, o amor, o
rompimento com o marido e a preocupao com os filhos so plos para o entendimento da
sua descoberta. Nesse espao, assim, organizado, h, de um lado, a desorganizao das vi-
vncias com o marido e, de outro, as marcas de um novo amor, recortes de um beijo na
face, beijo feminino, superpostos a uma chama, ou melhor, a um fogo afetivo por uma
outra feminilidade:
Mulheres, ambas se pareciam . Altas negras e com dezenas de dreads a
lhes enfeitar a cabea. Ambas aves-fmeas, ousadas mergulhadoras na
prpria profundeza. E cada vez que uma mergulhava na outra, o suave en-
contro das suas fendas- mulheres engravidava as duas de prazer.
(CN 26, p. 18)
O amor entre mulheres, temtica relativamente frequente nos Cadernos, e o resulta-
do das novas condies encaminhadas pelas mulheres no mbito literrio e na sociedade
mais ampla. O que significa deslumbrar os efeitos da relativa autonomia econmica e o
conseqente esfacelamento, no exatamente o fim, dos papis fixos e o questionamento dos
papis de gnero. , portanto, dentro desse contexto, que as histrias operam a incluso do
afeto feminino e a sua realizao enunciada na satisfao de um eu-feminino. Em ouras
palavras, o encontro se efetiva amorosamente na busca de um eu-outro que se realiza na
feminilidade duplamente desejada. Em sntese, h vrios contos da srie CN nos quais as
mulheres buscam o prazer e o amor entre iguais.
Os papis de gnero, nessas condies, no se do apenas como espao de interlo-
cuo entre o masculino e o feminino, mas na diluio das fronteiras rgidas, intranspon-
veis. Pudemos observar, por exemplo, em Caindo na real(CN 22) e New York (CN 24),
contos de Zula Gibi, e no texto de Conceio Evaristo, nesse volume, que os pontos entre
homens e mulheres no so mais ou apenas contnuos e contguos. Os pontos so descont-
nuos e interligados por novos fluxos, contribuindo assim, para uma contraposio, de certo
206
modo, aos heris masculino e tambm questionando a universalidade do discurso histrico
que, marcadamente machista, muito raramente, d histria para gente sem histria.
As estratgias narrativas em Olho de sogra, de Cuti, ou seja, os procedimentos
que se destinam a provocar o envolvimento do narratrio so organizados numa perspecti-
va de um personagem, D Gina. Mas conduzidos por um narrador que intervm e articula:
- Dona Gina... eu tentei despert-la, estendendo-lhe a receita. Mas ela
prosseguia:
- Agora, esse tal da minha filha, doutor, um vagabundo, sem-
vergonha. Sabe (Deus que me perdoe!), eu queria que um raio partisse ele
no meio. O senhor imagina, doutor, que um dia eu disse umas boas verda-
des na cara dele e o safado teve a pachorra de..
- Dona Gina... eu continuava tentando interromp la e percebia que
ela me olhava, mas no me via,...
(CN 26, p. 21)
ela que abre um lugar ou lugares, como protagonista do conflito da histria, nas
pausas do sujeito narrador, nos vazios, articulado como tcnica narrativa, para contar o que
acontece na relao retrospetiva do seu envolvimento, na ama central do conto, com o seu
genro at, finalmente, o seu assassinato. Na observao do doutor Marclio, o personagem,
narrador e ouvinte, o sujeito que conduz os discursos de dona Gina, ela Estava como que
possuda por um ente falador. (CN 26, p. 23)
O homem invisvel, escrito por Dcio de Oliveira Vieira, conta a histria de Juca,
afro-descendente, filho da emprega domstica Gracinda e do milionrio Felipe Porto. Filho
de uma relao indesejada (sua me fora violentada), J uca, num ato de vingana, mata o
prprio pai. O conto no apresenta nada alm de uma inverso, processo narrativo muito
simples, para expor de forma quase linear a cena da violncia sexual e o desfecho selado
com a morte.
Os dilogos so o ponto de encontro de duas mulheres e constituem o elemento cen-
tral do conto de Dllemar Monteiro, cujo ttulo, Dilogo, revela o prprio contedo da
narrativa. Revela, em parte, porque o texto muito inexpressivo.
Dllemar Monteiro escreve na seqncia o conto Realizao. Narrado em primei-
ra pessoa, um texto mal construdo literariamente e problematiza, de forma positiva, na
voz do narrador-personagem, a descoberta, feita aps exames, de um cncer no crebro:
207
E, amor, eu consegui, como lhe havia dito anteriormente, abreviar minha
vida com um cncer no crebro, e me sinto feliz por saber conquistar a
minha morte sem mtodos bobos. Foi o meu melhor presente de todos os
anos o resultado positivo de um cncer cerebral.
(CN 26, p. 47)
Mulheres dos espelhos, de Esmeralda Ribeiro, constri, atravs da personagem
narradora que vive num casaro herdado com um velha empregada, Abgail, as lembranas
de infncia vividas nesse espao e um caso sobrenatural. So os lances do fantstico e so-
brenatural que estruturam os alicerces da histria que tem, nos espelhos da casa, a apario
de mulheres, jovens e velhas, que proferiam coisas que nunca escutara. (CN 26, p.51)
Desestruturada pela presena das mulheres nos espelhos, o fim da personagem narradora
o alcoolismo:
Sou agora uma contadora de histrias sobrenaturais. Conto de bar em
bar em troca de um gole de cachaa. No balco de um boteco, mesmo
quem acha essa histria absurda prefere ouvi-la a me perguntar:
- Qual o segredo que vocs, mulheres alcolatras, escondem em seus
espelhos?
(CN 26, p. 55)
Travessia, de Eustquio Lawa, a partir de afirmaes relativas a negros, nordesti-
nos e goianos, convida o leitor para tirar as suas concluses. As histrias de goianos, nor-
destinos e negros de famlias numerosas e as perigrinaes de um jovem tambm de famlia
numerosa e comida escassa do o tom da travessia.
O encontro familiar no velrio e as cenas comuns dos enterros: s assim pra gente
se encontrar, heim, rapaz, poxa, quanto tempo! (CN 26, p. 64) Esse expediente srio, na
sua origem, tem aqui no conto, O morto simblico, de Helton Fesan, um delineamento e
acabamento cmico. Tudo segue, pelo menos inicialmente, essa atmosfera dos velrios.
At que os familiares so informados que o morto, Marcelo, estava bem vivo. com o di-
nheiro e com as contas pagas que o morto simblico toca no eixo central do humor. Marce-
lo, assim, desfrutando do dinheiro que fora recolhido numa cotizao entre parentes, para
comprar o caixo e outras necessidades dos mortos, comea uma nova vida:
Morrer um bom negcio. Faz trs anos que tento terminar o ltimo ano
da merda da faculdade e vocs no me ajudam com um centavo... Resolvi
208
ento morrer simbolicamente e usufruir os benefcios financeiros que a
morte traz.
(CN 26, p. 66)
Reflexes sobre o racismo no Brasil e a recuperao dos conselhos maternos esto
no conto Era madrugada e Deus falou!, de Helton Fesan.
Provas para o capito, de Lia Vieira, a histria de um assassinato e as verses,
no s da morte de Schultz, mas da histria, so contadas pelos suspeitos e pelos investi-
gadores do crime. A autora expe os discursos e as perspectivas na seguinte ordem: S-
chultz, o arquiteto casado com Dulce, que no discurso da me do assassinado no passava
de uma reles telefonista. Kamel, o jovem que desfrutava do jogo de tnis e da beleza de
Dulce. Cezario, o negro, faz um sntese do seu lugar: tenho muito pouco a dizer. (CN
26, p. 76) Dulce jura inocncia, Capito Vidal acostumado a resolver todos os casos at
ento, e, por fim, Cezario fala: Levei a culpa por causa da minha pele negra. E ainda dis-
cursa a respeito das aparncias, de certos credos que so manietados para visualizar, num
lugar sempre fixo, os negros.
209
CONCLUSO
AS NOES TEXTUAIS DA NEGRURA NOS DISCURSOS E POEMAS
DOS CADERNOS NEGROS
A escritura dos Cadernos Negros no apenas uma coletnea, mas o caderno liter-
rio inaugurado num perodo de retomada da luta contra a discriminao racial, uma espcie
de prosa e potica fundadas nessa realidade imediata mas, tambm, na complexidade da
cultura e religiosidade negra, que tambm uma techn destinada a produzir significados
ou discursos como nos ensina a arte retrica.
Estamos nos referindo a um saber comum, a um texto criado a partir da memria
coletiva e de vozes militantes, nas quais o espao literrio e da cultura se ancoram. Busca-
se o desvelamento, descobrir e recolher argumentos que compem a cultura negra; da dis-
positio (ou tcnica da estrutura textual) e do elocutio, isto , as figuras de estilo que enfor-
mam esse arcabouo.
134
Da a necessidade de os autores trabalharem, no mnimo, com esse
mosaico bipartido pelos plos do engajamento e da pesquisa do complexo simblico afro
como partes integrantes dessa arquitetura.
H etapas facilmente reconhecveis nesses anos de publicao. Numa primeira eta-
pa, pecebemos a crescente conscientizao do escritor negro quanto sua responsabilidade
individual em face da realidade racial brasileira e do seu grupo:
Cadernos representa ainda a grande diferena entre as reflexes ntimas e
o fazer literrio - ao publicar, o indivduo sente-se escritor e experimenta a
responsabilidade de divulgar seus trabalhos e v-los criticados, num exer-
ccio enriquecedor e muitas vezes destruidor de fantasias simplificado-
ras.
135
Nesse ponto, tendo de achar uma resposta para o projeto de afonia da temtica afro,
o escritor negro se v na contingncia de pesquisar e produzir uma obra, nesse caso coleti-
va, por meio da qual pretende erigir uma realidade que faa contraponto quela que sedi-
menta a excluso e, especificamente, a excluso literria do negro.
Numa segunda etapa, temos as novas solues para relao militncia e arte, em
cuja base um denominador comum encontrado: a necessidade sntese de comungar cria-
134
ARISTTELES. Arte retrica e arte potica. Rio de janeiro: TECNOPRINT, 1990.
135
FERREIRA, J . Ablio. Cadernos Negros 8. Op. cit., p. 10.
210
o e pesquisa de linguagem. A pesquisa de linguagem nucleada no plano lexical e, princi-
palmente, na temtica de regresso a um tempo restaurador, isto , a uma frica ou um en-
trelugar inatingvel, porque no um territrio e/ou lugar que se busca, mas um tempo e
plo geradores de conflitos e da coexistncia de dois mundos ou de outros mundos, a saber,
dos contos e poesia da militncia e da criao literria que desejam recuperar, conforme
dizem os textos dos Cadernos Negros, a sua capacidade de expresso da memria coletiva
e da origem comum dos afro-brasileiros:
Aqui est em foco no s a experincia individual, mas tambm a coleti-
va, o fato de a maioria dos afro-descendentes estarem sujeitos a viver cer-
tas situaes em virtude da origem...
Ratifica-se, no conjunto da produo veiculada pela srie, um elo, ou seja, um pro-
cesso contnuo entre a militncia, a tradio cultural afro-brasileira e a pesquisa de lingua-
gem. Pesquisa expressa nos textos que acompanham os contos e poemas e que procuram
responder s indagaes em torno do ser negro na literatura. Como uma possvel soluo
literria, poetas e contistas negros, deixam claro que alm de ser uma questo semntica,
tambm ideolgica. Considerando a questo dentro desse prisma, isto , a linguagem deve
ser a sntese da criao e da pesquisa, que desvele os mecanismos de excluso do negro no
texto e contexto. A semntica situacional, englobando texto e contexto, o mecanismo pelo
qual a criao e a pesquisa vo se atualizar.
Dentro desse universo, considerando a lngua um fator de cultura, que reflete e pro-
duz mecanismos condicionantes internos e externos, o escritor, ou a escritura negra, procu-
ra recursos, na tradio afro-brasileira e no campo da militncia, que lhe permitam encon-
trar caminhos concretos para a soluo do seu impasse: Pela primeira vez se falava dos
efeitos do racismo, evidentemente porque o racismo importava aos autores negros, ainda
que no tivesse importncia para outros autores.
136
O impasse, solucionado em parte pela criao que considerava, da mesma forma, a
militncia e a pesquisa de linguagem, revela que o ato de acionar os vnculos com a tradi-
o se configura num exerccio de reiveno. Mas esta se transforma num campo de bata-
lha, no qual a inibio e, sobretudo, a autocensura constante da negrura precisa ser desfeita.
136
Cadernos Negros 20. Op. cit., p. 10.
211
A criao se d, ento, no bojo de um projeto identitrio transitivo que atualiza o
dilogo entre o universo da negrura num contraponto com valores universais expressos
na metapoesia, redimensionando os elementos oriundos da matriz afro (ou da militncia) e
delimitando um campo de relao dialgica e de inter-relao antropofgica com a prpria
linguagem potica. O poema tematiza uma operao de linguagem. esta que fixa o lugar
em que se banham o poema e a referncia problemtica negra.
O poema,
palavra atirada no muro da pele
onde a voz afago
fogo a demolir as vertigens
lastro, rastro frtil
pasto, negrume afogado em mergulho
O poema esforo
no sabor deste incio
De um outro amanh.
137
O poema, como podemos constatar, visa inicialmente a um ponto de encontro no
linear com a questo negra e, na camada interna, reencontrar a poesia. Estamos diante de
um laboratrio no qual a problemtica negra, via linguagem, e a metapoesia se fundem. As
razes do encontro descem (ou sobem) s barreiras explicitamente raciais.
So, alis, as tentativas de vencer as barreiras explicitamente raciais que vo, da
mesma forma, balizar a riqueza de enfoques, entre os quais, a incluso do tempo cotidiano
dos afro-brasileiros e a inscrio de narrativas plasmadas sob a gide da matriz cultural e
religiosa negra. Essas inscries so os lugares pelos quais as linhas externas, no campo da
superao das desigualdades raciais, se cruzam com a herana da tradio africana.
H, dessa forma, naqueles textos que aprofundam a relao com a cosmoviso ne-
gra, um afastamento do plano do extico e da originalidade reducionista, imobilista. A
cosmoviso afro um acmulo que releva o negro e o contexto em toda a sua extenso e
profundidade, como no poema de Mrcio Barbosa (CN 15, p. 63 ):
Num poema-eb
a palavra a pemba
A: PALAVRA:PEMBA: NO: POEMABO:
[ MAPEIA:UM:PONTO
137
BARBOSA, Mrcio. Cadernos Negros 9. Op. cit., p. 48.
212
no terreiro pontos so riscos
marcas de giz
PONTOS.SO.RISCOS. fundamentos
Fundam e a
f
u
n
d
a
m at a raiz
numpoemaebapalavrapemba
funde guerra e abrao
arrianopeito-ronc
pomba girando que s
explodeemdanasguerreiras
a palavra pemba facho
alegriamacumbeira
um imenso despacho
A idia de polifonia e encruzilhada como chaves interpretativas podem ser observa-
das alm do crculo restrito de um nico poema. O recurso utilizado por Mrcio Barbosa,
no poema acima, nos possibilita entrever relaes trasnculturais remarcando traos de apro-
ximao entre o conceito de polifonia e o princpio estruturante da cosmogonia negra refe-
renciada na tradio dos orixs.
A polifonia textual recoberta, na descrio dos CN, pelas citaes e dilogos re-
sultantes das convergncias e divergncias a contidas. A polifonia, conforme a concebe
Bakthin, sempre compreenso e implica duas conscincias, dois sujeitos. A compreenso
, em certa medida, dialgica.
138
No que se prende compreenso, o fato de autores como Clvis Moura e Octavio
Ianni enfatizarem a relevncia de se considerar, na anlise da produo literria, o que di-
zem os seus prprios produtores traz, tambm, a necessidade de incluso, na compreenso
dos sentidos tidos e interditos, de elementos internos da cultura negra como tema e, ao
mesmo tempo, possibilita a sua utilizao, pela crtica e leitores, como meio ou instrumento
para a anlise. Nessa perspectiva, o jogo polifnico, baseado no princpio estruturante das
manifestaes culturais negras, ser buscado e revelado na dupla fala, no mancar de exu, na
mandinga e no entrelugar dos mltiplos sentidos, a encruzilhada.
213
Os diferentes textos, os vrios sujeitos e as referncias apreendidas a partir do com-
plexo cultural oriundo dos valores tecidos pela dinmica da civilizao africano-brasileira,
nos CN, criam um entrelugar da alteridade e da pluralidade.
Temos uma encruzilhada dos sentidos e dos discursos e uma interseo cultural e
ponto de mediao entre os autores e os textos. A dupla fala, o jogo polifnico insinuado no
marcar de exu, ou seja, numa enunciao de muitas vozes, a prpria encruzilhada.
Na encruzilhada, todas as possveis compreenses derivam e no retornam mais
univocamente. Embora toda mensagem radique emissor-referente-receptor, no caso em
questo, essa soluo engendra um processo de comunicao polifnico. Quem fala, isto ,
quem o emissor? Quem o verdadeiro (nico sujeito) da enunciao? Nesse sentido po-
demos dizer que o que particulariza a encruzilhada, constituindo-se no seu ncleo instaura-
dor, e o apagamento da univocidade do discurso. Alis, exu que opera uma multiplicidade
de emissores, de autorias cujas vozes (os muitos significados) aparecem na encruzilhada.
Neste processo de captar as vozes dos autores, dos poemas, dos contos e das teorias
numa busca de uma certa estabilidade discursiva, o entrelugar, a encruzilhada, o ponto de
partida e sua anlise, um crculo hermenutico: um jogo de significaes, as quais contex-
tualizam os dilogos, as aes, e instauram a duplicidade, a indeterminao e/ou multipli-
cao dos sentidos.
A variedade temtica, qual faz referncia Carolyn Richardson Durhan bastante
eloqente no tocante reiterao dos mltiplos sentidos a que fizemos meno acima, na
interseo polifonia e encruzilhada. Durhan pontua
(...) uma variedade temtica que toca muitos elementos das vidas de afro-
brasileiros. Os contos expressam humor e tragdia, amor e dio, dor e
prazer no plano universal. Falam da especificidade em que importam tam-
bm a raa e a cultura na vida cotidiana. Neste plano os autores analisam
elementos como a discriminao institucionalizada, a brutalidade policial,
o desemprego, a violncia contra os meninos de ruas, os conflitos urbanos
entre grupos minoritrios, a assimilao cultural, a miscigenao, os he-
ris afro-brasileiros esquecidos na histria, o contato com outras culturas
negras nas Amricas, a fome e a misria, a qualidade de vida e outros te-
mas...Enfim criaram uma literatura com uma conscincia negra. J unto
com esta identidade negra h um reconhecimento forte de uma herana a-
fricana especialmente dos valores religiosos afro-brasileiros como in-
gredientes essenciais da vida brasileira.
139
138
Bakhtin, Mikhail. Esttica da criao verbal. So Paulo, Martins Fontes. p.338
139
DURHAN, Carolyn Richardson. Cadernos Negros 20. Op. cit., p. 11.
214
Uma das referncias mais marcantes nas abordagens reflexivas ter precisamente a
tarefa de desnaturalizar a idia de uma frica reduzida apenas a seu aspecto continental. O
continente perdido, depois do rapto escravista, emerge como imagem e possibilidade de
recuperao de uma coerncia mitolgica, onrica e de adensamento e percepo crtica da
realidade negra e brasileira. As referncias frica vo atribuindo a ela uma origem, um
lugar no passado, que a procura de uma gnese que restabelece a coerncia e a atuao na
dispora. A frica uma imagem, um mosaico complexo, um campo discursivo e no um
lugar:
A volta frica e ao quilombo so entendidas por mim como estado de
reflexo que impulsionam as novas realizaes. o caminho histrico do
reconhecimento de si, na reconstruo da histria em oposio do bran-
co opressor. Portanto frica, quilombo, escravido, nos meus escritos so
uma fase e um meio de nos explicar e nos entendermos e tomarmos cons-
cincia de nossa vida. Estes elementos oferecem energia revolucionria e
contm as formas comunitrias teis para nossa conscincia. Estamos no
Brasil e no sculo XX, portanto aqui e agora que se deve realizar aquilo
que temos de frica, quilombo e escravos.
140
A frica, recorrentemente evocada e invocada nos textos poticos e narrativos de
inmeros autores negros, , no tocante abordagem terica, ncleo organizador, ou como
diz Cunha: estado de reflexo. Os autores entram, atravs desse imenso continente de
imagens, histria e sonhos, na fenda partida de uma existncia pr e ps dispora. A frica
o paraso e, portanto, objeto de desejo e de retorno simblico a um continente que se insti-
tui ou institudo, alm da fenda transatlntica, numa correlao com a dinmica atual ou
atualizada das necessidades estticas e culturais dos negros e portanto da srie Cadernos
Negros e dos seus sujeitos.
Negro e frica so as palavras mais retomadas quer seja nos contos e poemas,
quer seja nos esforos reflexivos que acompanham essa produo. Ambos so as musas e,
ao mesmo tempo, balizas nodais das noes textuais da negrura e de relao com o tempo.
Estas anlises, envolvendo negros, frica e tempo, nos parecem urgentes e fundamentais.
Nesse exerccio interpretativo da relao frica, escritores e escritura negra, cabe lembrar
aqui Milton Santos:
140
CUNHA J NIOR, Henrique. Cadernos Negros 3. Op. cit., p. 42.
215
A temporalidade introjetada que acompanha o sujeito migrante se con-
trape temporalidade que no lugar novo quer abrigar-se no sujeito. Ins-
tala-se, assim, um choque de orientaes, obrigando a uma nova busca de
interpretaes.
Segundo Lowenthal, o passado um outro pas. Digamos que o passa-
do um outro lugar ou , ainda melhor, o passado num outro lugar. No
lugar novo o passado no est; mister encarar o futuro: perplexidade
primeiro mas, em seguida, necessidade de orientao.
141
Se considerarmos o passado num outro lugar, tambm, da memria viva e transitiva
dos legados negros, talvez Henrique Cunha tenha razo quando afirma que A volta fri-
ca e ao quilombo so entendidas por mim como estado de reflexo que impulsiona as novas
realizaes. A nfase, no significado desse retorno, serve para aliviar a fratura, o abismo
silencioso e alimento da reinscrio de uma frica que se confunde com as fronteiras da
dispora negra, erigindo-se como metfora ou portal para vivenciar o cotidiano. O peso do
passado (a memria) atravessa a substncia do sujeito que cr ser a frica smbolo para a
passagem de um tempo perdido que, no entanto, se redefine na transfigurao da linguagem
potica:
Todo smbolo autntico possui trs dimenses concretas: ele , ao mesmo
tempo, csmico, ou seja, retira toda a sua figurao do mundo visvel,
que nos rodeia, onrico, enraza-se nas lembranas, nos gestos que e-
mergem em nossos sonhos..., e, finalmente, potico, ou seja, o smbolo
tambm apela para a linguagem, e a linguagem mais impetuosa, portanto,
a mais concreta.
142
Pela concretude e aderncia linguagem potica, a frica referncia sinuosa e
delimitadora da recuperao, de um lado, da cosmoviso negra e, de outro, de interveno
na realidade imediata:
Nossa arte fruto da rvore da vida. Por isso tem razes espirituais, traz o
sabor do sonho e da vontade, conserva a cor da histria e carrega a consis-
tncia do fruto-semente para a horta da transformao. Assim ela convive
com o onrico e o sagrado sem esquecer que mora na realidade.
143
141
SANTOS, M. Tcnica espao tempo: globalizao e meio tcnico-cientfico informacional. Op. cit., p. 85.
142
SANTOS, Iaicyra Falco. Corpo e Ancestralidade. Salvador: EDUFBA, 2002. p. 39. Texto de Paul Ricoer
citado por Durante (1988).
143
Cadernos Negros 8. Op. cit. Prefcio.
216
Em outras palavras, a frica a quintessncia que, no texto e na vida, se refaz tam-
bm na quinta dimenso do tempo, o cotidiano: Estamos no Brasil e no sculo XX, portan-
to aqui e agora que se deve realizar aquilo que temos de frica, quilombo e escravos.
144
Desde h muito, chamou-se a ateno, nos CN, para o universo de influncias e,
conseqentemente, as balizas ou as coordenadas fundamentais advindas da produo liter-
ria nacional e estrangeira sedimentadoras das noes de negrura, de modelo literrio etc. A
propsito de modelo literrio, atentemos para a reflexo que caracteriza, atravs da inicia-
o, uma noo de concepo do fazer literrio:
Aprendi com o mestre Osvaldo de Camargo a preocupao com a forma e
o esttico. E acredito que o contedo ser melhor demonstrado, quando se
conhece a poesia em todas as suas formas e variaes: quando no se tem
o preconceito sectrio (e por isso acultural) com a preocupao formal.
Desse modo, toda a poesia me interessa na medida em que por ela, eu
possa desenvolver o que mais me interessa, um melhor resultado de con-
tedo expresso no poema.
145
Concentrando-nos, ento, especialmente, nas influncias e no significado imagstico
da obra em si e na sua relao com as referncias literrias e extraliterrias, temos interdis-
cursos que se localizam no campo literrio, no texto, numa relao dialgica com a antro-
pognese negra:
Quando digo: - Sou negro, entendo-me em toda dimenso humana da
palavra (nascimento, ascendncia, crescimento, nacionalidade, morte,
memria e, com isso, toda sorte de sentimentos, emoes, razes e experi-
ncias existenciais) que encerra situaes passadas, presentes futuras vivi-
das pelo meu povo. Eu nele.
146
Reflexes explicativas encerrando as experincias existenciais passadas, presentes e
futuras, submetidas a uma elaborao literria, como a realizada, nos Cadernos 23, por J a-
mu Minka, que diz: (...) depois do relmpago da inspirao, o esforo para combinar in-
formao, sensibilidade e conscincia. E a pgina vira campo de batalha, territrio do so-
nho, quarto dos desejos.
144
CUNHA J NIOR, Henrique. Cadernos Negros 3. Op. cit., p. 42.
145
RODRIGUES, Abelardo. Cadernos Negros 3. Op. cit., p. 12.
146
SILVA, Luiz (Cuti). Cadernos Negros 8. Op. cit., p. 21.
217
Tais reflexes revelam significados que passam tambm pela cosmoviso cultural
afro e pela representao literria da linguagem simblica que precisa ser rememorada e
compartilhada. atravs dessa rede de sentidos que chegamos formulao de uma hipte-
se: a de que a negrura, segundo alguns textos, estaria determinantemente ligada a uma rede
polissmica de adeso cosmogonia negra.
Existe, nas entrelinhas do fragmento textual acima, Quando digo: - Sou negro,
referindo-se gnese, o nascimento, e ao destino, a morte, a busca da regenerao dos vn-
culos com a matriz negra pelo regresso ao tempo original e na sucesso temporal que deve
ser recorrentemente retomada pela repetio dos vnculos com o micro e macrocosmo do
Ser-Negro. Ademais, a unio do indivduo com o povo inclui o tempo, alis, tempo sagrado
e que deve, sobretudo, regenerar as foras vitais e com elas ou atravs delas os elos da vida
e da morte numa corrente que passa, necessariamente, pela ancestralidade e pelo vislumbre
dos primrdios partilhados pela antropognese e cosmognese negras.
Pois bem, entrevista essa leitura, assentada basicamente sobre a idia da importncia
da dimenso e herana da tradio cosmognica negra, parece-nos importante contrap-la
ou som-la herana eminentemente literria e de aprofundamento da relao autor x texto.
Nesse aspecto, h as crticas produo literria de escritores que reproduzem os
valores sedimentados pela poltica de branqueamento e de afogamento, no anonimato, do
negro:
Os personagens negros so meros figurantes. So Criados para serem a
barrela. Acabo de ler Agostinho (A.Moravia). Nele o personagem negro
foi criado para ser pura e simplesmente o apoio psicolgico de miserveis
garotos brancos.
O negro o mais pobre. Mais sujo. No tem qualidade, e o homos-
sexual da turma de maches. Em suma o mais desgraado.
Se sopram os ventos do modismo, a justia uma concesso.
E quando se tentam ser justo, acabam sendo partenalistas, perdo, pa-
ternalistas.
No li e no conheo, at o presente momento, nenhum autor branco
que tenha um trabalho sem resqucios de colonialismo.
Os personagens negros ainda vm do poro, e isto foda, arranha a
sensibilidade de qualquer leitor negro.
147
Por outro lado h, tambm, o reconhecimento da necessidade de aproveitamento e
de dilogo efetivo com a produo literria nacional:
147
BARBOSA, J os Luanga . Cadernos Negros 8. Op. cit., p. 12.
218
Alguns autores que, a meu ver, merecem ser lidos sempre: Machado de
Assis, Lima Barreto, Cornlio Pena, Adonias Filho (na prosa); Cruz e
Sousa, J orge de Lima, Carlos Drumond de Andrade (poesia).
No acredito que nos possamos expressar verdadeiramente sem elabo-
rao, sem ligao com as velhas e grandes correntes literrias: Leopold
Senghor, Langston Hughes, Aime Cesare, Leon Damas, Nicolas Guillen,
Cruz e Sousa no fizeram grande obra partindo apenas de sua contempla-
o de negros, mas sim por terem aprendido a trabalhar com a palavra.
No acredito no improviso. Escrever difcil. Um bom poema pode
ser escrito em aps dez anos de viglia e de espera, mas vale mais que um
mau livro ou um livro medocre.
148
importante observar que as crticas produo literria nacional no redimem por
si mesmas a ausncia de personagens negros com histria e atualizados com o acmulo dos
movimentos negros polticos e culturais. A tarefa de incluso atualizada, no interior dos
contos e poemas, perpassa, por conta desses movimentos e dos seu sentidos, os discursos e
textos do autores e interlocutores dos Cadernos.
A dimenso pica concebida pelos autores dos Cadernos Negros compartilha da
mesma nfase: adota como referncia os que fazem parte da grande maioria sem voz na
literatura.
149
A dimenso pica significando a incluso do povo negro, da sua histria e
relaes de representao atualizadas:
A criao de personagens e situaes, empregando como referencial a vi-
da presente, se contrape prtica e condicionamentos nefastos de situar a
afro-descendncia, no Brasil, to-somente em um passado escravo, tor-
nando-o invisvel no presente.
150
O espelho constitutivo da condio do negro desloca-se nesse processo relacional no
qual se projeta a sua prpria incluso. A negrura , assim, enquanto noo textual e no um
valor em si, inscrita numa rede que traz, nas suas tessituras, indicaes e noes em mo-
vimento, isto , noes indagativas que deixam marcas transitivas cujos significados vo
compondo ou recompondo o topos discursivo. A negrura passa, necessariamente, pela
compreenso da problemtica negra, pela valorizao da cultura negra e desalienao.
Desalienao, interferncia na realidade, pressupe mudanas no campo especfico
da produo artstica. O criador, nesse confronto, no qual se entrechocam e se determinam
148
CAMARGO, Oswaldo de. Cadernos Negros 3. Op. cit., p. 120.
149
SILVA, Luiz (Cuti). Cadernos Negros os melhores contos . So Paulo: Quilombhje, 1998. p. 19.
219
mutuamente valores literrios e extaliterrios, tem de considerar, no direito e avesso do seu
poema ou conto, as linguagens afro e o seu universo simblico, ou a experincia lings-
tico-formais, inclusive no plano visual.
151
No que tange abordagem do poema, teramos, numa sntese, um posicionamento
no qual a pesquisa de linguagem consiste exatamente em mostrar esse lado interno e exter-
no, em representar um texto referenciado numa noo de negrura e, portanto, em simular o
modo de funcionamento real, no processo de e aps a criao, da linguagem potica, artsti-
ca. Isto pode ser percebido no poema de Esmeralda Ribeiro (CN 9, p. 97):
Falar negramente
nem claro
nem negligente
Tornar negro
sem ficar claro
sem clarear a mente
falar negramente
nem que para isso
eu fale naturalmente
Banir da lngua negra
a palavra racista
que algum implantou
no vacabulrio pobre, branco, manco
que o negro invejou
Nesse arcabouo, o texto negro para quem? Ou melhor, por que o texto negro?
Ou de outra maneira, o que se pode considerar como um texto negro? Leda Maria Martins
nos ensina que a negrura um conceito semitico. A autora enfatiza, na base da sua ar-
gumentao, a necessidade de existncia de uma rede de relaes. A singularidade no ,
assim, um dado estrito da cor, fentipo ou etnia mas so elementos constitutivos do sujeito.
So dados constitutivos tambm a experincia, a memria e o lugar desse sujeito na relao
com os signos que o projetam e representam.
152
150
Idem, p. 17. Texto de Cuti.
151
Revista do Patrimnio Histrico e Artstico Nacional, n. 25. Op. cit., p. 113.
152
MARTINS, Leda Maria. A cena em sombras. Op. cit., p. 18.
220
As representaes e as projees negras recuperam uma rede de relaes que se
articula na ao imediata e na compreenso cosmognica. O enfoque cosmognico faz e-
mergir manifestaes passadas da experincia coletiva e individual pr e ps dispora ne-
gra, em particular do continente africano e no enquadradas no projeto identitrio brasilei-
ro. Simultaneamente, faz emergir o signo negro numa relao entreaberta pela ancestralida-
de e cultura:
(...) do mundo csmico e dentro dela todo potencial poder ser desenvol-
vido, de forma que se reconstituam as baterias energticas que marcam
um entrelaamento do plano fsico com a ancestralidade geradora da pr-
tica e da cultura.
153
Nesse sentido, importante observar as diferenas raciais e de referenciais no to-
cante cosmognese e antropognese ancoradas na matriz negra e, ao mesmo tempo, com-
prend-las no bojo da complexidade das relaes de poder:
(...) abre-se espao, primeiro, para a temtica negra e, depois, a poetas que
assumem a situao de indivduos negros frente a um sistema social aber-
ta ou dissimuladamente excluidor. (E por fim,) abre-se o leque para
poetas que tentam o resgate da cultura afro-brasileira atravs da incorpo-
rao de elementos simblicos das culturas negras. No que o anseio de
resgate simblico inexistisse antes nos poetas, pois h exemplos em Sola-
no Trindade, Oliveira Silveira, Domcio Proena Filho e outros, mas tor-
nou-se mais metdico e crtico em tempos recentes.
154
Assim, ser negro um processo. A negrura no pode, portanto, ser apreendida como
uma essncia e nem ser reduzida cor da pele. isto que Leda Maria Martins, no livro A
cena em sombras, para fugir, no dizer de Laura Cavalcante Padilha, do cerceamento con-
ceitual e, ao nosso ver, romper as armadilhas da veste, diz: Do que se fala, quando se
fala do negro? Da cor do dramaturgo ou do ator? Do tema? Da Cultura? Da Raa? Do Su-
jeito?
Na tessitura dos textos tericos, dos contos e poemas dos CN, concorrem todos os
elementos dispostos da cor ao sujeito numa relao que no cessa. Negro e negrura no so
essncias. O negro, no apenas um tema recorrente, constri-se numa sucesso de noes
153
TAVARES, J lio. Educao Atravs do Corpo. Revista do Patrimnio Histrico e Artstico Nacional,
n. 25. Op. cit., p. 216.
154
Revista do Patrimnio Histrico e Artstico Nacional, n. 25. Op. cit., p. 112.
221
textuais. No existe apenas uma noo, mas noes textuais (polifnicas/encruzilhadas)
representativas da condio negra. Essa noo recupera o sujeito cotidiano, referencial,
como uma instncia da enunciao e do enunciado, que se faz e se constri no tecido do
discurso dramtico e na tessitura da representao.
155
A REDE POLISSMICA DE ADESO COSMOGONIA NEGRA
E OS LUGARES DAS NOES TEXTUAIS DA NEGRURA
Nos vinte e sete anos de existncia dos CN, os elementos formadores dos textos, cu-
jo conjunto nos d a configurao da questo negra e nos define a prpria noo textual da
negrura, so, a cada nova publicao, mais carregados de informaes. Cresce, no escopo
informativo, nos textos em prosa, em verso e nas teorias, a questo da identidade racial. A
problematizao da identidade objeto nuclear e compe um percurso inseparvel dos tex-
tos e das teorias.
Pode-se dizer, mesmo, que os contos, poemas e teorias publicados pela srie sejam
dotados de intencionalidades especficas em torno do negro e da problemtica negra para
discutir, por exemplo, o que literatura na perspectiva identitria negra. A projeo afirma-
tiva do signo negro e a visibilidade positiva da cultura permitem a circulao, numa forma
de revanche, de uma linguagem que se contrape ao racismo e os seus efeitos na linguagem
e discursos.
O efeito autodestruidor dos sujeitos, na tessitura da invisibilidade e rebaixamento
significante e significativo do signo negro, faz com que os autores e o projeto da srie CN
busquem, nos movimentos negros americanos, na luta de libertao colonial empreendida
pelos pases africanos, no movimentos culturais nacionais e internacionais, as inscries
raciais que possibilitem externamente e internamente a projeo de sujeitos e signos negros
referenciados nesses modelos.
As intencionalidades especficas do projeto identitrio negro, ao longo dos vinte e
sete volumes da coleo, trazem novos sentidos ou significados para a noo textual que
trata da condio negra. Somemos a esse um outro dado: dos textos, dos intertextos e dos
155
MARTINS, Leda Maria. A cena em sombras. Op. cit., p. 25.
222
contextos que convergem (divergem) para a configurao textual da negrura, alguns esto
assentados na cosmogonia negra. Nesse caso, no que diz respeito aos CN, certas recorrn-
cias tm de ser ressaltadas.
H uma aproximao com universo simblico da religiosidade e religio de matriz
africana. O texto , ento, a configurao formada pelo conjunto constitudo, principalmen-
te a partir da afro dispora, no entrecruzamento de suportes simblicos oriundos de um
processo intercultural (nags com outras naes africanas ou negros das regies sul-
sudeste com negros das regies norte-nordeste) e transcultural (negros com brancos).
156
No demais reconhecer que a construo da identidade depende do tipo de relao que o
sujeito estabelece com o seu universo cultural.
da relao com as manifestaes culturais e cosmognicas negras que se d, tam-
bm, o aprofundamento, numa relao de conhecimento eroticamente investido, com o cor-
po e com o corpo enquanto linguagem da negrura. Percorremos vrios poemas que, a partir
da cosmogonia negra, selaram na produo literria a discusso ou inscrio do corpo e
signo negros. O corpo deve, se considerarmos o conjunto dos textos dos CN, ser lugar pri-
vilegiado de prazer e orgulho para o sujeito que se percebe afirmativamente na condio de
negro.
As capas, os contos e os poemas so os repositrios e/ou espaos atravs dos quais
as falas, os corpos e o sentidos fenotpicos se completam e instauram, na ao militante,
um outro eixo articulador do texto e da problemtica dos afro-brasileiros. Decorre da uma
mobilidade que, nos textos, arquitetam as questes identitrias para balizar o eixo literatura
e militncia. Esse eixo pode, didaticamente, ser entendido internamente e externamente.
Internamente, isto , na produo dos CN h o reconhecimento da existncia do ra-
cismo. O texto , dessa forma, mobilizado para responder questo da subcidadania dada
ao negro, s vezes, diretamente.
Externamente, temos, no contexto da realidade social mais ampla, a ao dos mo-
vimentos negros e a institucionalizao do 20 de Novembro, Dia Nacional da Conscincia
Negra e do 13 de Maio, Dia Nacional de Denncia do Racismo.
No campo extra-literrio, essas tomadas de posio se constituem em espaos para a
tessitura, no mbito de ao dos movimentos negros e incidindo no conjunto da sociedade
223
brasileira, de uma identidade negra transitiva e mobilizadora. Esse movimento , desde a
sua base, majoritariamente mobilizador, ou seja, concentra pessoas, recursos e esforos no
campo apenas da crtica.
Em outras palavras, sem um projeto poltico, a mobilizao crtica, herana de um
certo estgio de luta dos movimentos negros, no consegue criar um processo contnuo
alm das datas 13 de Maio e 20 de Novembro.
Podemos falar, num resumo, que esses dois momentos crticos e as investidas
mobilizantes no garantem a construo de um projeto poltico centrado no cotidiano e na
compreenso sistmica do racismo.
Os elementos analticos, envolvendo a mudana de enfoque dos eventos comemora-
tivos (mobilizadores) para o cotidiano, devero conduzir o combate sistmico que , guisa
de preciso, o entendimento das mltiplas inter-relaes do racismo brasileira. Estamos
enfatizando que o racismo exige tambm um combate sistmico. A ao mobilizadora, a
crtica, deve, portanto, ser precedida pela anlise. Pois os sistemas de aes, teorias e dis-
cursos, quadro nico, mas multifacetado, no qual a histria do racismo no Brasil se d,
formam um conjunto indissocivel e muitas vezes contraditrio.
Dois dados da realidade brasileira, o enegrecimento fsico e o branqueamento ideo-
lgico, contribuem para embaralhar e tornar ainda mais movedias as contradies.
Nesse aspecto, fica exposto que o processo de branqueamento fsico no se consoli-
dou, no entanto, no obstante o progressivo enegrecimento do pas, seu ideal, inculcado,
como pontua Kabengele Munanga, ficou intacto no inconsciente brasileiro.
157
No por outra razo que o racismo, no Brasil, exige um discurso para construir a
sua invisibilidade e a permanente traduo dos militantes anti-racismo e intelectuais negros.
Os discursos, que no cotidiano e sistemas de ensino, etc, significam a negao do negro e
do conhecimento, portanto, uma dupla negao, recriam permanentemente a ignorncia.
Ignorncia preestabelecida, com funcionalidade precisa, multiplicada e naturalizada.
156
OLIVEIRA, Marco Aurlio de. Agad: dinmica da civilizao africano-brasileira. Op. cit., p. 12. Do
prefcio, escrito por Muniz Sodr.
157
MUNANGA, Kabengele As facetas de um racismo silenciado. In: SCHWARCZ, Lilia Moritz; QUEIROZ,
Renato da Silva (orgs.). Raa e diversidade. So Paulo: Edusp/Estao Cincia, 1996. p. 213.
224
A naturalizao do racismo, o branqueamento ideolgico, na contramo do enegre-
cimento fsico do pas, s podem ser efetivados atravs do silncio e do bloqueio de uma
reao analtica engendrada na concepo sistmica do seu funcionamento.
Internamente, nos textos, a mobilizao no deve, portanto, ser apenas crtica. Falar
do negro no movedio das contradies, dependendo de como se fala, pode ser uma formar
de criar um silncio mais profundo sobre outras implicaes do racismo.
A relao que se estabelece com os discursos anti-racismo, internamente ao texto,
deve, de forma analtica e no apenas crtica, buscar a identidade negra transitiva, mobili-
zadora e analtica. O que envolve uma operao complexa que tem, no mnimo, duas for-
mas de ao: uma configurada pelo projeto poltico e traduzida em leis, intervenes e
uma nova noo de cidadania; outra discursiva e retrica, compreendendo os discursos
produzidos pelos estudiosos, militantes e incorporando, principalmente, as relaes com as
manifestaes culturais e cosmognicas negras.
158
Desse modo, a noo de uma rede polissmica de adeso questo negra ,contando
a a cosmogonia, antecede noo textual da negrura. Para chegarmos rede, consideran-
do os vinte sete anos dos CN, preciso considerarmos, luz do racismo brasileira, que
necessrio um enfoque sistmico. Internamente, no mbito dos textos, preciso uma estra-
tgia textual. A soma desses esforos interdisciplinares constituem uma rede. A sua base
tem os enfoques poltico , cultural e textual. Esse esforo pode ser entendido e acompanha-
do nos seus passos e descompassos pela leitura dos contos, poemas e pelas relaes dial-
gicas enfrentadas pelo estudiosos, militantes anti-racismo e agentes culturais presentes,
num debate ainda aberto, nos vinte e sete anos dos CN.
A noo textual referenciada no condio do negro que emerge desse processo ,
desse modo, contnua. Ao longo dos vinte e sete volumes dos CN, vinte e sete anos de pro-
duo, no emerge um s noo textual da negrura, emergem e coexistem noes textuais
da negrura em sucesso, que vo, em determinados perodos e contextos, pondo e repondo
as formas de representao dos negros e a medida de incluso/inscrio nos textos tericos
e literrios que a srie CN produz.
As posies externas, dadas pela sociedade brasileira movimentos negros, e as posi-
es internas retiradas do teor especfico da produo artstico-literria se determinam mu-
225
tuamente. Por outro lado, as representaes sociais e textuais, quaisquer que sejam, dizem
que no h uma realidade em si e, igualmente, no h um sujeito (autor/escritor) em si.
Existe uma relao mvel. Podemos objetar, ento, que no h uma literatura em si. Pois
os campos, sujeito, realidade e literatura, esto numa relao sempre em trnsito.
A noo de sujeito histrica e a sua relao com a linguagem tambm. No se
constituindo, portanto, o escritor numa fonte isolada do que diz, especialmente no quadro
brasileiro no qual o negro se insere ou est inserido na mo ou na contramo do embraque-
cimento e da institucionalizao do silncio em torno do racismo. O silncio em torno da
discusso do racismo e o seu oposto, quaisquer que sejam as opes, no tem origem no
escritor. A afonia em relao condio negra est ligada a uma rede de discursos e aes.
As posies favorveis afonia no so construdas isoladamente. As movimentaes que
incrementam racial, socialmente e textualmente a visibilidade negra tambm no sero ex-
plicitadas apenas na ao e discursos de um nico sujeito. Os CN consubstanciam, atravs
de um rede de discursos e aes, as variaes da produo literria nas suas relaes com a
realidade brasileira.
Algumas discusses sero recorrentemente retomadas, entre elas, as investidas te-
ricas que delimitam o que literatura do ponto de vista dos autores que publicam nos CN.
As posies oscilam. H aquelas que se articulam a partir da defesa de uma literatura negra,
os autores dirigem as sua reflexes para as condies de produo de textos que conside-
rem esse universo. Existem posies que caracterizam os CN como um movimento liter-
rio. A explorao dessa via traz a histria da literatura brasileira como ponto de reflexo
necessrio tanto para a definio do lugar dessa produo como para a avaliao do proces-
so de interao com a literatura nacional.
preciso verificar as possibilidades reais de distanciamento dos autores dos CN das
regras determinadas pela literatura. Assim, a problematizao do que literatura passa a ser
uma determinao interna. Temos, ento, a busca de autoria, a busca da negrura textual que
evidencia a passagem do enunciador para o autor/escritor. O que literatura ou o que lite-
ratura negra deriva para a noo textual da negrura. Antecede noo textual a criao de
um rede na qual se processam os discursos e as aes, ou melhor, sistemas de discursos e
158
MUNANGA, Kabengele (org.). O anti-racismo no Brasil. Estratgias e polticas de combate discrimina-
o racial. So Paulo: Edusp/ Estao Cincia, 1996. p. 79.
226
sistemas de aes com os quais os escritores dos CN vo se contrapor ao racismo brasileiro,
conforme vimos, igualmente constitudo.
A nossa anlise procurou captar uma posio que busca uma noo textual ou no-
es textuais para tencionar criticamente o apagamento do negro sujeito e personagem e, ao
mesmo tempo, orientar a relao entre o que os autores dos CN falam acerca de literatura e
o que objetivamente fazem. No que concerne noo textual inclusiva do negro, avultam
os recursos que orientam ou que so orientados para o texto a partir das manifestaes cul-
turais e cosmognicas negras. As referncias, nesse enfoque, passam, entre outras que vo
se interpondo, pela religio, religiosidade, escrita, cultura negra e oralidade.
227
ANEXOS
Cadernos Negros 1 - Poemas
Autor Poema
Cunha Sou negro
Quantos negros
Mulher negra
So negros
Cabelos
Angela Negro-negro
Retratao
Desencontro
Crcas
Sde
Eduardo Tnica de bano
Emdefesa da negritude aos ps da histria
Zumbi dos palmares
Qual seria a cor de Deus
Altiplanos da Amrica
Hugo Mataramumnegro e depois outro
Antes e ainda
O que um negro?
Clia Chibata
Caminhoneiro
Interrogao
De costas para o espelho
Camuflagem
J amu Identidade
Minha vez, minha vez
Zumbi
Oswaldo Ousadia
Atitude
Oh, mame
Cuti Meu verso
Impresso
Sapo gratuito
Vento
Preconceito racial
Capa: Mensah Gamba So Paulo 1978
Cadernos Negros 2 contos
J os Correia Leite Apresentao
Abelardo Rodrigues O ltimo trem
Aristides Barbosa Tempestade e alegria
Aristides Theodoro Petco
Cunha Chico dos pampas
Cuti Olhe
Ivair S
Desesperana
Uma crnica da necessidade
J os Alberto O mundo que deu a luz a um cego
228
A corrida
Maga Bacurau
Neide
Neusa Maria Pereira Tio tio
Passo marcado
Odacir de Matos O feiticeiro
O jaguno
Paulo Colina Fogo cruzado
Pequeno homem
Sonia Equvoco
Capa: Mensah Gamba
Cadernos Negros 3 Poemas
Clvis Moura Prefcio
Abelardo Rodrigues A procura de Palmares
Vulco
Garganta
Zumbi
Dana movimento
Angela Lopes Galvo Na vala profunda
Tristeza
Marco
Apelo
Danando
Aparecido Tadeu dos Santos Neusa, nvea crioula guerreira
Triste amor de carnaval
A falta
Olhar para trs
Aristides Theodoro Queria ser umdeus
Azael Mendona J nior Moa cante
Comoo
Ocular
Cunha (Henrique Cunha J r) Histria negra
O que importa
Paz e guerra
Quilombo
Beijo
Cuti (Luiz Silva) Tocaia
Sangristia
Mofo
Ato
D. Paula (Wilson J orge de Paula) Meu poema
Apartheid
Gnese
Repoema
Umapstolo para os dias novos
Eduardo de Oliveira Negro bonito
Me negra
Anjo africano
Racista
Trovas da negritude
le Semog Da viso
229
Perseguio
Heranas
Nas mos do tempo
Histria e deveres
Hamilton Bernandes Cardoso Eu e meus amigos
Versos de quem ficou s
...! (anarquista)
Maio, 30
Ah! (gozo)
J amu Minka (J os Carlos de Andrade) Homem no mundo
Olhares
frica vida nova
Duas mulheres
Gol contra
J os Alberto Dos Palmares
Sou maanapeano
12,13 e 14 de maio
Amor de criana
Desconhecida
J os Carlos Limeira Tremdas seis
Para Domingos J orge Velho
Detalhe relevante
Acontecendo
Negra I
Luanga (J os Aparecido dos S. Barbosa) Pssaro
Ange
Movimento I
Sonho, na realidade II
Magdalena de Souza Ser que isto te importa?
Acalanto negro
Zumbi
Maria da Paixo O navio
Me aquietaram na vida
Que vergonha, eu sinto
Meu navio espera com
Havia homens com olhos na
Oliveira Silveira Recado
J ongo
Casa de religio
Anair
Salve, mulher negra
Oswaldo Camargo Canto de louvor a Ben
J oozinho de Cruz e Souza
Em maio
Paulo Colina Plano de vo
Esboo
Fnix
Fala sufoco
Reinaldo Rodrigues de S As nossas cascas j
No fimda ponte tem outra
E os olhos?
Passamento
No deveramos ter perdido
Capa: Mensah Gamba
230
Cadernos Negros 4 Prosa
Thereza Santos Prefcio
Aristides Barbosa J eremias ume J eremias dois
Aristides Theodoro Viagem ao inferno
Resmulungo
Clia Os donos das terras e das guas do mar
Cunha Encontro fnebre entre amigos
Cuti Lembrana das lies
Atitude no peito
le Semog Tormento
Geni Mariano Guimares J andira morena
Histria da V Rosria
Hamilton Cardoso A revoluo dos sonhos: macumba, revoluo e ca-
chaa
Hlio Moreira da Silva Rosemiro, o negro, umlutador
Henrique Antunes Cunha Z pretinho, um graxeiro
J os Alberto Emboscada
O homossexual
J os Carlos limeira Operao festa
Esporte clube corao saudoso
Luiz Carlos Barcellos O encontro dos fios
Encenao coletiva
Mosaico audiovisual
( O no) da viso e a (surdez) da audio
Oswaldo Camargo Civilizao
ubi Ina Kibuko Maria das dores
Pedro e josefina
Contraste
A gIrar! Que maravilha! A girar!
Paulo Ricardo de Moraes Mister marraketh
Condio humana
Ramatis J acino Fazendo a cabea
A perda da cor
Snia Maria
Capa: Luiz Carlos Barcellos
Cadernos Negros 5 Poesia
Llia Gonzales Prefcio
Clvis Maciel Retrato
Prola negra
O sol
O vento
Viver
Borboleta
Cunha ( Henrique Cunha J r) Olhos de medo
Lembranas
Caminhos da revoluo
Racismorepressoracismo
Boca tapada
Cuti (Luiz Silva) Autocrtica 81
Quebranto
231
Quemsabe conhece bem como faz mal ser to nin-
gum
Esmeralda Ribeiro Preciso de umhomem
Ser artista
A noite
Lbito
Francisco Mesquita Atoleiro
D maior
Cor-de-rosa
Histria
Vida viva
J amu Minka Ontem, hoje, amanh...?
Regresso
Zumbabwe
Ejacorao
J os Alberto Quemcala no consente
Escada da vida
Ave semasa
Viva o almirante negro
Fechar-se- de cansao
Mrcio Barbosa Umcanto de liberdade
Somos canto
Canto mulher negra
Canto ao poeta
Canto amada
Amada minha
Praa ramos
MiriamAlves Magma
Embriagada
Fantasmas alheios
Fumaa
Viagem pela vida
Oubi Ina Kibubo Forma artificial
As mulheres de minha raa
Os babuinos
Re/agindo
Malungos
Indenpendncia geral
Regina Helena Prisioneira
Folclore poltico
Desejo bbado
Tietra (Maria Helena do Nascimento Arajo) Click!
S
Masculino/feminino (smbolos)
Salo chic
Negra raiz
Sob sol castanha de caju
Pra Roso
Pra Marley
Estar star
Capa: Luiz Carlos Barcellos
232
Cadernos Negros 6 contos
Vera Lcia Benedito Prefcio
Cuti Impact potico
le semog A seiva da vida
J os Alberto O militante
J os carlos limeira Tanclau
Luanga Liliputiano
Raa
Mrcio Barbosa O Odu caiu bom
ubi Ina Kibuko Ela
Quando a chuva parar
Ob Kosso!
Paulo Ricardo de Moraes Sabor bem brasileiro
Os cadveres
Ramatis J acino J acira e jlio csar
Os espies
Snia Lembranas
Valdir Ribeiro Floriano Merdau
Capa: Mrcio Barbosa
Cadernos Negros 7 Poemas
Carlos de Assumpo Minha luta
Complexo
Cavalo dos ancestrais
batuque
Clinha Negritude
Umsol, guerreiro
Cantinga
Desencontro
Valentia
Resistncia
Clvis Maciel Vida
Beijo
Reflexo
Mar
Embiro
Crebro de vidro
Metforas
Cuti Muuuuuuu
Mar glu-glu
Sumo
Raio de sol
Ternura
Ploft!
-violnsinha!
Teses
De Paula, W. J . Ch(x) comt(p)orradas
Ice-dream
Como
Aqui, !
Visita
233
Rquiem
Edu Omo Oguian Love orixs oneness
Inrcia
Falta o Tde trabalho
Quero
Vozes X Armas
le Semog Variveis
Esmeralda Ribeiro Saiu
Amor omisso
Interapresentao
Redondo tarde
Vejo no espelho
Francisco Maria Mesquita Converso
Reperties
Pretrito
Mau tempo
Restos mortais
J . Ablio Ferreira Amor
Semamor
Aleta
Dominao
Ao meu filho
Preciso ir
J amu Minka Ereio
CuOmunidade
Safari
Linchamentos
Olho por olho, beijo por beijo
Esquinas & praas
Luana
J os Alberto O re-verso
Tigritude
Amor em branco
J os Carlos Limeira Compromissos
Umpoema sem nome
Deusa ginga oxum
Mais um
J os Luanga Barbosa Umsonho, na realidade
Morrendo na rua central
Libertao
Solido
Kilamba Injustia
Est na hora
20 de novembro
Guerreiros
Plantao
Liberdade
Marginal
O que sobrou?
Cem folhas
Mrcio Barbosa Pantera
Ns
Vai-vai
Cuca
Casa verde
234
A frica emmim
Poema ltimo
Maria da Paixo Por voc negro
Palavras da noite I
Saudaes musicais
Negrus
Marise Tietra Dei
K.
Fon
Voceu
Viagem
P.s.
MiriamAlves J antar
Dia 13 de maio
Hoje
Caadores de cabeas
Calafrio
Lambida
Fogo
Oubi Ina Kibubo Em defesa da dignidade
Ato final
Abrir os olhos
Bonana
Poema armado
Oferenda para a minha amada
Valdir Ribeiro Floriano Negro amor
Negro, onde est a sua negra?
Negro assuma-te
Vera Lcia Benedito Desconectando
Conscincia, negritude, negra mulher
Procura-se
Dia-a-dia
Negao
Mesmice
Combatente
Capa: Mrcio Barbosa
Cadernos Negros 8 Contos
Anita Realce Penumbra
Cuti O dito pelo dito benedito
le Semog A insnia da moa
Commuito amor
Esmeralda Ribeiro Ogn
J . Ablio Ferreira A casa de Fayola
J os Carlos Limeira Bons tempos
O dia da fuga
J os Luanga Barbosa Boimate
Coliseum city
Mrcio Barbosa Outra histria de amor
MiriamAlves Ums gole
Oubi Ina Kibubo O estudante
Ramatis J acinto Emiliano
235
Sonia Mais uma histria
Valdir Ribeiro Floriano Saberne
Zula Gibi Umbomconselho
Capa: Marizilda Menezes
Cadernos Negros 9 Poemas
Walter Barbosa dos Santos Busca
Pessoa
Teatro da vida
Avenidas
Cai a chuva
Sonia Ftima da Conceio Megamor
Esteretipos
Branca histria
Im-potncia
J urema Preta
Espera
Sonho
Roseli da Cruz Nascimento Saturao
Escapamentos urbanos
Romances
Exerccio
Singular momento
Deglutio
Promessas
Contemplativa
Olhem
Despertar
Dizem
Rumores
Regina Helena da Silva Amaral Retrato 3x4
Preconceito
Limites
Vivncia
Vestida
Arranhes
Absurdos
Teso
Costumer
Deciso
Ansiedade
Ponto a ponto
Agresso
Oubi Ina Kibubo Tranada inspirao
Continue
Mandinga de amor
Campo deserto
Clamor melanino
Umoriki mulher negra
Negao anterior
Minhas filhas
A fala do olho
236
Melifluir
Gosto gostoso
MiriamAlves Exus
Insnia
Cobertores
ntimo vu
Lenis azuis
MNU
Amantes
Caadores de cabeas
Mahin amanh
Afagos
Noticirio
Mrcio Barbosa Orikis para este tempo
Verso
Mscara
Oris
A mulher
Bandal
Traado
Tranado
O baile
Malandragem
Coisas do amor
Oubiniana
Boca
Quase a prosa
A velhice
A morte
Derradeiros poemas
Futuro
Manoel Messias Pereira Desenho
Tela
Sintilar humano
P no cho e cabea na vibrao
Capas e contracapas
Apar, Abamim, Gymun e Abal
Oscilaes
Processo emmarcha
Retalho humano
Os mortos de fome
J os Alberto Afro-centro-irmo
Domin
13 de maio de 1885
Existo
J natas Conceio da Silva Poema da maioridade
Naquele tempo tinha bonde
Tipos de vida
Fora do Orum
Canto de amor ao homemdo samba batatinha
Zumbi o senhor dos caminhos
J amu Minka Beira-sol
Ayodele
Going back home (voltando pra casa)
Acento circunflexo
Guerrilha urbana
237
J . Ablio Repetio d uma ao de uma histria a desenrolar
Clareza
Tambores
Saga
Trangresso
Amo
Quadro
Mgoa
Francisco Mesquita (Chico) Masmorra
Resto
Cinzas processo
No
Origem
Lutador
Esmeralda Ribeiro Apresenta poemas semttulos (8)
Poemas para umbeijo
Ato de desespero
le Semog Surpresas
Amor do fruto deformado
Solitria coletiva
Castigo
Perfil
Rematando rematar morrer
Cheio e vazio
Cuti As cores
Fluido
Rancor
Sagrao
Semelhana
Coito
Para ouvir e entender estrelas
Poema axex para Tonho
Aprendendo com a ayo
Verso curto
Exu
Luz na uretra
Roda de poemas
Semttulo
Cristvo Avelino Nery Respingos na cara
Focos
Verboar
Conseqncias inversas
Batuques
Para a vitria de Vitria?
Dvidas
Sempre sussurrando, sumindo
Ns
Carlos Assumpo Linhagem
Dilema
Poema do amargo cotidiano
O caso de tia Ana
Encontro
Destituio
Baticum do bia-fria
Benedita Delazari Homenagem ao Quilombhoje
Sonhando com a paz
238
Ums corpo, uma s carne I
Abayomi Lutalo Ser I
Ser II
Ser III
Ser IV
Ser V
Criao
Semttulo
Capa: J efferson Pistoresi
Cadernos Negros 10 Contos
Abayomi Lutalo O Av
Arnaldo Xavier Os ltimos dias de ressurreies de Cirillo la Ursa
Cuti Alegoria
J ornada
Visita
Avenidas
Incidente na Raiz
Queda Livre
le Semog Opo
Esmeralda Ribeiro Vingan de dona La
H. Cunha J r O morro dos pretos
J . Ablio Ferreira Doda
Natal
J os Carlos Limeira O lobo de botas
J natas Conceio da Silva Margens Mortas
Mrcio Barbosa Quando o malandro vacila
Marta Monteiro Andr O jantar
MiriamAlves Cinco cartas para Rael
Oubi Ina Kibubo Meditao afetiva
Ricardo Dias Vida provisria
Sonia Ftima da Conceio Nos casos de amor
Capa: J efferson Pistoresi
Cadernos Negros 11 Poemas
Bahia (J os Ailton Ferreira) Versos negros
Indigncia
Nossa pele escura
Abolio sofismtica
Realidade atroz
Tu negrita
noite
Quadrantes escuros
At quando?
Ns: os negros
Cuti (Luiz Silva) Supermercado
Magma
Carta de euforia
Em face da histria
239
No nibus
Pinto Preto
Ori-ao para Celinha
Semnus de abolio
Medo
Poema classista
Cartada
Noite
Realidade
Maio
Treza
Desafio
Procura
Disputaquepariu
Vigilncia
Esmeralda Ribeiro Fato
e-nao
rotina
safira
con-trato
seiva
opes
afeto
ciranda
rapto
J amu Minka Vero importado
Preto tudo
Risco corisco
Tiro ao alvo
Nail
Apartheid
Mrcio Barbosa Declnio da tarde
Beno
Feconezu
Ijex
Da malandragem a morte do vacilo
Cano da malandragem
Poema de amor
Poema da comunho da carne
Mandela
s
MiriamAlves Colar
Pisca olho
Nau dos passos
Revanche
Uma histria
Poetas
Averbalizar
Cabide
Leve
Calor colorido
En-tarde-ser
Dente por dente
Minhas
Oliveira Silveira Ser e no ser
Umsculo depois (ou mais)
240
Palavras de ordem
Ponto de partida
Das aparncias
Outra nega ful
Oubi Ina Kibubo rvores
Ponto final
Aquele j era
nica sada
Oriki para o meu amor
Nota de escurecimento
Sonia Ftima da Conceio Eurobeleza
Turvo
Negrume
A musa de bano
Ausncia
Devolver a alma branca
Hermafrodita
Passado histrico
Antropfago
Auto-afirmao
Desejos
Macho
Racismo
Navio negreiro
Capa: fotografia Osvaldo Aguiar Filho
Cadernos Negros 12 Contos
Ablio Ferreira Caador
Gestos
Geni Mariano Guimares Questo de afinidade
Cuti No ponto
Enquanto o pagode no vem
Esmeralda Ribeiro Desejo esquecido na memria
Luis Cludio Lawa Po da inocncia
Mrcio Barbosa Tranca estava indo ao J otab
le Semog Vidinha
Arnaldo Xavier Umdia ela foi flor nos jardins
MiriamAlves Alice est morta
Brincadeira um
Oubi Ina Kibubo Presena
Antes que me espremam
Como uma mulher de verdade
Sonia Ftima da Conceio Em tempos de escravos
Capa: Saritah Barboza
Cadernos Negros 13 Poemas
Esmeralda Ribeiro J ustia
O que est contido
A rainha ayo
241
Desfecho
Tudo o que demais
Amor em trs atos
Dvida
Amrica do sul, rhythm and blues
Cuti (Luiz Silva) Sete poemas de paixo e volpia
Civilization
Trsnfuso potica
Psiu!
Parodinha ao poema
Empresridos
Conceio Evaristo Mineiridade
Eu-mulher
Os sonhos
Vozes mulheres
Fluida lembrana
Negro-estrela
Mrcio Barbosa E assim exuir
Volta
faca escura
Evoco as horas de vidro
Sob o sol metlico
Reencontrar o encanto perdido
Goles de beijos
Tempos de amor
Comondas e sombras
Folia e morte
De quatro
MiriamAlves Gens
Era
Averbar
Fmea toca
Madrigada desavisada
Tempos difceis
Encruza
Objetando
Translcida
Ablio Ferreira Vaga
Uma mulher
Dezembro
Poema da conspirao e do medo
Sobre os negros
Sobre os brancos
Exu
Apenas sexo
Oubi Ina Kibubo Conquista
Potica em famlia
Deriva
Por bancar super heri
Belchior
Hospedagem
Identidade
ntima viagem
Dirio 89
Ax astral
Camila
242
Reais heris
Memria
Revide
Barganha
Enfluxo
Prazer
Inspirao in rap
Arnaldo Xavier Poema ju-ju
Capa: Mrcio Barbosa
Cadernos Negros 14 Contos
Conceio Evaristo Di lixo
Maria
Cuti (Luiz Silva) O batizado
Esmeralda Ribeiro Guarde segredo
H.Cunha J r. Ver vendo
Lia Vieira Foramsete...
Mrcio Barbosa Carne
Oubi Ina Kibubo Atltica blitz
Umprncipe encencado
Umtoque de afeto
Conto carnavalesco
Umditador de raa
Acordo violado
conta do home
por uma razo de existir
inspirado numa charge de jaguar
comforas quase seelhantes
o embrulhopreldio amoroso
s assim possvel foi
Capa: Mrcio Barbosa
Cadernos Negros 15 poesias
Carlos de Assumpo Quadrinha
Auto-etrato 2
Indignao
Celinha Acalanto a Daina
Cantiga nmero 2
Le...lembranas
Atitudes
Lao de fita, ladainha
Ancestrais
Conceio Evaristo Recordar preciso
Menina
Brincadeiras
Po
Meu corpo igual
Favela
243
Filhos na rua
Pedra, pau, espinho e grade
Bus
Meu rosrio
Stop
Cuti Fatos e fetos
Trabalho
Branco negreiro
J azz
Descendncia
tempo de mulher
Educao
Reflexsoul
Meio ambidoente
Conscinsi
Eliane R. da S. Francisco L vemelas
Dias semsignificados
Ideal
Prisioneira
Eliete R. da S. Gomes Fantasia da alma
Preto branco, branco preto
Expectativa
Esmeralda Ribeiro Cinco poemas para a Rainha Quel
E agora nossa guerreira
J ogo de luzes
J amu Minka Papel de preto
Vozes
Olho por olho
Raa & classe
Pela manh
Chocolatssima
A cor da pedra
Pele parda
Explorasil
Mandela livre
Ligaes perigosas
Vidro e vidro
Lia Vieira Poema I
Poema II
Poema III
Meu Zumbi
Carnavalina
Infinita viagem
Acorda bomio que j quase noite
Agnus dei
Os alquimistas esto chegando
J ogo de xadrez
Mrcio Barbosa Numpoema-eb
O que no dizia o poeminha do Manoel
B(ori)
P(s)
A luta continua
Roseli Nascimento Priso
ris
Lgrimas atvicas
Quebra bolsa das cores
244
Escarlates blues
A rosa-ris flecha
Rompe-se a barreira
Mxima alegoria
Dois corpos
Capa: fotogafias de Mrcio Espinosa
Cadernos Negros 16 Contos
Apresentao: Waldemar Correa Bonfim
Umpouco de histria
Aristides Barbosa Tia Fren e o frentenegrino
Conceio Evaristo Duzu-querena
Cuti Vida em dvida
Dvida emvida
Eliane R. da S. Francisco e Eliete R. da S. Gomes Queci-queci
Esmeralda Ribeiro procura de uma borboleta preta
Lia Vieira Por que Nicinha no veio?
He-man
Mrcio Barbosa Espelho
Os roedores
Oubi Ina Kibubo Reencontro
Snia Ftima da Conceio Obsesso
Capa: Mrcio Barbosa
Cadernos Negros 17 Poemas
Apresentao: Clvis Moura
Introduo: Mrcio Barbosa
Esmeralda Ribeiro Sero sempre as terras do senhor
Trocar de mscara
Mo-outra
Olhar negro
J amu Minka Cristvo-Quilombos
Promessa
Misturas brasileiras
Vizinha
Cabea que no pensa
Faxina interior
Esquina
Novembro, 20
MiriamAlves Passo, praa
Abandonados
Assalto
Improviso 2
Coma rota na cabea
Feindo o cho auto-biogrfico
Petardo
Intervalo
Geometria bidimensional
245
Viajeiro
Oubi Ina Kibubo Naes
Dana com recordaes
Tranas
Reconciliao
Sensaes
Escola
Aquilombailando
Vivncia
Calendrio
Tempos
Antropofagonia
Vadiagemna chuva
Sarro
Regresso
Sonia Ftima da Conceio Paisagem de fogo
Ainda ressoam as passadas
Te amo
Desejo
Ausncia
Pivete
Nefasto
O dia
Capa: pintura do artista plstico Lizar
Cadernos Negros 18 Contos
Apresentao: Quilombhoje
Ablio Ferreira Sete viagens coletivas
Conceio Evaristo Ana Davenga
Cuti O melhor amigo da fome
Sada
Esmeralda Ribeiro O que faremos sem voc?
Lia Vieira Operao Candelria
Mrcio Barbosa Viver outra vez
Ramatis J acinto Os espies
O cercado
Snia Ftima da Conceio No. 505
Capa: foto de Mrcio Espinosa
Cadernos Negros 19 Poemas afro-brasileiros
Apresentao: Quilombhoje
Al Eleazar Fun Outono
Umlobo assalta o reino de meu corao
Alzira Rufino Crioula
Boletim de ocorrncias
Ana Clia da Silva Z
246
Beb a bordo
Conceio Evaristo Malungo, brother, irmo
A noite no adormece nos olhos das mulheres
Ao escrever...
Cuti Seduo
Contato tnico de primeiro grau
Cultura negra
Brancar-se
Esttica
Eh, ventos...
Mamice
Trans...
Digesto ameaada
Pane
Moral
Relatividade
Domingos Moreira Caos
O Papa
Magia
le Semog Da flor pelo silncio
Setententou noventar
O mesmo rsto em ti e emmim
Danando negro
Outras notcias
Da cidade
ntimo dado ( a senha)
Umpoema ao amanh
Conta-gotas
Esmeralda Ribeiro Vrios desejos de um rio
Em nome de Quem?
Enigma do amor
Henrique Cunha J r. Nuvens negras no horizontes
Necessidade de respirar
Imaginao
J amu Minka Chegou o 17
J aneiro e fevereiro
Racismo cordial/ 1
Racismo cordial/ 2
Efeitos colaterais
Beno das guas
Negrndia
Escuro ser
J natas Conceio As saubaras invisveis
Corpo novo
Estampas da saubara
II/ isael
27 de setembro
porto semmar
J orge Siqueira Seu J os
Menino BR
Questo de f
Barra 70
Cuidado
Grupo Negrcia
Essa Amrica Latina
Curupira
247
Kaimiteob Canto dos orixs
Land Onawale Negro
Mulato lato
Maro 64
Black power
O vento
Lep Correia Negro vida
Teimosa presena
Ao traduzirmos o tambor
J ustia vidente
Vento forte poesia
Karol x Sweka
Perenidade
Lia Vieira Ns volteis
nsia
Curi
Manoel Messias Olhar de minha me
O passeio na mata
Gestos infantis
MiriamAlves Paisagem interior
Estradaestrela
Rainha do lar
Onildo Aguiar Corao cafundoense
Cafun
Refres mortos
Oubi Ina Kibubo Retorno
Ayobmi
Retrato em claro escuro
Tia Norma
Legado
Encanto de certeza semfronteiras
Uma tv preta para ns
Encontro
Snia Ftima No regresso
O dito
Sua presena
Feitio
Angstia/ prazer
Negrinha
Teresinha Tadeu Runas
Espantalha
Palafitas
Mscaras de sal
Sal moura
Verglio Rosa Filho Neros
Flor de ltus
As duas bonecas
Carbono
Nemflores, nem espinhos
Bodas de ouro
Longinquo almoo de uma sezxta-feira santa
Negrinhos do rio
Laos de famlia
Pense bem querida
Napoleo da aldeia
Boi voador
248
Waldemar Euzbio Pereira Eu falo as vozes de Totunha
Melhor seria
Curumim se foi
Deponho as armas da baralha diria
Capa: foto J oo Carlos dos Santos
Orelha 1: Edna Roland
Orelha 2: J oo J orge Santos Rodrigues
Contra-capa: Oliveira Silveira
Cadernos Negros 20 Contos afro-brasileiros
Prefcio: Carolyn Richardson Durham
Apresentao: Quilombhoje
Ablio Ferreira Policiais morrem emacidente com viatura
Aristides Theodoro O homemque liquidou umtrovo a tiro de clavinote
Tudo por causa de um cinto
Cuti Trajetos
J ogo de cintura
Coluna
le Semog Domingo, 11:18 AM
A fadiga do poeta
Mel com porrada
Classificados
Esmeralda Ribeiro Cenas
Fausto Antnio Arthur bispo do rosrio, o Rei!
Henrique Cunha J r. O olho azul do cachorro
Iracema M. Rgis Si\onhos imortais
Kasabuvu A valsa das marionetes
Conto real
Lep Correia A barriga mida
Assoviando a viso
Xala, mama benedita
Lia Vieira Os limites do moinho
Mrcio Barbosa Pavor na rua treze
O anle de noivado
MiriamAlves Abajur
Will Martinez Quilmbo valadares
Capa: foto J airo Torres
Orelha 1: Aroldo Macedo
Orelha 2: KLJ AY
Contra-capa: Dulce Maria Pereira
Cadernos Negros 21 Poemas afro-brasileiros
Apresentao: Quilombhoje
Alzira Rufino Dilogo I
Dilogo II
Semttulo
Carlos Correia Santos Cano de umcorao decorado
A paz de negro ser
249
Apelo pele
Negao
Negra mente
Carlos Gabriel Favelas, quilombos e senzalas
Rosa e seu filho preto
Conceio Evaristo Todas as manhs
Os bravos e os sernos herdaro a terra
Para menina
Se noite fizer sol
M e M
Tantas so as estrelas...
Cuti Impassses e passos
Valor
Mrtir luta no ringuepreviso do tempo
Belohorizontando
Assdio espiritual
Domingos Moreira Como vai voc
Canto passarinho
Teria
Paz ou guerra
Esmeralda Ribeiro Continuar
xtase
J orge Siqueira Deus e o Diabo na terra da chuva
O Chico
Por onde
(?)
nobis
Kasabuvu Caminho de Ana
Magazine para gente disforme
Boca negra
Traor
Land Onawale Corao suburbano
Capoeira angola
Volta
Quilombo
Qualquer ser
Canarinhas da vila
Lep Correia Tambores silenciosos
Negra Cecita
Xitunda
Profecia das ondinas
Poesia de nada
Loureno Cardoso Negra
Marcos Dias 2022- Narrandaes
narrandaes
MiriamAlves ris do arco-risdesumano
Eco-lgico
Neve e seiva
Acordes
Olhos e ossos
Recadinho
Sidney de Paula Oliveira Angstia
Noite
Suely Nazareth H. Ribeiro Cano da terra
Capa: sem dados
250
Orelha 1: Flvio J orge Rodrigues da Silva
Contra-capa: Oswaldo de Camargo
Cadernos Negros 22 Contos afro-brasileiros
Apresentao: Esmeralda Ribeiro e Mrcio Barbosa
Carlos Gabriel Picum
Conceio Evaristo Quantos filhos Natalina teve?
Cuti Tchan!
Encontro
Esmeralda Ribeiro Sempre suspeito
No me dem flores
Lep Correia Temporal no barraco de Binho
Loureno Cardoso Rosa da farinha
Mrcio Barbosa Frias
MiriamAlves Retorno de Tatiana
Ricardo Dias Trabalhando emsilncio
Amigo por convenincia
Ruth Souza Saleme Cagira tears of the soul
Will Martinez me negra
Zula Gibi Caindo na real
Capa: foto de J .C.Santos
Contra-capa: Abdias Nascimento
Cadernos Negros 23 Poemas afro-brasileiros
Apresentao: Esmeralda Ribeiro e Mrcio Barbosa
Cristiane Sobral Infinitamente provisrio
Paradoxo
No vou mais lavar os pratos
Estrangeira
Binculo
Esther
Cuti primeira pista
Teoria
Inverno aquecido
Semoguiana
Resgate
Crueldade
Conversa com Cruz e Souza
Trincheira
Elivelto Crrea Breu intenso e Luz perfeita
Rancor
Real epopia
Umvcio qualquer
Alameda dos espritos
Parnasianossauro
Morcegos no pombal
O ltimo verso
Esmeralda Ribeiro Cenas de emoes
Fausto Antnio Vanssima senhora
251
J amu Minka Brasil cordial
Impostura
Escridaninha
Luz prpria
Havia misria, houve quilombo
Espichaim
J natas Conceio Rio das rs
No nordeste existem palmares
Escola bamba
Amparo, o mgico
Domnio das pedras
J os Carlos Limeira Bno
Mata
No esperem
Silncio
Land Onawale Negrice
Z de maio
Letra
Me
Berro
Grama
Espelho
Phoenix
Sidney de Paula Oliveira No pas do futebol temmuito crack
Candomblack
Sntese
margem
Exaltao negra mulher guerreira
Therezinha Tadeu Lua fatiada
A hora
Mirone
H quanto tempo no vejo meus loucospssaro ferido
Mineira ao
Capa: foto de J .C.Santos
Orelha 1: Antonio carlos dos Santos Vov
Orelha 2: Maria da Penha Guimares
Contra-capa: Thaide
Cadernos Negros 24 Contos afro-brasileiros
Apresentao: Esmeralda Ribeiro e Mrcio Barbosa
Cristiane Sobral O buraco negro
Pixaim
A discrdia do meio
Cuti Inventrio das guas
Esmeralda Ribeiro Ela est dormindo
Fausto Antonio Si ori
Henrique Cunha J r. As gameleiras
Lia Vieira Maria dia
Mrcio Barbosa luz
MiriamAlves A cega e a negra uma fbula
Vera Lcia Barbosa Flor de agosto...felicidade
Waldemar Euzbio Pereira Foi mesmo alegria de festa
252
Zula Gibi New York
Capa: foto de J airo Medeiro Torres
Orelha 1: Eduardo Siva
Orelha 2: J oo Batista de J esus Flix
Contra-capa: Abdias Nascimento
Cadernos Negros 25 Poemas afro-brasileiros
Apresentao: Esmeralda Ribeiro e Mrcio Barbosa
Al Eleazar Fun Obatal
Sua casa
Para este filho de Omolu
Vejo os olhos lindos de deus
Loguned
Ossaim
Casa verde
O amor uma droga infinita
Lua
Andria Lisboa de Souza lgbr Obnrn (mulhre guerreira)
Oxu
Atiely Santos Me
Conceio Evaristo De me
Da velha menina
Da menina, a Pipa
Do menino, a Bola
Da esperana, o Homem
Cristiane Sobral Mgico
Esperana
Hiato
Sonho de consumo
Amor libertador
Cuti Senda
Racismo cocordial
Psi
X envolvente
J ogada
Ser negro
Domingos Moreira Pela tese
Circo de horror
Cabendo
Novo tema
Edson Robson Alves dos Santos Na brisa da noite
Comaluz de seu amor
Chuva mida
Onde nasceram meus amores
Sou umpescador
O jogo da vida
Sentimento
Esmeralda Ribeiro frica-Brasil
Sabedoria
J amu Minka Escurecendo
So Paulo Fashion Weeks
Semjustia?
253
Me gfentil
Ser legal
P na cozinha
J os Carlos Limeira guas do Paraguassu
Vida
Ers
Umpoema novo
Lus Carlos de Oliveira Ebulio da escravatura
Pare
Cavalaria
Mac acaraj
Clarividncia
Coito
Mrcio Barbosa Sou do gueto
Amor
Ele (abayomi)
Para uma mulher
Nossa gente
Cuidado!
MiriamAlves Brincadeira de roda
Cantata
Genegro
Parto
Cenrios
Salve a Amrica!
Sem
Gotas
Oliveira Silveira Cabelos que noutra
Cabelos que negam
Cabelos que negros
Cabelos que nem
Cabelos que nada
Oubi Ina Kibuko Renascer
Do tero da amada arte plenitude
Retrospectiva potica
Espernsia
Encanto
Espelho
Ruth Souza Saleme Beija-flor
Ira do rio
Raa viva
Soneto vazio
Ramos da primavera
Saudades
Sebastio J S Numpas qualquer
Conceito
Modernidades
Esqueamo que escrevi (fernandinhos)
Comfundir
Sorria! Voc est sendo filmado
1984 Big Brother
Ano Internacional da (criana) mdia
Sidney de Paula Oliveira Sorria! Voc est sendo filmado
Bundas
Agolio
Indiferena
254
2002,307 anos D.Z.
questo de ordem
pretodo
afrodite
zanah
Thyko de Souza Foi assim que conheci o rap
O orix que tome conta
Zula Gibi Florescncia
(escondido na noite)
fmea
natureza
amiga
amante
azul amarelo
testemunhas de Safo
Capa: foto J .C. Santos
Orelha 1: Carlos Alves Moura
Orelha 2: Claudete Alves
Contra-capa: Xis
Cadernos Negros 26 Contos afro-brasileiros
Apresentao: Esmeralda Ribeiro e Mrcio Barbosa
Conceio Evaristo Beijo na face
Cuti Olho de sogra
Dcio de Oliveira Vieira O homeminvisvel
Dllemar Monteiro Dilogo
Realizao
Esmeralda Ribeiro Mulheres de espelhos
Eustquio Lawa Travessia
Helton Fesan O morto simblico
Era madrugada e Deus falou
Lia Vieira Provas para o capito
Ourdes Dita Umelo de corrrente
Mrcio Basrbosa Umhomem de touca
O sol para s dois
MiriamAlves Amigas
Minha flor, minha paixo
Oubi Ina Kibuko Na garra ou na lbia
Convite
Zula Gibi O nibus
Capa: foto J .C. Santos
Orelha 1: J eferson De
Orelha 2: Neuza Maria Poli
Contra-capa: Rappin Hood
Cadernos Negros 27 Poemas afro-brasileiros
Apresentao: Esmeralda Ribeiro e Mrcio Barbosa
Basilele Malomalo A saga negra
Exlio
255
Mina Macumba Ax
Minha Princesa Negra
Cuti Recadinho cnico
Crisol
Micagens e Eventos Elegantes
Matutando
Expovivo
Lira
Torpedo
Dcio de Oliveira Vieira Mulato
Chico Rei
Palavra Arbitrria
14 de maio
Melancolia do Negro
Avante
J oo Cndido
Edson Robson Alves dos Santos Negras Deusas Africanas
O Almirante Negro
O Senhor dass Guerra
Olhos de Gata
Filhos de Angola
A Fora das Idias
Elio Ferreira Amrica Negra
Esmeralda Ribeiro Ritual de Ageum
Nota Promissria
Ressurgir das Cinzas
Fausto Antonio Fala de Pedra e Pedra
Helton Fesan Quase No Ir
Quarto Escuro
S. . S
A Liberdade que a Chuva Traz
Corra Mulher ( Homenagem Casa Cinco)
J amu Minka Pedestal Zero
Envenenando Garotinha
Mercado Canibal
Difcil Ser Afrocentrado
Bela Crespa
Polticas de Desempretecimento
Apostando na Ignorncia
Lep Correia Divina Moura
Encosto
Filho,Poeta e Rei
Mama Dita
Mtricas Solenes Quotas
Nao Oy Oh, Linda Oy!
Preta Mana
Lus Carlos de Oliveira Codaque Bleque
Fsica tica
Luxo Orgnico
Poema Lavadeira
Em Prego
Mrcio Barbosa Vai o Povo
Minha Cor No de Luto
Bonitos
Teu Riso
256
Hoje Eu Quero
Panfletos
Se o Opressor Diz
Oubi Ina Kibuko Cinco Elementos
Retrato Comum
Berlinda
Busca
Desfoque
Corpus
In coerncia
Sidney de Paula Oliveira Anlogo
Outra Afrodite
Frenesi
Negra Mulher Amada
Anseio
Desejo
Suely Nazareth Henry Oliveira Dvida
Capa: sem dados
Orelha 1: J oel Zito Arajo
Orelha 2: Matilde Ribeiro
Contra-capa: Vanderli Salatiel
Nmeros especiais dos Cadernos Negros
Reflexes
Cuti (Luiz Silva) Literatura negra brasileira: notas a respeito de condi-
cionamentos
Esmeralda Ribeiro Reflexes sobre literatura infanto-juvenil
J . Ablio Ferreira Consideraes cerca de umaspecto do fazer liter-
rio ou de como o escrito negro sofre noites de insnia
J amu Minka (J os Carlos de Andrade) Literatura e conscincia
Mrcio Barbosa Questes sobre literatura negra
MiriamAlves Ax Ogun
Oubi Ina Kibuko 1955-1978: 23 anos de inconscincia
Snia de Ftima Conceio Ser negro, povo, gente: uma situao de urgncia
Capa: Mrcio Barbosa
Os melhores contos
Prefcio: Aldo Rebelo
Apresentao: Quilombhoje
Introduo: Cuti
Ablio Ferreira A casa de Fayola
Conceio Evaristo Ana Davenga
Cuti O batizado
le Semog A seiva da vida
Esmeralda Ribeiro Guarde segredo
Eustquio J os Rodrigues Po da inocncia
J natas Conceio Margens mortas
257
J os Carlos Limeira Tanglau
Lia Vieira Operao Candelria
Mrcio Barbosa Quando o malandro vacila
MiriamAlves Alice est morta
Oswaldo de Camargo Civilizao
Oubi Ina Kibuko Reencontro
Ramatis J acino Os espies
O cercado
Ricardo Dias Vida provisria
Snia Ftima Obssesso
Capa: foto J airo Torres
Orelha 1: Snia Regina de Paula Leite
Os melhores poemas
Apresentao: Quilombhoje
Prefcio: Benedito Cintra
Introduo: Cuti
Abelardo Rodrigues Garganta
Zumbi
Carlos de Assumpo Batuque
Linhagem
Celinha Negritude
Umsol guerreiro
Conceio Evaristo Mineiridade
Eu-mulher
A noite no adormece nos olhos das mulheres
Malungo, brother, irmo
Cuti Quebranto
Mar glu glu
Par ouvir e entender Estrelas
tempo de mulher
Seduo
le Semog Danando Negro
Outras notcias
Esmeralda Ribeiro Rotina
Dvida
E agora nossa guerreira
Olhar Negro
Vrios desejos de um Rio
J amu Minka Ejacorao
Safri
Crespitude
Raa&Classe
Efeitos colaterais
Cristvo Quilombos
J natas Conceio As saubaras invisveis
J orge Siqueira Menino
Curupira
Land Onawale O vento
Maro 64
Lep Correia Teimosa presena
Vento Forte poesia
258
Lia Vieira Ns volteis
Mrcio Barbosa Verso
Traado
Mandela
MiriamAlves Mahin amanh
MNU
Colar
Oswaldo de Camargo Em maio
Oubi Ina Kibuko Poema armado
Snia Ftima Passado histrico
No regresso
Teresinha Tadeu Runas
Waldemar Euzbio Pereira Eu falo as vozes
Capa: sem dados
Orelha 1: Snia Regina de Paula Leite
259
BIBLIOGRAFIA
ANTONIO, Carlindo Fausto. Carnaval, identidade tnico-cultural e educao no formal.
(Dissertao de mestrado). Campinas/SP, Faculdade de Educao da Unicamp, 1997.
. Exumos. Campinas: Selo Editorial RG.1995.
ARAJ O, J oel Zito Almeida de. A negao do Brasil: o negro na telenovela brasileira.
So Paulo: Editora SENAC So Paulo, 2000.
ARISTTELES. Arte retrica e arte potica. Rio de J aneiro: Tecnoprint, 1990.
BAKHTIN, M. (Volchinov, V. N.). Os gneros do discurso. In: Esttica da criao verbal.
So Paulo: Martins Fontes, 1997. pp. 277-326.
. Dialogismo e construo do sentido. Beth Brait (org). Campinas: Editora da Uni-
camp, 1977.
BASTIDE, Roger. Estudos afro-brasileiros. So Paulo: Perspectiva, 1973.
BHABHA, Homi K. O local da cultura. Belo Horizonte: Ed.UFMG,1998.
BOSI, Alfredo. O ser e o tempo da poesia.So Paulo: Cultrix, 1977.
BRAIT, Beth. Policarpo Quaresma: um visionrio na Repblica do Brasil. In: BARRETO,
Lima. Triste fim de Policarpo Quaresma. So Paulo: Ed. FTD.
BROOKSHAW, David. Raa & cor na literatura brasileira. Porto Alegre: Mercado Aber-
to, 1983.
CAMARGO, Oswaldo. O negro escrito. So Paulo: Secretaria de Estado da Cultura / Im-
prensa Oficial do Estado de So Paulo, 1987.
NASCIMENTO, Abdias do. Sortilgio. In: NASCIMENTO, Abdias do et al. Dramas para
Negros e prlogos para Brancos. So Paulo: Edio do Teatro Experimental do Negro,
1961.
CHAU, Marilena. Convite filosofia. 5
a
ed. So Paulo: tica,1995.
Cadernos Negros Poesia e Contos. Org. Quilombhoje. So Paulo: Edio dos Autores. 27
volumes publicados de 1978 a 2003.
DELEUZE, Gilles. Foucault. Trad. Cludia SantAna Martins. 1
a
ed. So Paulo: Brasilien-
se, 1988.
ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano: a essncia das religies. Trad. Rogrio Fernan-
des. So Paulo: Martins Fontes,1992.
. Mito e realidade. So Paulo: Perspectiva,1991.
260
FILHO, Domcio Proena. A trajetria do negro na literatura brasileira. In: Revista do Pa-
trimnio Histrico e Artstico Nacional, n. 25. Rio de J aneiro, 1977.
Folheto informativo publicado pela SEPPIR, Secretaria Especial de Polticas de Promoo
da Igualdade Racial, no Frum Cultural Mundial, realizado entre os dias 30/6 a 3/7 de
2004, em So Paulo.
FIORIN, J os Luiz. O romance e a simulao do funcionamento real do discurso. In: Bakh-
tin, dialogismo e construo do sentido. Org. Beth Brait. Campinas: Ed. da Unicamp, 1997.
FOUCAULT, Michel. Microfsica do poder. Trad. Roberto Machado. 5 ed. Rio de J aneiro:
Graal, 1985.
FREIRE, J urandir Costa. Da cor ao corpo: a violncia do racismo. (Prefcio) In: SOUZA,
Neusa Santos. Tornar-se negro. Rio de J aneiro: Imago, 1977.
FREITAS, J lia Maria Amorim de. Cadernos CESPUC de Pesquisa. Belo Horizonte: PUC
Minas/CESPUC, 1986.
HANSEN, J oo Adolfo. Alegoria, construo e interpretao da metfora. 1 ed. So Pau-
lo: Ed. Atual, 1986.
IANNI, Octavio. O negro na literatura brasileira. Seminrios de Literatura. 3
a
Bienal Nestl
de Literatura Brasileira. Fundao Nestl de Cultura. Rio de J aneiro: Editora UFRJ , 1990.
. As metamorfoses do escravo. So Paulo: Difuso Europia do Livro, 1962.
LAJ OLO, Marisa. Leitura literatura: mais do que uma rima, menos do que uma soluo.
In: Leitura: perspectivas interdisciplinares. So Paulo: Ed. tica.
LEITE, Sebastio Uchoa. Presena negra na literatura brasileira. Rio de J aneiro: Patrim-
nio Histrico e Artstico Nacional, n. 25, 1997.
LINS, lvaro. Teoria Literria. Rio de Janeeiro: Edies de Ouro.
LUZ, Marco Aurlio de Oliveira. Agad: dinmica da civilizao africano-brasileira. 2
ed., Salvador: EDUFBA, 2000.
MACIEL, Cleber da Silva. Discriminaes raciais: negros em Campinas (1888-1921).
Campinas: Ed. da Unicamp, 1987.
MARTINS, Leda Maria. A cena em sombras. So Paulo: Perspectiva, 1995.
MENDES, Miriam Garcia. A personagem negra no teatro brasileiro entre 1838 e 1888.
So Paulo: tica, 1982.
261
MOURA, Clvis. As imjustias de Clio: o negro na hitoriografia brasileira. Belo Horizon-
te: Oficina de Livros, 1990.
MUNANGA, Kabengele. Anti-racismo no Brasil. In: Estratgias e polticas de combate
discriminao racial. Org. Kabengele Munanga. So Paulo: Edusp/Estao Cincia, 1996.
. As facetas de um racismo silenciado. In: SCHWARCZ, Lilia Moritz; QUEIROZ,
Renato da Silva (orgs.). Raa e diversidade. So Paulo: Edusp/Estao Cincia, 1996.
OLIVEIRA, Marco Aurlio de. Agad: dinmica da civilizao africano-brasileira. 2 ed.,
Salvador: EDUFBA, 2000.
ORLANDI, Eni Pulcinelli. Discurso e leitura. So Paulo: Cortes; Campinas: Editora da
Unicamp, 1988.
OSAKABE, Haquira. Argumentao e discurso poltico. So Paulo: Kairs, 1979.
POUND, Ezra. ABC da literatura. Trad. de Augusto de Campos e J os Paulo Paes. So
Paulo: Cultrix, 1986.
QUEIROZ J R., Tefilo. Preconceito de cor e a mulata na literatura brasileira. So Paulo:
tica, 1975.
Revista do Patrimnio Histrico e Artstico Nacional, n. 25. Rio de J aneiro, 1977.
RABASSA, Gregory. O negro na fico brasileira. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro,
1965.
ROSA, Guimares. Grande serto: veredas. So Paulo: Crculo do Livro, 1984.
SANTOS, Hlio. A busca de um caminho para o Brasil A trilha do crculo vicioso. So
Paulo: Ed. Senac, 2001.
SANTOS, Inaicyra Falco. Corpo e ancestralidade. Salvador: EDUFBA, 2002.
SANTOS, J uana Elbein dos. Os nag e a morte. 5. ed. Petrpolis: Vozes, 1988.
SANTOS, Milton. Tcnica espao tempo: globalizao e meio tcnico-cientfico informa-
cional. 2
a
ed. So Paulo: Hucitec, 1996.
. Territrio e sociedade: entrevista com Milton Santos. 2 Ed. So Paulo: Editora
Fundao Perseu Abramo, 2000.
. Folha de S. Paulo, So Paulo, 7 maio 2000. Caderno Mais!
. Por uma outra globalizao: do pensamento nico conscincia universal. 6
a
ed.
Rio de J aneiro: Record, 2001.
SAYERS, Raymond. O negro na literatura brasileira. Rio de janeiro: Edio O Cruzeiro,
1958.
262
SILVA, Carlos Benedito Rodrigues da. Da terra das primaveras ilha do amor: reggae,
lazer e identidade cultural. So Lus: EDUFMA, 1995.
SILVA, Luiz (Cuti). Literatura negra brasileira: notas a respeito de condicionamentos. In:
Reflexes sobre literatura afro-brasileira. So Paulo: Quilombhoje / Conselho de Partici-
pao e Desenvolvimento da Comunidade Negra, 1985.
SILVA, Maria Auxiliadora. Encontros e desencontros de um movimento negro. Braslia:
Ministrio da Cultura / Fundao Palmares, 1994.
SODR, Muniz. A verdade seduzida, por um conceito de cultura no Brasil. Rio de J aneiro:
Codecri, 1983.
. Corporalidade e Liturgia Negra. In: Revista do Patrimnio Histrico e
Artstico Nacional, n 25. Rio de J aneiro, 1997.
SODR, Muniz. A verdade seduzida: por um conceito de cultura no Brasil. Rio de J aneiro:
Codecri,1983.
TAVARES, J lio . Educao atravs do corpo. Revista do Patrimnio Histrico e Artstico
Nacional, n. 25. Rio de Janeiro, 1977.
TRINDADE, Solano. O poeta do povo. 1
a
ed. So Paulo: Ed. Cantos/Prantos Ed. Ltda.,
1999.
WIZNIEWSKS, Larry Antonio. O negro na literatura brasileira (uma leitura diacrnica).
Revista Contexto & Educao. IJ U: Livraria UNIJUI Editora, 1986.
INTERNET
http://www.quilombhoje.com.br/quilombhoje/histricoquilombhoje
Você também pode gostar
- Quiromancia Bel AdarDocumento200 páginasQuiromancia Bel AdarJuliana Jur100% (2)
- Apostila Eberick BásicoDocumento56 páginasApostila Eberick BásicoEdson Augusto100% (1)
- O negro visto por ele mesmo: ensaios, entrevistas e prosaNo EverandO negro visto por ele mesmo: ensaios, entrevistas e prosaAinda não há avaliações
- CULT - Revista Brasileira de Literatura - 05 - Revista CULTDocumento59 páginasCULT - Revista Brasileira de Literatura - 05 - Revista CULTwagnerjosemcAinda não há avaliações
- Autodesk Robot Structural Analysis 2015 - Tutorial - Projeto de ConstruçãoDocumento29 páginasAutodesk Robot Structural Analysis 2015 - Tutorial - Projeto de ConstruçãoFred100% (7)
- Prova 03.12.21Documento28 páginasProva 03.12.21Enervisa Elétrica100% (4)
- Antologia de poesia afro-brasileira: 150 anos de consciência negra no BrasilNo EverandAntologia de poesia afro-brasileira: 150 anos de consciência negra no BrasilAinda não há avaliações
- Manutenção Sist. MecânicosDocumento300 páginasManutenção Sist. MecânicosJânio Pablo100% (1)
- Entre a vanguarda e a arte: poesia concretaNo EverandEntre a vanguarda e a arte: poesia concretaAinda não há avaliações
- Ebook Roteiro para Dimensionamento Do Sistema de SprinklerDocumento18 páginasEbook Roteiro para Dimensionamento Do Sistema de SprinklerEvaldo AgnolettoAinda não há avaliações
- Nº 202101485 Certificado de Calibração: ClienteDocumento2 páginasNº 202101485 Certificado de Calibração: ClienteEduardo LucenaAinda não há avaliações
- ApertizaçãoDocumento7 páginasApertizaçãohmrss100% (5)
- Feitiço Decente (Resenha de Marcos Napolitano)Documento6 páginasFeitiço Decente (Resenha de Marcos Napolitano)IR Kaleb100% (2)
- Teoria e Pratica Da Ginastica Artística IIDocumento35 páginasTeoria e Pratica Da Ginastica Artística IIMarcos FerreiraAinda não há avaliações
- Ebin - Pub Contos Anarquistas Temas e Textos Da Prosa Libertaria No Brasil 1890 1935Documento41 páginasEbin - Pub Contos Anarquistas Temas e Textos Da Prosa Libertaria No Brasil 1890 1935Carolina CauAinda não há avaliações
- Apostila Matematica III PDFDocumento20 páginasApostila Matematica III PDFMatheus RaposoAinda não há avaliações
- 13504-Texto Do Artigo-20981-1-10-20120819Documento13 páginas13504-Texto Do Artigo-20981-1-10-20120819SethAinda não há avaliações
- Da Negritude À Literatura Afro-Brasileira - Modelo Histórico-Literário PDFDocumento6 páginasDa Negritude À Literatura Afro-Brasileira - Modelo Histórico-Literário PDFLuciana SousaAinda não há avaliações
- Ananse Ntontan - A Reconstrução Imagética e Literária Da Resistência Negra em Cumbe e Angola JangaDocumento11 páginasAnanse Ntontan - A Reconstrução Imagética e Literária Da Resistência Negra em Cumbe e Angola JangaDaniél BaptìstaAinda não há avaliações
- Grafismo Indígena - João Carlos Pimentel CantanhedeDocumento71 páginasGrafismo Indígena - João Carlos Pimentel CantanhedeFrancisca CostaAinda não há avaliações
- LiteraturaDocumento16 páginasLiteraturaCastigo BenjamimAinda não há avaliações
- Da Senzala Ao Palco Resenha 1Documento6 páginasDa Senzala Ao Palco Resenha 1Thais SouzaAinda não há avaliações
- Estudos Culturais e A Literatura No Brasil PDFDocumento14 páginasEstudos Culturais e A Literatura No Brasil PDFIsabelle Crass100% (1)
- Janaina Barros Silva Viana - É Preciso Colorir para EnxergarDocumento6 páginasJanaina Barros Silva Viana - É Preciso Colorir para Enxergarbernstein_aAinda não há avaliações
- Artigo Claves p.101Documento7 páginasArtigo Claves p.101Sergio GaiaAinda não há avaliações
- Artigo Levante Epistêmico TraduzidoDocumento17 páginasArtigo Levante Epistêmico TraduzidoMarina NogueiraAinda não há avaliações
- Gilmar Rocha - A EtnografiaDocumento16 páginasGilmar Rocha - A EtnografiaEttore Dias MedinaAinda não há avaliações
- Projeto Mestrado BrunaDocumento14 páginasProjeto Mestrado BrunacunhabfAinda não há avaliações
- Transculturação e Transculturação NarrativaDocumento3 páginasTransculturação e Transculturação NarrativaRenan GerundoAinda não há avaliações
- A Resistência Como Instrumento Social Na Poesia de Solano Trindade - Juliane PereiraDocumento11 páginasA Resistência Como Instrumento Social Na Poesia de Solano Trindade - Juliane PereiraJuliane PereiraAinda não há avaliações
- Por Trás Das Paliçadas de Palmares Artigo de Comunicação Do SimpósioDocumento20 páginasPor Trás Das Paliçadas de Palmares Artigo de Comunicação Do SimpósioBruno AssisAinda não há avaliações
- Imaginários Afrodiaspóricos BrésilienDocumento6 páginasImaginários Afrodiaspóricos BrésilienMichel Mingote Ferreira de AzaraAinda não há avaliações
- Português PDFDocumento23 páginasPortuguês PDFMichel Mingote Ferreira de AzaraAinda não há avaliações
- 7341-Texto Do Artigo-23643-1-10-20151231Documento21 páginas7341-Texto Do Artigo-23643-1-10-20151231dasphynsophyaAinda não há avaliações
- ceto,+AF LS33 11 SCHWARZ,+Roberto Memorial+Acadêmico Memoriais 188-198Documento11 páginasceto,+AF LS33 11 SCHWARZ,+Roberto Memorial+Acadêmico Memoriais 188-198Cláudia AlvesAinda não há avaliações
- A Negritude Poética de Francisco José TenreiroDocumento19 páginasA Negritude Poética de Francisco José TenreiroRahmanRachideAliBacarAinda não há avaliações
- 1 PBDocumento28 páginas1 PBLuizinho CrosetAinda não há avaliações
- Textos de TeatroDocumento7 páginasTextos de TeatroBruna VidalAinda não há avaliações
- 04-32-4-2022-Diniz - Literaturas e Artes Negras PDFDocumento22 páginas04-32-4-2022-Diniz - Literaturas e Artes Negras PDFSetor de PublicaçõesAinda não há avaliações
- Narcisa Amalia e As Intemperies Da ProduDocumento18 páginasNarcisa Amalia e As Intemperies Da ProduManoel de CastroAinda não há avaliações
- De Nina Rodrigues A Arthur Ramos: A Reinvenção de Palmares Nos "Estudos Do Negro" - Thyago Ruzemberg Gonzaga de SouzaDocumento20 páginasDe Nina Rodrigues A Arthur Ramos: A Reinvenção de Palmares Nos "Estudos Do Negro" - Thyago Ruzemberg Gonzaga de SouzatemporalidadesAinda não há avaliações
- Os Tambores Do Antropólogo - Marcio GoldmanDocumento12 páginasOs Tambores Do Antropólogo - Marcio GoldmanCamila Maria SantosAinda não há avaliações
- Análise Do Livro O BATUQUEDocumento16 páginasAnálise Do Livro O BATUQUEBrenda MeloAinda não há avaliações
- Tese de ParnasoDocumento233 páginasTese de ParnasoaluizcardioAinda não há avaliações
- Joutard - História OralDocumento11 páginasJoutard - História OralHugo SalesAinda não há avaliações
- Terra Roxa e Outras Terras - Volume 18 - Representações Da HomossexualidadeDocumento117 páginasTerra Roxa e Outras Terras - Volume 18 - Representações Da HomossexualidadeAnselmo AlosAinda não há avaliações
- 15139-Texto Do Artigo-40359-1-10-20211221Documento23 páginas15139-Texto Do Artigo-40359-1-10-20211221Christian MouraAinda não há avaliações
- Silva, Vagner Gonçalves Da (Org.), Artes Do Corpo, São PauloDocumento10 páginasSilva, Vagner Gonçalves Da (Org.), Artes Do Corpo, São PauloFelipe BonfimAinda não há avaliações
- A NegritudeDocumento21 páginasA NegritudeIreneu VarelaAinda não há avaliações
- 5311-Texto Do Artigo-15737-1-10-20211220Documento19 páginas5311-Texto Do Artigo-15737-1-10-20211220Viviane PitayaAinda não há avaliações
- A Coleção Como Acontecimento - Pinturas Pertencente Aos Escritores Salim Miguel e EglêDocumento14 páginasA Coleção Como Acontecimento - Pinturas Pertencente Aos Escritores Salim Miguel e EglêGabriel OpenkowskiAinda não há avaliações
- Entrevista - DP Solano TrindadeDocumento3 páginasEntrevista - DP Solano TrindadeKleyton PereiraAinda não há avaliações
- 119483-Texto Do Artigo-236823-1-10-20161223Documento18 páginas119483-Texto Do Artigo-236823-1-10-20161223umvotinhoparabtsAinda não há avaliações
- Relações étnico-raciais na literatura brasileira do século XXI: textos e contextosNo EverandRelações étnico-raciais na literatura brasileira do século XXI: textos e contextosMichel Mingote Ferreira de ÁzaraAinda não há avaliações
- 1 PBDocumento8 páginas1 PBpapoAinda não há avaliações
- Artigo Mariza LiraDocumento8 páginasArtigo Mariza LiraJuliana Wendpap BatistaAinda não há avaliações
- Topos Da Efemeridade Da VidaDocumento17 páginasTopos Da Efemeridade Da VidaTamberg CavalcanteAinda não há avaliações
- AULA 02 - LC - Noções BásicasDocumento23 páginasAULA 02 - LC - Noções BásicasRayanne SoaresAinda não há avaliações
- 05 Samba RuralDocumento13 páginas05 Samba RuralFlavia PrandoAinda não há avaliações
- Darwinismo SocialDocumento12 páginasDarwinismo SocialDenise BarataAinda não há avaliações
- Cadernos de Pesquisa Vol.2 PDFDocumento129 páginasCadernos de Pesquisa Vol.2 PDFDouglas De FreitasAinda não há avaliações
- 5310-Texto Do Artigo-15607-1-10-20211216Documento12 páginas5310-Texto Do Artigo-15607-1-10-20211216Viviane PitayaAinda não há avaliações
- Raça, Gênero e Projeto Branqueador A RedençãoDocumento35 páginasRaça, Gênero e Projeto Branqueador A RedençãoCarlitos NansambéAinda não há avaliações
- 1 PBDocumento9 páginas1 PBManuel Sousa JuniorAinda não há avaliações
- 01CENICAS Tereza Mara FranzoniDocumento13 páginas01CENICAS Tereza Mara FranzoniAndrezaAndradeAinda não há avaliações
- Literatura Comentada IDocumento38 páginasLiteratura Comentada ImarinarimattarAinda não há avaliações
- Estudo Dirigido 6 (Recuperação Automática)Documento2 páginasEstudo Dirigido 6 (Recuperação Automática)JULIANA MARIA DOS SANTOSAinda não há avaliações
- Exílio e Alteridade na Poética de Alejandra PizarnikNo EverandExílio e Alteridade na Poética de Alejandra PizarnikAinda não há avaliações
- Valéria Andrade - Dramaturgia Feminina No Nordeste e em PortugalDocumento9 páginasValéria Andrade - Dramaturgia Feminina No Nordeste e em PortugalWilliam Santana SantosAinda não há avaliações
- Pmest 22009Documento9 páginasPmest 22009Marcelo VitóriaAinda não há avaliações
- 045 12 Syngenta Formosa GoDocumento9 páginas045 12 Syngenta Formosa Gomarcyel Oliveira WoliveiraAinda não há avaliações
- CONHECIMENTO ESPECIFICO (São Vicente)Documento147 páginasCONHECIMENTO ESPECIFICO (São Vicente)Marcos Rocha100% (1)
- Ensaios de Imersão Nos Aços NBR 7008 GrauDocumento15 páginasEnsaios de Imersão Nos Aços NBR 7008 GrauMarcio BrancoAinda não há avaliações
- Eletrica e Eletrônica Aplicada PDFDocumento34 páginasEletrica e Eletrônica Aplicada PDFjamarosAinda não há avaliações
- Enem 2023Documento2 páginasEnem 2023AndersonAlmeidaDasVirgensAinda não há avaliações
- 3a - Lista de Exercícios ArquimedesDocumento3 páginas3a - Lista de Exercícios ArquimedesLeandro Alves Rezende100% (1)
- CONCEITO DE IDENTIDADE PESSOAL Theodore SiderDocumento11 páginasCONCEITO DE IDENTIDADE PESSOAL Theodore SiderFabi Barros Monteiro MonteiroAinda não há avaliações
- Materiais - Processos de FabricaçãoDocumento116 páginasMateriais - Processos de FabricaçãoAlexandre Xambim BaldezAinda não há avaliações
- Apresentação TCCDocumento24 páginasApresentação TCCJader WillianAinda não há avaliações
- Luminaria Bloco Farolete Led 1200 Lumens MocelinDocumento2 páginasLuminaria Bloco Farolete Led 1200 Lumens MocelinPRESTADORA DE SERVIÇO KRGAinda não há avaliações
- Construções Anti-SismosDocumento4 páginasConstruções Anti-Sismoslais_carolineAinda não há avaliações
- Fenolite - DatasheetDocumento16 páginasFenolite - DatasheetJoyceCrisAinda não há avaliações
- Relatorio NORMAS DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS BÁSICOS DE LABORÁTORIODocumento14 páginasRelatorio NORMAS DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS BÁSICOS DE LABORÁTORIOVitor LessaAinda não há avaliações
- Resumo de Matérias para Vestibulinho ETECDocumento3 páginasResumo de Matérias para Vestibulinho ETECGabriel MasuokaAinda não há avaliações
- Cinética Quimica GeralDocumento6 páginasCinética Quimica GeralJean QueirozAinda não há avaliações
- 05 - Cálculo Das ProbabilidadesDocumento7 páginas05 - Cálculo Das ProbabilidadesFernanda BreyerAinda não há avaliações
- CM82 18 22-Oz-Diagnostico Corrosao Armaduras PDFDocumento5 páginasCM82 18 22-Oz-Diagnostico Corrosao Armaduras PDFCarlos MesquitaAinda não há avaliações
- Beneficiamento MineralDocumento63 páginasBeneficiamento MineralFernandaAinda não há avaliações
- Techanse Palestra 2015Documento131 páginasTechanse Palestra 2015Marcus BanzattoAinda não há avaliações