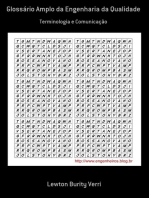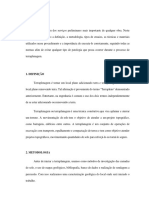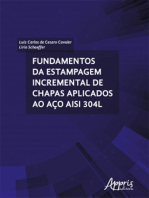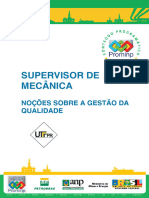Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Basico Tecnologia Mecanica PDF
Basico Tecnologia Mecanica PDF
Enviado por
Gordon HarrisTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Basico Tecnologia Mecanica PDF
Basico Tecnologia Mecanica PDF
Enviado por
Gordon HarrisDireitos autorais:
Formatos disponíveis
0- 0 -
Desenhista
Projetista de
Mecnica (Rotativos)
Tecnologia Mecnica
1
TECNOLOGIA MECNICA
2
PETROBRAS Petrleo Brasileiro S.A.
Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19.2.1998.
proibida a reproduo total ou parcial, por quaisquer meios, bem como a produo de apostilas, sem
autorizao prvia, por escrito, da Petrleo Brasileiro S.A. PETROBRAS.
Direitos exclusivos da PETROBRAS Petrleo Brasileiro S.A.
FERREIRA, Julio Csar Valente.
Tecnologia Mecnica / CEFET-RJ. Rio de Janeiro, 2007.
186 p.: 217il.
PETROBRAS Petrleo Brasileiro S.A.
Av. Almirante Barroso, 81 17 andar Centro
CEP: 20030-003 Rio de Janeiro RJ Brasil
3
NDICE
I Mecnica Tcnica ............................................................................................................................. 18
1.1. Conceitos Tericos...................................................................................................................... 19
1.1.1 Grandezas Vetoriais ............................................................................................................. 19
1.1.2 Sistemas de Unidades.......................................................................................................... 21
1.1.3 Leis de Newton..................................................................................................................... 23
1.1.4 Princpio da Transposio de Foras................................................................................... 24
1.1.5 Momento de Fora................................................................................................................ 24
1.2 Esttica......................................................................................................................................... 25
1.2.1 Equilbrio............................................................................................................................... 25
1.2.2 Vnculos Estruturais e Reaes de Apoio ............................................................................ 25
1.2.3 Diagrama de Corpo Livre ..................................................................................................... 28
1.2.4 Baricentro de Figuras Planas ............................................................................................... 29
1.3 Cinemtica ................................................................................................................................... 30
1.3.1 Movimento Retilneo Uniforme ............................................................................................. 30
1.3.2. Movimento Circular Uniforme.............................................................................................. 31
1.3.3 Movimento Retilneo Uniformemente Variado...................................................................... 32
1.3.4 Movimento Circular Uniformemente Variado ....................................................................... 33
1.4 Dinmica ...................................................................................................................................... 33
1.4.1 Fora, Massa e Peso............................................................................................................ 33
1.4.2 Foras no Movimento Circular.............................................................................................. 34
1.4.3 Trabalho e Potncia.............................................................................................................. 34
1.4.4 Energia Potencial.................................................................................................................. 36
1.4.5 Energia Cintica ................................................................................................................... 36
II Cincia dos Materiais ....................................................................................................................... 37
2.1 Introduo .................................................................................................................................... 38
2.2 Classes e Tipos de Materiais ....................................................................................................... 38
2.2.1 Materiais Metlicos............................................................................................................... 38
2.2.2 Materiais Plsticos................................................................................................................ 39
2.2.3 Materiais Cermicos............................................................................................................. 39
2.2.4 Materiais Compsitos ........................................................................................................... 40
2.2.5 Materiais Naturais................................................................................................................. 41
2.3 Ensaios Mecnicos ...................................................................................................................... 41
2.3.1 Ensaios de Trao e Compresso ....................................................................................... 41
2.3.2 Ensaios de Cisalhamento e Toro...................................................................................... 43
4
2.3.3 Ensaio de Flexo.................................................................................................................. 44
2.3.4 Ensaios de Impacto .............................................................................................................. 45
2.3.5 Ensaio de Fluncia ............................................................................................................... 46
2.3.6 Ensaio de Fadiga.................................................................................................................. 47
2.3.7 Ensaios de Dureza ............................................................................................................... 50
2.3.8 Ensaio Visual ........................................................................................................................ 53
2.3.9 Ensaio por Lquido Penetrante............................................................................................. 53
2.3.10 Ensaio por Partculas Magnticas...................................................................................... 54
2.3.11 Ensaio por Radiografia....................................................................................................... 55
2.3.12 Ensaio por Ultra-Som......................................................................................................... 56
2.4 Propriedades Mecnicas.............................................................................................................. 58
2.4.1 Mdulo de Elasticidade e Limite de Escoamento................................................................. 58
2.4.2 Limite de Resistncia ........................................................................................................... 58
2.4.3 Ductilidade............................................................................................................................ 59
2.4.4 Tenacidade........................................................................................................................... 59
2.4.5 Encruamento ........................................................................................................................ 59
2.4.6 Estrico............................................................................................................................... 60
2.4.7 Coeficiente de Poisson (
).................................................................................................. 60
2.4.8 Coeficiente de Atrito ............................................................................................................. 60
2.5 Propriedades Trmicas ................................................................................................................ 60
2.5.1 Capacidade Trmica............................................................................................................. 60
2.5.2 Coeficiente de Dilatao Trmica......................................................................................... 61
2.5.3 Condutividade Trmica......................................................................................................... 61
2.6 Propriedades Eltricas ................................................................................................................. 61
2.6.1 Condutividade....................................................................................................................... 61
2.6.2 Comportamento Dieltrico.................................................................................................... 62
2.7 Metalografia.................................................................................................................................. 62
2.7.1 Exame macrogrfico............................................................................................................. 63
2.7.2 Exame microgrfico.............................................................................................................. 63
2.8 Tratamentos em Materiais............................................................................................................ 63
2.8.1 Mecanismo de Solubilizao e Precipitao........................................................................ 64
2.8.2 Tratamentos Trmicos.......................................................................................................... 64
2.8.2.1 Recozimento...................................................................................................................... 64
2.8.2.2 Esferoidizao ................................................................................................................... 65
2.8.2.3 Normalizao..................................................................................................................... 65
2.8.2.4 Tmpera ............................................................................................................................ 65
2.8.2.5 Revenido............................................................................................................................ 65
2.8.2.6 Martmpera ....................................................................................................................... 66
5
2.8.2.7 Austmpera ....................................................................................................................... 66
2.8.3 Tratamentos Termoqumicos................................................................................................ 66
2.8.3.1 Tmpera Superficial .......................................................................................................... 66
2.8.3.2 Cementao ...................................................................................................................... 67
2.8.3.3 Nitretao .......................................................................................................................... 67
2.8.3.4 Cianetao......................................................................................................................... 67
2.8.3.5 Carbonitratao ou Cianetao a Gs .............................................................................. 67
2.8.3.6 Boretao .......................................................................................................................... 68
2.9 Seleo de Materiais.................................................................................................................... 68
III Resistncia dos Materiais ............................................................................................................... 70
3.1 Tenso ......................................................................................................................................... 73
3.2 Deformao.................................................................................................................................. 75
3.3 Carregamento Axial...................................................................................................................... 77
3.4 Toro .......................................................................................................................................... 80
3.5 Diagrama de Esforos Internos.................................................................................................... 83
3.6 Flexo........................................................................................................................................... 84
3.7 Flambagem.................................................................................................................................. 88
IV Elementos de Mquinas ................................................................................................................. 92
4.1 Elementos de Juno................................................................................................................... 93
4.1.1 Parafusos, Porcas, Arruelas e Roscas................................................................................. 93
4.1.2 Rebites................................................................................................................................ 100
4.2 Eixos e rvores .......................................................................................................................... 101
4.3 Molas.......................................................................................................................................... 101
4.3.1 Molas Helicoidais................................................................................................................ 101
4.3.2 Molas Planas ...................................................................................................................... 103
4.4 Chavetas, Anis Elsticos e Pinos............................................................................................. 104
4.5 Mancais...................................................................................................................................... 106
4.5.1 Mancais de Deslizamento .................................................................................................. 106
4.5.2 Mancais de Rolamento....................................................................................................... 108
4.6 Elementos de Transmisso........................................................................................................ 112
4.6.1 Engrenagens ...................................................................................................................... 112
4.6.2 Polias, Correias, Correntes e Cabos.................................................................................. 116
4.6.3 Acoplamentos..................................................................................................................... 118
V Processos de Fabricao .............................................................................................................. 123
5.1 Processos Metalrgicos ............................................................................................................. 124
5.1.1 Fundio............................................................................................................................. 124
5.1.2 Soldagem............................................................................................................................ 126
5.2 Processos de Conformao....................................................................................................... 128
6
5.2.1 Extruso.............................................................................................................................. 128
5.2.2 Estampagem....................................................................................................................... 130
5.2.3 Forjamento.......................................................................................................................... 130
5.2.4 Laminao .......................................................................................................................... 131
5.2.5 Trefilao............................................................................................................................ 132
5.3 Processos de Usinagem ............................................................................................................ 132
5.3.1 Torneamento ...................................................................................................................... 133
5.3.2 Fresamento......................................................................................................................... 135
5.3.3 Furao............................................................................................................................... 137
5.3.4 Alargamento ....................................................................................................................... 138
5.3.5 Aplainamento...................................................................................................................... 139
5.3.6 Brochamento ...................................................................................................................... 141
5.3.7 Retificao.......................................................................................................................... 141
5.3.8 Mandrilamento.................................................................................................................... 142
5.3.9 Processos No-Convencionais .......................................................................................... 143
5.4 Processos de Fabricao de Materiais Polimricos................................................................... 145
5.5 Metalurgia do P ........................................................................................................................ 147
5.6 Fabricao Assistida por Computador ....................................................................................... 148
VI Mecnica Aplicada........................................................................................................................ 150
6.1 Moito......................................................................................................................................... 151
6.2 Cabrestantes.............................................................................................................................. 151
6.3 Cunha......................................................................................................................................... 152
6.4 Sistema Planetrio ..................................................................................................................... 152
6.5 Mecanismo BielaManivela........................................................................................................ 153
6.6 Mecanismo de Quatro Barras..................................................................................................... 153
6.7 Excntricos e Cames ................................................................................................................. 154
6.8 Embreagens e Freios ................................................................................................................. 155
6.9 Volantes ..................................................................................................................................... 161
6.10 Balanceamento de rotores ....................................................................................................... 161
VII Fenmenos de Transporte........................................................................................................... 165
7.1 Propriedades Fsicas dos Fluidos .............................................................................................. 166
7.2 Grandezas de Estado................................................................................................................. 166
7.2.1 Dilatao Trmica............................................................................................................... 167
7.2.2 Equaes de Estado de Gs Ideal ..................................................................................... 168
7.2.3 Calorimetria ........................................................................................................................ 170
7.3 Termodinmica........................................................................................................................... 172
7.3.1 Processos Reversveis e Irreversveis ............................................................................... 172
7.3.2 Primeira Lei da Termodinmica....................................................................................... 173
7
7.3.3 Transformao Adiabtica.................................................................................................. 174
7.3.4 Segunda Lei de Termodinmica......................................................................................... 176
7.4 Transferncia do Calor ............................................................................................................... 177
7.5 Mecnica dos Fluidos................................................................................................................. 179
7.5.1 Presso Atmosfrica........................................................................................................... 179
7.5.2 Hidrosttica......................................................................................................................... 180
7.5.3 Hidrodinmica..................................................................................................................... 182
BIBLIOGRAFIA..................................................................................................................................... 185
8
LISTA DE FIGURAS
Figura 1.0 Mecanismo biela-manivela. ............................................................................................... 18
Figura 1.1 Fora aplicada em um corpo. ............................................................................................ 20
Figura 1.2 Soma de vetores pela lei dos paralelogramos................................................................... 20
Figura 1.3 Soma de vetores pela regra dos tringulos ....................................................................... 20
Figura 1.4 Componentes retangulares de um vetor ........................................................................... 21
Figura 1.5 Lei dos co-senos e lei dos senos aplicados em operaes com vetores.......................... 21
Figura 1.6 Unidades e prefixos do Sistema Internacional aplicados dimenso de comprimento ... 22
Figura 1.7 Fatores de converso de unidades do Sistema Ingls para o Sistema Internacional....... 22
Figura 1.8 Fatores de converso de outras unidades para o Sistema Internacional ......................... 23
Figura 1.9 Princpio da transposio de foras................................................................................... 24
Figura 1.10 Momento de fora............................................................................................................ 24
Figura 1.11 Condies de equilbrio de um corpo rgido (Morsch, 2002). .......................................... 25
Figura 1.12 Representao dos graus de liberdade no espao e no plano (Morsch, 2002). ............. 25
Figura 1.13 Vnculos de primeira ordem (Morsch, 2002).................................................................... 26
Figura 1.14 Vnculos de segunda ordem (Morsch, 2002)................................................................... 27
Figura 1.15 Vnculos de terceira ordem (Morsch, 2002)..................................................................... 27
Figura 1.16 Sistema fsico e diagrama de corpo livre de uma partcula (Morsch, 2002).................... 28
Figura 1.17 Sistema fsico e diagrama de corpo livre de um corpo rgido (Morsch, 2002) ................ 28
Figura 1.18 Principais centrides de superfcies simples ................................................................... 29
Figura 1.19 Determinao do centride de uma figura plana a partir de superfcies simples (Morsch,
2002). ..................................................................................................................................................... 30
Figura 1.20 Movimento retilneo uniforme (Morsch, 2002) ................................................................. 30
Figura 1.21 Exemplo de movimento circular uniforme (Morsch, 2002) .............................................. 31
Figura 1.22 Foras no movimento circular uniformemente variado. ................................................... 34
Figura 2.0 Representao esquemtica de uma mquina universal de ensaios. .............................. 37
Figura 2.1 Formas de aplicao do reforo em um material compsito. ............................................ 40
Figura 2.2 Compsito sanduche (Callister, 2001).............................................................................. 41
Figura 2.3 Ensaio de trao (Chiaverini, 1986)................................................................................... 41
Figura 2.4 Grfico tenso x deformao obtido em ensaio de trao (Chiaverini, 1986)................... 42
Figura 2.5 Corpos de prova de ensaio de trao (Chiaverini, 1986). ................................................. 42
Figura 2.6 Formas de ensaio de cisalhamento (Chiaverini, 1986). .................................................... 43
Figura 2.7 Ensaio de toro (Garcia et. al., 2000). ............................................................................. 44
Figura 2.8 Ensaio de flexo................................................................................................................. 44
9
Figura 2.9 Equipamento para o ensaio de impacto (Chiaverini, 1986)............................................... 45
Figura 2.10 Corpos de prova para o ensaio de impacto (Chiaverini, 1986). ...................................... 46
Figura 2.11 Equipamento para ensaio de fluncia (Chiaverini, 1986). ............................................... 46
Figura 2.12 Grfico tempo x deformao de fluncia (Chiaverini, 1986). .......................................... 47
Figura 2.13 Exemplos de cargas cclicas (Chiaverini, 1986). ............................................................. 48
Figura 2.14 Superfcie fraturada por fadiga (Chiaverini, 1986)........................................................... 48
Figura 2.15 Grfico obtido em ensaio de fadiga (Garcia et. al., 2000). .............................................. 49
Figura 2.16 Representao do ensaio de fadiga de flexo rotativa (Garcia et. al., 2000). ................ 49
Figura 2.17 Categorias do ensaio de fadiga (Garcia et. al., 2000). .................................................... 50
Figura 2.18 Tipos de penetradores para ensaios de dureza (Garcia et. al., 2000). ........................... 51
Figura 2.19 Representao do equipamento para ensaio de dureza Shore (Garcia et. al., 2000). ... 52
Figura 2.20 Fases de execuo do ensaio por lquido penetrante. .................................................... 54
Figura 2.21 Campo magntico desviado por uma trinca e sua visualizao (Garcia et. al., 2000).... 55
Figura 2.22 Representao do ensaio radiogrfico (Garcia et. al., 2000). ......................................... 56
Figura 2.23 Ilustrao dos mtodos de ensaio por ultra-som: (A) transparncia e (B) reflexo (Garcia
et. al., 2000)............................................................................................................................................ 57
Figura 2.24 Grfico tenso x deformao com limite de escoamento no-identificvel (Callister,
2001). ..................................................................................................................................................... 58
Figura 2.25 Mapa de relao entre as propriedades de limite de escoamento e limite de resistncia
(Ashby, 1992). ........................................................................................................................................ 69
Figura 3.0 Mtodo experimental para determinao de deformaes em componente estrutural. ... 70
Figura 3.1 Modelos de slidos. ........................................................................................................... 72
Figura 3.2 Tenses aplicadas em um slido....................................................................................... 73
Figura 3.3 Componentes do tensor de tenses. ................................................................................. 74
Figura 3.4 Aumento de comprimento em uma barra prismtica......................................................... 75
Figura 3.5 Deformaes em uma barra prismtica............................................................................. 75
Figura 3.6 Deformao cisalhante em um slido (Gere, 2003). ......................................................... 76
Figura 3.7 Lei de Hooke generalizada. ............................................................................................... 76
Figura 3.8 Representaes das tenses em uma unio de chapas................................................... 78
Figura 3.9 Representao de uma barra submetida tenso trmica............................................... 80
Figura 3.10 Representao de um eixo de motor sendo submetido a um esforo de toro. ........... 80
Figura 3.11 Tenses cisalhantes na seo transversal e deformao por distoro ao longo do eixo
longitudinal. ............................................................................................................................................ 81
Figura 3.12 Fora de cisalhamento e momento fletor resultante atuante em uma viga carregada. .. 83
Figura 3.13 Conveno de sinais para fora de cisalhamento e momento fletor. .............................. 83
Figura 3.14 Exemplos de vigas com trechos em flexo pura e flexo simples. ................................. 84
Figura 3.15 Exemplos de vigas com trechos em flexo pura e flexo simples. ................................. 85
Figura 3.16 Posicionamento da linha neutra em uma viga submetida flexo pura. ........................ 85
10
Figura 3.17 Valores para momentos de inrcias de sees transversais de vigas............................ 86
Figura 3.18 Empenamento das sees em flexo.............................................................................. 87
Figura 3.19 Tenses cisalhantes mximas em flexo simples........................................................... 88
Figura 3.20 Formas de equilbrio em sistemas mecnicos................................................................. 88
Figura 3.21 Valores para comprimentos efetivos de flambagem........................................................ 89
Figura 3.22 Flambagem excntrica..................................................................................................... 90
Figura 3.23 Tenso de escoamento em funo do ndice de esbeltez e da excentricidade. ............. 90
Figura 4.0 Exemplos de elementos de transmisso. .......................................................................... 92
Figura 4.1 Parafusos de cabea hexagonal e quadrada. ................................................................... 93
Figura 4.2 Parafuso sem porca. .......................................................................................................... 94
Figura 4.3 Parafuso com porca. .......................................................................................................... 94
Figura 4.4 Parafuso prisioneiro. .......................................................................................................... 94
Figura 4.5 Parafuso Allen.................................................................................................................... 95
Figura 4.6 Parafusos de fundao. ..................................................................................................... 95
Figura 4.7 Parafusos auto-atarraxantes.............................................................................................. 95
Figura 4.8 Parafusos de montagem em metais e plsticos. ............................................................... 96
Figura 4.9 Parafusos de montagem em madeiras. ............................................................................. 96
Figura 4.10 Porca castelo. .................................................................................................................. 96
Figura 4.11 Porca cega. ...................................................................................................................... 97
Figura 4.12 Porca borboleta................................................................................................................ 97
Figura 4.13 Contraporca. .................................................................................................................... 97
Figura 4.14 Arruela lisa. ...................................................................................................................... 98
Figura 4.15 Arruela de presso........................................................................................................... 98
Figura 4.16 Arruela estrelada.............................................................................................................. 98
Figura 4.17 Rosca externa e interna. .................................................................................................. 98
Figura 4.18 Rosca de perfil triangular. ................................................................................................ 99
Figura 4.19 Rosca de perfil trapezoidal. ............................................................................................. 99
Figura 4.20 Rosca de perfil redondo. .................................................................................................. 99
Figura 4.21 Rosca de perfil dente de serra. ........................................................................................ 99
Figura 4.22 Rosca de perfil quadrado. .............................................................................................. 100
Figura 4.23 Tipos e aplicaes de rebites. ....................................................................................... 100
Figura 4.24 Exemplos de montagens com rebites............................................................................ 101
Figura 4.25 Tipos de molas helicoidais de trao............................................................................. 102
Figura 4.26 Tipos de molas helicoidais de compresso. .................................................................. 102
Figura 4.27 Tipos de molas helicoidais de toro............................................................................. 102
Figura 4.28 Tipos de molas helicoidais cnicas................................................................................ 103
Figura 4.29 Tipos de molas planas. .................................................................................................. 103
11
Figura 4.30 Exemplos de montagem com chavetas e tipos de chavetas e exemplos de montagem:
a) paralelas ou lingetas; b) embutidas; c) plana com cabea; d) Woodruff; e) inclinada sem cabea; f)
inclinada com cabea. .......................................................................................................................... 104
Figura 4.31 Tipos de anis elsticos................................................................................................. 105
Figura 4.32 Pinos do tipo cilndrico paralelo, de unio, cnico, estriado, tubular fundido e contrapino.
.............................................................................................................................................................. 105
Figura 4.33 Mancal de deslizamento. ............................................................................................... 106
Figura 4.34 Mancal de escora........................................................................................................... 106
Figura 4.35 Mancal inteirio. ............................................................................................................. 107
Figura 4.36 Mancal bipartido............................................................................................................. 107
Figura 4.37 Mancal ajustvel. ........................................................................................................... 107
Figura 4.38 Mancal a gs.................................................................................................................. 108
Figura 4.39 Elementos constituintes de um rolamento. .................................................................... 108
Figura 4.40 Rolamento de contato angular. ...................................................................................... 109
Figura 4.41 Rolamento autocompensador de esferas. ..................................................................... 109
Figura 4.42 Rolamento axial de esferas. .......................................................................................... 110
Figura 4.43 Rolamento de rolos cilndricos. ...................................................................................... 110
Figura 4.44 Rolamento autocompensador de rolos cilndricos. ........................................................ 110
Figura 4.45 Rolamento axial autocompensador de rolos cilndricos. ............................................... 111
Figura 4.46 Rolamento de rolos cnicos........................................................................................... 111
Figura 4.47 Rolamento de agulhas. .................................................................................................. 111
Figura 4.48 Engrenagem cilndrica de dentes retos. ........................................................................ 112
Figura 4.49 Engrenagem cilndrica de dentes internos. ................................................................... 113
Figura 4.50 Engrenagem cilndrica de dentes helicoidais. ............................................................... 113
Figura 4.51 Engrenagem cilndrica de dentes em V. ........................................................................ 114
Figura 4.52 Engrenagem cnica de dentes retos. ............................................................................ 114
Figura 4.53 Engrenagem cnica de dentes helicoidais. ................................................................... 115
Figura 4.54 Conjunto pinho e cremalheira. ..................................................................................... 115
Figura 4.55 Conjunto rosca sem-fim e coroa. ................................................................................... 115
Figura 4.56 Tipos de polia................................................................................................................. 116
Figura 4.57 Transmisso por correias. ............................................................................................. 117
Figura 4.58 Transmisso por correntes: (a) corrente de rolos; (b) corrente de dentes; (c) corrente de
elos livres; (d) corrente comum; (e) corrente de blocos..................................................................... 117
Figura 4.59 Constituintes de um cabo de ao................................................................................... 118
Figura 4.60 Acoplamento rgido de flanges aparafusados. .............................................................. 118
Figura 4.61 Acoplamento rgido com luva de compresso. .............................................................. 119
Figura 4.62 Acoplamento rgido de discos ou pratos........................................................................ 119
Figura 4.63 Acoplamento elstico de pinos. ..................................................................................... 119
12
Figura 4.64 Acoplamento elstico perflex. ........................................................................................ 120
Figura 4.65 Acoplamento elstico de garras..................................................................................... 120
Figura 4.66 Acoplamento elstico de dentes arqueados. ................................................................. 120
Figura 4.67 Acoplamento elstico de fitas de ao. ........................................................................... 121
Figura 4.68 Junta universal homocintica......................................................................................... 121
Figura 4.69 Acoplamentos mveis. ................................................................................................... 122
Figura 5.0 Exemplos de processos de fabricao por sopro e usinagem. ....................................... 123
Figura 5.1 Fundamento do processo de fundio............................................................................. 124
Figura 5.2 Caractersticas dos processos de fundio. .................................................................... 125
Figura 5.3 Soldagem a arco eltrico com eletrodo revestido............................................................ 126
Figura 5.4 Soldagem a arco eltrico com proteo gasosa MIG. ..................................................... 127
Figura 5.5 Soldagem por arco submerso.......................................................................................... 127
Figura 5.6 Soldagem a gs. .............................................................................................................. 128
Figura 5.7 Caractersticas dos principais processos de soldagem................................................... 129
Figura 5.8 Extruso. .......................................................................................................................... 129
Figura 5.9 Estampagem. ................................................................................................................... 130
Figura 5.10 Operaes de forjamento. ............................................................................................. 131
Figura 5.11 Laminao...................................................................................................................... 131
Figura 5.12 Trefilao. ...................................................................................................................... 132
Figura 5.13 Torneamento de uma pea (Diniz, 2001). ..................................................................... 133
Figura 5.14 Elementos constitutivos do torno mecnico. ................................................................. 134
Figura 5.15 Operaes de torneamento (Freire, 1988). ................................................................... 135
Figura 5.16 Fresadoras vertical e horizontal ..................................................................................... 136
Figura 5.17 Fresamento de topo. ...................................................................................................... 136
Figura 5.18 Fresamento tangencial. ................................................................................................. 136
Figura 5.19 Broca helicoidal em operao de furao. .................................................................... 137
Figura 5.20 Furadeira de bancada (Freire, 1988). ............................................................................ 137
Figura 5.21 Alargadores (Ferraresi, 1970). ....................................................................................... 138
Figura 5.22 Movimentos na usinagem por aplainamento. ................................................................ 139
Figura 5.23 Plaina limadora. ............................................................................................................. 140
Figura 5.24 Operaes de aplainamento (Chiaverini, 1986). ........................................................... 140
Figura 5.25 Brochamento interno e externo...................................................................................... 141
Figura 5.26 Retificadora. ................................................................................................................... 142
Figura 5.27 Rebolo em operao de retificao. .............................................................................. 142
Figura 5.28 Operaes de mandrilamento (Ferraresi, 1970)............................................................ 143
Figura 5.29 Processo de extruso em plsticos. .............................................................................. 145
Figura 5.30 Processo de injeo em plsticos.................................................................................. 145
Figura 5.31 Processo de sopro em plsticos. ................................................................................... 146
13
Figura 5.32 Etapas da metalurgia do p. .......................................................................................... 147
Figura 5.33 Processo de extruso na metalurgia do p. .................................................................. 148
Figura 5.34 Centro de usinagem....................................................................................................... 149
Figura 6.0 Verificao de balanceamento de sistemas rotativos...................................................... 150
Figura 6.1 Moites............................................................................................................................. 151
Figura 6.2 Cabrestante...................................................................................................................... 151
Figura 6.3 Cunha............................................................................................................................... 152
Figura 6.4 Sistema planetrio. .......................................................................................................... 152
Figura 6.5 Mecanismo biela-manivela. ............................................................................................. 153
Figura 6.6 Mecanismo de quatro barras. .......................................................................................... 153
Figura 6.7 Excntrico. ....................................................................................................................... 154
Figura 6.9 Embreagem de disco. ...................................................................................................... 155
Figura 6.10 Embreagem cnica. ....................................................................................................... 155
Figura 6.11 Embreagem centrfuga. ................................................................................................. 156
Figura 6.12 Embreagem unidirecional. ............................................................................................. 156
Figura 6.13 Embreagem eletromagntica. ........................................................................................ 157
Figura 6.14 Embreagem hidrulica. .................................................................................................. 157
Figura 6.15 Freio de disco................................................................................................................. 158
Figura 6.16 Freio de disco................................................................................................................. 158
Figura 6.17 Freio de tambor de sapatas internas. ............................................................................ 159
Figura 6.18 Freio de tambor de sapatas internas para automveis. ................................................ 159
Figura 6.19 Freio multidisco. ............................................................................................................. 160
Figura 6.20 Freio centrfugo. ............................................................................................................. 160
Figura 6.21 Geometria do balanceamento de rotores. ..................................................................... 162
Figura 6.22 Rotor desbalanceado. .................................................................................................... 163
Figura 6.23 Rotor com discos em balano nos dois extremos. ........................................................ 163
Figura 6.24 Balanceadora. ................................................................................................................ 164
Figura 7.0 Exemplos de Escoamentos ............................................................................................. 165
Figura 7.1 Relao entre escalas de temperatura. ........................................................................... 167
Figura 7.2 Modificao de comprimento devido variao de temperatura. ................................... 167
Figura 7.3 Variao da quantidade de calor entre as fases da gua. .............................................. 172
Figura 7.4 Processo de transformao termodinmica. ................................................................... 173
Figura 7.5 Transferncia de calor por conduo entre dois pontos.................................................. 177
Figura 7.6 Transferncia de calor por conveco............................................................................. 178
Figura 7.7 Experincia de Torricelli para determinao da presso atmosfrica............................. 179
Figura 7.8 Princpio de Stevin. .......................................................................................................... 180
Figura 7.9 Prensa hidrulica. ............................................................................................................ 181
Figura 7.10 Princpio de Arquimedes. ............................................................................................... 181
14
Figura 7.11 Escoamento estacionrio............................................................................................... 182
Figura 7.12 Escoamento em uma tubulao. ................................................................................... 182
Figura 7.13 Medidor Venturi.............................................................................................................. 183
15
LISTA DE TABELAS
Tabela 5.1 Elementos constitutivos do torno mecnico.................................................................... 133
Tabela 5.2 Razes para a adoo de usinagem no-convencional ................................................. 143
Tabela 5.3 Principais tipos de usinagem no-convencional ............................................................. 144
Tabela 5.4 Processo de fabricao de materiais polimricos........................................................... 146
16
APRESENTAO
O Curso Desenhista Projetista de Mecnica (Rotativos) tem como propsito qualificar
profissionais desenhistas projetistas de mquinas rotativas para o setor de petrleo e gs. Visa,
portanto, a formar mo-de-obra qualificada para o referido setor, na especificidade de desenhista
projetista de mecnica, com nfase em equipamentos rotativos.
Este Curso abrange contedos gerais e especficos das reas de mecnica e naval e foi
planejado para alunos de nvel mdio completo, com experincia profissional mnima de 01 (um) ano
na funo de desenhista ou tcnico de nvel mdio completo em rea correlata sem experincia.
O Curso tem 240h, distribudas em seis mdulos, cada um com uma carga horria de estudo
de 40h, a saber:
Desenho Bsico.
Tecnologia Mecnica.
Desenho Tcnico Mecnico.
Introduo aos Equipamentos Rotativos.
Leitura e Interpretao de Projetos de Equipamentos.
Rotativos.
Tcnicas de CAD (SolidWorks).
O primeiro mdulo ser relativo ao Desenho Bsico e permitir ao aluno exercitar a viso
espacial, desenvolver a capacidade de leitura de desenho, bem como a possibilidade de executar
qualquer representao grfica de acordo com as atuais normas vigentes.
O segundo mdulo, outrora denominado Tecnologia Mecnica, trabalhar conhecimentos
bsicos necessrios nas reas de mecnica tcnica, cincia dos materiais, resistncia dos materiais,
elementos de mquinas, processos de fabricao mecnica, mecnica aplicada s mquinas e
fenmenos de transporte para o entendimento de todas as fases de constituio e aplicao dos
equipamentos rotativos.
O terceiro mdulo sob o ttulo de Desenho Tcnico Mecnico unir os contedos vistos nos
mdulos anteriores e ampliar as fronteiras do desenho bsico em direo sua aplicao na
representao grfica de elementos mecnicos, bem como os princpios de representao de
desenhos de conjunto, montagem e detalhamento.
O quarto mdulo - denominado Introduo aos Equipamentos Rotativos - ser a primeira
oportunidade de apresentar os principais equipamentos rotativos, abordando seus tipos,
caractersticas, normas e simbologia.
O quinto mdulo - chamado de Leitura e Interpretao de Projetos de Equipamentos
Rotativos - busca integrar os contedos dos mdulos anteriores e visa a capacitar o aluno para a
leitura, a interpretao e o detalhamento de projetos de equipamentos rotativos, unindo os
17
conhecimentos de representao grfica de elementos e conjuntos mecnicos e os referidos aos
equipamentos rotativos.
Por ltimo, o sexto mdulo - denominado Tcnicas de CAD - objetiva introduzir o aluno no
uso de ferramentas computacionais de auxlio representao grfica em 2D e 3D, com didtica
voltada a exemplos de equipamentos rotativos, especificamente a partir do SolidWorks
, software
amplamente adotado na indstria metal-mecnica.
A avaliao ser promovida por mdulo durante toda a fase de execuo do curso atravs de
atividades individuais e coletivas, realizadas presencialmente ou extraclasse, contextualizando os
contedos a serem avaliados com aqueles j vistos anteriormente, tendo como norte as competncias
profissionais especficas do mdulo em questo.
Agora que voc j conhece as caractersticas gerais do Curso, vejamos o que ir estudar
neste mdulo que se inicia.
Este mdulo Tecnologia Mecnica tem sete captulos de estudo. No Captulo I, voc ter a
oportunidade no s de conhecer a definio das leis da mecnica, mas tambm de aplicar essas leis
no estudo da esttica, cinemtica e dinmica, bem como analisar as foras externas e os movimentos
conseqentes em sistemas mecnicos. O Captulo II apresenta os materiais utilizados na engenharia,
no que diz respeito s classes e tipos, s formas de ensaios, analise de suas propriedades,
verificao dos mtodos de exame, aos processos de alterao de suas propriedades, e s
metodologias de seleo. O Captulo III visa a conceituar tenso e deformao e apresenta o estudo
das formas de aplicao de tenso em componentes mecnicos. A apresentao dos principais
elementos de mquinas e suas aplicaes, bem como os seus princpios de funcionamento sero
demonstrados no Captulo IV. No Captulo V, voc ter a oportunidade de estudar os mtodos de
fabricao de componentes mecnicos e as principais mquinas utilizadas nestes processos. O
estudo das principais formas de transmisso de foras e movimentos e dos equipamentos que
adotam estes mecanismos de transmisso sero apresentados no Captulo VI. Concluindo o estudo
deste mdulo, no Captulo VII voc estudar os contedos de mecnica voltados aos fluidos e suas
aplicaes em mecanismos de transmisso.
Esperamos que, com este mdulo, voc seja capaz de adquirir conhecimentos bsicos nas
reas de mecnica tcnica, cincia dos materiais, resistncia dos materiais, elementos de mquinas,
processos de fabricao mecnica, mecnica aplicada s mquinas e fenmenos de transporte para
o entendimento de todas as fases de constituio e aplicao dos equipamentos rotativos.
O mdulo 2 Tecnologia Mecnica compe o curso de Desenhista Projetista de Mecnica
(Rotativos) que est sendo implementado pelo PROGRAMA DE MOBILIZAO NACIONAL DE
PETRLEO E GS NATURAL.
18
I MECNICA TCNICA
Figura 1.0 Mecanismo biela-manivela.
Se na srie de coisas a investigar se apresentar alguma coisa que nosso entendimento no
possa intuir suficientemente bem, preciso deter-se ali, sem examinar as demais que se
seguem, evitando assim um trabalho suprfluo.
Ren Descartes
Objetivos deste Captulo:
Definir as leis da mecnica.
Aplicar estas leis no estudo da esttica, cinemtica e dinmica.
Analisar as foras externas e movimentos conseqentes em sistemas mecnicos.
19
Mecnica Tcnica
Inicialmente, dedicaremos nossas atenes mecnica de corpos slidos, os quais podem
ser classificados como corpos rgidos ou corpos deformveis. A primeira parte objetivo de estudo da
mecnica tcnica e a segunda alvo de anlise pela resistncia dos materiais com colaborao da
cincia dos materiais.
Ao final desta unidade, o aluno ser capaz de representar todas as foras externas e
movimentos que um corpo possui em um dado cenrio. Alm de represent-las, o aluno possuir
habilidade de manipular as expresses oriundas deste ramo de conhecimento e calcular valores
desconhecidos de foras e demais variveis para manter um sistema em uma dada configurao.
1.1. Conceitos Tericos
Define-se Mecnica Tcnica como o conjunto de contedos que estuda os estados de
repouso ou movimento dos corpos rgidos sob a ao de foras. A esttica refere-se ao equilbrio
destes corpos sob a ao de foras, a cinemtica reporta-se ao movimento destes corpos e a
dinmica refere-se s foras e movimentos resultantes verificados nestes corpos.
Entretanto, antes de propriamente dedicar ateno ao estudo dos problemas, faz-se
necessria a conceituao de seus princpios fundamentais, a saber:
Espao - a regio geomtrica ocupada por corpos cujas posies so descritas por medidas
lineares e angulares em relao a um sistema de coordenadas.
Tempo - a medida da sucesso de eventos.
Massa - a medida da inrcia de um corpo, isto , a resistncia variao de movimento.
Fora - a ao de um corpo sobre um outro, podendo ser exercida por contato ou a
distncia, sendo esta uma grandeza vetorial, isto , definida ento pela intensidade, direo, sentido e
ponto de aplicao.
Partcula - um corpo com dimenses desprezveis em relao ao espao de anlise.
Quando as dimenses de um corpo so irrelevantes para a caracterizao de sua posio ou de seu
movimento, o corpo pode ser considerado uma partcula.
Corpo rgido - um corpo cujo movimento relativo entre suas partes pode ser negligenciado,
ou seja, as posies relativas entre os elementos deste corpo permanecem inalteradas.
1.1.1 Grandezas Vetoriais
Grandezas vetoriais necessitam ser identificadas por um vetor, o qual a descreve de forma
completa. Como exemplos deste tipo de grandeza, temos: deslocamento, velocidade, acelerao,
fora e momento. Um exemplo de fora aplicada em um corpo ilustrada na Figura 1.1.
20
Figura 1.1 Fora aplicada em um corpo.
Ao contrrio das grandezas escalares, em que bastam somar os valores das intensidades, as
grandezas vetoriais so operacionalizadas tambm a partir das consideraes sobre as direes e
sentidos dos vetores em anlise. Na Figura 1.2, mostra-se a soma de dois vetores a partir da lei dos
paralelogramos. A Figura 1.3 exemplifica uma soma de vetores atravs da regra dos tringulos.
Figura 1.2 Soma de vetores pela lei dos paralelogramos
Figura 1.3 Soma de vetores pela regra dos tringulos
Normalmente, mais conveniente lidar com componentes vetoriais perpendiculares entre si,
chamados de componentes retangulares. Desta forma, todo e qualquer vetor pode ser projetado em
um sistema de referncia, gerando ento duas componentes, cada uma relativa a cada projeo,
conforme pode ser verificado na Figura 1.4, a qual j identifica a intensidade de cada uma dessas.
Como sero gerados dois tringulos retngulos com ngulos complementares, atravs de relaes
trigonomtricas chega-se ao resultado descrito nesta figura.
21
Figura 1.4 Componentes retangulares de um vetor
Para a determinao da intensidade do vetor resultante, podem-se utilizar os dois mtodos: a
lei dos co-senos ou a lei dos senos, ambas oriundas do estudo da geometria plana em tringulos.
Essas leis so mostradas na Figura 1.5.
Figura 1.5 Lei dos co-senos e lei dos senos aplicados em operaes com vetores
1.1.2 Sistemas de Unidades
O Sistema Internacional de Unidades cada vez mais tem sido aceito universalmente e vem
substituindo outros sistemas de unidade. Trata-se de um sistema absoluto de unidades baseado nas
quantidades de comprimento, tempo e massa. No Sistema Gravitacional, empregado por muitos
pases durante muito tempo, o quilograma era usado tanto como unidade de massa como de fora, o
mesmo ocorrendo com a libra no Sistema Ingls. necessrio proteger-se contra esta prtica ao
utilizar o sistema Internacional. As Figuras 1.6, 1.7 e 1.8 mostram as unidades do Sistema
Internacional e as correlaes dos outros sistemas com esse, alm dos fatores de converso de
outras unidades e os prefixos de unidades do Sistema Internacional.
22
Figura 1.6 Unidades e prefixos do Sistema Internacional aplicados dimenso de comprimento
Figura 1.7 Fatores de converso de unidades do Sistema Ingls para o Sistema Internacional
23
Figura 1.8 Fatores de converso de outras unidades para o Sistema Internacional
1.1.3 Leis de Newton
Para os sistemas que iremos estudar ao longo deste curso, as leis da mecnica formuladas
por Isaac Newton continuam vlidas, pois trabalharemos com ordens de grandeza de movimentao
absoluta e relativa bem inferiores quelas que demandam o uso de modelos mais avanados de
anlise.
A primeira lei estabelece que uma partcula permanea em repouso ou em contnuo
movimento em linha reta, ou com velocidade constante, se nenhuma fora isolada ou no equilibrada
atue sobre ela.
A segunda lei postula que, se a fora resultante que atua sobre uma partcula no nula,
ento esta possuir uma acelerao (a) diretamente proporcional intensidade dessa fora (Fr),
sendo a massa do corpo igual a M. Com isso, temos a expresso 1.1 que denota esta relao.
F
r
= M. a
(1.1)
A terceira lei afirma que as foras de ao e reao entre corpos possuem a mesma
intensidade, a mesma direo e sentidos opostos. Porm, cabe ressaltar que estas foras no so
aplicadas no mesmo corpo. Por exemplo, se um corpo A executa uma fora sobre o corpo B, este
corpo B reage aplicando no corpo A uma fora de reao nos moldes da terceira lei.
24
Tambm se inclui nesta listagem a lei da gravitao, a qual estabelece que a fora de atrao
seja mtua entre dois corpos de massas M e m. Sobre a superfcie terrestre, para a gama de
problemas estudados neste curso, a nica fora gravitacional devida atrao da Terra,
denominada peso, cuja intensidade dada tambm pela expresso 1.1, sendo a acelerao da
gravidade variante conforme a localizao do sistema estudado. Para fins prticos, o valor da
acelerao da gravidade adotado ser de 9,8 m/s
2
.
1.1.4 Princpio da Transposio de Foras
Uma fora pode ser aplicada por contato mecnico direto ou por ao remota. Neste ltimo
caso, encontram-se as foras gravitacionais, eltricas e magnticas. As foras so de duas espcies:
foras aplicadas (ativas) e reativas. Uma fora atuando em um corpo rgido pode ser aplicada em
qualquer ponto de sua linha de ao sem alterar os seus efeitos resultantes (Figura 1.9).
Figura 1.9 Princpio da transposio de foras
1.1.5 Momento de Fora
Alm da tendncia de deslocar um corpo na direo de sua aplicao, as foras tendem a
girar um corpo extenso em torno de qualquer eixo que no seja concorrente ou paralelo linha de
ao da fora resultante. A intensidade do momento ou tendncia da fora girar o corpo sobre um
eixo no plano do papel que passe pelo ponto O claramente proporcional intensidade da prpria
fora F e da distncia d entre a direo da fora e o eixo citado anteriormente, conforme se verifica na
expresso 1.2 e na Figura 1.10. No Sistema Internacional, o momento de fora possui unidade N.m.
M
o
= F. d
(1.2)
Figura 1.10 Momento de fora
25
1.2 Esttica
Ramo da mecnica destinada a estudar as foras e as condies necessrias para o seu
equilbrio.
1.2.1 Equilbrio
possvel constatar que um corpo est em equilbrio quando a resultante de todas as foras
que agem sobre ele nula. Desta forma, o somatrio dos momentos das foras tambm nulo,
conforme ilustrao na Figura 1.11.
Figura 1.11 Condies de equilbrio de um corpo rgido (Morsch, 2002).
Devido s propriedades do sistema retangular (ilustrado na Figura 1.4), tambm possvel
projetar todas as foras neste sistema e igualar a zero os somatrios das projees nas direes.
1.2.2 Vnculos Estruturais e Reaes de Apoio
A funo dos vnculos de restringir um ou mais movimentos do corpo. Para cada movimento
impedido, corresponde a um esforo aplicado, seja ele uma fora ou um momento aplicado.
Cada um destes movimentos representa um grau de liberdade, sendo estes seis no espao
(trs translaes e trs rotaes) e trs em problemas bidimensionais (duas translaes e uma
rotao), conforme pode ser visto na Figura 1.12.
Figura 1.12 Representao dos graus de liberdade no espao e no plano (Morsch, 2002).
26
As figuras 1.13 a 1.15 apresentam os principais tipos de vnculos e suas resultantes no corpo
apoiado, sendo dedicadas, respectivamente, aos vnculos de primeira, segunda e terceira ordens,
sendo a diferena entre eles o fato de que os vnculos de primeira ordem desenvolvem uma nica
reao de apoio e, desta forma, sucessivamente em relao aos demais.
Figura 1.13 Vnculos de primeira ordem (Morsch, 2002)
27
Figura 1.14 Vnculos de segunda ordem (Morsch, 2002)
Figura 1.15 Vnculos de terceira ordem (Morsch, 2002)
28
1.2.3 Diagrama de Corpo Livre
Vale ressaltar que o diagrama de corpo livre tem como finalidade ilustrar todas as foras
ocorrentes em um corpo ou em sistema de corpos conectados. Essas foras podem ser ativas (isto ,
aplicadas externamente) ou reativas (isto , aplicadas pelos vnculos estruturais).
Um diagrama pode ou no conter distncias, pois o corpo em questo pode ser uma partcula
(Figura 1.16) ou um corpo extenso (Figura 1.17).
Figura 1.16 Sistema fsico e diagrama de corpo livre de uma partcula (Morsch, 2002)
Figura 1.17 Sistema fsico e diagrama de corpo livre de um corpo rgido (Morsch, 2002)
29
1.2.4 Baricentro de Figuras Planas
Tambm denominado centride ou centro de gravidade, definido como o ponto pelo qual
passam todos os eixos possveis em relao aos quais o momento da resultante nulo.
A ao que o peso prprio de um corpo exerce sobre ele mesmo, em termos de equilbrio,
equivalente a concentrar esta solicitao toda em nico ponto, o qual representa o baricentro.
Em grande parte das aplicaes, uma figura mais complexa pode ser divida em figuras
simples com propriedades conhecidas. Para o clculo do centride, calcula-se a razo do somatrio
do produto entre a rea (A) e a posio do centro de gravidade (xg ou yg) e a rea de cada parte pelo
somatrio da rea. As Equaes 1.3 e 1.4 mostram a determinao do baricentro de um corpo, a
Figura 1.18 lista os principais centrides de superfcies simples e a Figura 1.19 exemplifica uma
aplicao.
xg = [P(i) . A(i)] / A(i) xg = xg1.A1+ xg2.A2+... + xgi.Ai / A1+ A2+... + Ai (1.3)
yg = [P(i) . A(i)] / A(i) yg = yg1.A1+ yg2.A2+... + ygi.Ai / A1+ A2+... + Ai (1.4)
Figura 1.18 Principais centrides de superfcies simples
30
Figura 1.19 Determinao do centride de uma figura plana a partir de superfcies simples (Morsch, 2002).
1.3 Cinemtica
A cinemtica uma das partes da mecnica que estuda o movimento em si, classifica-o e
descreve-o matematicamente, sem levar em conta as causas e seus efeitos.
Um corpo se encontra em movimento quando em tempos sucessivos varia sua posio. Caso
esta alterao no ocorra, este corpo estar em repouso. Para identificar a alterao ou no da
posio de um corpo, faz-se necessrio comparar sua posio com os demais corpos que o cercam,
sendo estes denominados referenciais. Em relao ao tempo, o movimento poder ser uniforme ou
variado e, em relao trajetria, poder ser retilneo ou curvilneo.
1.3.1 Movimento Retilneo Uniforme
Um movimento retilneo e uniforme quando sua trajetria reta e percorre distncias iguais
em tempos iguais. Esta razo entre distncia percorrida e tempo gasto denominada velocidade e
sua unidade no sistema internacional metro por segundo (m/s), sendo ilustrada na Figura 1.20.
Figura 1.20 Movimento retilneo uniforme (Morsch, 2002)
31
Desta forma, a variao espacial, isto , a posio P do corpo em dois intervalos de tempo, t e
t+t, dada pela Equao 1.5.
P (t+t) P (t) = V . t (1.5)
Por exemplo, se o cabeote de uma plaina limadora leva 2s no curso de 500 mm, a
velocidade da mesma ser:
0,5 - 0 = V . 2 V = 0,25 m/s
1.3.2. Movimento Circular Uniforme
Este tipo de movimento caracteriza-se por apresentar sua trajetria com o formato geomtrico
de uma circunferncia (Figura 1.21), percorrendo arcos iguais para intervalos de tempo de mesma
magnitude. Este arco pode ser medido por seu comprimento ou pelo ngulo percorrido, sendo a
unidade angular o radiano (rad). Com isto, definem-se duas velocidades: velocidade tangencial (V) e
velocidade angular (), com unidades no sistema internacional, respectivamente iguais a m/s e rad/s,
cujas expresses esto nas equaes 1.6 e 1.7, consecutivamente, sendo r o raio da trajetria e n o
nmero de rotaes completas que um corpo executa no intervalo de tempo de um minuto.
Figura 1.21 Exemplo de movimento circular uniforme (Morsch, 2002)
V = 2 r n / 60 (1.6)
= 2 n / 60 (1.7)
32
Outras variveis importantes no movimento circular so o perodo (T), tempo necessrio para
o corpo percorrer uma volta completa, e a freqncia (f), nmero de giros completados pelo corpo por
segundo. Suas expresses esto nas equaes 1.8 e 1.9, respectivamente.
T = 60 / n (1.8)
= n / 60 (1.9)
Um exemplo de aplicao destes princpios encontra-se no clculo das velocidades perifrica
e angular dos pontos A e B do volante abaixo, sabendo que o eixo gira a 60 rpm.
V
A
= 2 . . 0,1 . 60 / 60 = 0,628 m/s
V
B
= 2 . . 0,025 . 60 / 60 = 0,157 m/s
= 2 . . 60 / 60 = 2 . rad/s
1.3.3 Movimento Retilneo Uniformemente Variado
Este movimento caracteriza-se pela variao da velocidade ao longo do tempo. Esta variao
fornecida pela varivel denominada acelerao (a), que significa a razo entre a variao da
velocidade e o tempo necessrio para esta, cuja unidade no sistema internacional metro por
segundo ao quadrado (m/s
2
).
Ao relacionar as variveis de tempo, variao de posio, velocidade e acelerao, trs
expresses so obtidas, sendo estas descritas nas Equaes 1.10 a 1.12.
V(t+t) V(t) = a . t (1.10)
P(t+t) = V(t) . t + 0,5 . a . (t)
2
(1.11)
P(t+t) = {[V(t+t)]
2
[V(t)]
2
}/ (2 . a) (1.12)
33
Como exemplo, a acelerao de uma bala que atravessa o cano de uma arma em 0,02 s,
saindo com uma velocidade de 500 m/s :
500 0 = a . 0,02 a = 25.000 m/s
2
1.3.4 Movimento Circular Uniformemente Variado
Este movimento caracteriza-se pela variao da velocidade tangencial e da velocidade
angular ao longo do tempo. Esta variao fornecida pelas variveis denominadas acelerao
tangencial (a) e acelerao angular (), sendo a unidade desta ltima no sistema internacional
radiano por segundo ao quadrado (rad/s
2
). As expresses para estas variveis encontram-se nas
Equaes 1.13 e 1.14.
a = 2 r [n(t+t) - n(t)] / (60 . t) (1.13)
= 2 [n(t+t) - n(t)] / (60 . t) (1.14)
Como exemplo, se um volante de 1 m de dimetro gira a 190 rpm, o clculo das aceleraes
tangencial e angular necessrias para girar o mesmo a 250 rpm em 5 segundos :
a = 2 . . 0,5 . (250 -150) / 60 . 5 = 0,628 m/s
2
= 2 . . (250 -150) / 60 . 5 = 0,4 . rad/ s
2
1.4 Dinmica
A dinmica o ramo da mecnica destinada a estudar as relaes estabelecidas entre o
movimento e o conjunto de foras que o provoca.
1.4.1 Fora, Massa e Peso
No tpico 1.1.3 deste texto, foram estabelecidas as leis de Newton, as quais governam o
estudo da mecnica tcnica. Relacionando a Equao 1.1 com a lei de gravitao, uma srie de
problemas envolvendo fora, massa, peso pode ser trabalhada.
34
Por exemplo, se um edifcio possui um elevador com massa de 500 kg, o clculo da tenso
nos seus cabos, para executar um movimento com acelerao de ascenso de 0,5 m/ s
2
, :
F = 500 . 0,5 = 250 N T = F + P = 250 + 500 = 750 N
1.4.2 Foras no Movimento Circular
A fora centrfuga uma fora de inrcia que est associada a um corpo que realiza um
movimento de rotao.
A fora de corilis uma fora de inrcia cujo efeito se manifesta quando se observa o
movimento de um corpo a partir de um referencial que rotaciona.
A expresso para a fora centrfuga delineada na Equao 1.15. A Figura 1.22 ilustra estas
foras e a Figura 1.28 exemplifica uma aplicao destes princpios.
F
centr
= (m . V
2
) / r (1.15)
Figura 1.22 Foras no movimento circular uniformemente variado.
Como exemplo, uma coroa de um volante de dimetro 2 m possui peso de 800 N. O clculo
da fora quando a mesma gira a 120 rpm :
F
centr
= 800 . (12,56)
2
/ 9,8 . 1 = 12878 N
1.4.3 Trabalho e Potncia
O trabalho T de uma fora F definido pelo produto da projeo da componente da fora
colinear ao movimento que o corpo executa com a distncia percorrida. A unidade no sistema
internacional denominada Joule (J = N . m).
35
Como exemplo, o clculo necessrio para o martelo de uma bate-estaca de 500 N ser erguido
4 m :
T = 500 . 4 = 2000 J
Potncia definida como o trabalho produzido por intervalo de tempo, sendo que o
rendimento de um sistema mecnico dado pela razo entre a potncia efetivamente utilizada e a
potncia fornecida. A unidade no sistema internacional denominada Watt (W = J / s). Outra unidade
usual o Cavalo-Vapor (1 CV = 736 W ou 746 W).
Como exemplo, o clculo da carga que o sarilho representado na figura abaixo pode elevar
com a velocidade de 0,5 m/s, admitindo que o rendimento do conjunto seja de 80%, feito da
seguinte forma:
N = 2 . 0,8 = 1,6 CV F = 75 . 1,6 / 0,5 = 240 N
36
1.4.4 Energia Potencial
Entendendo energia como a quantificao da capacidade de um corpo executar um trabalho,
a energia potencial definida como a parcela da energia do corpo armazenada devido ao
gravitacional em relao a um referencial distante verticalmente a uma distncia h, sendo sua
expresso delineada na Equao 1.16.
E
p
= P . h (1.16)
1.4.5 Energia Cintica
A energia cintica reporta-se parcela da energia do corpo quando este se encontra em
movimento, sendo definida pela expresso descrita nas Equaes 1.17 e 1.18 (sendo esta ltima,
uma variao possvel para o movimento curvilneo).
E
c
= (m . V
2
) / 2 (1.17)
E
c
= (m .
2
. r
2
) / 2 (1.18)
O clculo da energia cintica para que um corpo com peso de 0,98 N seja lanado para cima
com velocidade inicial de 4 m/s :
E
c
= 0,98 . 4
2
/ 2 . 0,98 = 0,8 J
Outro exemplo o clculo da energia cintica de uma esfera de ao de massa 2 kg em
movimento circular de raio 0,5 m a 300 rpm:
V = 2 . . 0,5 . 300 / 60 = 15,7 m/s E
c
= 2 . 15,7
2
/ 2 = 247,12 J
37
II CINCIA DOS MATERIAIS
Figura 2.0 Representao esquemtica de uma mquina universal de ensaios.
Um homem que quer mudar a sociedade no pode ter idias tmidas.
Pe. Dehon
Objetivos deste Captulo:
Conhecer as classes e tipos de materiais.
Estudar as formas de ensaiar materiais
Analisar as propriedades dos materiais.
Verificar os mtodos de exame e os processos de alterao de propriedades de materiais.
Conhecer as metodologias de seleo de materiais.
38
Cincia dos Materiais
Este estudo tem como objetivo compreender a natureza dos materiais e estabelecer
conceitos e teorias que permitam relacionar comportamento e propriedades com a estrutura dos
diversos tipos de materiais.
Ao longo desta unidade, o aluno ser apresentado aos principais tipos de materiais, ensaios
que determinam suas propriedades mecnicas e o seu conseqente estudo. Alm disto, outras
propriedades sero delineadas. Por fim, sero apresentadas as formas de exame em materiais e os
processos de alterao de suas propriedades, sendo ento finalizado com um tpico sobre
metodologias de seleo de materiais.
2.1 Introduo
Uma das principais atividades econmicas no mundo a produo e transformao de
materiais em bens acabados. Na produo de uma pea, por exemplo, necessrio que se faa uma
seleo de materiais, na qual sero analisados os custos e, principalmente, as necessidades tcnicas
exigidas. de grande importncia o conhecimento da estrutura interna dos materiais, tendo uma
previso do comportamento do material em servio e, assim, programar controle de suas
propriedades e caractersticas.
Cada profissional da rea industrial necessita estar intimamente relacionado com os materiais
disponveis para uso. Conhecimentos sobre as propriedades e caractersticas do comportamento dos
materiais so necessrios ao profissional da rea industrial.
2.2 Classes e Tipos de Materiais
2.2.1 Materiais Metlicos
Os materiais metlicos so substncias inorgnicas que contm um ou mais elementos
metlicos e que podem conter tambm alguns elementos no-metlicos. Em geral, os metais so
bons condutores de calor e eletricidade. Muitos destes so relativamente resistentes e macios em
temperatura ambiente, mantendo em alguns casos uma boa resistncia mecnica em temperaturas
elevadas.
A razo para serem bons condutores est no fato de que, nesses materiais, h eltrons com
liberdade de movimentao, sendo ento bons condutores, ao contrrio dos materiais plsticos e
cermicos.
Esses materiais podem ser divididos em duas classes: metais ferrosos e metais no-ferrosos.
Para os primeiros, seus principais exemplos so os aos e ferros fundidos, ligas ferro-carbono com
elevado teor de ferro, cujo percentual de carbono os diferenciam. Os no-ferrosos no contm ferro
39
ou apenas se verificam pequenas quantidades. Alumnio, cobre, zinco, titnio e nquel so exemplos
deste tipo de material, alm de suas respectivas ligas.
2.2.2 Materiais Plsticos
Os materiais plsticos podem ser definidos como substncias inorgnicas que contm
cadeias longas ou redes de molculas orgnicas (contendo carbono). Em relao a sua estrutura,
grande parte dos materiais plsticos (ora tambm denominados como polimricos) no cristalina. A
ductilidade e a resistncia desse tipo de material variam bastante.
Diferentemente dos metais, nos materiais plsticos encontrada condutibilidade trmica e
eltrica bem limitada, pois a energia transferida por vibrao atmica, processo este mais lento que
o transporte via eltrons. Devido a este fato, so bons isoladores e, por isso adotados em aplicaes
eltricas. Em geral, estes materiais possuem baixa densidade e no so resistentes ao calor.
Materiais que contm somente elementos no-metlicos compartilham eltrons e produzem
molculas extensas. Estas so chamadas freqentemente de macromolculas. A palavra polmero
vem do fato de que estes materiais so constitudos de grandes cadeias de molculas com unidades
repetidas, denominadas meros. Em geral, os elementos constituintes dos materiais polimricos so:
Hidrognio (H), Carbono (C), Silcio (Si), Nitrognio (N), Oxignio (O) e Flor (F).
Diferentemente dos cermicos, os materiais polimricos so freqentemente possuidores de
baixa densidade e so uma alternativa de baixo custo em algumas aplicaes estruturais, substituindo
os metais. Substanciais progressos tm sido obtidos nas ltimas dcadas no desenvolvimento de
novos plsticos com alta resistncia, que permitam sua introduo em campos onde anteriormente os
metais reinavam absolutamente.
2.2.3 Materiais Cermicos
Os cermicos so materiais inorgnicos constitudos de elementos metlicos e no-metlicos
ligados quimicamente entre si. Ento, esses materiais podem possuir estrutura cristalina ou no, ou
ter partes de cada uma.
Os materiais cermicos possuem elevada dureza e grande resistncia mecnica a altas
temperaturas, porm tendem a serem frgeis. Um exemplo de aplicao est no seu uso em motores,
pois aliam baixo peso, grande resistncia mecnica e dureza, boa resistncia ao calor e abraso,
alm de possuir baixo coeficiente de atrito e de ser isolante. A base para estas caractersticas est no
fato de que os eltrons mais externos dos componentes metlicos so retidos pelos componentes
no-metlicos, caracterizando, ento, as baixas condutividades trmica e eltrica.
O fato de serem isolantes, conjuntamente com a resistncia ao calor e ao desgaste, faz com
que muitos cermicos sejam utilizados em revestimentos de fornos para, por exemplo, fuso de
metais.
40
2.2.4 Materiais Compsitos
Diferentemente das trs categorias anteriores que se diferenciavam atravs de sua
composio qumica, os materiais compsitos utilizam-se da combinao dos materiais previamente
citados para obter melhor desempenho, otimizando a estrutura resultante.
Os materiais compsitos possuem duas fases macroscopicamente visveis, sendo uma
mistura de dois ou mais materiais. Os materiais compsitos so feitos, em geral, de um material que
resista aos esforos (denominado como reforo) e de um outro que tem como funo transferir os
esforos e fornecer maior ductilidade e tenacidade ao conjunto (denominado como matriz). Para
reforo, so adotados materiais, como carbono, boro e vidro em formato particulado ou em fibras. A
matriz pode ser fabricada de algum material metlico, cermico ou polimrico (este ltimo o mais
adotado).
Em termos de configurao, o reforo pode estar disposto em partculas, em flocos e em
fibras longas sem ordenao ou com ordenao (Figura 2.1). Neste ltimo exemplo, a variao do
arranjo destas fibras ao longo da espessura do material altera significativamente suas propriedades.
Figura 2.1 Formas de aplicao do reforo em um material compsito.
Um outro tipo de material compsito de grande aplicabilidade o denominado compsito
sanduche (Figura 2.2). Ele consiste de uma parte central (denominada como recheio), geralmente
feita de um material com resistncia em somente uma direo e baixa densidade, e seus extremos
ocupados por lminas de material resistente. Este tipo de arranjo adotado em estruturas com
esforos em somente uma direo.
41
Figura 2.2 Compsito sanduche (Callister, 2001).
Os materiais compsitos aliam as propriedades de dois materiais porque visam a construir um
elemento com excelente desempenho. Logicamente que este tipo de material tem como principais
fatores limitantes de uso o alto custo de fabricao e a dificuldade de trabalh-lo mecanicamente.
2.2.5 Materiais Naturais
Podem ser considerados materiais naturais todos aqueles encontrados na natureza sem a
necessidade do uso de procedimentos de transformao fsica e/ou qumica. Neste grupo, encontram-
se materiais como fibras, rochas e madeiras.
2.3 Ensaios Mecnicos
2.3.1 Ensaios de Trao e Compresso
As propriedades mecnicas estticas so obtidas comumente a partir de ensaios de trao
(Figura 2.3).
Figura 2.3 Ensaio de trao (Chiaverini, 1986).
42
No corpo padro de prova aplicado um esforo de trao e um grfico tenso x deformao
(Figura 2.4) obtido.
Figura 2.4 Grfico tenso x deformao obtido em ensaio de trao (Chiaverini, 1986).
Para realizar um teste de trao, prepara-se um corpo de prova, conforme o indicado na
Figura 2.5. Para materiais metlicos e plsticos, utilizam-se corpos de prova cilndricos, assim como
os obtidos de uma chapa de material. Ambos os tipos apresentam maior rea nas extremidades para
proporcionar no s a fixao do corpo mquina de ensaio, mas tambm a deformidade do corpo na
regio central sem afetar consideravelmente os extremos, permitindo uma leitura mais precisa na
regio da zona do ensaio e a ocorrncia da ruptura nesta parte e no na regio de engate na
mquina. A regio central do corpo de ensaio possui seo transversal constante, unindo-se s
extremidades de maior rea atravs de uma ampliao gradual desta.
Figura 2.5 Corpos de prova de ensaio de trao (Chiaverini, 1986).
As tenses em um ensaio de trao ou compresso simples so calculadas, dividindo-se a
carga medida pela mquina de ensaio pela rea da seo transversal da zona de ensaio do corpo de
prova. Essas tenses so denominadas de tenses nominais, pois so calculadas em funo da rea
43
inicial. Entretanto, esta rea se alterar durante o ensaio, sendo estas tenses obtidas de acordo com
a rea em cada instante denominadas como tenses reais, as quais em um ensaio de trao sero
maiores que as nominais.
A deformao a razo entre a variao de comprimento do corpo de prova e seu
comprimento inicial. Desta forma, a deformao no possui unidade.
Sem dvida que fatores como geometria e condies do corpo de prova, do mtodo de
ensaio, da velocidade de deformao e, principalmente, das caractersticas da mquina de ensaio
afetam o limite de escoamento. Da, a necessidade de se normalizar tudo aquilo que faz parte do
ensaio de trao, para que possamos utilizar com segurana os dados oriundos dele.
Observando novamente a Figura 2.4, verifica-se que, antes da regio de escoamento, o
ensaio de trao revela uma relao linear entre tenso e deformao. Esta parte identificada como
a regio elstica do material. Isto , se ocorrer o descarregamento do material dentro desta faixa de
tenso, o mesmo retorna sua configurao inicial. Portanto, no se verifica a existncia de
deformaes residuais. Aps atingir o ponto de escoamento (regio instvel que se caracteriza por
possuir significativa deformao com pouca variao na tenso), o material entra em sua fase
plstica, o qual possuir alguma deformao residual aps o descarregamento do sistema. A fase
plstica caracteriza-se por ser regida por uma lei no-linear e por apresentar os pontos de tenso
mxima e de tenso de ruptura do material.
O ensaio de compresso assemelha-se ao ensaio de trao, somente diferenciando-se pelo
sentido de aplicao da carga. Esse tipo de ensaio comumente utilizado em materiais frgeis.
2.3.2 Ensaios de Cisalhamento e Toro
O ensaio de cisalhamento consiste na aplicao de uma carga em um corpo de prova apoiado
de tal forma que provocar o seu cisalhamento (Figura 2.6).
Figura 2.6 Formas de ensaio de cisalhamento (Chiaverini, 1986).
44
O ensaio de toro consiste na aplicao de carga rotativa em um corpo de prova geralmente
de forma cilndrica (Figura 2.7). Esse tipo de ensaio amplamente utilizado na indstria de
componentes mecnicos, como motores de arranque, turbinas aeronuticas, rotores de mquinas
pesadas. Esse tipo de ensaio possui a vantagem de fornecer dados quantitativos das caractersticas
mecnicas dos materiais que compem o eixo. Entre os principais resultados deste ensaio, destacam-
se o limite de escoamento trao, limite de ruptura toro e o mdulo de elasticidade em
cisalhamento.
Figura 2.7 Ensaio de toro (Garcia et. al., 2000).
2.3.3 Ensaio de Flexo
O ensaio de flexo tem como objetivo determinar o mdulo de elasticidade do material e
avaliar sua ductilidade. Este ensaio tambm adotado para verificar a resistncia de juntas soldadas.
O ensaio consiste em aplicar um esforo de deformao atravs de uma carga imposta sobre
um corpo de prova simplesmente apoiado (Figura 2.8). Esse esforo cessado quando um ngulo
previamente determinado atingido ou quando se verifica, em uma inspeo visual, a primeira fissura
na superfcie oposta quela onde se aplica o carregamento. O ngulo no qual aparece esta primeira
fissura pode ser considerado um ndice de qualidade (da mesma espcie que a ductilidade) para o
material.
Figura 2.8 Ensaio de flexo.
45
2.3.4 Ensaios de Impacto
O comportamento dctil ou frgil dos materiais pode ser mais amplamente caracterizado por
ensaios de impacto. A carga nesse tipo de ensaio aplicada na forma de esforos por choques
(cargas dinmicas), sendo este impacto obtido por meio da queda de um martelo ou pndulo sobre a
pea a examinar devidamente entalhada, conforme mostrada na Figura 2.9.
Figura 2.9 Equipamento para o ensaio de impacto (Chiaverini, 1986).
O choque mediante a aplicao repentina de um golpe sobre um corpo envolve a produo e
a transferncia de energia. Em geral, esta energia absorvida por deformaes plsticas.
O fenmeno de choque origina condies para se estudar a diferena de comportamento de
certos metais que, nas condies usuais de tenso de trao, agem como materiais dcteis, mas que
podem falhar de um modo frgil.
Os ensaios mais comuns e adotados so os denominados Charpy (mais adotado nos Estados
Unidos) e Izood (mais adotado na Europa). A diferena entre os dois est na configurao geomtrica
do entalhe e da fixao do corpo de prova.
46
No ensaio Charpy, o corpo de prova tem o entalhe com o formato de um olhal e a carga
desferida na face oposta ao entalhe. No ensaio Izood, o corpo de prova tem o entalhe em V e a carga
desferida na mesma face do entalhe. Os corpos de prova so mostrados na Figura 2.10.
Figura 2.10 Corpos de prova para o ensaio de impacto (Chiaverini, 1986).
2.3.5 Ensaio de Fluncia
Freqentemente, materiais so submetidos a operaes por longos perodos sob condies
de elevada temperatura e tenso mecnica constante.
O fenmeno da fluncia ocorre quando um material se deforma ao longo do tempo, mesmo
sendo mantida uniforme a tenso aplicada. O equipamento para este tipo de ensaio visualizado na
Figura 2.11, e o grfico resultante, na Figura 2.12.
Figura 2.11 Equipamento para ensaio de fluncia (Chiaverini, 1986).
47
Figura 2.12 Grfico tempo x deformao de fluncia (Chiaverini, 1986).
O objetivo deste ensaio a determinao da vida til do material nestas condies. Entre os
principais materiais ensaiados desta forma, podem-se citar aqueles utilizados na fabricao de
turbinas, tubulaes e componentes da indstria petroqumica e aeroespacial.
Esse tipo de ensaio no realizado rotineiramente devido ao grande tempo necessrio para a
sua realizao, motivo pelo qual so adotadas tcnicas de previso de resultados para longos
perodos ou uso de condies mais severas de ensaio.
2.3.6 Ensaio de Fadiga
Em elementos mecnicos sujeitos variao das cargas aplicadas, ocorre o aparecimento de
uma faixa de flutuao das tenses. Estas podem chegar a valores que, ainda inferiores resistncia
do material obtida em ensaio de trao, pode levar o material a romper-se, desde que esta aplicao
ocorra inmeras vezes.
Esse tipo de falha denominado como falha por fadiga. Essas falhas iniciam-se em pontos
especficos, conhecidos como concentradores de tenso, sendo exemplos destes: falhas superficiais
ou internas do material, alm de mudanas considerveis na configurao geomtrica da pea.
48
Dessa forma, pode-se conceituar a fadiga como um fenmeno que ocorre quando um
elemento mecnico carregado comea a falhar sob tenso muito menor que a equivalente sua
resistncia esttica, sendo esta tenso de natureza cclica ou alternada (Figura 2.13).
Figura 2.13 Exemplos de cargas cclicas (Chiaverini, 1986).
O estudo da fadiga de grande importncia para a indstria mecnica em geral, pois se
estima que 90% das rupturas de componentes se devem a este fenmeno. Em inspeo visual,
conforme mostrada na Figura 2.14, a superfcie de fratura apresenta uma regio macia devido ao
do atrito entre as sees, medida que a fissura se propaga em uma regio spera quando a seo
no apresentou mais resistncia suficiente para suportar a carga, falhando de modo dctil.
Figura 2.14 Superfcie fraturada por fadiga (Chiaverini, 1986).
Este ensaio consiste na aplicao de cargas decrescentes com valores conhecidos em uma
srie de corpos de prova, produzindo, ento, tenses cclicas ou alternadas. Dois so os principais
valores determinados nesse tipo de ensaio. O primeiro refere-se ao limite de fadiga, ou seja, tenso
abaixo da qual uma carga pode ser aplicada repetidamente e por tempo indefinido, sem que se
produza ruptura. O segundo remete a resistncia fadiga, isto , corresponde tenso com a qual o
material falha aps certo nmero de ciclos de aplicao da carga.
De maneira geral, o ensaio de fadiga pode ser dividido em categorias que correspondem
individualmente ao estudo da nucleao de trincas e ao estudo da propagao de trincas.
49
A curva caracterstica deste tipo de ensaio mostrada na Figura 2.15 e o tipo de ensaio mais
adotado o de flexo rotativa, cuja representao pode ser vista na Figura 2.16.
Figura 2.15 Grfico obtido em ensaio de fadiga (Garcia et. al., 2000).
Figura 2.16 Representao do ensaio de fadiga de flexo rotativa (Garcia et. al., 2000).
50
O esquema proposto na Figura 2.17 ilustra as categorias de ensaio de fadiga mais comuns.
Figura 2.17 Categorias do ensaio de fadiga (Garcia et. al., 2000).
2.3.7 Ensaios de Dureza
O teste de dureza um dos mais importantes e difundidos ensaios mecnicos que existem
por diversas razes. Dentre elas, pode-se citar que a dureza uma propriedade associada a
mudanas na composio e/ou mudanas na estrutura do material. Alm disto, o ensaio de mais
rpida execuo e necessita de uma infra-estrutura econmica e prtica.
Este ensaio consiste na anlise de uma pequena impresso feita na superfcie de uma pea
provocada pela aplicao de uma carga atravs de um penetrador. Os mtodos mais adotados
utilizam-se de penetradores com formato padronizado e so pressionados na superfcie do material
sob condies especificas de pr-carga e carga, causando inicialmente deformao elstica e, em
seguida, deformao plstica. A rea de impresso superficial formada ou a sua profundidade so
medidas e correlacionadas com um valor numrico que representa a dureza do material.
Dentre os ensaios de dureza mais adotados, listam-se os mtodos Brinell, Rockwell, Vickers,
Knoop e Shore. Os formatos dos penetradores dos ensaios Brinell, Rockwell, Vickers e Knoop
51
encontram-se na Figura 2.18, e a representao grfica do equipamento para determinar a dureza
Shore, na Figura 2.19.
Figura 2.18 Tipos de penetradores para ensaios de dureza (Garcia et. al., 2000).
52
Figura 2.19 Representao do equipamento para ensaio de dureza Shore (Garcia et. al., 2000).
O ensaio Brinell consiste no s na aplicao de uma carga atravs de uma esfera de ao
temperado contra a superfcie, mas tambm na medio do dimetro da calota esfrica. Cada
dimetro de esfera de ao remete a tabelas onde se varia a fora aplicada. Esse mtodo muito
adotado para a avaliao da dureza de materiais ferrosos, ferro fundido, aos e outros produtos
siderrgicos que no tenham sofrido tratamento de endurecimento superficial. Porm, esse ensaio
possui restries de uso, pois a esfera de ao possui dureza menor que muitos outros materiais e no
permite o ensaio em peas curvas. Os valores obtidos neste tipo de ensaio possuem a propriedade de
se converterem em resultados relativos ao limite de escoamento do material.
O ensaio Rockwell o mais adotado por sua praticidade de execuo e leitura de resultados.
Esse tipo de ensaio de dureza utiliza-se da profundidade da impresso causada por um penetrador
sob a ao de uma carga como indicador da medida de dureza. Esta dureza pode ser classificada
como comum ou superficial, dependendo do penetrador e da pr-carga e da carga aplicadas. Dessa
forma, existe uma srie de arranjos que podem ser feitos com relao s cargas e ao tipo de
penetrador, gerando diversas escalas, as quais j se encontram localizadas no visor do equipamento
de medio, denominado durmetro. A desvantagem deste mtodo reside no fato de no ser possvel
promover a converso de seus valores para ndices de limite de escoamento, alm do fato de no ser
possvel realizar ensaios de microdureza, como os realizados em camadas de depsito de material
obtido por tratamentos termoqumicos.
53
O ensaio Vickers tambm se remete anlise de uma rea de impresso, como no ensaio
Brinell. Entretanto, o penetrador (feito de diamante com formato geomtrico piramidal de base
quadrada) adotado muito mais resistente e promove reas de impresso muito pequenas. Dessa
forma, este ensaio aplicvel a todos os materiais com quaisquer durezas, especialmente materiais
muito duros ou corpos de provas esbeltos, pequenos e/ou irregulares.
O ensaio Knoop tambm adotado em anlise de microdureza, possuindo rea e
profundidade de impresso bem menores que as obtidas no ensaio Vickers. Este mtodo permite a
determinao de materiais frgeis, como os de vidro e os de camadas finas, como pelculas de tinta
ou eletrodepositadas.
O ensaio Shore consiste na aplicao de uma carga oriunda da queda de um penetrador
inserido em um tubo. A altura obtida aps o retorno do penetrador depois de se chocar contra a
superfcie do material avaliado o valor da dureza Shore. O equipamento para este ensaio leve e
porttil e permite a realizao de ensaios em materiais muito macios.
2.3.8 Ensaio Visual
Provavelmente, a inspeo visual o mtodo de exame no destrutivo de maior emprego.
Trata-se de um ensaio bsico que deve proceder aos demais. Consiste na observao para
verificao de descontinuidades superficiais e geomtricas em bordas e juntas preparadas para
soldagem, alm da verificao de padro de rugosidade.
Como vantagem, pode-se destacar seu baixo custo e sua simplicidade de execuo. A
possibilidade de deteco e eliminao de possveis descontinuidades antes do incio ou da
finalizao do processo de soldagem aumenta a eficincia dos demais ensaios, pois fornece um
quadro preliminar das descontinuidades verificadas no componente ensaiado.
A desvantagem deste ensaio se observa no fato de que a percepo e a identificao correta
das descontinuidades so dependentes da experincia do executor do ensaio, alm do fato de
detectar descontinuidades superficiais.
2.3.9 Ensaio por Lquido Penetrante
Considerado como um dos ensaios no destrutivos mais importantes, o mtodo por lquido
penetrante de fcil uso e de interpretao de resultados. Este ensaio empregado para detectar
descontinuidades que se localizam na superfcie de componentes, porm de difcil visualizao em
um ensaio visual.
Esse mtodo independe do tamanho, da configurao, da estrutura interna e da composio
qumica do componente ensaiado. Contudo, como desvantagens, esse tipo de ensaio somente
detecta descontinuidades superficiais, e a superfcie da pea deve estar preparada, limpa e livre de
54
tratamentos superficiais. Tambm como desvantagem, tem-se o fato de que esse mtodo no pode
ser adotado em materiais porosos e absorventes, alm de no permitir o registro dos resultados.
As fases de execuo de um ensaio por lquido penetrante esto representadas na Figura
2.20. Aps a aplicao do lquido penetrante, retira-se o excesso dele na superfcie da pea e,
posteriormente, aplica-se um material revelador, o qual absorver o lquido que ficou alocado na
descontinuidade.
Figura 2.20 Fases de execuo do ensaio por lquido penetrante.
2.3.10 Ensaio por Partculas Magnticas
O ensaio por partculas magnticas destina-se a localizar descontinuidades superficiais e
subsuperficiais em materiais ferromagnticos. baseado no fato de que, quando uma pea est
magnetizada, no caso de ocorrncia de descontinuidade na pea ensaiada, as partculas magnticas
foraro a passagem do campo magntico para fora do componente, conforme pode ser visto na
Figura 2.21.
55
Figura 2.21 Campo magntico desviado por uma trinca e sua visualizao (Garcia et. al., 2000).
Esse tipo de ensaio mais adotado para inspeo de peas que sofrero cargas cclicas,
componentes soldados, peas fundidas, forjadas e laminadas.
Como desvantagem desse mtodo, somente materiais ferromagnticos podem ser ensaiados,
alm da dificuldade de realiz-lo em algumas geometrias de peas e de no permitir o registro dos
resultados.
2.3.11 Ensaio por Radiografia
O exame radiogrfico um mtodo no destrutivo que se baseia na absoro, pelo
componente ensaiado, de raios X ou .
Empregando raios altamente penetrantes que no danificam a pea, o mtodo possibilita um
registro permanente dos resultados das condies internas em um filme. A radiografia industrial
altamente verstil, podendo ser utilizada em componentes com diversas ordens de grandeza. Para
esse tipo de ensaio, a pea no requer preparao da superfcie da rea a ser examinada.
Peas de geometria complexa tornam o exame radiogrfico impraticvel ou restrito, devido
conseqente dificuldade de posicionamento da fonte de radiao sobre o componente a ser ensaiado.
A espessura da pea tambm se constitui em uma limitao intrnseca devido limitao de
penetrao dos raios. Alm disso, a questo da segurana torna-se de fundamental importncia, pois
esse ensaio trabalha com fontes radioativas.
Devido diferena de densidade e de espessura ou s caractersticas de absoro distintas,
as vrias partes de uma mesma pea podem possuir maior ou menor intensidade de permeabilidade
radiao incidente.
56
Conforme pode ser visto na Figura 2.22, inserindo um filme posteriormente pea, aps a
revelao das imagens, reas mais claras ou escuras revelaro as partes do filme que sofreram
menor ou maior quantidade de energia radiante, respectivamente.
Figura 2.22 Representao do ensaio radiogrfico (Garcia et. al., 2000).
2.3.12 Ensaio por Ultra-Som
A percusso de uma pea metlica por meio de um martelo e a anlise do som produzido
pela pea ensaiada uma tcnica utilizada para identificao de falhas. Com a evoluo da
tecnologia, foi possvel adoo de ondas ultra-snicas para a deteco de defeitos superficiais ou
internos nos materiais. Por vibraes ultra-snicas, entendem-se vibraes mecnicas de freqncia
muito superior audvel.
Dois so os mtodos de ensaio que utilizam ultra-som: o mtodo da transparncia, usando
vibraes constantes ultra-snicas, e o mtodo de reflexo, adotando pulsos ultra-snicos. O mtodo
de transparncia recomendado no s para os ensaios em chapas, placas, barras e perfis (atravs
da seo transversal) de materiais metlicos, peas pequenas, localizao de rea e tamanho do
defeito, mas tambm para ensaios contnuos e automatizados. O mtodo de reflexo indicado para
barras e perfis (atravs do eixo longitudinal), para peas grandes forjadas ou fundidas e para
determinao da profundidade do defeito.
57
A representao desses mtodos encontra-se na Figura 2.23.
Figura 2.23 Ilustrao dos mtodos de ensaio por ultra-som: (A) transparncia e (B) reflexo (Garcia et. al., 2000).
58
2.4 Propriedades Mecnicas
2.4.1 Mdulo de Elasticidade e Limite de Escoamento
O mdulo de elasticidade o valor que um material possui e denota a razo entre a tenso
aplicada no corpo de ensaio e a deformao obtida na regio elstica. Sua obteno pode ser feita
conforme visualizado no tringulo formado na regio da Figura 2.24.
O limite de escoamento indica de forma explcita qual a tenso mxima do comportamento
elstico (ponto 2 da Figura 2.24) do material e adotado como a constante a ser aplicada no estudo
de casos de estados complexos de tenso. Tambm adotado como valor indicativo para os
processos de fabricao mecnica os quais se utilizam da deformao plstica dos materiais.
Figura 2.24 Grfico tenso x deformao com limite de escoamento no-identificvel (Callister, 2001).
2.4.2 Limite de Resistncia
O limite de resistncia calculado pela carga mxima atingida no ensaio (ponto 3 da Figura
2.24). Embora esse limite seja uma propriedade fcil de obter, seu valor possui pouca significao
com relao resistncia de materiais dcteis. Para estes, o valor do limite de resistncia d a
medida da carga mxima que o material pode atingir sob a restrita condio de carregamento uniaxial,
lembrando que, neste caso, o limite real de resistncia maior, pois a rea da seo sofre reduo ao
longo do ensaio.
Por ser fcil de calcular e de se constituir em uma propriedade bem determinante, o limite de
resistncia especificado sempre com as outras propriedades dos materiais.
59
Para os materiais frgeis, o limite de resistncia um critrio vlido para projetos, pois neste
caso o valor do limite de escoamento de difcil obteno e a reduo de rea praticamente
desprezvel por causa da pequena zona plstica que estes materiais apresentam.
2.4.3 Ductilidade
Ductilidade a medida da deformao que o corpo possui aps sua ruptura (ponto 4 da
Figura 2.24). Esta propriedade importante, pois pode fornecer uma indicao do comportamento do
material quanto ao tipo de fratura qual pode estar sujeito. A fratura dctil ocorre com notvel
deformao plstica do corpo; a fratura frgil, com pequena ou nenhuma deformao plstica.
Quando um projeto requer um material dctil, no qual a deformao plstica deve ser evitada,
o limite de escoamento o critrio adotado para a resistncia do material. Para aplicaes estruturais,
desde que as cargas sejam estticas, as tenses de trabalho so geralmente baseadas no valor do
limite de escoamento.
A deformao plstica necessria durante o processamento de materiais. Nos produtos
acabados, porm, desejvel evitar esse tipo de deformao, o que obriga a necessidade de projetar
o produto de forma com que as tenses de projeto gerem deformaes elsticas.
2.4.4 Tenacidade
Tenacidade medida de energia requerida para a ruptura de um material (rea 5 da Figura
2.24). Em valores, contrasta com o limite de resistncia, pois mede energia e est relacionada com a
rea do grfico tenso x deformao. Um material dctil, com o mesmo limite de resistncia que um
material no-dctil, ir requerer maior energia para romper, sendo assim mais tenaz.
O conceito de tenacidade importante para se projetar peas que devam sofrer tenses
estticas ou dinmicas acima do limite de escoamento sem se fraturar, como o caso de
engrenagens, engates, acoplamentos, correntes, molas, ganchos de guindaste, eixos, estruturas de
veculos e martelos pneumticos, dentre outros.
2.4.5 Encruamento
A zona plstica caracteriza-se pelo endurecimento por deformao a frio, ou seja, pelo
encruamento do material. Quanto mais o material deformado, mais ele se torna resistente. Esse
fenmeno do encruamento mostra que, ao ser ensaiado um material, uma interrupo do ensaio s
pode ser admitida desde que a carga no tenha atingido o escoamento, pois, caso contrrio, as
propriedades mecnicas obtidas sero afetadas pelo encruamento.
60
2.4.6 Estrico
Um outro indicador do valor da ductilidade a estrico na seo da fratura. Materiais
altamente dcteis apresentam estrico. A deformao uma medida do aumento relativo de
comprimento, ao passo que a estrico um ndice da contrao relativa. A estrico preferida por
alguns profissionais como medida de ductilidade, por no necessitar de uma base de medida
aleatria, alm de poder ser utilizada na determinao da tenso real no ponto de fratura.
A tenso real nos permite analisar as foras que atuam durante a deformao e a fratura.
Entretanto, a tenso nominal (baseada na rea inicial) mais til aos projetistas, visto que estes
precisam operar, na elaborao dos projetos, com as dimenses iniciais, as quais, logicamente, sero
as dimenses do produto.
2.4.7 Coeficiente de Poisson (
)
O coeficiente de Poisson mede a rigidez do material na direo perpendicular direo da
carga de trao uniaxial, sendo a razo entre a deformao perpendicular ( ) ao eixo de aplicao
do carregamento e a deformao neste eixo ( ), conforme a Equao 2.1.
=
(2.1)
2.4.8 Coeficiente de Atrito
Valor adimensional que especifica o atrito entre duas superfcies, sendo determinado
experimentalmente. Como fatores de influncia, destacam-se a rugosidade das superfcies em atrito e
a lubrificao entre elas.
2.5 Propriedades Trmicas
A distino entre temperatura e quantidade de calor de um material fator importante para
distinguir materiais para solicitaes trmicas. Temperatura um nvel de atividade trmica e o
contedo de calor energia trmica.
2.5.1 Capacidade Trmica
Estas duas variveis esto relacionadas pela propriedade da capacidade trmica, a qual
representa a quantidade de calor que um material possui para promover uma alterao em sua
temperatura.
61
2.5.2 Coeficiente de Dilatao Trmica
A expanso que normalmente ocorre durante o aquecimento de um material decorrncia do
aumento do nvel de vibrao dos tomos. Em uma primeira aproximao, pode-se estabelecer que o
aumento relativo do comprimento (L), da rea (S) e do volume (V) proporcional variao de
temperatura, conforme as Equaes 2.2:
T
L
= . L / L ; T
S
= . S / S ; T V V
V
= . /
(2.2)
sendo:
S
= 2
L
e
V
= 3
L
.
2.5.3 Condutividade Trmica
Transferncia de calor atravs de slidos ocorre predominantemente por conduo. A
condutividade trmica k a constante de proporcionalidade que relaciona o fluxo trmico Q com a
razo entre a diferena de temperatura e a diferena da posio entre os slidos ( x T / ), conforme
a Equao 2.3:
1 2
1 2
.
x x
T T
k Q
=
(2.3)
O coeficiente de condutividade tambm sensvel temperatura. Porm, ao contrrio do
coeficiente de dilatao trmica, ele diminui quando a temperatura elevada acima do valor
ambiente. Este comportamento se deve reorganizao da estrutura atmica interna do material,
oriunda de variaes de temperaturas.
2.6 Propriedades Eltricas
2.6.1 Condutividade
Metais e semicondutores conduziro cargas eltricas quando forem colocadas em um campo
eltrico. A condutividade depende do nmero de condutores n , da carga q carregada por cada
um e da mobilidade do condutor, conforme pode ser visto na Equao 2.4.
. .
1
q n = =
(2.4)
62
A mobilidade fornecida pela razo entre a velocidade efetiva do transportador e o campo
eltrico. A resistividade de um material uma propriedade do material e, por isso, independe da
forma.
2.6.2 Comportamento Dieltrico
Isolantes eltricos no transportam cargas eltricas. Todavia, eles no so inertes a um
campo eltrico. Pode-se mostrar separando duas placas de eletrodo a uma distncia qualquer e
aplicando uma diferena de potencial. Nestas condies, no havendo material entre as placas, a
densidade de carga proporcional ao campo eltrico, isto , multiplica-se um valor constante de
densidade de carga no vcuo pelo valor do campo eltrico aplicado.
Se um material for colocado entre as placas, a densidade de carga aumentar e a razo entre
esta densidade e a obtida no vcuo chamada de constante dieltrica relativa. Devido a esta
configurao, o valor obtido por esta razo sempre ser maior que a unidade.
Este valor de grande importncia para a anlise de polmeros e cermicos utilizados em
capacitores.
2.7 Metalografia
Alm dos ensaios mecnicos, uma srie de anlises qumicas se faz necessria para revelar
as caractersticas da regio da pea onde foi escolhida a amostra.
O exame metalogrfico procura relacionar a estrutura ntima do material s propriedades
fsicas, ao processo de fabricao, aos tratamentos aplicados e demais variveis de influncia s
propriedades do material.
A posio de onde tirado um corpo de prova a fim de ser usado para um estudo
metalogrfico depende do fim a que se destina o ensaio. Para atingir esse fim, os corpos de prova
devem ser representativos das condies existentes. Pode ser feito um exame geral, sem o cuidado
da preservao da amostra, se ela puder ser retirada de qualquer parte da pea. Se o componente
deve voltar ao servio, as posies disponveis para o exame sero necessariamente limitadas. Para
o estudo de uma fratura, devem-se escolher sees do material na vizinhana deste defeito, de modo
que estes corpos de prova ofeream maiores possibilidades na determinao de sua causa. Outra
seo deve ser tomada de alguma distncia da fratura para fins de comparao.
63
2.7.1 Exame macrogrfico
O exame macrogrfico consiste no exame do aspecto de uma superfcie plana seccionada de
uma pea ou amostra metlica, devidamente polida e atacada por um reagente adequado. Por seu
intermdio, tem-se uma idia de conjunto referente homogeneidade do material no que tange s
modificaes induzidas por processos qumicos e fsicos. Visa a obter, tambm, uma informao
ampla da pea, facilitar a micrografia e determinar a regio crtica para anlise detalhada. Para a
macrografia, o ao o material de maior interesse.
Algumas das heterogeneidades mais comuns nos aos so as seguintes: vazio, causado pelo
resfriamento lento; segregao, causada pelas impurezas e outros metais; dendrites, formao de
gros de vrios tamanhos, e trincas, devido s tenses excessivas no resfriamento.
A tcnica de preparo de um corpo de prova para o exame macrogrfico envolve as seguintes
fases: escolha e localizao a ser estudada, preparao de uma superfcie plana e polida na rea
escolhida e ataque da superfcie preparada.
2.7.2 Exame microgrfico
Consiste no estudo dos produtos metalrgicos, com o auxlio do microscpio, permitindo
observar a granulao do material, a natureza, a forma, a quantidade e a distribuio dos diversos
constituintes ou de certas incluses.
A localizao do corpo ou dos corpos para micrografia em peas grandes freqentemente
feita aps o exame macrogrfico, porque, se o aspecto for homogneo, a localizao do corpo de
micrografia , em geral, indiferente; se, porm, no for e revelar anomalias ou heterogeneidades, o
observador poder localizar corpos de prova em vrios pontos, caso julgue de interesse um exame
mais detalhado dessas regies. Quando se trata de uma pea pequena ela diretamente seccionada.
A tcnica de preparo de um corpo de prova para o exame microgrfico envolve as seguintes
fases: embutidura da amostra, lixamento ou pr-polimento, polimento e ataque da superfcie
preparada.
2.8 Tratamentos em Materiais
Para muitas aplicaes, ocorre a exigncia de componentes mecnicos estarem livres de
tenses internas e possurem propriedades mecnicas na sua superfcie ou no seu interior
compatveis com as cargas previstas.
Os processos de produo nem sempre fornecem materiais nas condies desejadas. Podem
ocorrer tenses originrias nos processos de fundio, conformao mecnica e usinagem, criando
64
problemas relativos s distores e empenamentos, afetando negativamente as propriedades
mecnicas dos materiais.
Por esses motivos, h a necessidade de, por vezes, submeter os componentes mecnicos a
determinados tratamentos, antes de coloc-los em operao, visando a diminuir ou eliminar os
inconvenientes supracitados.
2.8.1 Mecanismo de Solubilizao e Precipitao
Considerando um material que seja uma liga bifsica, uma melhoria sensvel nas
propriedades mecnicas ser obtida se for possvel redistribuir a fase b na forma de partculas finas,
no interior dos gros da fase a, atravs de uma transformao de fase no estado slido. Este , ento,
o objetivo do tratamento de solubilizao e precipitao.
A precipitao da segunda fase em condies controladas, que levem a uma distribuio de
precipitados finos no interior dos gros da primeira fase, provocam uma melhoria nas propriedades
mecnicas da liga. A resistncia mecnica e a dureza da liga aumentam com essa redistribuio da
segunda fase em relao liga no seu estado normal, precipitando na forma de partculas grosseiras
nos contornos de gro.
2.8.2 Tratamentos Trmicos
Os tratamentos trmicos tm como objetivo alterar as microestruturas e, como conseqncia,
as propriedades mecnicas das ligas metlicas atravs dos seguintes incrementos: remoo de
tenses internas, aumento ou diminuio da dureza, incremento da resistncia mecnica, melhora da
ductilidade, incremento da usinabilidade, aumento da resistncia ao desgaste, melhora da resistncia
corroso, aumento da resistncia ao calor e incremento das propriedades eltricas e magnticas.
As variveis desses processos residem nas questes relativas faixa de temperatura
adotada, tempo de exposio, velocidade de resfriamento e atmosfera do ambiente de tratamento.
2.8.2.1 Recozimento
O recozimento tratamento que tem como objetivo a remoo das tenses internas devido
aos tratamentos mecnicos, a diminuio da dureza para melhorar a usinabilidade, a alterao das
propriedades mecnicas, como a resistncia e a ductilidade, o ajuste do tamanho de gro, a melhoria
das propriedades eltricas e magnticas e produo de uma microestrutura definida. A seguir, so
apresentadas as formas de aplicao do recozimento.
O recozimento total pressupe um resfriamento lento e pode ser aplicado a aos, ferros
fundidos e numerosas ligas no-ferrosas como as de cobre alumnio, magnsio, nquel e de titnio.
65
O recozimento isotrmico bem mais rpido que o recozimento total, sendo feito em banhos
de sais e tornando-o mais prtico e econmico com estrutura final homognea. Esta forma no
aplicvel a peas de grande volume, pois h a dificuldade de diminuir a temperatura em todo o
volume do componente em pouco tempo.
O recozimento para alvio de tenses tem como objetivo aliviar as tenses internas oriundas
do processo de solidificao de peas fundidas ou produzidas em operaes de conformao
mecnica e usinagem. Este tratamento aplica-se a todas as ligas supracitadas anteriormente e possui
velocidade de resfriamento intermediria.
2.8.2.2 Esferoidizao
Aplicvel em aos de mdio a alto teor de carbono, com o objetivo de produzir uma estrutura
globular ou esferoidal de carbonetos no ao, conferindo, ento, melhor usinabilidade e facilitar a
deformao a frio.
2.8.2.3 Normalizao
A normalizao o tratamento que se assemelha ao recozimento, entretanto o resfriamento
menos lento, pois feito ao ar, produzindo uma estrutura mais fina e com propriedades ligeiramente
superiores. Possui aplicao principal nos aos e, por vezes, adotada para proceder ao tratamento
trmico de tmpera.
2.8.2.4 Tmpera
Tmpera o tratamento mais importante dos aos. As condies de aquecimento so muito
semelhantes quelas adotadas no recozimento e na normalizao. Porm, o resfriamento muito
mais rpido atravs de, geralmente, meios lquidos. Os materiais temperados apresentam grande
dureza e resistncia ao desgaste e trao, diminuindo, por outro lado, sua ductilidade e tenacidade
e gerando grandes tenses internas.
2.8.2.5 Revenido
Tratamento aplicado no material logo aps a tmpera, promove as devidas correes nas
propriedades mecnicas, promovendo um equilbrio maior entre as propriedades listadas, modificadas
pela tmpera.
66
2.8.2.6 Martmpera
Devido ao resfriamento no-uniforme, o componente mecnico, tratado via tmpera e
revenido, pode apresentar empenamento ou fissuras. A parte externa esfria mais rapidamente,
transformando-se em martensita (uma das fases do ao, caracterizada por possuir alta dureza) antes
da parte interna. Durante o curto tempo em que as partes externa e interna possuem diferentes
microestruturas, aparecem tenses mecnicas considerveis, sendo que a regio que contm a
martensita frgil e pode trincar.
Esse tratamento promove uma interrupo no resfriamento da pea, criando um passo
isotrmico, no qual toda a pea obtenha a mesma temperatura. A seguir, o resfriamento feito
lentamente de maneira que a martensita se constitua uniformemente no componente. A ductilidade
conseguida atravs da aplicao de um tratamento de revenido.
O referido tratamento tem por objetivo produzir uma estrutura que alia a uma boa dureza e
excelente tenacidade. Em certas aplicaes, ele considerado superior ao tratamento conjunto
tmpera-revenido.
2.8.2.7 Austmpera
Austmpera um processo semelhante ao da martmpera. Entretanto, a fase isotrmica
prolongada at que ocorra a completa transformao em bainita (outra fase do ao, porm com uma
dureza menor que a martensita). Como a microestrutura formada mais estvel, o resfriamento
subseqente no gera martensita e no faz existir a fase de reaquecimento, tornando o processo
mais barato.
2.8.3 Tratamentos Termoqumicos
Os tratamentos termoqumicos so realizados em condies de ambiente que promovem uma
modificao parcial da composio qumica do material. Por isso, pode-se argumentar que estes
tratamentos so superficiais, modificando basicamente a dureza e a resistncia ao desgaste
superficial.
2.8.3.1 Tmpera Superficial
No mtodo tmpera superficial, faz-se um tratamento de tmpera somente na superfcie,
promovendo nesta caractersticas e propriedades da estrutura martenstica. Ele pode ser aplicado por
chama, induo, laser ou por feixe eletrnico.
Aplica-se esse mtodo em peas de grandes dimenses, permitindo o endurecimento em
reas localizadas, ele pode ser adotado quando a geometria da pea ocasionar grandes
67
deformaes. Permite obter, ainda, combinao de altas resistncias ao desgaste e dureza na
superfcie com ductilidade e tenacidade no ncleo da pea. Em sua operacionalizao, esse
tratamento no exige fornos de aquecimento, sendo de rpida execuo, e no promove grandes
oxidaes e descarbonaes no ao.
2.8.3.2 Cementao
Cementao consiste no enriquecimento superficial de carbono em aos com baixo teor de
carbono. O componente mecnico tratado inserido em um ambiente rico em carbono, o qual pode
ser slido, gasoso ou lquido.
A cementao em si no endurece o ao, apenas favorece o endurecimento. Esse processo
deve ser seguido de tmpera e revenido para atingir mxima dureza e alta resistncia ao desgaste.
2.8.3.3 Nitretao
Nitretao o tratamento que promove um enriquecimento superficial de nitrognio, o qual
combinado com outros elementos do material formam nitretos de alta dureza e resistncia ao
desgaste. Esse processo pode ser feito a gs, por banho de sal ou por plasma.
Outros resultados oriundos da aplicao desse mtodo so: a melhoria da resistncia
fadiga, corroso e ao calor; alm da obteno de um menor empenamento das peas, pois esse
tratamento realizado a temperaturas mais baixas, e no h necessidade de tratamento trmico
posterior.
2.8.3.4 Cianetao
Cianetao o processo que se caracteriza pelo enriquecimento superficial simultneo com
carbono e nitrognio. Ele executado em banho de sal fundido, atravs da adoo de cianetos,
sendo o resfriamento feito em gua ou salmoura.
O campo de atuao desse mtodo se encontra nos aos com baixo teor de carbono. Em
relao cementao, possui as vantagens de ser um tratamento mais rpido para sua execuo, de
apresentar o componente tratado com maior resistncia ao desgaste e corroso e de requerer
menor temperatura de aquecimento.
2.8.3.5 Carbonitratao ou Cianetao a Gs
No mtodo de carbonitratao ou cianetao a gs, tambm se promove o enriquecimento
superficial simultneo com carbono e nitrognio em meio gasoso. O processo utilizado em peas
68
que necessitam de alta dureza superficial, de alta resistncia fadiga de contato e as que so
submetidas a cargas superficiais moderadas.
Semelhante ao mtodo de cementao a gs, introduz-se amnia e gs carbonizvel, sendo
que h a necessidade de posteriormente proceder aos tratamentos de tmpera e revenido.
2.8.3.6 Boretao
Boretao o processo que se caracteriza pela introduo de boro por difuso, ocorrendo
este tratamento em meio slido.
2.9 Seleo de Materiais
Ao fazer uma escolha, o projetista precisa levar em considerao, alm das propriedades
citadas anteriormente, o comportamento do material durante o processamento e uso (avaliar sua
conformidade, durabilidade qumica, usinabilidade e estabilidade eltrica, por exemplo), tanto quanto
o custo e a disponibilidade. Por exemplo, o ao para mecanismos de transmisso deve ser facilmente
usinado em produo, mas tem que ser suficientemente tenaz para suportar o uso pesado. Os pra-
choques precisam ser feitos de um metal que possa ser facilmente conformado, mas capaz de resistir
deformao sob impacto. Fios eltricos precisam ter a capacidade de suportar os extremos de
temperatura e semicondutores precisam manter constantes, por longo tempo, suas caractersticas de
corrente/tenso.
Muitos desenvolvimentos tcnicos dependem da criao de materiais completamente novos.
J que , obviamente, impossvel para o profissional industrial ter um conhecimento detalhado dos
milhares materiais atualmente disponveis, tanto quanto se manter completamente informado dos
novos desenvolvimentos, ele deve, pelo menos, dispor de uma base firme sobre os princpios que
regem as propriedades gerais dos materiais.
Um dos fatores importantes no processo de seleo de materiais a multiplicidade de
critrios adotados que, isoladamente analisados, levam a alternativas de escolha bastante razoveis.
Na prtica, porm, no se seleciona um material de um produto baseando-se exclusivamente em um
critrio de seleo, mas na combinao de diversos fatores, os quais podem ser conflitantes,
proporcionando, ento, relativas dificuldades para se obter uma soluo tima. Desta forma,
mecanismos de interao e otimizao de anlise de propriedades de materiais so necessrios.
Dentre os mais representativos critrios de seleo de materiais, destacam-se as seguintes
consideraes: dimensionais, forma geomtrica, peso, cargas aplicadas, resistncia ao desgaste,
variveis de uso e fabricao do produto, requisitos de durabilidade, nmero de unidades,
disponibilidade de materiais, variveis econmicas, normas e especificaes tcnicas e viabilidade de
reciclagem.
69
Como forma de contornar essas limitaes, mapas de relao (Figura 2.25) entre
propriedades de materiais so adotados para comparar resultados de propriedades diferentes, alm
da consulta a banco de dados nacionais e internacionais sobre propriedades de materiais e clculo de
ndices de mrito, os quais permitem verificar as possveis solues otimizadas.
Figura 2.25 Mapa de relao entre as propriedades de limite de escoamento e limite de resistncia (Ashby, 1992).
70
III RESISTNCIA DOS MATERIAIS
Figura 3.0 Mtodo experimental para determinao de deformaes em componente estrutural.
Tenho-me esforado por no rir das aes humanas,
por no deplor-las nem odi-las, mas por entend-las.
Espinosa
Objetivos deste Captulo:
Conceituar tenso e deformao.
Estudar as formas de aplicao de tenso em componentes mecnicos.
71
Resistncia dos Materiais
A Resistncia dos Materiais o ramo da Mecnica dos Corpos Deformveis que se prope,
basicamente, a selecionar os materiais de construo e a estabelecer as propores e as dimenses
dos elementos para um sistema mecnico, a fim de que este possa cumprir suas finalidades com
segurana, confiabilidade, durabilidade e em condies econmicas.
A capacidade de um elemento, em uma estrutura ou mquina, de resistir ruptura chamada
de resistncia do elemento e constitui o problema principal para a anlise neste ramo de estudo.
A limitao das deformaes, em muitos casos, se torna necessria para atender a requisitos
de confiabilidade (deformaes exageradas podem ser confundidas com falta de segurana) ou
preciso (caso de mquinas operatrizes ou ferramentas).
Em determinados casos, apesar de os elementos estruturais de um sistema mecnico
satisfazerem aos requisitos de resistncia e de rigidez, a estrutura, como um todo, no capaz de
manter o estado de equilbrio devido questo da instabilidade, o qual tambm deve ser estudado.
Estados mais complexos de solicitao de cargas, como aquelas verificadas em componentes
mecnicos com descontinuidades geomtricas, ou em carregamentos alternativos (os quais podem
gerar problemas relativos fadiga) e em carregamentos dinmicos (isto , aplicadas repentinamente)
no sero abordados, mas se constituem em assuntos de extrema importncia para aqueles que
desejarem se aprofundar nesta temtica.
Na soluo de seus problemas bsicos, a resistncia dos materiais estabelece modelos
matemticos simplificados para descrever a complexa realidade fsica, permitindo uma fcil resoluo
dos problemas e obtendo resultados muito prximos da realidade, sendo utilizados largamente. Em
alguns casos, no entanto, h a necessidade de, posteriormente, ajustar esses resultados atravs de
coeficientes que levam em conta as simplificaes feitas. Esses ndices so denominados
coeficientes de segurana e so estabelecidos experimentalmente, sendo por muitas vezes arbitrados
por normas tcnicas ou em funo da habilidade e da experincia do projetista.
Os sistemas mecnicos so portadores de complexidades quanto s suas caractersticas, o
que torna sua modelagem fsica de forma realstica praticamente impossvel. Muitos so estes fatores
como, por exemplo, caracterstica dos materiais adotados, forma e geometria dos elementos
estruturais, modalidade dos carregamentos, forma de vinculao. Desta forma, de extrema
importncia a adoo de hipteses simplificadoras para tornar possvel a anlise de problemas em
resistncia dos materiais. Entretanto, verifica-se a validade da adoo destas hipteses
simplificadoras devido pouca diferena entre os resultados obtidos analiticamente em relao aos
resultados experimentais para o mesmo cenrio.
Neste estudo, os materiais sero supostos contnuos, isto , no possuidores de imperfeies
superficiais ou internas; homogneos, ou seja, com valores de propriedades iguais em todos os seus
pontos, e isotrpicos, isto , com propriedades iguais em todas as direes. Todavia, recomendvel
ateno no trato com determinados materiais, como os aplicados na construo civil, ou com
72
materiais anisotrpicos, cujas propriedades no so iguais em todas as direes, como o granito,
cujas caractersticas heterogneas levariam a resultados apenas aproximados e, por vezes, de
qualidade muito baixa. Outra suposio freqentemente utilizada admitir que os materiais sejam
perfeitamente elsticos, sendo trabalhados somente no regime elstico linear.
Todos os elementos estruturais so tridimensionais. Porm, como forma de simplificao dos
princpios a serem adotados, possvel estabelecer trs categorias de classificao dos componentes
estruturais, tendo, para cada um, mtodos especficos na soluo dos problemas, os quais so
ilustrados na Figura 3.1. Os blocos so estruturas em que as trs dimenses so de ordem de
grandeza semelhante; as folhas so corpos e uma das suas dimenses muito menor que as
demais; os elementos delgados so componentes e uma das suas dimenses muito maior que as
demais. A resistncia dos materiais prope mtodos para resoluo de problemas, envolvendo barras
e vigas, sendo os problemas de cascas, chapas e placas solucionados por mtodos mais avanados.
O estudo de blocos no tratado por esta unidade, devendo, ento, ser adotados os mtodos
sistematizados na teoria da elasticidade.
Figura 3.1 Modelos de slidos.
73
3.1 Tenso
Os esforos locais, em pontos de uma dada seo, sero analisados atravs de seus valores
especficos (por unidade de rea) por meio do conceito de tenso, sendo uma grandeza medida em
N/m
2
(Pascal Pa), em kgf/cm
2
, lbf/in
2
(psi), dentre outras unidades.
Ao decompormos o vetor fora elementar dF na direo normal (perpendicular ao plano da
seo dF
n
) e na direo do plano da seo (dF
t
), obtemos as duas componentes da tenso: tenso
normal () (a qual pode ser de trao ou compresso) e tenso tangencial () (tambm denominada
tenso de cisalhamento ou cisalhante), sendo suas expresses mostradas nas Equaes 3.1 e 3.2,
respectivamente, e a visualizao destas tenses ilustradas na Figura 3.2.
= dF
n
/ dA (3.1)
= dF
t
/ dA (3.2)
Figura 3.2 Tenses aplicadas em um slido.
Um fato que, desde o incio, deve ser reconhecido que a tenso que atua em certo ponto de
certo plano de um corpo carregado depende da orientao do plano selecionado. Num mesmo ponto,
porm em um plano diferente, a tenso, em geral, ser diferente. No so apenas as componentes
que se modificam com a orientao do plano, mas o vetor tenso que se altera.
74
Para identificar o estado de tenso em um ponto de um corpo carregado necessrio o
conhecimento das tenses ocorrentes em trs planos ortogonais que se interceptam no ponto
considerado, totalizando seis componentes escalares, conforme ilustrao da Figura 3.3.
Figura 3.3 Componentes do tensor de tenses.
Para as tenses cisalhantes, adota-se uma notao de duplo ndice, na qual o 1 ndice
informa o plano onde a tenso atua (definido pelo eixo que lhe perpendicular) e o 2 indica a direo
da tenso propriamente dita (por exemplo,
yz
a tenso, tangencial, que atua em um plano
perpendicular ao eixo y e orientada na direo do eixo z). Como forma de organizar estes valores,
as tenses so posicionadas em uma matriz, denominada tensor de tenses, conforme pode ser
verificado abaixo.
Assim como o conceito de fora, a idia de tenso puramente abstrata, no podendo ser
medida diretamente. As tenses so calculadas indiretamente atravs de seus efeitos, as
deformaes.
xy
xz
yx
yz
zx
zy
z
S =
75
3.2 Deformao
Os corpos so constitudos de materiais contnuos, nos quais se verificam foras de interao
entre seus componentes atmicos. Como resultado desta ligao, no momento em que uma fora
externa aplicada em um ponto do corpo, todos os outros tambm sofrero as conseqncias desta
ao, finalizando os deslocamentos dos pontos no momento em que se estabelecer uma nova
configurao de equilbrio. A composio desses deslocamentos produz modificaes volumtricas,
caracterizando a deformao do corpo.
A Figura 3.4 apresenta, como exemplo, uma barra prismtica onde foi marcada uma extenso
de comprimento inicial L
0
que, sob a ao de uma fora de trao P, sofre um aumento de
comprimento L.
Figura 3.4 Aumento de comprimento em uma barra prismtica.
A deformao normal () avaliada como a razo entre o aumento de comprimento e o
comprimento original (Equao 3.3). Observando a Figura 3.5, verifica-se que a deformao ao longo
do eixo em que aplicada a fora acompanhada por deformaes nos outros eixos (').
= L / L
0
= ( L L
0
) / L (3.3)
Figura 3.5 Deformaes em uma barra prismtica.
76
A relao entre estas variveis fornecida pelo Coeficiente de Poisson (), expressa na
equao 3.4.
= - / = - [ ( b b
0
) / b ] / [ ( L L
0
) / L ] (3.4)
A deformao cisalhante () mede a distoro sofrida pelo slido aps um carregamento
cortante, sendo esta visualizada na Figura 3.6.
Figura 3.6 Deformao cisalhante em um slido (Gere, 2003).
As relaes entre as tenses e deformaes so fornecidas pela lei de Hooke generalizada,
cujas expresses so mostradas na Figura 3.7:
Figura 3.7 Lei de Hooke generalizada.
sendo G, o mdulo de elasticidade transversal, fornecido pela Equao 3.5.
G = E / [2 (1 + )] (3.5)
77
3.3 Carregamento Axial
Para peas que, por suas condies de simetria geomtrica e com carregamento situado no
centro de gravidade da seo transversal (conforme visto, por exemplo, na Figura 3.5), possvel
admitir uma distribuio uniforme para as tenses ao longo da rea em que atuam. Tal valor, embora
no represente a distribuio real das tenses nos diversos pontos da rea considerada, indica, ao
menos, um valor mdio para tais tenses, fornecendo uma idia de sua ordem de grandeza, sendo
adotada nos projetos de componentes mecnicos.
Na determinao da distribuio das tenses normais ao longo dos pontos da seo
transversal de uma barra reta submetida a esforo normal, adota-se a hiptese simplificadora de que
a seo reta permanece plana aps a deformao. Isto implica que as deformaes especficas da
barra sejam uniformes e, tendo em conta a proporcionalidade entre as tenses e deformaes para o
regime elstico, conclui-se que as tenses sero iguais em todos os pontos da seo. Esta mesma
concluso pode ser estendida para as tenses cisalhantes. Desta forma, estas tenses so
calculadas pelas Equaes 3.6 e 3.7.
= F
/ A (3.6)
= V / A (3.7)
Como exemplo de aplicao, a Figura 3.8 mostra uma unio de chapas por um pino e abaixo
seguem os clculos das tenses.
78
Figura 3.8 Representaes das tenses em uma unio de chapas.
As tenses de trao nas chapas ocorrero nas sees em que h os furos (menor rea) e
valero:
A
= (36 x 10
3
N) / [(100 25) x 15 x 10
-6
m
2
] = 32 x 10
6
N/m
2
= 32,0 MPa
= (72 x 10
3
N) / [(150 25) x 20 x 10
-6
m
2
] = 28,8 x 10
6
N/m
2
= 28,8 MPa
79
As tenses crticas de cisalhamento nas chapas sero:
= (36 x 10
3
N) / [(2) x 75 x 15 x 10
-6
m
2
] = 16 x 10
6
N/m
2
= 16,0 MPa
= (72 x 10
3
N) / [(2) x 80 x 20 x 10
-6
m
2
] = 22,5 x 10
6
N/m
2
= 22,5 MPa
A tenso de compresso nos furos das chapas ser calculada dividindo-se o valor da fora de
compresso pela rea projetada, conforme visto na Figura 3.8.
A
= (36 x 10
3
N) / [25 x 15 x 10
-6
m
2
] = 96 x 10
6
N/m
2
= - 96,0 MPa
B
= (72 x 10
3
N) / [25 x 20 x 10
-6
m
2
] = 144 x 10
6
N/m
2
= - 144 MPa
Para o pino de unio das chapas, teremos uma tenso tangencial calculada por:
p
= (36 x 10
3
N) / [(/4) x (25)
2
x 10
-6
m
2
] = 73,34 x 10
6
N/m
2
= 73,3 MPa
As tenses de compresso no pino (em contato com a chapa B) e em suas duas
extremidades (em contato com as chapas A), sero, respectivamente, 144 e 96 MPa (conforme se
pode presumir, pela terceira lei de Newton, j que as reas de contato se superpem).
Quando ocorre variao de temperatura no slido, o mesmo sofrer alteraes em suas
dimenses. A propriedade fsica que estabelece a relao de proporcionalidade, observada
experimentalmente, entre a variao da dimenso longitudinal de uma pea e a variao de
temperatura correspondente o denominado coeficiente de dilatao trmica linear () Desta forma, a
variao de comprimento de uma pea devido ao seu aumento de temperatura (T) fornecida pela
Equao 3.8.
L
= L
0
(3.8)
Os vos entre os trilhos de ferrovias ou as juntas de expanso em canalizaes de
instalaes a vapor so exemplos de procedimentos de eliminao das denominadas tenses
trmicas, as quais surgem atravs do impedimento da expanso dos materiais devido ao aumento de
temperatura. Esta abordagem tambm adotada no estudo de problemas relativos a montagens de
peas com interferncia, em que uma alterao de temperatura viabiliza o acoplamento das partes,
originando, ento, aps o retorno do conjunto mecnico temperatura inicial, as tenses trmicas de
montagem.
80
Considere uma barra reta de comprimento inicial L
0
, rea da seo transversal A e feita de
material com mdulo de elasticidade E e coeficiente de dilatao trmica confinada, sem poder se
deslocar (Figura 3.9). Caso um acrscimo de temperatura for aplicado, a tenso aplicada na pea
pelo confinamento ser:
L
= L
0
; = = L / L
0
= L
0
/ L
0
=
Figura 3.9 Representao de uma barra submetida tenso trmica.
3.4 Toro
Quando uma barra reta sofre exclusivamente um momento em torno do eixo da barra, a
mesma est submetida a um esforo de toro.
Como exemplo, tem-se o caso dos eixos que transferem potncias de motores para mquinas
de fluxo. A Figura 3.10 representa um eixo de transmisso submetido a um torque. Ao ser acionado, o
movimento de rotao acelerado at que o torque resistente iguale o torque motor, permanecendo,
ento, o eixo em rotao constante e torcido por um torque uniforme entre suas extremidades.
Figura 3.10 Representao de um eixo de motor sendo submetido a um esforo de toro.
81
O problema mais simples, porm de grande importncia, devido sua extensa utilidade nos
equipamentos mecnicos, refere-se aos eixos de transmisso de potncias de mquinas rotativas.
Estes eixos podem ser apresentados com seo transversal macia ou em forma tubular.
Atravs da simetria circunferencial deste tipo de seo, tanto sob a questo geomtrica como
relativa ao carregamento, pode-se postular que as tenses cisalhantes sero funo da distncia (r)
do ponto em questo a ter suas tenses calculadas em relao ao centro da seo transversal.
Verificando na Figura 3.11 que a deformao devido ao esforo de toro provoca a rotao de uma
seo em relao outra, sendo que as sees permanecem retas e com os dimetros originais,
ento se pode afirmar que as deformaes por distoro () tambm iro variar em funo de (r).
Como se trata de material elstico linear, ento se pode escrever as expresses para as tenses
cisalhantes descritas nas Equaes 3.9 e 3.10 e as delineadas nas Equaes 3.11 e 3.12 para os
ngulos de distoro .
Figura 3.11 Tenses cisalhantes na seo transversal e deformao por distoro ao longo do eixo longitudinal.
= [T / ( D
4
/ 32)] r sees macias (3.9)
= {T / [( / 32)(D
4
d
4
]} r sees tubulares (3.10)
= T L
0
/ G ( D
4
/ 32) sees macias (3.11)
= T L
0
/ G [( / 32) (D
4
d
4
)] (3.12)
82
Como exemplo, para o eixo representado abaixo, pede-se para determinar a mxima tenso
cisalhante e o ngulo de toro promovido no trecho entre as sees A e D, o qual representa a
deformao mdia por cisalhamento do conjunto mecnico.
Momento torsor no trecho DC T = 5 KN.m
Momento torsor no trecho CB T = 5 15 = 10 KN.m
Momento torsor no trecho BA T = 5 15 + 30 = 20 KN.m
Tenso cisalhante no trecho DC
max
= 16 x 5 x 10
3
/ (0,080)
3
= 62,2 Mpa
Tenso cisalhante no trecho CB
max
= 16 x 10 x 10
3
/ (0,100)
3
= 50,9 MPa
Tenso cisalhante no trecho BA
max
= 16 x15 x 10
3
/ [1 (0,15 / 0,10)
4
] (0,150)
3
= 28,2 MPa
Com isto, conclui-se que o trecho que sofrer a maior tenso cisalhante o eixo contido entre
as sees D e C.
ngulo de toro do trecho DA
DA
=
DC
+
CB
+
BA
ngulo de toro do trecho DC
DC
= [5 x 10
3
x 0,500] / [(80 x 10
9
) () (0,080)
4
/ 32] = 0,007771
rad (+)
ngulo de toro do trecho CB
CB
= [10 x 10
3
x 0,600] / [(80 x 10
9
) () (0,100)
4
/ 32] = 0,007639
rad (-)
ngulo de toro do trecho BA
BA
= [15 x 10
3
x 0,400] / [(39 x 10
9
) () (0,150
4
0,100
4
) / 32] =
0,003857 rad (+)
DA
= 0,007771 0,007639 + 0,003857 = 0,003989 rad = 0,23
83
3.5 Diagrama de Esforos Internos
A partir deste momento, ser promovido o estudo de vigas, que se diferem das barras por
suportar esforos atuantes tambm no plano perpendicular ao eixo longitudinal, conforme pode ser
verificado na Figura 3.1.
A resultante das tenses atuantes em uma seo transversal pode ser reduzida a uma fora
de cisalhamento (V) e um momento fletor (M), as quais atuam no plano da viga, conforme pode ser
visto na Figura 3.12. Promovendo a anlise dos esforos cortantes e do momento fletor em cada
seo da viga atravs das condies de equilbrio de cada uma, obtm-se expresses para a
composio dos diagramas de esforos cortantes (DEC) e de momentos fletores (DMF). Por meio
desses diagramas possvel a determinao dos valores mximos absolutos do esforo cortante e do
momento fletor. Desta forma, para o exemplo abaixo, adotando a conveno de sinais fornecida pela
Figura 3.13, temos os seguintes resultados:
Figura 3.12 Fora de cisalhamento e momento fletor resultante atuante em uma viga carregada.
Figura 3.13 Conveno de sinais para fora de cisalhamento e momento fletor.
84
DEC V = P para 0 x L ; DMF M = P . x para 0 x L
3.6 Flexo
Quando componentes mecnicos so submetidos flexo, verificam-se tenses normais
elevadas, as quais, em termos de magnitude, so proporcionalmente muito maiores que as tenses
normais oriundas de esforos de ordem de grandeza semelhante ao momento fletor.
Flexo pura a flexo na viga submetida a um momento fletor constante. Ento, a flexo pura
ocorre somente em trechos da viga em que o esforo cisalhante nulo. Caso este esforo no seja
nulo, trata-se, portanto, de flexo simples. Exemplos das formas de flexo encontram-se na Figura
3.14.
Figura 3.14 Exemplos de vigas com trechos em flexo pura e flexo simples.
A principal hiptese para a flexo pura a de que as sees transversais permanecem planas
e perpendiculares em relao ao eixo longitudinal. O ponto bsico que a simetria da viga e de seu
85
carregamento significa que todos os elementos da viga devem se deformar de forma idntica, o que
somente possvel caso as sees transversais permaneam planas durante a flexo. Esta
concluso vlida para vigas de qualquer material, desde que com distribuio simtrica em relao
ao plano de flexo.
Conforme visto na Figura 3.15, quando a viga se encontra em flexo pura, parte da viga se
encontra em trao e parte se encontra em compresso. O limite entre estes comportamentos reside
no eixo longitudinal que passa pelo centride da seo transversal, denominada linha neutra (Figura
3.16), linha esta em que os pontos pertencentes a ela no possuem deformao aps a aplicao do
carregamento.
Figura 3.15 Exemplos de vigas com trechos em flexo pura e flexo simples.
Figura 3.16 Posicionamento da linha neutra em uma viga submetida flexo pura.
Considerando que, em flexo pura, a viga encontra-se em estado de tenso uniaxial, isto ,
somente com componente na direo paralela ao eixo longitudinal, a expresso para esta tenso
fornecida pela Equao 3.13:
= - M . y / I = E .
(3.13)
sendo (M) o momento fletor no ponto a ser analisado, (y) a distncia entre este ponto e o centro de
gravidade da seo transversal, e (I), o momento de inrcia da seo transversal.
86
Os principais valores de momento de inrcia so ilustrados na Figura 3.17. As mximas
tenses de trao ou de compresso em qualquer seo transversal ocorrem nos pontos mais
distantes da linha neutra.
Figura 3.17 Valores para momentos de inrcias de sees transversais de vigas.
Como exemplo, a figura abaixo mostra uma viga estrutural em ao do tipo T engastada em
um dos extremos e carregada por uma fora P. Pede-se calcular a magnitude desta fora, a qual
provoca uma deformao longitudinal no ponto C de 527 x 10
6
e uma deformao longitudinal no
ponto D de -73 x 10
6
, sendo o momento de inrcia da seo de 2000 cm
4
e seu mdulo de
elasticidade de 21 x 10
3
kgf/mm
2
.
Por semelhana de tringulos, ento possvel determinar a posio da linha neutra:
c
/ (175 y) =
d
/ (y 25) y = 43,25 mm
Promovendo o equilbrio no somatrio de momentos no ponto C, ento:
M + 1,25 P = 0 M = 1,25 P
Aplicando este resultado na Equao 3.13 para o ponto C, calcula-se a fora P:
P . 1,25 . 10
3
. (175 43,25) / 2000 . 10
4
= 21 . 103 . 527 . 10
-6
P = 1344 kgf
87
As anlises apresentadas so para problemas de flexo pura em vigas prismticas compostas
de material isotrpico e com carregamentos situados no regime elstico linear. Caso a viga esteja
submetida flexo simples, a fora de cisalhamento gerar um empenamento, isto , uma distoro
fora do plano de flexo, das sees transversais (Figura 3.18).
Para melhor compreender a natureza do aparecimento das tenses tangenciais em uma viga
flexionada, observe a Figura 3.18, supondo uma pilha de tbuas sobrepostas, submetida, nas
extremidades, a um momento fletor M que traciona as tbuas inferiores e comprime as superiores,
sem provocar qualquer tipo de escorregamento entre as tbuas. Porm, se a flexo for provocada por
uma fora aplicada em algum ponto da viga, o momento fletor variaria ao longo da viga e se verificaria
que as tbuas escorregariam, umas sobre as outras. Se as tbuas forem coladas, umas s outras,
impedindo este escorregamento, tenses tangenciais iriam surgir na cola, verificando, portanto, que,
sendo a viga macia, ocorreriam tenses tangenciais nos planos longitudinais.
Figura 3.18 Empenamento das sees em flexo.
Entretanto, uma anlise criteriosa revela que as tenses normais calculadas a partir da
expresso derivada para flexo pura no mudam significativamente, devido presena do esforo
cisalhante e seu empenamento associado. Desta forma, pode adotar justificadamente a teoria oriunda
da flexo pura para calcular as tenses normais em vigas submetidas flexo simples.
88
O clculo das tenses cisalhantes mximas em vigas submetidas flexo simples fornecido
conforme as expresses abaixo, mostradas na Figura 3.19.
Figura 3.19 Tenses cisalhantes mximas em flexo simples.
3.7 Flambagem
No dimensionamento dos componentes mecnicos, alm da considerao da resistncia do
material, limitando as tenses e deformaes atuantes a valores admissveis e a rigidez da estrutura,
tambm h que se levar em considerao certos valores crticos, caractersticos do carregamento, do
material e da geometria da estrutura, os quais podem provocar a sua instabilidade.
Um sistema mecnico estvel em um sistema de esforos em equilbrio atuantes num corpo
em repouso quando, ligeiramente afastado dessa posio, surge um esforo vincular de retorno ao
posicionamento original, conforme visto na Figura 3.20 (a). Este mesmo sistema instvel quando ele
no consegue manter seu posicionamento original sem a insero de uma fora externa, conforme
visto na Figura 3.20 (b). A classificao denominada indiferente representa um sistema mecnico cujo
estado de equilbrio mantm-se inalterado, mesmo aps a aplicao de um carregamento externo,
afastando-o de sua posio inicial em repouso, conforme visto na Figura 3.20 (c).
Figura 3.20 Formas de equilbrio em sistemas mecnicos.
89
Em determinadas situaes, os valores nominais das tenses e deformaes obtidos se
enquadram perfeitamente nos limites impostos pelo projeto. Isto pode ocorrer, por exemplo, em
colunas longas e esbeltas, submetidas a cargas de compresso pelos extremos, sofrendo ento por
conseqncia, uma brusca deflexo lateral, fenmeno este conhecido como flambagem. As cargas
crticas a serem aplicadas em colunas (tambm denominadas como pilares) so fornecidas pela
expresso de Euller, explicitada na Equao 3.14.
P
crt.
=
2
E I / (L
F
)
2
(3.14)
sendo L
F
o comprimento efetivo de flambagem, cujos valores para diversas condies de geometria
da estrutura encontram-se na Figura 3.21.
Figura 3.21 Valores para comprimentos efetivos de flambagem.
90
Quando ocorre uma excentricidade (e) no carregamento, conforme pode ser verificado na
Figura 3.22, a expresso descrita na Equao 3.15, tambm denominada como frmula da secante,
fornece o valor da tenso mxima aplicada conforme o valor de seu carregamento (P), sendo (e) o
valor da excentricidade e (y*) o valor da distncia da fibra mais afastada em relao ao centro de
gravidade da seo transversal.
mx
= (P / A){1 + [e y* / r
2
] sec [ (P / AE)
1/2
(L
F
/ r)]} (3.15)
Figura 3.22 Flambagem excntrica.
O grfico da Figura 3.23 apresenta a relao entre a tenso normal mxima em funo do
ndice de esbeltez () da coluna, para alguns valores da excentricidade (expressa adimensionalmente
pela razo ey*/r
2
), tendo como referncia um ao de baixo teor de carbono com as propriedades: E =
200 GPa e
e
= 250 MPa.
Figura 3.23 Tenso de escoamento em funo do ndice de esbeltez e da excentricidade.
91
Convm ressaltar que, para colunas esbeltas, a carga crtica tende para o valor dado atravs
da frmula de Euler, praticamente independendo da excentricidade (ey*/r
2
). Porm, tratando-se de
colunas curtas, a excentricidade o fator mais importante no clculo da carga crtica, independendo
do ndice de esbeltez ().
A frmula da secante tem aplicao satisfatria nas colunas de esbeltez intermediria, no
sendo fcil, porm, estabelecer eventuais limites para a excentricidade da carga.
Em uma anlise crtica dos resultados, as grandes deformaes provocadas pelo fenmeno
da flambagem poderiam invalidar a aproximao feita quando da formulao das hipteses
fundamentais em resistncia dos materiais, como tambm a prpria aplicao da lei de Hooke
relacionando as tenses com as deformaes. Portanto, os valores obtidos pelas expresses de Euler
e da secante devem ser considerados como indicativos das condies limites perigosas que devem
ser analisadas no projeto.
92
IV ELEMENTOS DE MQUINAS
Figura 4.0 Exemplos de elementos de transmisso.
Ser radical aprender a raiz da matria.
Para o ser humano, a raiz da matria o prprio ser humano.
Karl Marx
Objetivos deste Captulo:
Apresentar os principais elementos mquinas e suas aplicaes.
Compreender seus princpios de funcionamento.
93
Elementos de Mquinas
Aps entender os princpios da mecnica tcnica, as propriedades dos materiais e as
solicitaes internas, as quais determinaro se o componente mecnico resistir s tenses sem
romper, nesta unidade sero estudados os elementos de mquinas.
Desta forma, pretende-se, ao final desta unidade, abarcar todos os conhecimentos
necessrios para estudar de forma plena os componentes de qualquer sistema mecnico.
4.1 Elementos de Juno
4.1.1 Parafusos, Porcas, Arruelas e Roscas
Parafusos, porcas e arruelas so peas de vital importncia na unio e fixao dos
componentes de um sistema mecnico.
O parafuso formado por um corpo cilndrico roscado e por uma cabea que pode ser
hexagonal, sextavada, quadrada ou redonda. Exemplos de parafusos so mostrados na Figura 4.1.
Figura 4.1 Parafusos de cabea hexagonal e quadrada.
Em mecnica, o parafuso utilizado para unir e manter peas de mquinas, geralmente
formando conjuntos com porcas e arruelas. Em geral, os parafusos so fabricados em ao de baixo e
mdio teor de carbono, por meio de forjamento ou usinagem, sendo que ao de alta resistncia
trao, ao-liga, ao inoxidvel, lato e outros metais ou ligas no-ferrosas podem tambm ser
usados na fabricao de parafusos. Em alguns casos, os parafusos so protegidos contra a corroso
por meio de galvanizao ou cromagem.
As dimenses principais dos parafusos so: dimetro externo da rosca; comprimento do
corpo; comprimento da rosca e altura da cabea.
Os tipos de parafusos so: sem porca, com porca, prisioneiro, Allen, de fundao, auto-
atarraxante e de pequenas montagens.
94
O parafuso sem porca adotado nos casos onde no h espao para acomodar uma porca,
sendo esta substituda por um furo com rosca em uma das peas, conforme pode ser verificado na
Figura 4.2.
O parafuso com porca chamado de passante e sua representao encontra-se na Figura
4.3.
O parafuso prisioneiro adotado quando se necessita montar e desmontar parafuso sem
porca a intervalos freqentes. O mesmo se constitui numa barra de seo circular com roscas nos
dois extremos, sendo visualizado na Figura 4.4.
Figura 4.2 Parafuso sem porca.
Figura 4.3 Parafuso com porca.
Figura 4.4 Parafuso prisioneiro.
95
O parafuso Allen possui um furo hexagonal de aperto na cabea, a qual geralmente
cilndrica e ranhurada. Este tipo de parafuso utilizado sem porcas e sua cabea posicionada em
um rebaixo situado na pea a ser fixada. A Figura 4.5 mostra este tipo de parafuso.
Figura 4.5 Parafuso Allen.
O parafuso de fundao (o qual pode ser farpado ou dentado) indicado para fixar mquinas
ou equipamentos no concreto ou na alvenaria. A Figura 4.6 mostra exemplos para os tipos farpado e
dentado, respectivamente.
Figura 4.6 Parafusos de fundao.
O parafuso auto-atarraxante possui rosca de passo largo inserida em um corpo cnico e tem
como finalidade eliminar a necessidade de um furo roscado ou de uma porca, pois esta produzida
na introduo do parafuso ao longo dos corpos. Utilizado, principalmente, em peas de pequena
espessura e em materiais macios, possui cabea de formato redondo, chanfrado ou com fenda em
cruz, conforme se verifica na Figura 4.7.
Figura 4.7 Parafusos auto-atarraxantes.
96
Para montagens gerais de pequeno porte, os parafusos para pequenas montagens,
mostrados na Figura 4.8, so utilizados em metais e plsticos, e os da Figura 4.9, em madeiras.
Figura 4.8 Parafusos de montagem em metais e plsticos.
Figura 4.9 Parafusos de montagem em madeiras.
Porcas so peas prismticas ou cilndricas com o objetivo de auxiliarem a montagem e
regulagem da unio de peas. Seus principais tipos so: castelo, cega, borboleta e contraporca.
A porca castelo possui cabea hexagonal com entalhes radiais que se alinham com um furo
no parafuso, de modo que um pino trave a porca. Sua visualizao encontra-se na Figura 4.10.
Figura 4.10 Porca castelo.
97
A porca cega possui uma de suas extremidades com a rosca encoberta, ocultando a parte
final do parafuso. A Figura 4.11 ilustra a referida porca cega.
Figura 4.11 Porca cega.
A porca borboleta possui bordas que proporcionam o ajuste manual. adotada quando ocorre
montagem com freqncia; observe o modelo na Figura 4.12.
Figura 4.12 Porca borboleta.
Para cenrios onde h a ocorrncia de impacto e vibrao, faz-se necessrio travar a porca
atravs da insero de uma segunda contra a primeira, conforme ilustrado na Figura 4.13.
Figura 4.13 Contraporca.
As arruelas so peas cilndricas com o intuito de proteger a superfcie das peas e evitar
deformaes nela, alm de proteger a porca e o parafuso, garantindo a montagem. Grande parte das
arruelas fabricada em ao, sendo tambm manufaturada em cobre, alumnio, fibra e couro para uso
em vedao de fluidos. Seu principais tipos so: lisa, presso e estrelada.
98
A arruela lisa utilizada sob uma porca para evitar danos superfcie e promover maior
uniformidade da tenso de contato. Sua visualizao encontra-se na Figura 4.14.
Figura 4.14 Arruela lisa.
A arruela de presso consiste em espiras de molas helicoidais, que geram grande poder de
travamento. Sua visualizao encontra-se na Figura 4.15.
Figura 4.15 Arruela de presso.
A arruela estrelada possui dentes de ao de alto teor de carbono, os quais formam extremos
pontiagudos. Quando a porca montada, estes entes penetram nas superfcies da porca e da pea
em contato. A Figura 4.16 mostra exemplos da mesma.
Figura 4.16 Arruela estrelada.
Rosca formada por filetes de perfil constante que se desenvolvem de forma helicoidal em
corpos cilndricos ou cnicos, podendo ser feita externamente ou internamente, que tem a funo de
transmitir movimento e promover a unio de elementos, conforme ilustrado na Figura 4.17.
Figura 4.17 Rosca externa e interna.
99
A distncia entre dois filetes consecutivos denominado passo da rosca e representa a
distncia percorrida ao longo da rosca ao final de uma volta completa. Com relao ao passo, este
pode ser considerado fino, mdio ou longo. A rosca de passo fino adotada em indstrias cujos
produtos sofrem choques e vibraes, como a automobilstica e a aeronutica, sendo adotada
tambm em casos em que h grande tenso de contato de montagem. A rosca de passo mdio
utilizada em construes mecnicas e em parafusos de modo geral. A rosca de passo longo
normalmente aplicada em mquinas ou em sistemas mecnicos com boa freqncia de montagem.
O perfil triangular o mais adotado e encontrado em parafusos e porcas, em geral (Figura
4.18). O perfil trapezoidal utilizado em mquinas operatrizes para transmisso suave, fusos e
prensas (Figura 4.19). O perfil redondo empregado em parafusos de grandes dimetros e suporta
grandes esforos, alm da indstria de lmpadas e fusveis, por ser de fcil fabricao (Figura 4.20).
O perfil dente de serra adotado para cenrios em que a fora de solicitao basicamente situada
em um s sentido, como em morsas e macacos (Figura 4.21). O perfil quadrado utilizado em
parafusos e peas sujeitas a choques e grandes esforos (Figura 4.22).
Figura 4.18 Rosca de perfil triangular.
Figura 4.19 Rosca de perfil trapezoidal.
Figura 4.20 Rosca de perfil redondo.
Figura 4.21 Rosca de perfil dente de serra.
100
Figura 4.22 Rosca de perfil quadrado.
4.1.2 Rebites
Um rebite constitudo de um corpo cilndrico com extremidade, com formas de cabea
especfica. So adotados na unio rgida de peas ou chapas, em estruturas metlicas, reservatrios,
caldeiras, dentre outras aplicaes.
Os principais tipos de rebites so ilustrados na Figura 4.23, e a Figura 4.24 mostram
exemplos de montagens.
Figura 4.23 Tipos e aplicaes de rebites.
101
Figura 4.24 Exemplos de montagens com rebites.
4.2 Eixos e rvores
Eixos so elementos de suporte rotativos ou estacionrios no sujeitos carga de toro e
no transmissveis de potncia.
rvores so elementos de suporte rotativos ou estacionrios, geralmente de seo circular.
Esse tipo de suporte recebe elementos de transmisso de potncia, como engrenagens e polias. Elas
suportam esforos de toro, flexo, trao e compresso. Ateno! - devem ser dedicadas aos
deslocamentos provocados por esses esforos, sendo importante posicionar os elementos de
transmisso de potncia prximos dos mancais para reduzir os momentos fletores.
Geralmente, na prtica, utiliza-se apenas o termo eixo para denominar estes dois
componentes.
4.3 Molas
As molas so elementos mecnicos teis para exercer foras, proporcionar flexibilidade e
armazenar ou absorver energia.
4.3.1 Molas Helicoidais
A mola helicoidal a mais adotada na mecnica. Em geral, ela manufaturada a partir de
uma barra de ao com alto teor de carbono, enrolada em forma de hlice cilndrica ou cnica. A seo
da barra pode ser circular, quadrada ou retangular. Este tipo de mola adotado em suspenso de
automveis, sistemas de segurana de elevadores e controle de fluxo, por exemplo.
102
Figura 4.25 Tipos de molas helicoidais de trao.
Figura 4.26 Tipos de molas helicoidais de compresso.
As Figuras 4.25, 4.26 e 4.27 representam os tipos de molas helicoidais de trao, compresso
e toro, respectivamente.
Figura 4.27 Tipos de molas helicoidais de toro.
103
A Figura 4.28 mostra as molas helicoidais cnicas de seo circular e retangular,
respectivamente.
Figura 4.28 Tipos de molas helicoidais cnicas.
4.3.2 Molas Planas
As molas planas so fabricadas em disco, fitas, ocorrendo sobreposio de vrios elementos
ou no. Sua principal vantagem est no fato de ocuparem um espao menor que o das helicoidais,
para suportar a mesma carga, facilitando seu uso em sistemas mecnicos cujo espao para alocao
da mola pequeno ou cuja carga elevada. A Figura 4.29 ilustra as molas do tipo prato, feixe e
espiral, respectivamente.
Figura 4.29 Tipos de molas planas.
104
4.4 Chavetas, Anis Elsticos e Pinos
Chaveta um corpo prismtico que pode possuir faces paralelas ou inclinadas. A unio por
chaveta do tipo desmontvel. A Figura 4.30 mostra os tipos mais comuns de chavetas e ilustra
montagens adotando essas peas.
Figura 4.30 Exemplos de montagem com chavetas e tipos de chavetas e exemplos de montagem: a) paralelas ou lingetas;
b) embutidas; c) plana com cabea; d) Woodruff; e) inclinada sem cabea; f) inclinada com cabea.
105
O anel elstico um elemento com a funo de promover o bloqueio do deslocamento axial
ou de posicionar e limitar o curso de uma pea deslizante sobre um eixo. O anel produzido em ao
com alto teor de carbono e possui o formato geomtrico de um anel incompleto, o qual se aloja em um
canal circular feito no eixo (Figura 4.31).
Figura 4.31 Tipos de anis elsticos.
Pinos so elementos de mquinas com formato cilndrico ou cnico destinados a alinhamento,
fixao e transmisso de potncia. O principal esforo ao qual esto sujeitos o de cisalhamento.
Seus tipos so: cilndrico paralelo, de segurana, unio, cnico, estriado, tubular fundido e contrapino.
Exemplos de pinos encontram-se na Figura 4.32.
Figura 4.32 Pinos do tipo cilndrico paralelo, de unio, cnico, estriado, tubular fundido e contrapino.
106
4.5 Mancais
Os mancais so elementos de mquinas destinados a apoiar eixos e rvores submetidos a
solicitaes mecnicas.
4.5.1 Mancais de Deslizamento
Denomina-se mancal de deslizamento o conjunto formado pelo conjunto rvore inserido em
um casquilho (sendo constitudo por uma carcaa e uma bucha, ilustradas na Figura 4.33), o qual
representa o suporte da rvore, sendo esta separada, ou no, por uma pelcula de lubrificante. Os
tipos de mancais de deslizamento so: mancais de escora, inteirio, bipartido, ajustvel e a gs.
Figura 4.33 Mancal de deslizamento.
O mancal de escora, visualizado na Figura 4.34, em geral fabricado em ao ou ferro fundido
e seu formato permite excelente lubrificao.
Figura 4.34 Mancal de escora.
107
O mancal inteirio, visualizado na Figura 4.35, fabricado em ferro fundido e empregado
como mancal auxiliar.
Figura 4.35 Mancal inteirio.
O mancal bipartido, ilustrado na Figura 4.36, manufaturado em ferro fundido ou ao com
bucha de bronze ou material antifrico. Esse tipo de mancal bem mais empregado.
Figura 4.36 Mancal bipartido.
O mancal ajustvel, representado na Figura 4.37, possui bucha com possibilidade de ajuste
radial e empregado em mquinas que devem possuir folga constante.
Figura 4.37 Mancal ajustvel.
108
O mancal a gs, demonstrado na Figura 4.38, tem como caracterstica a introduo de gs,
para manter a rvore suspensa, permitindo velocidades e baixo atrito.
Figura 4.38 Mancal a gs.
4.5.2 Mancais de Rolamento
Os mancais de rolamento so adequados para suportar elementos com alta velocidade e
promover menor atrito em relao aos ndices obtidos pelos mancais de deslizamento.
Quanto sua classificao, um mancal de rolamento pode ser diferenciado por esforo
atuante ou por geometria do elemento rolante. Os mancais de rolamento geralmente suportam
desalinhamentos mximos de 4 (0,0012 rad). Para valores maiores, faz-se necessrio adotar
rolamentos autocompensadores.
Os rolamentos so constitudos por dois anis de ao separados por uma ou mais fileiras de
corpos rolantes, sendo estes posicionados a distncias equivalentes por meio de um separador, o
qual distribui os esforos e mantm os anis concntricos. O anel externo fixado na pea e o anel
interno recebe o eixo. O desenho destas caractersticas encontra-se na Figura 4.39.
Figura 4.39 Elementos constituintes de um rolamento.
109
O rolamento fixo de uma carreira de esferas o mais adotado dentre todos. Possui grande
capacidade de carga, tanto no sentido radial, como axial, mesmo a velocidades elevadas. Sua
capacidade de ajustagem angular limitada e sua representao encontra-se na Figura 4.39.
O rolamento de contato angular especfico para suportar grandes cargas axiais, devendo
ento ser montado junto a um outro que possa receber cargas no sentido contrrio. O uso de duas
carreiras de esferas indicado para rgos giratrios de mquinas que necessitam ser duplamente
apoiadas, mas dispem de espao para somente um rolamento. Sua ilustrao para uma carreira de
esferas encontra-se na Figura 4.40.
Figura 4.40 Rolamento de contato angular.
O rolamento autocompensador de esferas possui duas carreiras de esferas e uma pista
esfrica comum ao anel externo, o que o torna insensvel a ligeiros desalinhamentos do eixo
provenientes de montagem defeituosa, esforos sobre o eixo e desnvel das fundaes. Como no
ocasiona flexo no eixo, este rolamento pode ser utilizado quando se requer altas velocidades e
exatido. A Figura 4.41 mostra sua representao.
Figura 4.41 Rolamento autocompensador de esferas.
110
O rolamento axial de esferas admite somente grandes cargas axiais, sendo que as esferas
necessitam de uma carga mnima para manterem seu curso na pista. A Figura 4.42 ilustra sua
representao.
Figura 4.42 Rolamento axial de esferas.
O rolamento de rolos cilndricos adotado para suportar grandes cargas radiais e seus
componentes separveis so de fcil montagem e desmontagem, conforme pode ser visto na Figura
4.43.
Figura 4.43 Rolamento de rolos cilndricos.
O rolamento autocompensador de rolos cilndricos promove alinhamento automtico, sendo
indicado para suportar grandes cargas radiais. Sua representao encontra-se na Figura 4.44.
Figura 4.44 Rolamento autocompensador de rolos cilndricos.
111
O rolamento axial autocompensador de rolos cilndricos suporta considerveis cargas axiais e
radiais e promove o alinhamento angular, compensando possveis desalinhamentos ou flexes do
eixo, sendo sua representao fornecida na Figura 4.45.
Figura 4.45 Rolamento axial autocompensador de rolos cilndricos.
O rolamento de rolos cnicos suporta igualmente cargas radiais e axiais em um sentido, por
possuir uma pista inclinada. A figura 4.46 mostra este tipo de rolamento.
Figura 4.46 Rolamento de rolos cnicos.
O rolamento de agulhas indicado para esforos radiais intensos e possuem pequena
espessura, sendo silenciosas mesmo em regime de altas rotaes. adotado em caso de espao
radial limitado e sua representao encontra-se na Figura 4.47.
Figura 4.47 Rolamento de agulhas.
112
4.6 Elementos de Transmisso
O uso de elementos de transmisso converge para a montagem de sistemas de transmisso,
os quais so os responsveis pela transferncia de potncia e movimento. Os sistemas de
transmisso tambm podem trabalhar na variao das rotaes entre dois eixos.
4.6.1 Engrenagens
As engrenagens, tambm chamadas rodas dentadas, so elementos bsicos na transmisso
de potncia entre rvores. Elas permitem a reduo ou o aumento do momento torsor, com mnimas
perdas de energia, e aumento ou reduo de velocidades, sem perda nenhuma de energia, por no
deslizarem. A mudana de velocidade e toro feita na razo dos dimetros primitivos, os quais
sero definidos no mdulo de desenho mecnico.
A engrenagem cilndrica de dentes retos possui dentes posicionados paralelamente entre si e
a forma mais comum de apresentao, e de menor custo. Possui fcil engrenamento e adotada
em transmisses de baixa rotao por causa da gerao de rudo. Sua representao encontra-se na
Figura 4.48.
Figura 4.48 Engrenagem cilndrica de dentes retos.
113
A engrenagem cilndrica de dentes internos utilizada para transmisses no mesmo sentido
com economia de espao e distribuio igualitria da fora. A Figura 4.49 ilustra esse tipo de
engrenagem.
Figura 4.49 Engrenagem cilndrica de dentes internos.
A engrenagem cilndrica de dentes helicoidais possui os dentes dispostos em hlice em
relao ao eixo, adotada em altas taxas de rotaes por ser de transmisso silenciosa e por
engrenar vrios dentes ao mesmo tempo. Parte significativa da fora de contato ocorre na direo
axial. Alm de transmisso em eixos paralelos, a engrenagem utilizada para eixos que formam
ngulos entre si. A Figura 4.50 ilustra esse tipo de pea.
Figura 4.50 Engrenagem cilndrica de dentes helicoidais.
114
A engrenagem cilndrica de dentes em V possui dentado helicoidal duplo e compensa desta
forma a carga axial, teoricamente anula-a e elimina, por conseqncia, a compensao desta fora
pelo mancal. Este tipo de engrenagem mostrado na Figura 4.51.
Figura 4.51 Engrenagem cilndrica de dentes em V.
A engrenagem cnica de dentes retos indicada para transmisso de potncia em rvores
perpendiculares entre si. Utilizada para modificao de rotao e direo da fora em baixas
velocidades, possui difcil fabricao e requer uma montagem precisa, sendo representada na Figura
4.52.
Figura 4.52 Engrenagem cnica de dentes retos.
115
A engrenagem cnica de dentes helicoidais adotada quando h a necessidade de grandes
potncias e transmisso suave entre rvores perpendiculares entre si, sendo ilustrada na Figura 4.53.
Figura 4.53 Engrenagem cnica de dentes helicoidais.
No conjunto pinho e cremalheira, mostrado na Figura 4.54, a cremalheira pode ser
considerada como uma engrenagem com um dimetro infinitamente maior que o do pinho. Este
conjunto adotado para a transposio de um movimento rotacional em translacional.
Figura 4.54 Conjunto pinho e cremalheira.
No conjunto coroa e rosca sem-fim, representado na Figura 4.55, a rosca sem-fim possui seis
filetes helicoidais, aproximadamente. Encontra utilizao em cenrios onde se necessita de
transmisso de grandes redues de velocidade e atua em eixos no coplanares.
Figura 4.55 Conjunto rosca sem-fim e coroa.
116
4.6.2 Polias, Correias, Correntes e Cabos
As polias so peas cilndricas que se movimentam por ao da rotao da rvore ou das
correias. Os tipos de polia so ilustrados na Figura 4.56.
Figura 4.56 Tipos de polia.
Correias so elementos que transmitem movimento de rotao entre eixos por intermdio das
polias. As correias podem ser contnuas ou emendadas. A transmisso por este mtodo possui as
vantagens de possuir baixo custo, elevada resistncia ao desgaste, gerar pouco rudo e ser flexvel e
adequada para grandes distncias entre centros. Pode transmitir rotao invertendo seu sentido, alm
de poder ser utilizada em eixos no paralelos, conforme pode ser verificado na Figura 4.57.
117
Figura 4.57 Transmisso por correias.
Correntes so elementos geralmente metlicos, constitudos de anis ou elos que transmitem
fora e movimento em ambos os sentidos, sem deslizamento, sendo necessrio, ento, que as
engrenagens que as acolhem estejam no mesmo plano. Esse tipo de transmisso adotado quando
a umidade ou outros fatores agressivos impedem o uso de correias. Tambm possui utilidade para
transmisses entre rvores prximas. A representao dessa forma de transmisso encontra-se na
Figura 4.58.
Figura 4.58 Transmisso por correntes: (a) corrente de rolos; (b) corrente de dentes; (c) corrente de elos livres; (d) corrente
comum; (e) corrente de blocos.
118
Cabos de ao so elementos de transmisso que suportam cargas e possuem todos os
movimentos de translao. Inicialmente, um arame de ao trefilado enrolado de modo a formar
pernas. Posteriormente, as pernas so enroladas em espirais em torno de um elemento central,
chamado ncleo ou alma (Figura 4.59). Seu emprego verificado em equipamentos de transporte e
de elevao de cargas.
Figura 4.59 Constituintes de um cabo de ao.
4.6.3 Acoplamentos
Por acoplamento, entende-se um elemento destinado a transmitir rotao de uma rvore
motriz a um outro elemento de mquina situado coaxialmente ao primeiro. Sua classificao os divide
em fixos, elsticos e mveis. Os acoplamentos fixos so montados de tal forma, que a unio entre
rvores funcione como uma nica pea, promovendo alinhamentos precisos.
O acoplamento de flanges aparafusados (Figura 4.60) utilizado para transmisso de altas
potncias em baixas velocidades.
Figura 4.60 Acoplamento rgido de flanges aparafusados.
119
O acoplamento com luva de compresso (Figura 4.61) facilita a manuteno do equipamento
e no interfere no posicionamento das rvores nem no seu alinhamento.
Figura 4.61 Acoplamento rgido com luva de compresso.
O acoplamento de discos ou pratos (Figura 4.62) empregado em transmisso de grandes
potncias em casos especficos, como em turbinas.
Figura 4.62 Acoplamento rgido de discos ou pratos.
Os acoplamentos elsticos tornam a transmisso mais suave para cenrios onde se verificam
movimentos bruscos e possuem desalinhamentos entre as rvores. O acoplamento elstico de pinos
(Figura 4.63) possui pinos de ao com mangas de borracha.
Figura 4.63 Acoplamento elstico de pinos.
120
No acoplamento perflex (Figura 4.64), os discos de acoplamento so posicionados
perifericamente com alta interferncia promovida por anis de presso nas ligaes de borracha. O
acoplamento elstico de garras (Figura 4.65) constitudo de garras de borracha que se inserem nas
aberturas do contradisco.
Figura 4.64 Acoplamento elstico perflex.
Figura 4.65 Acoplamento elstico de garras.
No acoplamento de dentes arqueados (Figura 4.66), os dentes possuem forma ligeiramente
curvada, o que permite a montagem com desalinhamento angular.
Figura 4.66 Acoplamento elstico de dentes arqueados.
121
O acoplamento elstico de fitas de ao (Figura 4.67) consiste de dois flanges ranhurados nos
quais est montada uma grade elstica que liga os cubos; este conjunto fica alojado em duas tampas
providas de junta de encosto e de retentor elstico junto ao cubo. A junta universal homocintica
(Figura 4.68) adotada para transmisso em rvores que necessitam sofrer variao angular, sendo
formada por esferas de ao que se alojam em calhas.
Figura 4.67 Acoplamento elstico de fitas de ao.
Figura 4.68 Junta universal homocintica.
122
Os acoplamentos mveis so indicados para permitir a movimentao longitudinal das
rvores. Seus tipos encontram-se representados na Figura 4.69. Esses acoplamentos obedecem a
um comando especfico e encontram utilidade nas caixas de engrenagens convencionais, por
exemplo.
Figura 4.69 Acoplamentos mveis.
123
V PROCESSOS DE FABRICAO
Figura 5.0 Exemplos de processos de fabricao por sopro e usinagem.
Eu sou humano. E tudo que humano, no me indiferente.
Terncio
Objetivos deste Captulo:
Estudar os mtodos de fabricao de componentes mecnicos;
Apresentar as principais mquinas adotadas nestes processos.
124
Processos de Fabricao
Deve-se ter em mente que os tpicos estudados anteriormente como cincia dos materiais,
resistncia dos materiais e elementos de mquinas so intimamente ligados com os processos
empregados na fabricao de componentes mecnicos.
5.1 Processos Metalrgicos
Os processos metalrgicos caracterizam-se pelo uso de altas temperaturas para deformar um
material atravs da fuso e solidificao do mesmo.
5.1.1 Fundio
A base de todos os processos de fundio consiste em alimentar o metal lquido na cavidade
de um molde com o formato requerido, seguindo-se um resfriamento, a fim de produzir um objeto
slido resultante da solidificao.
Os vrios processos diferem, principalmente, na maneira de formar o molde. Em alguns
casos, como no da moldagem em areia, constri-se um molde para cada pea a ser fundida e,
subseqentemente, ele rompido para remover-se o fundido, ou seja, desmold-lo. Em outros casos,
como, por exemplo, na fundio sob presso, usa-se um molde permanente repetidas vezes, para
uma sucesso de fundies, removendo-se o fundido aps cada fundio, sem danificar o molde. Em
ambos os casos, entretanto, necessrio um reservatrio de metal lquido que preencha todas as
partes do molde e permanea no local at que sua solidificao termine, conforme visualizao bsica
na Figura 5.1.
Figura 5.1 Fundamento do processo de fundio.
125
A Figura 5.2 mostra as capacidades e limitaes dos processos mais importantes de fundio.
Figura 5.2 Caractersticas dos processos de fundio.
O processo bsico de fundio em areia apresenta muitas vantagens. Possui grande
flexibilidade como processo e simples, econmico e pode ser usado na produo de peas fundidas
de grande variedade de tamanhos. Por outro lado, a fundio em areia no pode ser empregada para
sees finas ou formatos intrincados, pois a preciso dimensional e o acabamento superficial so
geralmente pobres.
A fundio em casca (shell molding) adotada em peas precisas e utiliza-se da aplicao de
resina fenlica para recobrir a areia. Pode ser usada onde haja necessidade de melhor acabamento
superficial.
A fundio em molde permanente adequada para a produo em larga escala de peas
fundidas pequenas e simples, sem rebaixos complexos ou partes internas intrincadas. Com moldes
permanentes, obtm-se bom acabamento superficial e alta definio de detalhes.
A fundio sob presso (em coquilha) em matriz metlica difere da fundio em molde
permanente, por ser mantida uma presso positiva sobre o metal no interior do molde e durante a
solidificao. A tolerncia dimensional e a rugosidade superficial desse processo so mais refinadas
que em todos os outros. As matrizes so construdas de ao ferramenta de mdio carbono, e com
refrigerao interna, com o intuito de prolongar sua vida til. Podem ser obtidas peas com sees
bastante finas, devido injeo sob presso.
Alm dos citados, existem outros tipos de fundio, tais como: a fundio com cera perdida,
na qual o modelo feito de cera ou de plstico que se desintegra quando da confeco do molde em
126
sua etapa de queima para endurecimento; a fundio com molde cheio em que o modelo feito de
material combustvel slido ou material vaporizvel, sendo o molde conformado em volta deste e o
metal lquido vazado, sem a retirada do modelo, o qual vai se decompondo progressivamente at que
o metal preencha totalmente o molde.
5.1.2 Soldagem
A soldagem um processo de fabricao que se caracteriza por unir peas metlicas,
colocando-as em contato, e por aquecer as superfcies de contato at o estado de fuso e de
plasticidade.
Embora seja difcil encontrar uma classificao universalmente aceita, pode-se estimar que
existam atualmente, em utilizao comercial, cerca de cinqenta processos de soldagem. Apesar das
dificuldades, costume classific-los, por exemplo, segundo o tipo de fonte de energia empregada, o
processo fsico envolvido, as aplicaes especficas, ou ento, segundo alguma caracterstica
pertinente.
Basicamente, os processos de soldagem so divididos em trs grandes classes: soldagem
por fuso, processo no qual as partes so fundidas por meio de energia eltrica ou qumica, sem
aplicao de presso; soldagem por presso, processo no qual as partes so aquecidas e
pressionadas uma contra a outra; e brasagem, processo no qual as partes so unidas por meio de
uma liga metlica de baixo ponto de fuso e o metal base no fundido. Segue abaixo a relao dos
principais mtodos de soldagem.
O processo de soldagem a arco eltrico com eletrodo revestido o mais empregado. Nesse
processo, o eletrodo consiste em um arame de material adequado, coberto com um revestimento
fundente, e consumido atravs de um arco gerado entre sua extremidade livre e o metal que se
deseja soldar, conforme ilustrado na figura 5.3. O arco representa a fonte de energia que usada
para promover a fuso das duas partes.
Figura 5.3 Soldagem a arco eltrico com eletrodo revestido.
127
No processo de soldagem a arco eltrico com proteo gasosa (Figura 5.4), a zona do arco e
a poa de fuso so protegidas da contaminao atmosfrica pelo gs alimentado pela tocha de
solda. Os gases mais usados para essa finalidade so o hlio, o argnio, o CO
2
ou uma mistura
destes gases. Os processos de soldagem com proteo gasosa podem utilizar os eletrodos
denominados virtualmente no-consumveis ou os efetivamente consumveis. Os processos de
soldagem a arco eltrico, com proteo gasosa e eletrodos consumveis, so mais conhecidos pelas
siglas MIG (metal inert gas) e MAG (metal active gas), dependendo do gs protetor utilizado; e o
processo com eletrodos no-consumveis mais conhecido por TIG (tungsten inert gas).
Figura 5.4 Soldagem a arco eltrico com proteo gasosa MIG.
A soldagem por arco submerso (Figura 5.5) um processo em que o arco eltrico gerado
entre um arame de enchimento e o metal base permanece sob uma camada de um material fundente,
denominado fluxo, o qual tem a funo principal de proteger a poa de fuso dos efeitos da
atmosfera.
Figura 5.5 Soldagem por arco submerso.
128
A soldagem a gs (Figura 5.6), ou com fontes qumicas, um processo no qual um gs
combustvel misturado ao oxignio e, pela queima da mistura assim formada, consegue-se aquecer
o metal-base e o metal de enchimento, executando-se a soldagem. Os gases mais empregados so
acetileno, propano e hidrognio, com ntida predominncia do primeiro, sendo que, neste caso, o
mtodo conhecido como soldagem oxiacetilnica.
Figura 5.6 Soldagem a gs.
A Figura 5.7 apresenta as principais caractersticas de diversos processos de soldagem,
especificando fonte de calor, tipo de corrente e de polaridade, agente protetor ou de corte, outras
caractersticas e aplicaes.
5.2 Processos de Conformao
O processo de conformao caracterizado pela aplicao de esforos que provocam
tenses acima do limite elstico linear e abaixo do limite de resistncia do material.
A temperatura na qual o material da pea conformado apresenta uma importncia elevada,
pois dependendo do seu valor, ocorrero mudanas metalrgicas que, tornando o material mais dctil,
facilitaro seu processamento, alm de melhorarem seu comportamento para uso posterior.
5.2.1 Extruso
A extruso de peas metlicas um processo amplamente usado para a produo de perfis
de diversos materiais, como os aos, o alumnio e suas ligas e o cobre e suas ligas. Sua mecnica
mais simples pode ser descrita, veja a Figura 5.8, onde o tarugo do material a ser conformado
colocado num recipiente e, por meio da ao de um mbolo, extrudado atravs da matriz que possui
a forma e as dimenses do produto desejado.
129
Figura 5.7 Caractersticas dos principais processos de soldagem.
Figura 5.8 Extruso.
A qualidade dos produtos obtidos nos diversos processos por extruso garantida pela
rigidez alcanada nos conjuntos de dispositivos (mbolos, recipientes) e ferramentas (matrizes), bem
como nos equipamentos utilizados (normalmente, prensas hidrulicas). Os desvios observados em
dimenses e forma dos produtos so causados pela contrao trmica ocorrida nos processos a
130
quente e, em menor intensidade, pela recuperao elstica que ocorre aps a extruso a frio de
materiais dcteis.
5.2.2 Estampagem
O processo de estampagem permite a obteno de peas com formas diversas a partir de
chapas metlicas. Isto o diferencia dos demais processos de conformao, nos quais ocorrem
deformaes plsticas em todo o volume do corpo. Na estampagem, as transformaes de formas e
dimenses ocorrem nas superfcies das chapas. Os esforos aplicados durante a estampagem so de
dobramento e corte, principalmente; observe um exemplo fornecido na Figura 5.9.
Figura 5.9 Estampagem.
O processo normalmente realizado a frio, em diversas etapas, obtendo-se produtos como
caixas, copos e flanges.
5.2.3 Forjamento
Por forjamento, entende-se a fabricao atravs da conformao com pr-aquecimento, corte
(e juno) de uma pea sem encruamento permanente. As vantagens do processo de forjamento so,
dentre outras, o elevado aproveitamento do material e a grande capacidade de produo, assim como
uma elevada segurana do processo e a boa reciclagem do produto. A resistncia elevada das peas
forjadas, comparadas com a das peas fundidas, tem como conseqncia a possibilidade de reduo
das dimenses da pea.
Tais caractersticas levam obteno de produtos de elevada qualidade os quais, em alguns
casos, apresentam-se quase que totalmente acabados, principalmente se considerar o forjamento a
frio, em que as tolerncias dimensionais e o acabamento superficial obtidos aproximam-se dos
resultados encontrados na usinagem por torneamento.
131
As principais operaes de forjamento encontram-se na Figura 5.10.
Figura 5.10 Operaes de forjamento.
5.2.4 Laminao
Pelo processo de laminao, podem ser obtidos os mais variados e complexos perfis para a
quase totalidade dos materiais metlicos empregados na engenharia. Desta forma, obtm-se
vergalhes, trilhos, perfis U, T, I, L, placas, chapas e folhas e constitui-se em um dos principais
processos para a obteno de barras de sees circulares, quadradas e sextavadas.
O processo de laminao pode ser descrito analisando-se o esquema da figura 5.11. O tarugo
do material a laminar deformado plasticamente por cilindros laminadores atravs da aplicao de
esforos de compresso. A seo transversal do produto laminado definida pelo perfil dos cilindros
laminadores e alcanada por um nmero sucessivo de passes, o qual to maior quanto mais
complexa for a forma desejada e maior for a resistncia do material a laminar. O comprimento do
produto laminado praticamente ilimitado, dependendo apenas das dimenses das instalaes onde
ocorrer o processo.
Figura 5.11 Laminao.
132
5.2.5 Trefilao
O processo de trefilao ocorre atravs da aplicao de uma carga de trao no produto
atravs da matriz (Figura 5.12), sendo normalmente realizado a frio, com sucessivos passes que
provocam pequenas redues de seo transversal. Tais caractersticas fazem com que esse
processo seja indicado para a produo de fios, arames e fios-mquina de materiais, como o ao,
ligas de alumnio, cobre e materiais nobres. Outra aplicao do processo refere-se obteno de
barras de diversos perfis com comprimentos limitados s dimenses das instalaes.
Figura 5.12 Trefilao.
5.3 Processos de Usinagem
Processos de usinagem so aqueles que se caracterizam pela obteno de uma determinada
forma atravs da remoo de material, denominado cavaco. Comparativamente a outros processos, a
usinagem um processo lento e de alto custo. Entretanto, so estes os processos que garantem
grande preciso dimensional e acabamento em relao aos outros mtodos. Desta forma, processos
com remoo de cavaco continuam sendo extensamente utilizados na indstria metal-mecnica.
A fabricao econmica exige que haja um pequeno nmero de formas intermedirias entre a
forma inicial de uma pea em bruto e a sua forma final, acabada. Os processos de conformao, se
pensados dessa forma, poderiam ser vistos como os ideais. Todavia, as ferramentas utilizadas em
tais processos so extremamente caras, bem como de difcil aproveitamento, aps apresentarem
desgastes. Dessa forma, tais processos normalmente so empregados para se fazer as pr-formas.
Nos processos de usinagem, as ferramentas podem ser reaproveitadas aps apresentarem
desgastes, e podem gerar, nas peas, pequenos desvios geomtricos, bem como elevados
acabamentos superficiais. Em pequenas sries ou fabricao unitria, os processos de usinagem so
praticamente os nicos economicamente viveis. Embora os processos de conformao tenham tido
um desenvolvimento acentuado nos ltimos anos, o desenvolvimento dos processos de usinagem
continua, como antes, dominante.
Os principais processos de fabricao so delineados, ressaltando que este texto no esgota
as possibilidades de mtodos de produo por remoo de cavaco.
133
5.3.1 Torneamento
Este processo de fabricao mecnica destinado a remover material da superfcie de uma
pea em movimento de rotao, por meio de uma ferramenta de corte que se desloca continuamente,
com uma aresta cortante pressionada contra a superfcie da pea, conforme se visualiza na Figura
5.13. A Tabela 5.1 apresenta os componentes do torno mecnico, o qual executa qualquer espcie de
superfcie de revoluo porque a pea rotaciona, enquanto a ferramenta possui o movimento de
avano. Permite, portanto, usinar qualquer obra que deva ter seo circular e qualquer combinao
de tais sees. O trabalho abrange obras, como eixos, polias, pinos e toda espcie de peas
roscadas.
Figura 5.13 Torneamento de uma pea (Diniz, 2001).
Tabela 5.1 Elementos constitutivos do torno mecnico
Parte Elemento constitutivo do torno mecnico
a Placa
b Cabeote fixo
c Caixa de engrenagens
d Torre porta-ferramenta
e Carro transversal
f Carro principal
g Barramento
h Cabeote mvel
i Carro porta-ferramenta
134
Como forma de ilustrar os contedos apresentados na Tabela 5.1, a Figura 5.14 mostra os
elementos constitutivos de um torno mecnico.
Figura 5.14 Elementos constitutivos do torno mecnico.
Alm de tornear superfcies cilndricas externas e internas, o torno poder usinar superfcies
planas no topo das peas, faces, abrir rasgos ou entalhes de qualquer forma, superfcies cnicas,
esfricas e perfilados.
No faceamento, o avano da ferramenta se d no sentido normal ao eixo de rotao da pea
e tem por finalidade obter uma superfcie plana. No sangramento ou recorte, ocorre um movimento
transversal, como no faceamento, e adotado na separao do material de uma pea. O torneamento
longitudinal se constitui numa operao em que se obtm uma geometria cilndrica, coaxial ao centro
de rotao, podendo ser externo ou interno, ressaltando que superfcies cnicas podem ser obtidas
de forma similar, com adequada orientao do carro porta-ferramenta. No torneamento de rosca, a
135
velocidade de corte e o avano so tais a ponto de promover o filetamento da pea de trabalho com
um passo desejado. O perfilamento caracteriza-se por uma ferramenta, com perfil semelhante quele
desejado, avanando perpendicularmente ao eixo de rotao da pea.
Estas operaes encontram-se ilustradas na Figura 5.15.
Figura 5.15 Operaes de torneamento (Freire, 1988).
5.3.2 Fresamento
O fresamento uma das operaes mais versteis em usinagem, permitindo a obteno de
peas com formato complexo que dificilmente poderiam ser fabricadas por outro processo de
fabricao.
Neste caso, a pea fixada a uma mesa com capacidade de deslocamento e uma ferramenta
multicortante (fresa) gira em torno de seu eixo. O avano, a profundidade e a largura de corte so
136
dados pelo movimento da mesa e pela geometria da prpria fresa. A Figura 5.16 mostra as fresas
vertical e horizontal, respectivamente.
Figura 5.16 Fresadoras vertical e horizontal
Dois tipos principais de fresamento podem ser executados: fresamento frontal (de topo), em
que a superfcie fresada perpendicular ao eixo de rotao da ferramenta, e fresamento perifrico
(tangencial), em que a nova superfcie gerada paralela ao eixo de rotao da ferramenta. As Figuras
5.17 e 5.18 ilustram os fresamentos de topo e tangencial, respectivamente.
Figura 5.17 Fresamento de topo.
Figura 5.18 Fresamento tangencial.
137
5.3.3 Furao
Furao operao de desbaste que pode ser realizada por uma grande variedade de
tcnicas de fabricao, sendo a mais importante a que utiliza broca helicoidal (Figura 5.19).
Figura 5.19 Broca helicoidal em operao de furao.
As furadeiras so mquinas relativamente simples (Figura 5.20), nas quais o movimento de
corte rotativo e o avano linear da broca possui apenas uma direo.
Figura 5.20 Furadeira de bancada (Freire, 1988).
138
As brocas de centro so utilizadas para gerar um pr-furo, que serve para guiar brocas mais
longas, e para criar furos utilizados na fixao das peas usinadas em torno. Para este ltimo caso, a
broca helicoidal a mais comum e adotada para gerar furos mais profundos, tendo os canais
helicoidais a funo de guiar a sada do cavaco da zona de corte na ponta da broca. A broca canho
possui utilidade em furao profunda em tornos. Neste caso, normalmente, a broca fica parada,
enquanto a pea gira presa placa do torno.
5.3.4 Alargamento
O processo de furao com brocas helicoidais consiste numa operao de desbaste. Para
calibrar o furo e melhorar o acabamento superficial originados pela furao com broca helicoidal,
empregam-se geralmente os alargadores de desbaste e acabamento.
So ferramentas multicortantes (Figura 5.21), geralmente de forma cilndrica ou cnica, que,
atravs dos movimentos de corte (rotativo) e de avano (axial), servem para alargar e acabar os furos.
Figura 5.21 Alargadores (Ferraresi, 1970).
O alargamento uma operao mais lenta e mais barata que o brochamento, sendo, porm,
indicado para lotes menores. Alm disso, furos que no podem ser brochados, como furos no
passantes ou de dimetro pequeno, no representam limitao para o alargamento. Comparando-se
o alargamento com o mandrilamento ou o torneamento interno, tem-se, para furos pequenos, o
mandrilamento ou o torneamento interno que no so processos viveis para a execuo.
139
5.3.5 Aplainamento
O aplainamento consiste em obter superfcies planas, em posio horizontal, vertical ou
inclinada. As operaes de aplainamento so realizadas na plaina limadora, com o emprego de
ferramentas possuidoras de apenas uma aresta cortante que retira o sobremetal com movimento
linear (Figura 5.22).
Figura 5.22 Movimentos na usinagem por aplainamento.
O aplainamento apresenta grandes vantagens na usinagem de rguas, bases, guias e
barramentos de mquinas, porque cada passada da ferramenta capaz de retirar material em toda a
superfcie da pea. Nas operaes de aplainamento, o corte feito em um nico sentido. O curso de
retorno da ferramenta um tempo perdido. Assim, esse processo mais lento que o fresamento, por
exemplo, pois corta continuamente.
Por outro lado, o aplainamento usa ferramenta de corte com uma aresta cortante, pois mais
barata, mais fcil de afiar e com montagem mais rpida. Isso significa que o aplainamento , em regra
geral, mais econmico que outras operaes de usinagem que usam ferramentas multicortantes.
140
As Figuras 5.23 e 5.24 apresentam respectivamente, uma plaina limadora e exemplos de
operao de aplainamento.
Figura 5.23 Plaina limadora.
Figura 5.24 Operaes de aplainamento (Chiaverini, 1986).
141
5.3.6 Brochamento
Denomina-se brochamento a operao que consiste na usinagem linear e progressiva da
superfcie de uma pea mediante uma sucesso ordenada de arestas de corte. A ferramenta que
executa este trabalho denomina-se brocha e a mquina correspondente a brochadeira. O
brochamento pode ser externo ou interno, conforme a ferramenta trabalha num furo passante ou
numa superfcie aberta. Com exceo de certas operaes de brochamento circular, o movimento
retilneo, realizado hidrulica ou mecanicamente.
As vantagens destes processos so: rapidez de execuo, boa preciso, baixo custo de
produo para altas sries, no necessita de mo-de-obra especializada, permite executar numa s
passagem as operaes executadas por vrios processos diferentes de usinagem, e o brochamento
interno permite executar furos com formas variadas (Figura 5.25).
Figura 5.25 Brochamento interno e externo.
5.3.7 Retificao
Processo de fabricao mecnica por usinagem de acabamento que, como o nome sugere,
visa a apurar a qualidade da superfcie usinada. A quantidade de material removido nesta operao
normalmente muito pequena e executada com grandes velocidades de corte.
As ferramentas utilizadas em retificao denominadas rebolos so fundamentalmente
diferentes das ferramentas analisadas at aqui, pois no apresentam uma geometria definida. Os
rebolos so compostos por gros de um material abrasivo unidos por um ligante. Destes dois,
somente os gros contribuem para o corte, sendo cada um deles um dente com gume cortante.
142
Este processo realizado em uma retificadora, como a vista na Figura 5.26 e a Figura 5.27
ilustra um rebolo de gros abrasivos.
Figura 5.26 Retificadora.
Figura 5.27 Rebolo em operao de retificao.
5.3.8 Mandrilamento
Processo de usinagem no qual se obtm superfcies de revoluo com auxilio de uma ou mais
ferramentas de barra. Para atingir este fim, a ferramenta gira e a pea e/ou a ferramenta se deslocam
simultaneamente. A diferena fundamental entre o mandrilamento e o torneamento interno que, no
primeiro, a ferramenta gira e, no segundo, somente a pea rotaciona.
O mandrilamento permite obter superfcies cilndricas ou cnicas internas, segundo eixos
perfeitamente paralelos entre si e dentro de apreciveis tolerncias dimensionais. As peas
submetidas ao mandrilamento caracterizam-se por serem de grandes dimenses e, portanto, de
143
manuseio e montagens difceis nas placas giratrias dos tomos. As operaes tpicas de
mandrilamento so ilustrados na Figura 5.28.
Figura 5.28 Operaes de mandrilamento (Ferraresi, 1970).
5.3.9 Processos No-Convencionais
Existem situaes em que os processos descritos acima no so adequados, econmicos ou
viveis, por razes como as descritas abaixo na Tabela 5.2.
Tabela 5.2 Razes para a adoo de usinagem no-convencional
Dureza e resistncia do material elevadas (acima de 400 HB) ou material muito frgil. Tambm
para pea muito flexvel, ou delicada para resistir as foras de usinagem ou de difcil fixao.
Para forma de pea complexa, incluindo caractersticas externas e internas ou furos de pequeno
dimetro, como em bicos injetores de combustvel.
Para requisitos de acabamento superficial e tolerncia dimensional mais rigorosos.
Quando o aquecimento e tenses residuais na pea no so desejados ou permitidos.
Essas necessidades levaram ao desenvolvimento de outros mtodos de remoo de material
baseados em processos qumicos, eltricos, laser, e outros. Os principais tipos de usinagem no-
convencional so postos na Tabela 5.3.
144
Tabela 5.3 Principais tipos de usinagem no-convencional
Processo Caractersticas
Usinagem Qumica (CM)
Adotada para usinar cavidades rasas (at 12 mm) em
superfcies planas ou curvadas, corte de chapas finas. Possui
baixo custo de ferramentas e equipamentos e adequado para
lotes pequenos.
Usinagem Eletroqumica (ECM)
Destinada a formas complexas com cavidades profundas.
Possui a maior taxa de remoo de material dentre os
processos no tradicionais. Possui equipamentos e
ferramentas caras, alm do alto consumo de energia.
Destinada fabricao de lotes mdios e grandes.
Retificao
Eletroqumica (ECG)
Implementada em corte e afiao de materiais duros, tais
como ferramentas de carboneto de tungstnio. Possui taxa de
remoo de material maior que a da retificao.
Eletroeroso (EDM)
Adotada na conformao e corte de peas complexas feitas de
materiais duros. Tambm utilizada como retificao e
processo de corte. Possui equipamentos e ferramentas caras.
Eletroeroso a Fio
Utilizada em corte de contornos de superfcies planas ou
curvas. Possui equipamento caro.
Usinagem por Laser
(LBM)
Adotada em corte e furao de materiais de pequena
espessura. Impe zona termicamente afetada e no necessita
de vcuo. Possui equipamentos caros com alto consumo de
energia.
Usinagem por Feixe de
Eltrons (EBM)
Implementado em corte e furao em materiais de pequena
espessura. Adotado em furos de pequeno dimetro. Impe
zona termicamente afetada, necessita vcuo e possui
equipamentos caros.
Usinagem por Jato d'
gua (WJM)
Adotado no corte de todos os tipos de materiais no metlicos.
Adequado para corte de contornos e no afeta
termicamente o material, porm sendo um processo com alto
nvel e rudo.
Usinagem por Jato
d' gua Abrasiva (AWJM)
Para corte de materiais metlicos e no metlicos com os
mesmos problemas da usinagem por Jato d' gua.
Usinagem por jato
abrasivo (AJM)
Adotado em corte, limpeza de materiais metlicos e no
metlicos. controlado manualmente e tende a
arredondar os cantos cortados.
145
5.4 Processos de Fabricao de Materiais Polimricos
O processamento de plsticos utiliza operaes semelhantes s utilizadas na fabricao de
peas de metais. Os plsticos podem ser moldados, fundidos, conformados, usinados e soldados;
eles podem ser fabricados em formas variadas com relativa facilidade e em poucas operaes. A
temperatura de fuso do plstico baixa, por isso, ao contrrio dos metais, eles podem ser facilmente
manipulados e necessitam de menos energia para a fabricao. Entretanto, as propriedades das
peas e componentes de plstico so grandemente influenciadas pelo mtodo de fabricao e pelos
parmetros de processamento, desse modo o controle destes essencial para a qualidade da pea.
Plsticos so normalmente adquiridos na forma de gros ou ps, e so amolecidos
(termoplsticos) no momento da fabricao. Plsticos esto tambm disponveis na forma de chapas,
placas, tarugos e tubos, que podem ser conformados em vrios produtos. Plsticos na forma lquida
so utilizados na fabricao de peas de plstico reforadas.
As Figuras 5.29 a 5.31 mostram os processos de extruso, injeo e sopro, respectivamente.
Figura 5.29 Processo de extruso em plsticos.
Figura 5.30 Processo de injeo em plsticos.
146
Figura 5.31 Processo de sopro em plsticos.
As principais formas de manufatura com plsticos encontram-se na Tabela 5.4.
Tabela 5.4 Processo de fabricao de materiais polimricos
Processo Caractersticas
Extruso
Sees longas, uniformes, slidas ou vazadas; alta taxa de
produo; baixo custo de ferramentas e tolerncias abertas.
Injeo
Formas complexas de dimenses variadas, eliminao de
montagem, alta taxa de produo; alto custo da ferramenta e
boa preciso dimensional.
Sopro Peas ocas de paredes finas; alta taxa de produo e baixo
custo da ferramenta.
Moldagem de plstico aerado
Estrutural
Peas grandes com elevada relao rigidez peso; ferramentas
mais baratas que as utilizadas na moldagem por injeo e baixa
taxa de produo.
Moldagem rotativa Peas ocas grandes de formato simples; baixo custo da
ferramenta e baixa taxa de produo.
Termoconformao
Cavidades rasas ou relativamente profundas; baixo custo da
ferramenta e taxa de produo mdia.
Moldagem por compresso
Semelhante ao processo de forjamento; baixo custo da
ferramenta e taxa de produo mdia.
Moldagem por transferncia
Peas mais complexas que as da moldagem por compresso;
alta taxa de produo; perda de matria prima e custo da
ferramenta mdio.
Fundio Formas simples ou complexas fabricadas com moldes flexveis
e baixa taxa de produo.
Processamento de materiais
compsitos
Ciclos longos com tolerncias e custos de ferramenta
dependentes do processo.
147
5.5 Metalurgia do P
A metalurgia do p caracteriza-se pela produo em larga escala de componentes de alta
preciso, quimicamente homogneos, e com perda de material extremamente baixa. Trata-se de um
processo amplamente empregado na indstria, para a fabricao de diferentes produtos. A prpria
matria-prima em forma de p encontra vrias aplicaes, como pigmentos para fabricao de tintas,
aditivos para conservao de alimentos, cargas e revestimentos para eletrodos de soldagem.
Componentes metlicos com porosidade interconectada, facilmente obtidos pelo processo de
metalurgia do p, podem ser utilizados como filtros ou como componentes com reservatrios de
lubrificantes para autolubrificao. Componentes magnticos tambm so fabricados via metalurgia
do p.
Seu processamento encontra-se ilustrado na Figura 5.32. Primeiramente, as matrias-primas
em forma de p so misturadas; em seguida, realiza-se a compactao para se obter um corpo em
verde, que o primeiro passo para a compactao do produto; seguida da sinterizao, etapa em que
se obtm a densidade final do produto. Dependendo do componente ou pea a ser fabricada,
algumas etapas se fazem necessrias como calibragem, que tem como objetivo alcanar as
tolerncias dimensionais do produto, atravs de uma nova prensagem do material j sinterizado em
um molde; impregnao, que tem como objetivo impregnar um material poroso com leo, visando a
evitar a corroso e tambm proporcionar a autolubrificao do componente; e tratamentos trmicos
que se fazem necessrios.
Figura 5.32 Etapas da metalurgia do p.
148
Uma variao desta seqncia de processamento consiste em aliar as tcnicas de metalurgia
do p com a tcnica de conformao mecnica por extruso, ou seja, partir das matrias-primas em
forma de p, mistur-las, compact-las e, logo em seguida, extrudar o p compactado (Figura 5.33).
Figura 5.33 Processo de extruso na metalurgia do p.
Esse processo apresenta algumas vantagens, como a versatilidade de fabricar formas difceis
de obter, com outros mtodos, a eliminao da etapa de sinterizao e o incremento nas
propriedades, devido obteno de uma microestrutura refinada com baixos ou nulos nveis de
segregao e praticamente livre de porosidade. At mesmo a presena de partculas de impurezas,
como xidos ou intermetlicos, que so normalmente indesejveis em metais fundidos, pode ser
benfica, pois estes podem atuar como um tipo de reforo, ou seja, promoverem o endurecimento por
disperso de slidos.
5.6 Fabricao Assistida por Computador
Dentre os recursos que a automatizao beneficia na fabricao, citam-se a troca de
ferramenta automtica, que substitui a ao direta do operador; a possibilidade de se obter contornos
em fresamento ou torneamento, que substitui a ao de um copiador; a possibilidade de corte de
rosca em tornos, que substitui a ao dos mecanismos de recmbio e caixa de rosca, a existncia de
mostradores ativos durante toda execuo, que mostram, a cada instante, todas as condies
atuantes; reduo do manuseio de material, reduo da rea ocupada dentro da fbrica atravs da
diminuio do nmero de equipamentos no total; possibilidade de monitoramento central do processo
industrial; reduo do tempo de execuo do servio total; menor uso de mo-de-obra no total e
diminuio do custo do ferramental necessrio (mquinas mais versteis), ao contrrio do que ocorre
quando se procura elevar a produo com recursos convencionais.
Ao se optar pela implementao de manufatura automatizada, deve-se analisar todo o ciclo
de produo e considerar seus efeitos sobre custos de manuseio do material, controle de qualidade,
149
compras, inventrios, projeto e aplicao de ferramentas, controle de produo, engenharia de
produto e de fbrica.
Os centros de usinagem (Figura 5.34) so as mquinas-ferramenta que melhor representam a
versatilidade que se quer obter na combinao de mquinas-ferramenta e comando numrico. Os
centros de usinagem incorporam uma srie de caractersticas economizadoras de tempo em uma
nica mquina-ferramenta, alcanando um elevado nvel de produo automatizada e flexvel.
Inicialmente, um centro de usinagem capaz de realizar vrias operaes, como: faceamento,
fresamento, mandrilamento, furao, roscamento, operaes de abrir canais, rasgos, fazer contornos,
superfcies, etc., e tudo isso em vrios planos. Em segundo lugar, o centro de usinagem tem a
capacidade de trocar de ferramenta automaticamente atravs de um comando do programa. A grande
variedade de operaes que podem ser realizadas implica uma grande quantidade de ferramentas de
corte. Estas so armazenadas em um porta-ferramentas, normalmente um cilindro com furos
especiais para cada ferramenta; quando o programa indica a necessidade de certa ferramenta, este
cilindro roda de modo a permitir a colocao da ferramenta atual de volta a seu lugar e novamente a
permitir a entrada da ferramenta para a prxima operao no fuso. Uma terceira caracterstica
importante dos centros de usinagem o seu posicionamento: a mesa da mquina pode orientar o
processo de modo que a pea possa ser usinada em vrias superfcies como requerido pelo projeto
da mesma.
Figura 5.34 Centro de usinagem.
150
VI MECNICA APLICADA
Figura 6.0 Verificao de balanceamento de sistemas rotativos
Um passo frente e voc no est mais no mesmo lugar.
Chico Science
Objetivos deste Captulo:
Estudar as principais formas de transmisso de foras e movimentos;
Verificar os equipamentos que adotam estes mecanismos de transmisso.
151
Mecnica Aplicada
Nesta unidade, sero abordados mecanismos de transformao e transmisso de movimento.
Com os conhecimentos j adquiridos nas unidades anteriores, ser ento possvel analisar o
funcionamento destes mecanismos, os importantes mtodos na propagao do efeito de foras e
movimentos.
Este estudo ser qualitativo, isto , no sero abordadas as equaes oriundas da anlise
dinmica dos mecanismos.
6.1 Moito
O moito um mecanismo destinado a inverter o sentido da fora que se deve efetuar para
executar um trabalho. Tambm adotado na reduo da fora requerida para elevao de um corpo.
Figura 6.1 Moites.
6.2 Cabrestantes
Este mecanismo adotado para transformar movimento rotacional em outro da mesma forma,
porm situado em um plano paralelo ao primeiro. Sua representao encontra-se na Figura 6.2.
Figura 6.2 Cabrestante.
152
6.3 Cunha
A cunha um mecanismo destinado a exercer uma fora em direo perpendicular carga
que se aplica externamente no corpo. Emprega-se a cunha para erguer um corpo ou para garantir o
posicionamento de componentes mecnicos. A Figura 6.3 apresenta sua ilustrao.
Figura 6.3 Cunha.
6.4 Sistema Planetrio
O sistema planetrio combina duas ou mais engrenagens, atravs dele possvel obter altas
relaes de transmisso, e empregado geralmente no intuito de constituir um redutor de velocidade.
Um tipo de redutor muito adotado o que se baseia no mecanismo de planetrios, o qual consiste em
uma roda dentada, cujo eixo situa-se no extremo de um brao que gira em volta do eixo de outra roda
de dentes externos ou internos que se acopla com aquela. Sua representao encontra-se na Figura
6.4.
Figura 6.4 Sistema planetrio.
153
6.5 Mecanismo BielaManivela
O mecanismo biela-manivela adotado na transformao de movimento retilneo alternado
em circular, ou vice-versa. Esse mecanismo usualmente empregado em compressores ou em
veculos. A representao esquemtica deste mecanismo encontra-se na Figura 6.5.
Figura 6.5 Mecanismo biela-manivela.
O elemento 1 toda a estrutura da mquina, a qual est em equilbrio. O elemento 2,
denominado manivela, realiza um movimento de rotao. O elemento 3, denominado biela, realiza um
movimento plano geral. O elemento 4 o pisto que somente se move por translao.
6.6 Mecanismo de Quatro Barras
O mecanismo de quatro barras utilizado para transformao de movimento rotativo contnuo
para rotativo alternado ou rotativo de acelerao varivel. O elemento 1 toda a estrutura da
mquina, a qual est em equilbrio. Os elementos 2 e 4, denominados manivelas, realizam
movimentos de rotao. O elemento 3, denominado biela, realiza um movimento plano geral.
Figura 6.6 Mecanismo de quatro barras.
154
6.7 Excntricos e Cames
No caso de mecanismos de bielamanivela, cujo curso pequeno, ele pode ser substitudo
por um excntrico, o qual consiste em um disco posicionado excentricamente a seu eixo, sobre o qual
se articula a manivela.
Os excntricos e cames so adotados principalmente para transformar um movimento de
rotao em um translacional de pequeno curso e esforo, como o verificado em distribuidores de
mquinas a vapor.
Quando se deseja um movimento especfico de translao, cames so montados para a
transformao do movimento rotacional. Por causa de seu formato, o mesmo consegue realizar tal
feito atravs do perfil do disco no qual ele constitudo.
Exemplos de excntricos e cames encontram-se nas Figuras 6.7 e 6.8, respectivamente.
Figura 6.7 Excntrico.
Figura 6.8 Cames.
155
6.8 Embreagens e Freios
As embreagens, tambm chamadas frices, fazem a conexo entre rvores. Elas mantm as
rvores, motriz e comandada, mesma velocidade angular. Os freios tm as funes de regular,
reduzir ou parar o movimento dos corpos.
A embreagem de disco consiste em anis planos pressionados contra um disco feito de
material com alto coeficiente de atrito, para evitar o escorregamento quando a potncia transmitida.
Normalmente, a fora fornecida por uma ou mais molas e a embreagem desengatada por uma
alavanca. A Figura 6.9 mostra um tipo desta forma de embreagem.
Figura 6.9 Embreagem de disco.
Embreagens cnicas so utilizadas quando se deseja grande ampliao da fora de
aplicao, sem que haja limitao axial para deslocamento. O princpio bsico o da cunha: quando a
parte chamada cone desloca-se para a esquerda da figura, pela ao da fora da mola, surge uma
presso nas superfcies de contato, que aumenta conforme o deslocamento axial e torna-se maior. A
grande vantagem desse tipo de embreagem permitir um grande esforo normal nas superfcies em
contato sem um aprecivel esforo de engate. A desvantagem o movimento axial, nem sempre
possvel na maioria dos dispositivos. A Figura 6.10 apresenta um exemplo deste tipo de embreagem,
a qual tambm pode ser empregada como freios.
Figura 6.10 Embreagem cnica.
156
A embreagem centrfuga adotada quando o engate de uma rvore motora deve ocorrer
progressivamente a uma rotao predeterminada. As massas, por ao da fora centrfuga,
empurram as sapatas que, por sua vez, completam a transmisso do torque. A Figura 6.11 apresenta
um exemplo deste tipo de embreagem.
Figura 6.11 Embreagem centrfuga.
Na embreagem de roda-livre ou unidirecional, cada rolete est localizado em um espao em
forma de cunha, entre as rvores interna e externa. Em um sentido de giro, os roletes avanam e
travam o conjunto, impulsionando a rvore conduzida. No outro sentido, os roletes repousam na base
da rampa e nenhum movimento transmitido. A embreagem unidirecional aplicada em
transportadores inclinados, como conexo para rvores, para travar o carro, a fim de evitar um
movimento indesejado para trs; veja sua ilustrao na Figura 6.12.
Figura 6.12 Embreagem unidirecional.
157
A embreagem eletromagntica, na Figura 6.13, caracteriza-se pela rvore conduzida possuir
um flange com revestimento de atrito. Uma armadura, em forma de disco, impulsionada pela rvore
motora e pode mover-se axialmente contra molas. Uma bobina de campo fixa ou livre, para girar com
a rvore conduzida, energizada e produz um campo magntico acionando a embreagem. Uma
caracterstica importante da embreagem eletromagntica poder ser comandada a distncia por meio
de cabo.
Figura 6.13 Embreagem eletromagntica.
A embreagem hidrulica possui rvores que carregam impulsores com ps radiais. Os
espaos entre as ps so preenchidos com leo, o qual circula nas ps quando a rvore motora gira.
A roda na rvore motora atua como uma bomba, e a roda na rvore movida atua como uma turbina,
de forma que a potncia transmitida, havendo sempre uma perda de velocidade devido ao
escorregamento. A embreagem hidrulica, ilustrada na Figura 6.14, tem aplicao em caixas de
transmisso automtica em veculos.
Figura 6.14 Embreagem hidrulica.
158
O freio de disco basicamente uma embreagem a seco, na qual um dos elementos trabalha
em rotao nula. Ento, o disco, que normalmente o elemento ligado ao eixo girante, acoplado a
um eixo com velocidade nula atravs de uma pina. Esta mesma pode ter acionamento pneumtico,
como em veculos ferrovirios e alguns freios de caminhes e nibus; hidrulico, como na maioria dos
veculos comerciais de pequeno porte, ou outro como eltrico, magntico ou por esforo centrfugo.
Devido ao grande torque a ser transmitido, normalmente at duas ou trs vezes maior do que o do
motor, os discos necessitam de grande rea de resfriamento. Por isso, apenas parte de sua superfcie
utilizada como superfcie de atrito a cada instante. As pastilhas de freio, que fazem a funo da
placa de presso e do volante nas embreagens, ocupam uma pequena parcela da rea total do disco.
A Figura 6.15 mostra exemplos de freios de discos slido e ventilado, respectivamente.
Figura 6.15 Freio de disco.
O freio a tambor de duas sapatas externas o mais adotado em mquinas de elevao, tais
como pontes rolantes, elevadores e gruas. Normalmente, composto de duas sapatas
simetricamente dispostas em torno de um tambor, o qual ligado carga a ser frenada. Na Figura
6.16, o acionamento eletromagntico, mas tambm pode ser pneumtico e, mais raramente,
hidrulico ou manual. Quando o freio acionado, o conjunto de alavancas atua no sentido de aplicar
presso entre as sapatas, que contm o material de atrito substituvel, e o tambor.
Figura 6.16 Freio de disco.
159
O freio de tambor de sapatas internas (Figura 6.17) utilizado normalmente como freio
traseiro de veculos de passeio ou como freio de caminhes e nibus. Consiste tambm de duas ou
mais sapatas que so aplicadas contra um tambor de freios, mas na face interna dele.
Figura 6.17 Freio de tambor de sapatas internas.
A Figura 6.18 mostra um esquema simplificado desse tipo de freio para veculos automotivos.
Nela, so mostradas as seguintes peas: o cilindro de freio, que recebe a presso hidrulica do
sistema de acionamento; os pistes do cilindro, os quais se movem aplicando a sapata sobre o
tambor; as sapatas, que consistem no suporte metlico (contra-sapata) e na lona de freio; o tambor,
que a parte giratria do conjunto e solidrio roda em veculos; o cabo, que serve para aplicar o
freio manualmente atravs da alavanca do freio; e o ajustador de folga, que move a lona para mais
perto do tambor, conforme esta vai sendo desgastada, diminuindo o curso at a frenagem.
Figura 6.18 Freio de tambor de sapatas internas para automveis.
160
No tipo de freio mostrado, a fora gerada no cilindro hidrulico move a parte superior das
sapatas, que esto ancoradas no ajustador de folga. Com essa restrio, as sapatas no se movem
lateralmente, mas giram em torno do ponto de ancoragem. Fica evidente que o apoio da sapata sobre
o tambor se d principalmente na parte superior desta, fazendo com que a presso de contato seja
maior nessa regio.
O freio multidisco. mostrado na Figura 6.19, compe-se de vrios discos de atrito intercalados
com disco de ao. Os discos de ao giram em um eixo entalhado e os discos de atrito so fixados por
pinos. O freio atua por compresso axial dos discos.
Figura 6.19 Freio multidisco.
O freio centrfugo o local onde as sapatas atuam, na parte interna de um tambor, pela ao
da fora centrfuga contra a ao de mola lamelares. A tenso da mola determina o instante de ao
do freio. A Figura 6.20 ilustra esse tipo de freio.
Figura 6.20 Freio centrfugo.
161
6.9 Volantes
Um volante uma massa em rotao adotada como reservatrio de energia. Quando a
velocidade angular aumenta, o volante armazena energia. A classificao das mquinas com relao
forma com que a energia gerada ou consumida divide-as em dois tipos. O primeiro corresponde a
motores que geram energia a taxas que variam rapidamente com o tempo, enquanto o consumo
desta energia deve ocorrer a taxas uniformes, sendo exemplo os motores de combusto interna. Por
outro lado, existem os motores que geram energia a taxas uniformes em relao ao tempo, mas seu
consumo irregular, como o verificado em prensas de corte de chapas com acionamento por motor
eltrico.
Quando um eixo submetido a um movimento de rotativo varivel periodicamente, provoca
desequilbrios que podem ser prejudiciais s mquinas e que podem ser evitados ou diminudos por
meio de volantes montados nestes eixos. Por exemplo, em mecanismos bielamanivela, embora a
velocidade angular da manivela seja constante, como ocorre nas bombas de pisto e compressores,
os momentos no o so, gerando desequilbrios os quais solicitam a interveno de volantes. Quando
mquinas ou motores possuem vrios cilindros, estes podem dispor-se de tal forma, que a soma das
irregularidades de cada um deles produza uma resultante nula, no sendo neste caso necessrio
adotar volantes.
6.10 Balanceamento de rotores
Em geral, qualquer dimensionamento de eixo supe que o rotor esteja balanceado. Isto ,
idealiza-se que as reaes de apoio no rotor devam ter como causa somente as cargas estticas e as
foras correspondentes ao trabalho realizado na mquina. Quando o rotor gira sem carga, as reaes
dinmicas devem ser nulas, se estiver balanceado. Os efeitos de um eventual desbalanceamento de
um rotor de uma mquina so prejudiciais ao bom funcionamento, pois geram vibraes e
sobrecargas no equipamento, tornando, ento, a eliminao do desbalanceamento sempre desejvel.
Porm, um projeto cuidadoso pode minimizar, mas no elimin-lo completamente. Defeitos de
fabricao ou de montagem, mesmo que em pequeno grau, so suficientes para acarretar em um
desbalanceamento significativo, especialmente em altas velocidades angulares.
Pela teoria, sabe-se que, para balancear um rotor rgido, basta acrescentar ou remover massa
de apenas dois planos de correo distintos. Ento, pode-se equilibrar o momento e a resultante das
foras de inrcia decorrentes da rotao. Na prtica, no possvel equilibrar plenamente as foras
de inrcia devido rotao. Portanto, o balanceamento visa a reduzir os esforos radiais nos
mancais, produzidos pelo movimento de rotao do rotor a valores aceitveis.
Para balancear o rotor, necessrio acrescentar ou remover massa de posies angulares
especficas dos dois planos de correo, de modo a fazer com que o eixo central coincida com o eixo
geomtrico entre mancais. O eixo central apresenta desvio em relao ao eixo geomtrico, em funo
162
da excentricidade do centro de massa e da inclinao do eixo principal de inrcia do rotor. Esses
efeitos so funes da massa do rotor e da diferena entre seus momentos de inrcia polar e
transversal. Portanto, cada rotor com caractersticas geomtricas e distribuio de massas diferentes
apresentar amplitudes de orbitao distintas para o mesmo desbalanceamento.
Dessa forma, necessrio calibrar a balanceadora, por exemplo, calibrar a relao entre o
movimento de orbitao, observada nos mancais, e o desbalanceamento existente nos dois planos de
correo. Caso as massas de correo sejam pequenas, existe uma relao linear entre as massas
adicionadas ou removidas nos dois planos de correo e a variao da amplitude do movimento
observado nos mancais.
O procedimento de balanceamento repetido at que o desbalanceamento residual nos dois
planos seja inferior ao desbalanceamento admissvel para o rotor. O desbalanceamento residual
especfico do rotor , em geral, especificado atravs de um grau ou classe de balanceamento vlido
para a mxima velocidade de rotao de operao do rotor, segundo a norma ISO 1940/1-1986.
As balanceadoras dispem de recursos para facilitar e agilizar o processo de balanceamento,
de maneira a reduzir o tempo e o nmero de passos necessrios no balanceamento, principalmente
devido ao fato de que o balanceamento representa em geral uma etapa bastante custosa e freqente
na produo e manuteno de rotores.
A Figura 6.21 mostra a geometria prpria verificada no balanceamento.
Figura 6.21 Geometria do balanceamento de rotores.
163
A Figura 6.22 exemplifica um rotor desbalanceado sobre mancais flexveis. A Figura 6.232
mostra um rotor com discos em balano nos dois extremos. A Figura 6.24 ilustra uma balanceadora.
Figura 6.22 Rotor desbalanceado.
Figura 6.23 Rotor com discos em balano nos dois extremos.
164
Figura 6.24 Balanceadora.
165
VII FENMENOS DE TRANSPORTE
Figura 7.0 Exemplos de Escoamentos
As revolues nunca aliviaram a carga da tirania.
Apenas a transferiram para um outro ombro.
George Bernard Shaw
Objetivos deste Captulo:
Estudar os contedos de mecnica voltados ao estudo dos fluidos;
Apresentar as aplicaes destes contedos em mecanismos de transmisso.
166
Fenmenos de Transporte
Por fenmenos de transporte entende-se o conjunto de conhecimentos necessrios para o
estudo do transporte da quantidade de movimento, de calor e de massa em fluidos.
As caractersticas mais notveis dos slidos cristalinos so a dureza, a incompressibilidade e
as propriedades geomtricas. Estas propriedades podem ser explicadas em termos da teoria atmica,
envolvendo a idia de um retculo ou arranjo de tomos permanentemente ordenados, ligados entre si
por foras intensas. As caractersticas mais notveis dos gases so a compressibilidade, a fluidez e a
capacidade de preencher totalmente qualquer recipiente. A teoria cintica explica estas propriedades
em termos de um modelo cuja caracterstica central o movimento desordenado de um grande
nmero de molculas que raramente exercem aes sensveis umas sobre as outras. Assim, os
slidos e os gases apresentam comportamentos opostos. Os lquidos apresentam algumas
propriedades que aparecem nos gases e algumas que aparecem nos slidos: como os gases, so
isotrpicos e fluem facilmente sob a ao de qualquer fora; como os slidos, so densos,
relativamente incompressveis e suas propriedades so determinadas pela natureza e intensidade das
foras intermoleculares.
7.1 Propriedades Fsicas dos Fluidos
Conforme j foi estudado ao longo deste curso, um corpo pode se apresentar no estado
slido, lquido ou gasoso. Um fluido uma substncia que muda rotineiramente de forma quando
existe uma tenso de cisalhamento. Por outro lado, um corpo slido, quando submetido a esta tenso,
comea a se deformar.
A diferena entre fluidos lquidos e gasosos que certa quantidade de lquido possui volume
prprio, diferentemente do comportamento obtido com a matria gasosa. Os fluidos so compostos de
molculas em movimento constante, onde ocorrem freqentes colises. Como a medio da ao de
cada molcula invivel, as propriedades dos fluidos so determinadas, considerando seu
comportamento geral, da mesma forma que ocorre com os slidos.
A seguir, sero discutidas as principais propriedades verificadas em fluidos e as hipteses
simplificadoras para o desenvolvimento desta anlise.
7.2 Grandezas de Estado
As propriedades de uma substncia so descritas por intermdio das grandezas de estado.
Para a rea de fenmenos de transporte, trs so as grandezas: volume, presso e temperatura.
Volume o espao ocupado pela massa de um fluido, sendo sua unidade no sistema
internacional o metro cbico [m
3
]. A razo entre o volume e a massa do fluido denominada volume
especfico.
167
Presso a razo entre o valor da fora aplicada e a rea de aplicao da mesma. Sua
unidade no sistema internacional [N / m
2
] ou [Pa] (Pascal). Grande parte dos sistemas de medio
de presso no mede a presso absoluta, mas a diferena entre esta e uma presso de referncia.
A temperatura uma das grandezas mais mensuradas no meio industrial. Porm,
importante diferenciar temperatura de calor. Uma substncia possui energia interna devido
movimentao de suas molculas, sendo esta energia traduzida atravs da temperatura do corpo.
Considerando dois corpos isolados em um ambiente e em contato entre si, tendo estes temperaturas
diferentes entre si, ocorrer a transferncia de energia interna do corpo que possui maior temperatura
para o de menor. Calor o processo de transferncia de energia de um corpo a outro exclusivamente
devido diferena de temperatura entre eles.
Este princpio rege a transferncia de energia interna e conhecido como Princpio Zero da
Termodinmica; o estado de repouso alcanado pelo sistema denominado equilbrio trmico.
As escalas mais usuais para medio da temperatura so: Kelvin [K], Celsius [C] e Fahrenheit
[F]. As expresses com as relaes entre estas escalas encontram-se na Figura 7.1.
Figura 7.1 Relao entre escalas de temperatura.
7.2.1 Dilatao Trmica
Quando a temperatura de um corpo varia, ocorrem variaes de comprimento em cada uma
de suas dimenses, variaes estas que dependem da forma do corpo e da substncia de que ele
feito. A variao de qualquer dimenso linear de um corpo com a temperatura se chama dilatao
trmica (Figura 7.2).
Figura 7.2 Modificao de comprimento devido variao de temperatura.
Considerando uma das dimenses do corpo, de comprimento L
0
temperatura T
0
e
comprimento L temperatura T, de modo que L = L L
0
seja a variao de comprimento e T = T
T
0
, a variao de temperatura, a lei da dilatao linear diz que L/T proporcional a L
0
. Escrevendo
168
L / T = L
0
, define-se o coeficiente de dilatao linear , associado substncia de que feito o
corpo em questo. Dessa forma, chega-se Equao 7.1, a qual reflete o comprimento final do corpo.
L = L
0
(1 + T) (7.1)
Como exemplo, tem-se uma barra metlica de 4 m de comprimento e de seo reta quadrada
com 16 cm
2
de rea passa a ter um comprimento de 4,01 m ao ser aquecida. Segue abaixo, o clculo
do valor da nova rea da seo reta.
Como
0
T L L = temos ( ) 0025 , 0 4 / ) 01 , 0 ( /
0
= = = m m L L T e para a nova espessura e
a nova rea: ( ) ( )[ ] cm cm T L L 01 , 4 0025 , 0 1 4 1 = + = + = ( )
2 2
cm 08 , 16 cm 01 , 4 A =
Analogamente ao coeficiente de dilatao linear, so postulados os coeficientes de dilatao
superficial () e volumtrico (). Nos materiais isotrpicos, a variao percentual no comprimento
igual em todas as direes e, ento, com muito boa aproximao: 2 e 3.
7.2.2 Equaes de Estado de Gs Ideal
O estado de um gs ideal fica definido pelas variveis: presso (P), volume (V) e temperatura
Kelvin (T). A presso est relacionada com o valor mdio da transferncia de quantidade de
movimento das partculas s paredes do recipiente nas colises, e a temperatura est relacionada
com a energia cintica mdia das partculas. A relao matemtica entre estas variveis chamada
equao de estado. Gs ideal aquele para o qual vale a equao de estado de Clapeyron, descrita
na Equao 7.2.
P V = n R T (7.2)
para quaisquer valores de P e T. Aqui, n o nmero de mols da substncia em questo e R, a
constante universal dos gases:
1 1 1 1 1 1
K mol cal 98 , 1 K mol l atm 082 , 0 K mol J 31 , 8 R
= = =
169
Como exemplo, se um gs ideal tem um volume de 400 cm
3
a 15
0
C, o procedimento para o
clculo da temperatura para a qual o gs passa a ter um volume de 500 cm
3
, se a presso permanece
constante, :
Para o estado inicial,
I I
nRT PV = , e para o estado final,
F F
nRT PV = . Ento:
T
T
V
V
F
I
F
I
= e ento ( ) C 87 ou K 360 K 288
cm 400
cm 500
T
V
V
T
0
3
3
I
I
F
F
=
|
|
\
|
=
|
|
\
|
=
A transformao mais geral que um gs ideal pode experimentar, sem variao na quantidade
de substncia, aquela em que passa de um estado caracterizado por (P
1
, V
1
, T
1
) para o estado
caracterizado por (P
2
, V
2
, T
2
). Ento, esta relao fornecida pela Equao 7.3:
2
2 2
1
1
1
T
V P
T
V P
=
(7.3)
Para uma transformao isovolumtrica, isto , a volume constante, a Equao 7.4 delineia
sua relao. Desta forma, para uma dada massa de gs mantido o volume constante, a presso
diretamente proporcional temperatura absoluta (lei de Charles).
2
2
1
1
T
P
T
P
=
(7.4)
Para uma transformao isobrica, isto , a presso constante, a Equao 7.5 expressa esta
relao. Ento, para uma dada massa de gs mantida a presso constante, o volume diretamente
proporcional temperatura absoluta.
2
2
1
1
T
V
T
V
=
(7.5)
Para uma transformao isotrmica, isto , a temperatura constante, a Equao 7.6 mostra
esta relao. Com isto, para uma dada massa de gs mantida a temperatura constante, a presso
inversamente proporcional ao volume ocupado (lei de Boyle-Mariotte).
2 2 1 1
V P V P =
(7.6)
170
7.2.3 Calorimetria
A razo entre a quantidade de energia (Q) fornecida na forma de calor a um corpo pelo
correspondente acrscimo de temperatura (T) a capacidade trmica deste corpo, expressa na
Equao 7.7.
T
Q
C
=
(7.7)
Para caracterizar a substncia que o constitui o corpo, define-se o calor especfico como a
capacidade trmica por unidade de massa do corpo e expressa na Equao 7.8.
T
Q
m
1
c
=
(7.8)
O calor especfico desta forma varia significativamente de uma substncia para outra. Porm,
referindo-se a amostras com o mesmo nmero de partculas, isto no acontece. Ento, define-se
tambm a capacidade trmica molar, delineada na Equao 7.9.
T
Q
n
C
=
1
(7.9)
onde n o nmero de mols da substncia que compe o corpo.
O calor especfico representa a quantidade de energia necessria para elevar de 1
o
C a
temperatura de 1 g da substncia considerada. Estritamente falando, o calor especfico depende da
temperatura e das condies nas quais a energia transferida ao sistema. Assim, para elevar a
temperatura de certo corpo de T
1
para T
2,
deve-se fornecer uma quantidade de energia na forma de
calor dada pelas equaes 7.10 e 7.11, sendo a primeira dedicada a processos com presso
constante e a ltima a volume constante:
T mc Q
p P
=
(7.10)
T mc Q
v v
=
(7.11)
171
Como exemplo, mistura-se 2 litros de gua a 20
0
C com 8 litros de gua a 50
0
C. O clculo da
temperatura final da mistura no equilbrio feito da seguinte forma:
O corpo de 8 litros de gua perde uma quantidade de energia Q
A
, enquanto o corpo de 2 litros ganha
a quantidade de energia Q
B
na forma de calor. Ento:
( )
A F A A
T T m c Q = e ( )
B F B B
T T m c Q =
onde m
A
= 8 kg, t
A
= 50
o
C, m
B
= 2 kg, t
B
= 20
o
C e c representa o calor especfico da gua. Como
temos Q
A
= Q
B
:
( ) ( )
A F A B F B
t t m t t m = e isolando a temperatura final:
( )( ) ( )( )
C 44
kg 2 kg 8
C 20 kg 2 C 50 kg 8
m m
t m t m
t
o
o o
B A
B B A A
F
+
+
=
+
+
=
Se a energia recebida ou perdida pelo corpo na forma de calor no gera variao de sua
temperatura, isto , T = 0, como nas mudanas de fase, por exemplo, pondera-se que exista algo
denominado calor latente. O calor latente definido pela Equao 7.12:
m / Q L =
(7.12)
onde Q representa a quantidade de energia recebida ou perdida na forma de calor pelo corpo de
massa m durante a mudana de fase feita em temperatura constante.
Como exemplo, tendo um bloco de gelo de 50 g retirado de um congelador a 0
o
C e colocado
em um ambiente a 25
o
C, o procedimento de clculo para a quantidade de energia na forma de calor
que o corpo absorver at atingir o equilbrio trmico com o ambiente, sabendo que o calor latente de
fuso para o gelo vale 80 cal/g e o calor especfico da gua vale 1 cal/g
o
C, ocorre da seguinte forma:
Sendo Q
1
a energia absorvida pelo gelo na mudana de fase e Q
2
a energia absorvida pela gua
quando est a 0
o
C ao ser aquecida at 25
o
C, ento:
( )( ) cal 000 . 4 g 50 g cal 80 m L Q
1
= = = e ( )( )( ) cal 250 . 1 C 25 C g cal 1 g 50 t mc Q
o o
2
= = = .
Ento, para a energia total, cal 250 . 5 Q Q Q
2 1
= + = .
172
A Figura 7.3 mostra a variao da quantidade de calor entre as fases da gua.
Figura 7.3 Variao da quantidade de calor entre as fases da gua.
7.3 Termodinmica
A Termodinmica estuda o comportamento dos sistemas mecnicos envolvendo
transformao da energia. Um sistema termodinmico descrito por poucas variveis macroscpicas,
como presso, volume e temperatura, as quais podem ser mensuradas facilmente.
7.3.1 Processos Reversveis e Irreversveis
Um processo termodinmico reversvel se pode ser invertido, com o sistema passando
pelos mesmos estados de equilbrio intermedirios, na ordem inversa.
Por exemplo, o processo de transferncia de energia na forma de calor de um corpo quente a
um corpo frio irreversvel porque ocorre espontaneamente em um nico sentido. Tambm
irreversvel qualquer processo que converta energia mecnica em energia interna. Por exemplo,
quando dois objetos em contato so movidos um em relao ao outro, por efeito do atrito, a energia
mecnica se transforma em energia interna, aquecendo os corpos. Porm, o processo inverso, isto ,
a transformao do excesso de energia interna novamente em energia mecnica no pode ser
realizado com a vizinhana, voltando, tambm, ao seu estado original.
173
7.3.2 Primeira Lei da Termodinmica
A energia interna (U) do sistema a soma de todas as energias de todas as partculas que o
constituem e, como tal, uma propriedade do sistema. Ento, sua variao U s depende dos
estados inicial e final da transformao considerada.
No caso em que a energia interna do sistema pode variar por troca de energia com a
vizinhana na forma de trabalho (W) e calor (Q), a relao entre estas quantidades fornecida pela
Equao 7.13.
W Q U =
(7.13)
onde W representa o trabalho do sistema sobre a vizinhana e Q, a quantidade de energia na forma
de calor que flui da vizinhana para o sistema. Este resultado, conhecido como Primeira Lei da
Termodinmica, expressa o princpio de conservao da energia neste contexto.
Embora U s dependa dos estados inicial e final, W e Q dependem, tambm, do processo
que leva o sistema do estado inicial ao estado final. Certo gs pode ser levado do estado 1 para o
estado 2 (Figura 7.4) pelo processo 1 A 2, com o trabalho realizado pelo sistema sendo dado
pela rea sob a isbara 1 A, pelo processo 1 B 2, com o trabalho realizado sendo dado pela
rea sob a isbara B 2, e pelo processo isotrmico 1 2, com o trabalho realizado sendo dado
pela rea sob a curva correspondente. Por outro lado, se energia na forma de calor adicionada ao
sistema presso constante, por exemplo, parte permanece no sistema como energia interna
(aumentando a sua temperatura) e parte reaparece como trabalho de expanso. Se a energia na
forma de calor adicionada ao sistema a volume constante, toda ela fica no sistema como energia
interna, pois no h realizao de trabalho.
Figura 7.4 Processo de transformao termodinmica.
174
Como exemplo, um grama de gua ferve a presso atmosfrica, vaporizando-se. Calcule U
para este processo, sabendo que o calor latente de vaporizao da gua vale 540 cal/g.
Considerando o vapor d'gua como gs ideal, o volume do vapor :
( )
( )
l 7 , 1
atm 1
K 373
K mol l atm 082 , 0
mol g 18
g 1
P
nRT
V
1 1
1
2
|
|
\
|
= =
como o volume do lquido, V
I
= 0,001 l, muito menor que o volume do vapor:
( )( ) J 172 m 10 7 , 1 m N 10 PV V P W
3 3 2 5
2
= =
( )( )( ) J 268 . 2 cal J 2 , 4 g cal 540 g 1 mL Q
1 1
= = =
de modo que a variao da energia interna fica J 096 . 2 J 172 J 268 . 2 U = =
7.3.3 Transformao Adiabtica
Uma transformao em que no h troca de energia na forma de calor entre o sistema e a
vizinhana denominada transformao adiabtica. Ento, a Equao 7.13 passa a ter o formato
delineado na Equao 7.14.
) U U ( U W
I F
= =
(7.14)
A relao entre presso e volume fornecida pela equao 7.15.
|
|
\
|
=
|
|
\
|
2
1
1
2
V
V
P
P
; V P C C =
(7.15)
Se o sistema se expande adiabaticamente, realiza trabalho custa de sua energia interna e a
temperatura diminui. Se o sistema comprimido adiabaticamente, o trabalho realizado pelo agente
externo aumenta a energia interna e, com isso, aumenta a temperatura do sistema.
Como exemplo, estando um gs ideal a 10 atm com volume de 2 litros, o clculo da nova
presso do gs se ele se expande isotermicamente at um volume de 4 litros :
( )( )
( )
atm 5
l 4
l 2 atm 10
V
V P
P
F
I I
F
= = =
175
A nova presso do gs se ele se expande adiabaticamente at o volume de 4 litros, sendo = 1,4
para um gs ideal, :
atm 8 , 3
l 4
l 2
) atm 10 (
V
V
P P
4 , 1
F
I
I F
= |
\
|
=
|
|
\
|
=
No plano P-V, a presso para uma transformao adiabtica reduz mais drasticamente, pois o
expoente sempre maior que a unidade.
Um outro exemplo o caso de um mol de gs ideal, para o qual
1 1
V K mol cal 5 C
= , a 25
o
C e 10 atm, que se expande adiabtica e irreversivelmente at 1 atm. O clculo de U e W para o
processo :
Considere o mesmo exemplo acima, s que numa expanso adiabtica irreversvel, com a presso do
gs caindo instantaneamente de 10 atm para 1 atm. O volume inicial :
( )( )( )
l 44 , 2
atm 10
K 298 K mol l atm 082 , 0 mol 1
P
nRT
V
1 1
1
1
1
= = =
O volume final no pode mais ser calculado com a Equao 7.15, pois ela s vlida para processos
reversveis. Contudo, U = W, ou seja:
( ) ( )
1 2 2 1 2
V V V P T T C n = ou ( ) ( ) [ ]
1 1 2 2 1 2
V T P P T nR T T C n =
Adotando a equao de estado, a temperatura e o volume final so:
( )
1
V
1 2
V
2
T
R C
P P R C
T
(
(
+
+
= ; ( ) K 221 K 298
K mol cal 2 K mol cal 5
) 10 1 )( K mol cal 2 ( ) K mol cal 5 (
T
1 1 1 1
1 1 1 1
2
=
(
+
+
=
( )
l 12 , 18
atm 1
) K 221 ( K mol l atm 082 , 0 ) mol 1 (
P
nRT
V
1 1
2
2
2
= = =
( )( ) cal 385 K 298 K 221 K mol cal 5 ) mol 1 ( T C n U
1 1
V = = =
; cal 385 W =
176
7.3.4 Segunda Lei de Termodinmica
A primeira lei da Termodinmica uma generalizao do princpio de conservao da
energia, incorporando no balano energtico a quantidade de energia trocada entre o sistema e a
vizinhana na forma de calor. Esta lei no contm restries quanto direo do fluxo de energia
entre dois sistemas. Por exemplo, esta lei permite tanto a passagem de energia na forma de calor de
um corpo de temperatura maior a outro de temperatura menor quanto no sentido inverso. Na
natureza, porm, se observa que possvel a passagem espontnea de energia na forma de calor
apenas de um corpo de temperatura maior a outro de temperatura menor. A segunda lei da
Termodinmica contempla esta falta de correspondncia.
A Segunda Lei da Termodinmica pode ser enunciada como: impossvel realizar um
processo cujo nico efeito seja a produo de trabalho custa da energia na forma de calor, retirada
de uma nica fonte trmica.
Importante ressaltar que a expresso denominada como nico efeito significa que o
processo deve ser cclico, sendo este fator de grande relevncia. Um processo no cclico atravs do
qual a energia retirada de uma nica fonte na forma de calor, seja inteiramente transformada em
trabalho, pode ser perfeitamente pensado. Por exemplo, se um gs com comportamento ideal se
expande isotermicamente em contato com um reservatrio trmico, absorvendo uma quantidade de
energia na forma de calor e realizando um trabalho contra a vizinhana, sendo U = 0, a quantidade
de energia absorvida como calor igual energia perdida como trabalho.
Por outro lado, nenhuma lei natural impede que, num processo cclico, energia na forma de
trabalho seja convertida completamente em energia na forma de calor, como, por exemplo, ao se
forar o movimento relativo de duas superfcies uma em relao outra, quando existe atrito entre
elas.
A Segunda Lei da Termodinmica pode, tambm, ser enunciada da seguinte forma:
impossvel realizar um processo cujo nico efeito seja a transferncia de energia na forma de calor de
uma fonte para outra temperatura maior.
Se o sistema no retorna ao estado inicial, a transferncia perfeitamente possvel. Por
exemplo, um gs pode ser expandido isotermicamente em contato diatrmico com um reservatrio
temperatura T
1
, absorvendo energia na forma de calor, comprimido adiabaticamente at que sua
temperatura aumente para T
2
e, finalmente, comprimido isotermicamente em contato diatrmico com
um reservatrio temperatura T
2
, perdendo energia na forma de calor. Nada impede que o trabalho
total seja nulo. Porm, energia foi transferida na forma de calor de um reservatrio a outro.
177
7.4 Transferncia do Calor
A transferncia de energia na forma de calor de um ponto a outro de um meio pode se dar por
conduo, conveco e radiao.
A conduo o processo de transferncia de calor atravs de um meio material, sob o efeito
de uma diferena de temperatura, sem transporte de matria. Para este estudo, sero utilizados dois
pontos A e B de certo meio, com temperaturas T
A
e T
B
(com T
A
> T
B
) e separados pela distncia entre
pontos X = X
B
X
A
., conforme visualizao na Figura 7.5.
Figura 7.5 Transferncia de calor por conduo entre dois pontos.
Como a quantidade de energia por unidade de rea transversal ao fluxo, Q / A, o qual flui
durante o intervalo de tempo t, proporcional diferena de temperatura T = T
A
T
B
e
inversamente proporcional distncia dx, permite a formulao da Equao 7.16.
X
T
k
t
A Q
ou
X
T
kA
t
Q
(7.16)
onde a constante de proporcionalidade k, caracterstica do meio, denominada condutividade
trmica. O sinal negativo representa o fato de que a energia flui sempre da regio de maior
temperatura para a de menor temperatura. Desta forma, se o gradiente de temperatura T / X for
negativo, isto , se a temperatura diminui numa certa direo, ento, nesta direo, o fluxo de energia
Q / A t positivo.
Os metais so bons condutores de energia na forma de calor. Como exemplo de maus
condutores, cita-se o vidro, a madeira e a porcelana. Os melhores isolantes trmicos so os gases.
Embora os tecidos das roupas e cobertores isolem termicamente, o ar entre as camadas de tecido
que impede o corpo de perder energia na forma de calor.
Para uma barra homognea, por exemplo, de comprimento L e seo reta de rea A, com
uma das extremidades mantida temperatura T
1
e outra a temperatura T
2
, com T
2
> T
1
, na qual no
se verificam perdas de energia na forma de calor atravs de sua superfcie lateral, quando se
178
estabelece o regime estacionrio, ou seja, quando T / x constante, ento a Equao 7.16
passa a ter o formato expresso na Equao 7.17.
L
T T
x
T
1 2
e ( )
1 2
T T
L
kA
t
Q
=
(7.17)
A conveco o processo de transferncia de energia na forma de calor atravs do
movimento de matria e ocorre tipicamente em fluidos (Figura 7.6). Se certa poro de um fluido
aquecida, sua densidade diminui e, com isso, eleva-se por efeito do campo gravitacional e
substituda por fluido mais frio da vizinhana. Assim, formam-se as correntes de conveco.
Figura 7.6 Transferncia de calor por conveco.
Neste contexto, pode-se compreender, por exemplo, a posio do congelador em um
refrigerador domstico e a posio de um aparelho de ar condicionado para maximizar sua eficincia.
A expresso que quantifica a taxa de transferncia por conveco (H) descrita na Equao 7.18,
sendo (k) o coeficiente de transferncia de calor.
L
T T
kA H
1 2
=
(7.18)
A radiao o processo de transferncia de energia por ondas eletromagnticas. Assim, pode
ocorrer tambm no vcuo. As radiaes infravermelhas, em particular, so chamadas ondas de calor,
embora todas as radiaes do espectro eletromagntico transportem energia. Um meio material pode
ser opaco para uma determinada radiao e transparente para outra. O vidro comum, por exemplo,
transparente luz visvel e opaca s radiaes infravermelhas. A expresso que delineia a potncia
emanada pelo corpo por radiao (P
liq
) descrita na Equao 7.19, sendo () igual a 5,6696 x 10
-8
(constante de Boltzmann), (e) como a emissividade do meio, (T) como a temperatura do corpo e (T
0
) a
temperatura do meio em que este corpo se encontra.
) (
4
0
4
T T Ae H =
(7.19)
179
7.5 Mecnica dos Fluidos
A mecnica dos fluidos tem como objetivo utilizar os princpios da mecnica tcnica para o
estudo de foras e movimentos em fluidos. Porm, nesta parte do presente material, somente sero
abordados os fluidos incompressveis, isto , aqueles que transmitem o mesmo valor de presso em
todos os pontos sem alterar seu volume.
7.5.1 Presso Atmosfrica
A presso atmosfrica (P
atm
) a presso exercida sobre a superfcie da Terra pelo peso da
atmosfera. Para mensur-la, Torricelli usou um tubo de vidro com cerca de 1 m de comprimento
fechado em uma das extremidades, emborcando-o em um recipiente contendo tambm mercrio, sem
que entrasse ar no tubo (Figura 7.7). A coluna de mercrio no interior do tubo permaneceu com uma
altura de aproximadamente 760 mm, sustentada pela presso atmosfrica na superfcie livre do
recipiente.
Figura 7.7 Experincia de Torricelli para determinao da presso atmosfrica.
A presso atmosfrica equivalente presso de uma coluna de mercrio de 760 mm de
altura, ao nvel do mar, a 0
o
C e em um local onde a acelerao gravitacional g = 9,8 m/s
2
. Ento,
desta forma, P
atm
= 760 mmHg = 1 atm. A presso atmosfrica pode ser calculada por:
gh
A
Vg
A
mg
P
ATM
=
= =
e como
Hg
= 13,6 10
3
kg m
3
temos, ao nvel do mar:
( )( )( ) Pa 10 76 , 0 s 8 , 9 10 6 , 13
5 2 3 3
=
m m m kg P
ATM
180
7.5.2 Hidrosttica
Hidrosttica o campo de estudo definido por trs princpios, sendo eles os formulados por
Stevin, Pascal e Arquimedes.
Para demonstrar o princpio de Stevin, o qual estabelece que a presso em um fluido com
massa especfica (razo entre a massa e o volume ocupado por um corpo) constante varia
linearmente com a profundidade, considera-se uma poro imaginria de fluido na forma de um
cilindro circular reto com seo reta de rea A e altura h, com a face superior livre para a atmosfera,
conforme ilustra a Figura 7.8.
Figura 7.8 Princpio de Stevin.
A seo superior do cilindro recebe da atmosfera uma fora de mdulo
ATM
AP F =
1
e a
poro de fluido abaixo da base do cilindro imprime nesta base uma fora de mdulo ) h ( AP F
2
= ,
onde ) h ( P a presso no interior do fluido a uma profundidade (h). O cilindro imaginrio tem massa
Ah V m = = , onde () a densidade do fluido. Como esta poro de fluido na forma de um
cilindro est em repouso com o resto do fluido:
mg F F
1 2
+ = ou Ahg AP ) h ( AP
ATM
+ =
e simplificando o fator comum, chega-se equao resultante destes princpios, traduzido ento
atravs da Equao 7.20:
P (h) = P
atm
+ g h
(7.20)
A diferena de presso entre dois pontos de um fluido com massa especfica constante em
repouso no varia, dependendo apenas da diferena de altura em relao a um mesmo referencial
entre esses pontos. Portanto, uma variao de presso produzida em um ponto do fluido em repouso
deve se transmitir a todos os outros pontos. Este resultado constitui o Princpio de Pascal. Como
181
exemplo, a Figura 7.9 apresenta uma representao esquemtica de uma prensa hidrulica. Se a
rea A for igual a 5a, ento se uma fora de 100 N for aplicada na prensa, ela implicar uma
resultante de:
Figura 7.9 Prensa hidrulica.
P
1
= P
2
f / a = F / A F = f A / a = 100 . 3a / a = 300 N
Considerando um corpo cilndrico reto, com seo reta de rea A e altura h, totalmente imerso
em um fluido de densidade , conforme visualizao na Figura 7.6, a resultante das foras superficiais
exercidas pelo fluido sobre o cilindro ser vertical, pois, por simetria, as foras laterais se cancelam
mutuamente e ter mdulo
1 2
F F E = , conforme descrito na Equao 7.21.
( ) ( ) ( ) [ ] ( ) mg Vg g h h A gh P gh P A P P A E
1 2 1 ATM 2 ATM 1 2
= = = + + = =
(7.21)
Como o resultado final no depende da forma do corpo, este ser um resultado genrico.
Ento, como a diferena de presso entre dois pontos de um fluido em repouso constante e varia
somente com o grau de desnvel entre esses pontos, um corpo total ou parcialmente mergulhado em
um fluido recebe deste uma fora (denominada empuxo) vertical, de baixo para cima, de mdulo igual
ao mdulo do peso do fluido deslocado. Esta constatao chamada de Princpio de Arquimedes,
ilustrado na Figura 7.10.
Figura 7.10 Princpio de Arquimedes.
182
7.5.3 Hidrodinmica
Um fluido considerado em escoamento de regime estacionrio ou lamelar se, em cada
ponto do espao, ele possui a mesma velocidade e presso.
Considerando um fluido com massa especfica () em escoamento estacionrio numa
tubulao sem derivaes, como se encontra ilustrado na Figura 7.11. As massas de fluido que
escoam atravs das sees 1 e 2, de reas A
1
e A
2
, durante o intervalo de tempo t so:
Figura 7.11 Escoamento estacionrio.
t v A m
1 1 1
=
t v A m
2 2 2
=
onde v
1
e v
2
so os mdulos das velocidades nas sees 1 e 2, respectivamente. Como no existe
transferncia de massa, m
1
= m
2
, de modo que se obtm a equao da continuidade, expressa na
Equao 7.22, conhecida tambm como o princpio da conservao de massa. A quantidade
denominada vazo dada por Q = A V e representa o volume de fluido que escoa atravs de uma
seo por unidade de tempo.
2 2 1 1
v A v A =
(7.22)
Para um fluido em escoamento estacionrio em uma tubulao, representado na Figura 7.12,
a aplicao da Primeira Lei da Termodinmica nos leva Equao 7.23.
Figura 7.12 Escoamento em uma tubulao.
183
( ) ( )
2
1
2
2
2
1 2
1
2
2
2
1
p g
v v V v v m W W = = +
(7.23)
onde (m) a massa de certo volume (V) de fluido que entra na parte da tubulao com uma
velocidade (v
1
) e sai com uma velocidade (v
2
).
Ento as quantidades:
( ) ( )
1 2 1 2 g
y y Vg y y mg W = =
( )V P P x A P x A P x F x F W
1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 p
= + = + =
representam o trabalho devido diferena de altura entre dois pontos da tubulao e o trabalho do
restante do fluido sobre a poro considerada. Substituindo estas expresses na Equao 7.23,
deduz-se a equao 7.24, a qual representa a Equao de Bernoulli :
2
2
2
1
2 2
2
1
2
1
1 1
v gy P v gy P + + = + +
(7.24)
No exemplo abaixo, mostrado como se determina a velocidade de um fluido, utilizando um
medidor denominado Venturi.
Primeiramente, tem-se um lquido de massa especfica () escoando por uma tubulao de
seo com rea (A
1
) e com um estrangulamento de seo de rea (A
2
), conforme se encontra
ilustrado na Figura 7.13. Entre estas posies adaptado um tubo manomtrico. No estrangulamento,
o mdulo da velocidade do fluido aumenta, devido equao da continuidade, e a presso diminui,
devido ao resultado apontado pela equao de Bernoulli.
Figura 7.13 Medidor Venturi.
184
Considerando a tubulao posicionada horizontalmente, a aplicao da equao de Bernoulli gera:
2
2
2
1
2
2
1
2
1
1
v P v P + = + , e como
2 2 1 1
A v A v = , pela equao da continuidade, temos:
|
|
\
|
= =
2
2
2
2
2
1 2
1
2
1
2 1
A
A A
v P P P ou
( )
2
2
2
1
2
2
1
A A
PA 2
v
=
185
BIBLIOGRAFIA
M. Ashby, Materials and Design: The Art and Science of Materilas Selection in Product Design, Oxford,
ButterworthHeinemann.
W. Braga Filho, Fenmenos de Transporte, Rio de Janeiro, LTC.
W. Braga Filho, Transmisso de Calor, So Paulo, Thomson.
W.D. Callister, Cincia e Engenharia dos Materiais: Uma Introduo, Rio de Janeiro, LTC.
J. Caruso, Mquinas Hidrulicas, CEFET-SP.
V. Chiaverini, Tecnologia Mecnica, Rio de Janeiro, Makron.
H. Colpaert, Metalografia dos Produtos Siderrgicos Comuns, So Paulo, Edgard Blcher.
L.B. Cunha, Elementos de Mquinas, Rio de Janeiro, LTC.
A. E. Diniz, F. C. Marcondes, N. L. Copinni, Tecnologia da Usinagem dos Metais, So Paulo, Artliber.
D. Ferraresi, Fundamentos da Usinagem dos Metais, So Paulo, Edgard Blcher.
J. M. Freire, Introduo s Mquinas-Ferramentas, Rio de Janeiro, Intercincia.
A. Garcia, J.A. Spim, C. A. dos Santos, Ensaios dos Materiais, Rio de Janeiro, LTC.
J.E. Gere, Mecnica dos Materiais, So Paulo, Thomson.
R.V.Giles, J.B Evett, C. Liu, Mecnica de Fluidos e Hidrulica, Rio de Janeiro, Makron
G. Ieno, L. Negro, Termodinmica, Rio de Janeiro, Pearson.
P. V. Marques, P. S. Modenesi, A. Q. Bracarense, Soldagem Fundamentos e Tecnologia, EDUFMG.
S. Melconian, Elementos de Mquinas, So Paulo, rica.
S. Melconian, Mecnica Tcnica e Resistncia dos Materiais, rica.
J. L. Meriam, Mecnica Dinmica, Rio de Janeiro, LTC.
J. L. Meriam, Mecnica Esttica, Rio de Janeiro, LTC.
W. Michaeli, Tecnologia dos Plsticos, So Paulo, Edgard Blcher.
I. B. Morsch, Mecnica, UFRGS.
M. F. Mucheroni, Mecnica Aplicada s Mquinas, EESC-USP.
L. Pareto, Tecnologia Mecnica, So Paulo, Hemus.
F. Provenza, Projetista de Mquinas, So Paulo, Editora Francesco Provenza.
G.A. Soares, Fundio: Mercado, Processo e Tecnologia, Rio de Janeiro, E-Papers.
L. Van Vlack, Princpios de Cincias e Tecnologia dos Materiais, So Paulo, Edgard Blcher.
Você também pode gostar
- Projeto mecânico de vasos de pressão: princípios, fundamentos e filosofia do ASMENo EverandProjeto mecânico de vasos de pressão: princípios, fundamentos e filosofia do ASMEAinda não há avaliações
- Apostila Petrobras BombasDocumento273 páginasApostila Petrobras Bombascarrielocamara94% (16)
- (Apostila) Equipamentos Estáticos - PetrobrasDocumento52 páginas(Apostila) Equipamentos Estáticos - PetrobrasRenatoShikamaru83% (6)
- Tabelas de Caldeiraria PDFDocumento144 páginasTabelas de Caldeiraria PDFNathanLaertePiai100% (5)
- Corte e Costura de Lingerie - Apostila 1Documento54 páginasCorte e Costura de Lingerie - Apostila 1Marcos ViniciusAinda não há avaliações
- 1645 AS053 Nocoes de Valvulas Tubulacoes Industriais e Acessorios PDFDocumento214 páginas1645 AS053 Nocoes de Valvulas Tubulacoes Industriais e Acessorios PDFCor Jesus Ferreira Costa100% (5)
- Inspeção de integridade de dutos: análise de sistema de medição do PIG PalitoNo EverandInspeção de integridade de dutos: análise de sistema de medição do PIG PalitoAinda não há avaliações
- Processos de decapagem, laminação a frio e recozimento de produtos planos de açoNo EverandProcessos de decapagem, laminação a frio e recozimento de produtos planos de açoAinda não há avaliações
- Fundamentos da análise fractográfica de falhas de materias metálicosNo EverandFundamentos da análise fractográfica de falhas de materias metálicosAinda não há avaliações
- Plano de Manutenção - CaminhõesDocumento4 páginasPlano de Manutenção - CaminhõesVinícius Silva100% (5)
- PROMINP-Técnicas de Planejamento e ControleDocumento309 páginasPROMINP-Técnicas de Planejamento e ControleDiego Soares100% (2)
- Aula 03 - Cálculo de Dobras e CurvasDocumento8 páginasAula 03 - Cálculo de Dobras e CurvasDouglas Gomes93% (15)
- Ensaio Visual e Dimension Amen To de Solda n2 PROMIMPDocumento150 páginasEnsaio Visual e Dimension Amen To de Solda n2 PROMIMPOsvaldoPerez100% (8)
- Caldeiraria TraçadosDocumento141 páginasCaldeiraria Traçadossancosta77783% (6)
- Evte Do Parque VS Final PDFDocumento179 páginasEvte Do Parque VS Final PDFSérgio GusmãoAinda não há avaliações
- Manuais de OdontologiaDocumento19 páginasManuais de OdontologiaBruno De Carvalho RamosAinda não há avaliações
- Cálculo Da Taxa de Renovação de ArDocumento5 páginasCálculo Da Taxa de Renovação de ArCarlos Roberto GonçalvesAinda não há avaliações
- Apostila Materiais e Ensaios L - Cap 1-2-3 e 4Documento31 páginasApostila Materiais e Ensaios L - Cap 1-2-3 e 4gabriel costaAinda não há avaliações
- Apostila Bases Da OsteopatiaDocumento40 páginasApostila Bases Da OsteopatiaMaria NunesAinda não há avaliações
- Lógica De Programação: PseudocódigoNo EverandLógica De Programação: PseudocódigoAinda não há avaliações
- Caixa RedutoraDocumento43 páginasCaixa RedutoraDouglas Gomes100% (9)
- Tecido EpitelialDocumento43 páginasTecido EpitelialMarcelo100% (2)
- Revisão de Aterramento para Instalações PrediaisDocumento95 páginasRevisão de Aterramento para Instalações PrediaisNatalia AlmeidaAinda não há avaliações
- DPT II - Apostila Projeto Final II - PdmsDocumento38 páginasDPT II - Apostila Projeto Final II - PdmsRômulo Freitas100% (1)
- TERRAPLANAGEMDocumento12 páginasTERRAPLANAGEMRafaelaLeticiaAinda não há avaliações
- Elementos de MáquinasDocumento66 páginasElementos de Máquinasmfpsnt89% (9)
- Avaliação de Imóveis Urbanos Com Uso de Inferência e Estatística - Xxvii - MaterialDocumento70 páginasAvaliação de Imóveis Urbanos Com Uso de Inferência e Estatística - Xxvii - MaterialjoseAinda não há avaliações
- Teoria Dos Servomecanismos E Do Controle AutomáticoNo EverandTeoria Dos Servomecanismos E Do Controle AutomáticoAinda não há avaliações
- A4 - Prominp Estatistica Aplicada A Metrologia PDFDocumento99 páginasA4 - Prominp Estatistica Aplicada A Metrologia PDFVinicius Rocha MathiasAinda não há avaliações
- Hidráulica CCE0217: Engenharia Civil 2017/1 Paulo Cesar Martins PenteadoDocumento83 páginasHidráulica CCE0217: Engenharia Civil 2017/1 Paulo Cesar Martins PenteadoGilberto Goulart SouzaAinda não há avaliações
- Isótopos Isóbaros Isoeletrônicos IsótonosDocumento1 páginaIsótopos Isóbaros Isoeletrônicos IsótonosBarbara AlvesAinda não há avaliações
- BombasDocumento69 páginasBombasDANDA041980100% (4)
- Apostila de Metrologia - AtualDocumento96 páginasApostila de Metrologia - AtualSebastião LeitãoAinda não há avaliações
- Manual C152Documento57 páginasManual C152Robson RodriguesAinda não há avaliações
- Volume I Eia Caxiense 02.11.2020Documento746 páginasVolume I Eia Caxiense 02.11.2020Cássio Eduardo GrovermannAinda não há avaliações
- Cosmologia - Umbra Alem Das Fronteiras - Mundo Das TrevasDocumento10 páginasCosmologia - Umbra Alem Das Fronteiras - Mundo Das TrevasLuan ClaroAinda não há avaliações
- Apostila AAEPPDocumento179 páginasApostila AAEPPRodrigo MelaniAinda não há avaliações
- Material de Apoio - Sistemas FluidomecanicosDocumento21 páginasMaterial de Apoio - Sistemas FluidomecanicosmicellicamargoAinda não há avaliações
- Instrumentista Reparador - Noções de MetrologiaDocumento73 páginasInstrumentista Reparador - Noções de MetrologiajanchietaAinda não há avaliações
- Metodologia MinayoDocumento121 páginasMetodologia MinayoAnles Almeida100% (3)
- Fundamentos da Estampagem Incremental de Chapas Aplicados ao Aço AISI 304LNo EverandFundamentos da Estampagem Incremental de Chapas Aplicados ao Aço AISI 304LAinda não há avaliações
- Tecnologia Dos Materiais - Complementar PDFDocumento97 páginasTecnologia Dos Materiais - Complementar PDFdiego_lcsouzaAinda não há avaliações
- Matemática - Exercícicos Resolvidos e ComentadosDocumento152 páginasMatemática - Exercícicos Resolvidos e Comentadoscrisanchespin0% (1)
- Apostila IDT - Parte 2Documento54 páginasApostila IDT - Parte 2Giovane RamosAinda não há avaliações
- PPC Sistemas de InformacaoDocumento172 páginasPPC Sistemas de InformacaoMatheus AguiarAinda não há avaliações
- Confiabilidade MetrológicaDocumento100 páginasConfiabilidade Metrológicapetregp100% (1)
- Manual Técnico HidroSedimentosDocumento115 páginasManual Técnico HidroSedimentosIago Silva BarbosaAinda não há avaliações
- Apostila - Raciocínio Lógico Vol1Documento220 páginasApostila - Raciocínio Lógico Vol1Daniel TeixeiraAinda não há avaliações
- Parecer Único SISEMADocumento159 páginasParecer Único SISEMACimos MPMG100% (1)
- Relatorio PTDocumento94 páginasRelatorio PTAnamaria SousaAinda não há avaliações
- Apostila Raciocínio - Lógico - Vol1Documento219 páginasApostila Raciocínio - Lógico - Vol1Angela MarinAinda não há avaliações
- Universidade Federal de Santa Catarina Programa de Pós-Graduação em Engenharia MecânicaDocumento159 páginasUniversidade Federal de Santa Catarina Programa de Pós-Graduação em Engenharia MecânicaDelmir NetoAinda não há avaliações
- Bloco II Patenteabilidade Resolucao 169 2016Documento74 páginasBloco II Patenteabilidade Resolucao 169 2016gisellegAinda não há avaliações
- Curso 220375 Aula 00 Grifado fc33Documento143 páginasCurso 220375 Aula 00 Grifado fc33carolinalmeidanaAinda não há avaliações
- Lei #085 2001 Dispõe Sobre Parcelamento e Ocupação Do Solo e Dá Outras ProvidênciasDocumento77 páginasLei #085 2001 Dispõe Sobre Parcelamento e Ocupação Do Solo e Dá Outras ProvidênciasWagner AlvesAinda não há avaliações
- Economia - Aplicada - PADILHA JRDocumento145 páginasEconomia - Aplicada - PADILHA JRNayara BarbosaAinda não há avaliações
- RELATORIO CapaDocumento30 páginasRELATORIO CapaTHAISLAINE SANTOS DE CAMPOSAinda não há avaliações
- Anexo X - Ecoporto PAEDocumento53 páginasAnexo X - Ecoporto PAEvanessaAinda não há avaliações
- Controle e Automação Industrial 131 PáginasDocumento131 páginasControle e Automação Industrial 131 Páginasbruno_teruoAinda não há avaliações
- SM - Noções Sobre A Gestão Da QualidadeDocumento69 páginasSM - Noções Sobre A Gestão Da QualidadeCharles CruzAinda não há avaliações
- 117 Apostila Pe 2011Documento153 páginas117 Apostila Pe 2011André SantanaAinda não há avaliações
- Apostila Welliandre - Notas - Aulas - Estatística - BásicaDocumento128 páginasApostila Welliandre - Notas - Aulas - Estatística - BásicaElias Sá CavalcanteAinda não há avaliações
- M5 Pilot's Guide - PortugueseDocumento10 páginasM5 Pilot's Guide - PortugueseMayandson TomazAinda não há avaliações
- GUIA DO USUÁRIO. Bebedouros EGM30 EGC35B.Documento8 páginasGUIA DO USUÁRIO. Bebedouros EGM30 EGC35B.Edson Alves dos Santos JuniorAinda não há avaliações
- Serralheria Ferramentas e EquipamentosDocumento65 páginasSerralheria Ferramentas e EquipamentosvsdacostaAinda não há avaliações
- Lista de Exercícios 1Documento2 páginasLista de Exercícios 1Pokémon BRAinda não há avaliações
- Pirômetro À Radiação TotalDocumento19 páginasPirômetro À Radiação TotalDanielly Furtado100% (1)
- Métodos de Amostragem e Distribuições AmostraisDocumento11 páginasMétodos de Amostragem e Distribuições AmostraisPedro CândidoAinda não há avaliações
- Vestibular UEM2020Documento6 páginasVestibular UEM2020Lucas FrigideiraAinda não há avaliações
- Ficha-7-Permutações-12º AnoDocumento4 páginasFicha-7-Permutações-12º AnoCAMILA ALEXANDRA CAMPOS DUARTEAinda não há avaliações
- Cap 5 - GillespieDocumento31 páginasCap 5 - GillespieAndré CerciariAinda não há avaliações
- Dureza e A Presença de Cálcio Na ÁguaDocumento3 páginasDureza e A Presença de Cálcio Na ÁguaDébora AlvimAinda não há avaliações
- Anatomia - Cavidade PleuralDocumento27 páginasAnatomia - Cavidade PleuralRafael RodriguesAinda não há avaliações
- Princípios Físicos Hidráulica Industrial.Documento20 páginasPrincípios Físicos Hidráulica Industrial.Alberto Jorge DariusAinda não há avaliações
- Apostila Curso PLC - Automação PDFDocumento36 páginasApostila Curso PLC - Automação PDFDiogoRocha100% (1)
- PC Cai Caldeireiro 2013Documento38 páginasPC Cai Caldeireiro 2013Diego AndradeAinda não há avaliações
- Case Construction Miniexcavadeira Hidraulica Cx36b PO PDFDocumento4 páginasCase Construction Miniexcavadeira Hidraulica Cx36b PO PDFMarcus Venicius100% (1)
- Razão e Proporção No Enem - Revisão Com Aula Grátis Khan AcademyDocumento9 páginasRazão e Proporção No Enem - Revisão Com Aula Grátis Khan AcademyluanapmAinda não há avaliações
- Prova 2 - 2020.1Documento7 páginasProva 2 - 2020.1Carolina BritesAinda não há avaliações
- Notas de Aula - Hidraulica IDocumento14 páginasNotas de Aula - Hidraulica ITiago QuevedoAinda não há avaliações
- Mestrado em Ciências Da Computação - Ref BibliograficasDocumento9 páginasMestrado em Ciências Da Computação - Ref BibliograficasMia EsperançaAinda não há avaliações
- Grupos Dos Seminários - Trilha - Vesp.Documento2 páginasGrupos Dos Seminários - Trilha - Vesp.VictoriaAinda não há avaliações
- Estatística Básica - 4 Medidas de Posição 2023Documento32 páginasEstatística Básica - 4 Medidas de Posição 2023clasherzika157Ainda não há avaliações
- Windows 10 - Erro Winload - Erro 0xc000000e - Microsoft CommunityDocumento14 páginasWindows 10 - Erro Winload - Erro 0xc000000e - Microsoft CommunityvaikaganoAinda não há avaliações