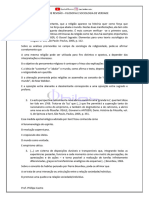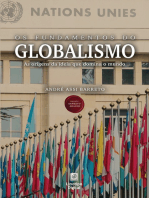Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Velho
Velho
Enviado por
Gláucia SantosDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Velho
Velho
Enviado por
Gláucia SantosDireitos autorais:
Formatos disponíveis
MANA 7(2):133-140, 2001
ARTIGO BIBLIOGRFICO
DE BATESON A INGOLD: PASSOS NA
CONSTITUIO DE UM PARADIGMA ECOLGICO*
Otvio Velho
BATESON, Gregory. 2000 [1972]. Steps to an Ecology of Mind. Chicago: The
University of Chicago Press.
INGOLD, Tim. 2000. The Perception of the Environment: Essays in Livelihood, Dwelling and Skill. London: Routledge.
A natureza cientfica das cincias sociais nunca deixou de ser um problema. Uma soluo elegante, que vem do final do sculo XIX e associada a Dilthey (e posteriormente a Weber), consistiu em distinguir as
cincias do esprito (Geisteswissenschaften) das cincias da natureza (Naturwissenschaften). Essa soluo, aparentemente nova, na verdade no fez mais do que se enquadrar num dos lados de uma oposio fundante entre natureza e cultura. Oposio que, juntamente com uma srie
de outras (como a entre sujeito e objeto e entre razo e emoo), parece
fazer parte de um quadro que ganhou organizao especial no sculo
XVIII (sendo radicalizado no sculo seguinte) e que costuma ser associado modernidade (qui, no caso, preferencialmente por sua via romntica). Um dos efeitos nas cincias sociais foi, tambm, erigir a interpretao como procedimento que se ope explicao, este ltimo prprio s
cincias da natureza.
Embora nem todos os antroplogos tenham aceito o rtulo de interpretacionistas, talvez se possa consider-lo como a formalizao de um
estilo que prevalece hoje de modo amplo entre ns, sobretudo na distino com outros, mais antigos, como o da vertente materialista, associada
a autores como Marvin Harris, Leslie White e o primeiro Marshall Sahlins.
Esse estilo se funda na aceitao de um grande divisor entre o nosso campo e o das cincias da natureza. E nisso tambm estaramos seguindo tendncias mais amplas, como a da influente caracterizao de duas culturas, a cientfica e a humanista-literria, feita por C. P. Snow (1959) e outros.
O fato de essa elegante soluo se apoiar na oposio entre natureza e cultura no causou maior mossa at recentemente. Trata-se, afinal,
134
ENSAIO BIBLIOGRFICO
de consagrada oposio, associada, entre outras, obra de Claude LviStrauss (para quem, no entanto, a oposio no se identifica com esse
divisor) e que produziu frutos inegveis. Diria, no entanto, que nos ltimos anos novos ventos tm soprado. Ventos que, de certa forma, denunciam a contradio de uma postura que se quer frente de outras, mais
acomodadas, ao mesmo tempo que se apia, sem se posicionar a esse respeito, no postulado de um iluminismo crescentemente desafiado.
possvel dizer-se que, de um ponto de vista estratgico, uma grande vantagem da postura interpretacionista foi a de erigir defesas contra
as pretenses imperialistas provindas das cincias da natureza, sempre
prontas a se manifestar entre ns atravs dos seus epgonos, na forma
dos diversos reducionismos. Mesmo que, num plano menos emprico,
se possa considerar que at os diversos e legitimados sociologismos e culturalismos tambm tero sido tributrios desse domnio, por se subordinarem imagem comtiana dos nveis de complexidade. De qualquer forma, o preo a pagar por essa estratgia, afora a ciso ocorrida no interior
da prpria antropologia entre o seu lado sociocultural e o biolgico, foi
precisamente manter-se na defensiva, influindo pouco nos debates cientficos contemporneos. Ao entusiasmo ideolgico pelo cientificismo, respondeu-se com uma recusa. Recusa que, na verdade, confirmava o cientificismo, por ignorar, paradoxalmente e no mesmo movimento, o diagnstico da grande crise da cincia, feito desde Husserl. Crise, alis, que
talvez se pudesse considerar, hoje, como sendo sobretudo a das suas
(auto-)imagens, camuflada pelo avano espantoso da cincia normal
possibilitada por novas tecnologias e que sugere a existncia de uma prtica cientfica que, pelo menos em parte, no se reduz a essas (auto-)imagens, ideologicamente poderosas.
Postura diferente teve Gregory Bateson (1904-1980). Por isso mesmo, de modo geral, considerou-se que aps a publicao da sua monografia Naven, em 1936, esse antroplogo, filho de conhecido naturalista,
teria, aos poucos, se afastado da antropologia. Diagnstico que aparentemente o prprio Bateson no aceitou, pois sugeria que a antropologia
que o deixara (Harries-Jones 1995). O novo interesse que a sua obra vem
despertando hoje, mesmo entre antroplogos (Bateson 2000), talvez seja
indicao (e fonte) da mudana nos ventos.
O mais recente grande sinal desses novos ventos foi a publicao do
livro de Tim Ingold, The Perception of the Environment: Essays in Livelihood, Dwelling and Skill (Ingold 2000). So 23 ensaios, em sua maioria
novas verses de publicaes anteriores, que constituem no conjunto a
sntese de uma linha de trabalho amadurecida. De Bateson a Ingold, para
DE BATESON A INGOLD: PASSOS NA CONSTITUIO DE UM PARADIGMA ECOLGICO
alm de importantes diferenas, percorre-se uma linha comum. Mas
Ingold absorve, ainda, outras influncias, como a de Maurice MerleauPonty. A fenomenologia da percepo de Merleau-Ponty (1971), deslocando o foco de anlise de um ser abstrato que d sentido ao mundo para
um ser-no-mundo (e, ao contrrio de outros filsofos, com profuso de
exemplos concretos retirados da psicologia da Gestalt), fundamental no
desenvolvimento do pensamento de Ingold. Tambm o o reencontro com
a psicologia por via de sua vertente ecolgica (Gibson 1986).
A ecologia e com ela o holismo na verdade uma refernciachave desde Bateson. Faz parte da discusso de outra polaridade, entre
sujeito e objeto. Com a ajuda da vertente fenomenolgica de MerleauPonty (e das noes de ser e habitar o mundo), a ecologia de fato parece
propcia para um deslocamento do sujeito cartesiano e, com ele, da srie
de oposies que inclui aquela entre natureza e cultura. Ingold chega a
falar em um novo paradigma ecolgico. Ecos de Espinosa, alm de
Heidegger.
evidente que, dependendo do gosto, se pode igualmente acentuar
as continuidades. O prprio Merleau-Ponty (1991) chamou a ateno para
o interesse que nutria Lvi-Strauss pelas estruturas de parentesco complexas, onde no vige em termos absolutos o tabu do incesto e, portanto,
a negao imediata da natureza. Nesse segundo tipo de cultura, a tendncia seria a um corpo a corpo com a natureza, espcie de jogo, misto de artimanha e intimidade, que inclusive d origem cincia e aponta
para uma relao mais geral de alteridade, de que a negao direta da
natureza seria apenas um caso-limite. O homem e a sociedade, segundo
Merleau-Ponty, passam, ento, a ser reconhecidos como no estando exatamente fora da natureza e do biolgico. E, na contramo do romantismo
da antropologia, nossa sociedade ganha uma dignidade antropolgica
nova, expressa na prtica cientfica. Deixa-se de obedecer mecanicamente a leis que, no fundo, funcionariam como se fossem as de uma segunda
natureza que ocultaria a primeira (o que, diria Bateson, no significa que
a primeira seja de fato to mecnica). Surge, inclusive, pela primeira vez,
a possibilidade de uma (multi)civilizao mundial (outro tema atual), produto da flexibilizao das fronteiras entre culturas ocorrida no mesmo
processo.
Essas aproximaes possveis, no entanto, no reduzem a dramaticidade das diferenas existentes, se as encararmos como movimento mais
geral, cujas vastas implicaes a discusso acima permite vislumbrar.
Mas a oposio mesma entre natureza-cultura se mostra menos direta,
mais paradoxal. Como se a insistncia na oposio ocultasse-revelasse
135
136
ENSAIO BIBLIOGRFICO
uma dvida de fundo sobre a realidade dessa separao, e a proposta de
reencontro por sua vez implicasse uma nostalgia que revela-oculta uma
separao que quer ser superada. Em ambos os casos, no so atos comunicativos constatativos ou performativos (no sentido dado por Austin) que
esto em jogo, mas emotivos o referente do enunciado mudando em
funo do prprio enunciado (Reddy 1997). A escolha por um dos lados
(oposio ou no entre natureza e cultura) no puramente objetiva, pois
depende de inmeros fatores em que o social e o individual se imbricam
um no outro. E essa escolha , de certa forma, poltica, por referir-se a
modos de habitar o mundo, e no simplesmente a representaes.
Fazendo prosa sem declar-lo, possvel que tudo isso j v se refletindo, sub-repticiamente, no trabalho dos antroplogos. Refletindo-se
mesmo, indiretamente, atravs de uma releitura do que pensam nossos
nativos a respeito desses assuntos; o que constitui estratgia retrica
eficaz entre ns, embora no constitua prova necessria para quem j
desafia efetivamente o paradigma da linguagem e no supe que o
real se reduza ao discurso ou seja por ele espelhado ou produzido. Alis,
tambm pode ocorrer o reflexo desse movimento nas crticas atuais ao
construcionismo, que em suas vrias vertentes parecia, h muito poucos anos atrs, ter dado um golpe mortal no essencialismo e com isso
se estabelecido de vez num plano metaterico. Talvez o golpe tenha sido
de fato desferido, mas isso aparentemente no representou o fim da histria, e hoje abundam as tentativas de sntese.
Na verdade, o construcionismo poderia ser reconhecido como uma
das metamorfoses do niilismo, o qual no veria sentido no mundo. Contra isso hoje se apresentam noes como a de affordance (traduzvel, talvez, como propiciao) e que seria oferecida pelos objetos, lugares e
eventos que nos cercam. Essa idia oriunda da psicologia ecolgica
(Gibson 1986), mas pretende-se estend-la antropologia por meio da
noo de informao ecolgica (Reed 1988). Esta e outras noes parecem ter relao com a crtica (no mencionada por Ingold) que Hans
Jonas (1996) dirigiu a Heidegger e ao existencialismo, por negarem a
relao entre o indivduo e o cosmos, reminiscente, para ele, da gnose
crtica dirigida tambm ao conseqente no-reconhecimento da existncia na natureza, ou seja, da capacidade desta para gerar valor (Jonas
1996; Velho 1998).
No estaria em jogo, assim, um retorno ao essencialismo. Para Jonas,
trata-se, justamente, de estender a existncia natureza, e, portanto, os
limites do mundo que habitamos, embora ativamente. Construmos no
mundo, que constitui um meio ambiente. E, com Bateson, trata-se de
DE BATESON A INGOLD: PASSOS NA CONSTITUIO DE UM PARADIGMA ECOLGICO
reconhecer que as propriedades no so das coisas em si, nem esto
nelas; so apenas diferenas, e s existem em relao. Por outro lado,
reconhece-se tambm que a experincia perceptiva pode ser subjetiva,
mas no os processos que a engendram. Nem o primado do objeto, nem
do sujeito. Da a nfase de Ingold na noo de skill, referida a habilidades aprendidas que incluiriam at mesmo supostas capacidades inatas,
como andar ou falar.
Da tambm a centralidade da comunicao, que no apangio dos
seres humanos. Mas comunicao que se d em mltiplos planos e que a
mais das vezes, ao mesmo tempo que desafia as razes da lgica e da
conscincia e, portanto, em termos mais radicais, o logocentrismo ,
afirma a existncia de sistemas autopoiticos, auto-organizantes (na
expresso dos bilogos chilenos Maturana e Varela (1980), que, no entanto, no acentuam a dimenso comunicativa). Tais sistemas se desenvolvem contra a tendncia geral entropia e definem unidades do processo
evolutivo que vo muito alm do que pretendem os darwinistas o que
seria consistente com um paradigma ecolgico que reconhea (meta)
padres de conexo e processos de abduo (retomando noo de C. S.
Peirce). De novo, ecos de Espinosa, mas atravs de Bateson.
Estamos longe, aqui, da exaltao da reflexividade e/ou da representao, abrindo-se espao para o imenso terreno do processo primrio, aparentado ao pr-objetivo de Merleau-Ponty. Terreno no do irracionalismo, mas das razes do corao, na expresso de Pascal retomada repetidamente por Bateson (inclusive numa defesa do intelectualismo de Lvi-Strauss). Aqui, a metfora e o simbolismo no existem como
figuras de linguagem, mas apenas se tomados como modo de comunicao vital, no seu sentido mais forte. Da mesma forma, pode-se contestar a associao permanente do biolgico ao universal e do cultural ao
particular, pois medida que o biolgico deixa de ser reduzido ao gentico (reduo que, para Ingold, representa a manifestao no interior da
biologia do logocentrismo, na forma da suposio de que os fenmenos
manifestos do mundo fsico esto subscritos ao trabalho da razo), podese reconhecer que a cultura nele se imprime. A se coloca a problemtica
do embodiment (encorporao), que para Bateson (ao contrrio, aqui,
de Merleau-Ponty e de antroplogos por ele inspirados, como Csordas
1994) tem como suporte, no propriamente corpos, mas relaes, padres
comunicativos. Mas ao mesmo tempo, mais radicalmente, pode-se dizer
que em um plano fenomenolgico, pr-objetivo, a cultura sequer existiria em si e da a centralidade da noo de skill , o que, por sua vez,
lembra a elaborao de Roy Wagner a respeito da (re)inveno da cultu-
137
138
ENSAIO BIBLIOGRFICO
ra. Lembra tambm os signos no simblicos de Peirce (o ndice e o cone),
que antecipam um questionamento do postulado do arbitrrio cultural.
Assim, no se trata mais uma vez de subordinar as cincias sociais
s cincias da natureza, mas de realizar uma crtica da cincia ou pelo
menos das imagens, poderosas, que se formam a seu respeito. Nisso, no
se deve confundir inteiramente essas imagens com a prtica cientfica
como por vezes Ingold corre o risco de fazer para no se incorrer numa
espcie de logocentrismo de segundo grau. Sair da defensiva. Etnografar, contextualizar, estabelecer as redes de comunicao do modo mais
amplo possvel so alguns dos procedimentos a serem estendidos ao terreno dos bilogos. As ltimas e surpreendentes questes levantadas pelo
desenvolvimento do Projeto Genoma parecem sugerir a sua pertinncia.
Sem que se subestime a nossa prpria inconclusa tarefa de aprendizes
na operacionalizao de uma prtica de pesquisa associada a essas idias,
podemos, sem dvida, reconhecer estarmos diante de um campo de discusso estimulante e que, entre outras conseqncias, pode levar a antropologia a ocupar um lugar significativo nos debates cientficos atuais.
Recebido em 13/7/01
Aprovado em 20/7/01
Otvio Velho professor-titular do Programa de Ps-Graduao em Antropologia Social (PPGAS) do Museu Nacional/UFRJ. autor de Besta-Fera:
Recriao do Mundo (1995), entre outros, e ex-presidente da Associao
Nacional de Ps-Graduao e Pesquisa em Cincias Sociais (ANPOCS).
Nota
* Agradeo a Amir Geiger, Hugo Lovisolo e Juarez Humberto Ferreira pelos
generosos comentrios.
DE BATESON A INGOLD: PASSOS NA CONSTITUIO DE UM PARADIGMA ECOLGICO
Referncias bibliogrficas
CSORDAS, Thomas J. (org.). 1994. Em-
bodiment and Experience: The Existential Ground of Culture and Self.
Cambridge: Cambridge University
Press.
GIBSON , James. 1986 [1979]. The Ecological Approach to Visual Perception. London: Lawrence Erlbaum.
HARRIES-JONES , Peter. 1995. A Recursive Vision: Ecological Understanding and Gregory Bateson. Toronto:
University of Toronto Press.
JONAS , Hans. 1996. Mortality and
Morality: A Search for the Good after Auschwitz. Evanston: Northwestern University Press.
MATURANA, Humberto R. e VARELA,
Francisco J. 1980. Autopoiesis and
Cognition: The Realization of the
Living. Dordrecht/Boston: D. Reidel.
MERLEAU-PONTY, Maurice. 1971 [1945].
Fenomenologia da Percepo. Rio
de Janeiro: Freitas Bastos.
___ . 1991 [1960]. De Mauss a Claude
Lvi-Strauss. In: Signos. So Paulo:
Martins Fontes. pp. 123-135.
REDDY, William M. 1997. Against Constructionism: The Historical Ethnography of Emotions. Current Anthropology, 38(3):327-352.
REED, Edward S. 1988. The Affordances of the Animate Environment: Social Science from the Ecological Point of View. In: T. Ingold
(org.), What Is an Animal. London:
Routledge. pp. 110-126.
SNOW , C. P. 1959. The Two Cultures
and the Scientific Revolution. Cambridge: Cambridge University Press.
VELHO, Otvio. 1998. Ensaio Hertico
sobre a Atualidade da Gnose. Horizontes Antropolgicos, 4(8):34-52.
139
140
ENSAIO BIBLIOGRFICO
Resumo
Abstract
Em 2000 foi finalmente reeditado o
mais importante livro de Gregory Bateson, Steps to an Ecology of Mind. Nesse
mesmo ano, foi lanado o livro de Tim
Ingold, The Perception of the Environment, que retoma muitas das preocupaes de Bateson. Este ensaio considera
que esses dois eventos marcam passos
importantes na constituio de um paradigma ecolgico, o qual vem responder a alguns dilemas que rondam a antropologia e abrir perspectivas para um
dilogo interdisciplinar em novas bases.
Palavras-chave Ecologia, Natureza,
Cultura, Cincia, Meio Ambiente
Gregory Batesons most important
book, Steps to an Ecology of Mind, was
finally re-edited in 2000. In the same
year, Tim Ingolds book, The Perception of the Environment, which takes
up many of Batesons preocupations,
was released. This essay proposes that
these two events represent important
steps towards an ecological paradigm,
which attempts to answer some of anthropologys dilemas, and open up perspectives for interdisciplinary dialogue
on new terms.
Key words Ecology, Nature, Culture,
Science, Environment
Você também pode gostar
- Amuleto de Sorte PDFDocumento1 páginaAmuleto de Sorte PDFPaulo BüllAinda não há avaliações
- Relativizando o RelativismoDocumento11 páginasRelativizando o RelativismojoaninhacamposAinda não há avaliações
- Manifesto AbaeteDocumento8 páginasManifesto AbaetejulibazzoAinda não há avaliações
- Múltiplos e Animados Modos de Existência: Entrevista Com Bruno LatourDocumento21 páginasMúltiplos e Animados Modos de Existência: Entrevista Com Bruno LatourChrisálida LycaenidaeAinda não há avaliações
- E Que Narciso Acha Feio o Que Nao e PDFDocumento12 páginasE Que Narciso Acha Feio o Que Nao e PDFElisa MaranhoAinda não há avaliações
- Antropologia e ReligiaoDocumento22 páginasAntropologia e ReligiaolidicemeyerAinda não há avaliações
- Resenha Sobre A Física e Suas Inerações e InterfacesDocumento4 páginasResenha Sobre A Física e Suas Inerações e InterfacesElained SilvaAinda não há avaliações
- Alteridade RadicalDocumento19 páginasAlteridade RadicalAllisson VieiraAinda não há avaliações
- Philipe DescolaDocumento30 páginasPhilipe DescolaBerlano AndradeAinda não há avaliações
- Jean Michel Berthelot - Os Novos Desafios Epistemológicos Da Sociologia PDFDocumento22 páginasJean Michel Berthelot - Os Novos Desafios Epistemológicos Da Sociologia PDFthalesleloAinda não há avaliações
- VELHO, Otávio. Globalização - Antropologia e Religião. 1997.Documento22 páginasVELHO, Otávio. Globalização - Antropologia e Religião. 1997.Sonia LourençoAinda não há avaliações
- Manifesto Do NadaDocumento25 páginasManifesto Do NadaAluysio AthaydeAinda não há avaliações
- Agnes - 1Documento5 páginasAgnes - 1last LizzyAinda não há avaliações
- MotaDocumento12 páginasMotaSimone Fontoura da SilvaAinda não há avaliações
- BIB Bib9303 2020 - MAY PDFDocumento25 páginasBIB Bib9303 2020 - MAY PDFLuciana dos SantosAinda não há avaliações
- Ciências Naturais e Ciências Do Espirito 1887-Texto Do Artigo-6848-2-10-20110623Documento17 páginasCiências Naturais e Ciências Do Espirito 1887-Texto Do Artigo-6848-2-10-20110623OtelinoAinda não há avaliações
- Ribeiro Sincronia Diacronia Braudel Levi StraussDocumento19 páginasRibeiro Sincronia Diacronia Braudel Levi StrausstodogomiAinda não há avaliações
- Artigo FenomenologiaDocumento15 páginasArtigo FenomenologiaWallace Felipe Ferreira da SilvaAinda não há avaliações
- Ta192 06032006 102834Documento16 páginasTa192 06032006 102834Rdf DfgwefeafAinda não há avaliações
- HAESBAERT, Rogério. Filosofia, Geografia e Crise Da ModernidadeDocumento30 páginasHAESBAERT, Rogério. Filosofia, Geografia e Crise Da ModernidadeWagner Vinicius Amorim100% (1)
- Perguntar-Se Pelas Memórias: A Presença Como Paradigma InvestigativoDocumento12 páginasPerguntar-Se Pelas Memórias: A Presença Como Paradigma InvestigativoNi RamalhoAinda não há avaliações
- DILTHEY Wilhelm Introducao As Ciencias Humanas - TDocumento5 páginasDILTHEY Wilhelm Introducao As Ciencias Humanas - TLynda LelesAinda não há avaliações
- A Relação Natureza e Cultura - O Debate Antropológico e As Contribuições de VygotskiDocumento9 páginasA Relação Natureza e Cultura - O Debate Antropológico e As Contribuições de VygotskileonardorosasAinda não há avaliações
- 02 Texto 01 (Sadi Dal Rosso)Documento16 páginas02 Texto 01 (Sadi Dal Rosso)Osmar VitorAinda não há avaliações
- Resumo Crítico Da ObraDocumento4 páginasResumo Crítico Da ObraAdelino JairosseAinda não há avaliações
- Arte Depois Da FilosofiaDocumento17 páginasArte Depois Da FilosofiaRadael JuniorAinda não há avaliações
- Resenha - Introdução A Uma Ciência Pós-ModernaDocumento10 páginasResenha - Introdução A Uma Ciência Pós-ModernaFrancelma Lima Ramos de OliveiraAinda não há avaliações
- 04 - Corrêa e Baltar. o Antinarciso No Século Xxi - A Questão Ontológica Na Filosofia e Na AntropologiaDocumento24 páginas04 - Corrêa e Baltar. o Antinarciso No Século Xxi - A Questão Ontológica Na Filosofia e Na AntropologiaJúlia GomesAinda não há avaliações
- 05 Crise RazaoDocumento13 páginas05 Crise RazaoCamila FerreiraAinda não há avaliações
- Epigênese e Epigenética: As Muitas Vidas Do Vitalismo OcidentalDocumento29 páginasEpigênese e Epigenética: As Muitas Vidas Do Vitalismo OcidentalEdu RochaAinda não há avaliações
- CorpomidiaDocumento12 páginasCorpomidiaAndre OutroAinda não há avaliações
- WelschDocumento22 páginasWelschMarcos Villela PereiraAinda não há avaliações
- Verbete - Explicacao e Compreensao Incomp PDFDocumento14 páginasVerbete - Explicacao e Compreensao Incomp PDFVongoltzAinda não há avaliações
- Claudete Daflon - NaturezaDocumento52 páginasClaudete Daflon - NaturezarafaelascardinoAinda não há avaliações
- Mais alguma antropologia: Ensaios de geografia do pensamento antropológicoNo EverandMais alguma antropologia: Ensaios de geografia do pensamento antropológicoAinda não há avaliações
- Sociologia e o Meio AmbienteDocumento26 páginasSociologia e o Meio AmbienteeduribeAinda não há avaliações
- Paradigmas Boaventura SantosDocumento3 páginasParadigmas Boaventura SantosLou FigAinda não há avaliações
- LATOUR Diante GaiaDocumento3 páginasLATOUR Diante GaiaMayara SenaAinda não há avaliações
- Dooyeweerd e E. VoegelinDocumento9 páginasDooyeweerd e E. VoegelinvieirasantoswilliamAinda não há avaliações
- Aula 7 de RevisãoDocumento4 páginasAula 7 de RevisãoPhillipe Castro de LiraAinda não há avaliações
- Texto 2 Epistemologia Psicologia A Revolucao Cientifica Moderna H JapiassuDocumento61 páginasTexto 2 Epistemologia Psicologia A Revolucao Cientifica Moderna H JapiassuValériaAinda não há avaliações
- Simanke - Ciencias Naturais e Ciencias HumanasDocumento15 páginasSimanke - Ciencias Naturais e Ciencias Humanasrodrigo100% (1)
- A Geografia Esta em Crise Viva A GeografiaDocumento12 páginasA Geografia Esta em Crise Viva A GeografiapedrodearaujoquentalAinda não há avaliações
- LukácsDocumento23 páginasLukácsrafaelle1959Ainda não há avaliações
- Antropologia É CiênciaDocumento4 páginasAntropologia É CiênciaUbirajara ZoccoliAinda não há avaliações
- 2015 - Ciências Humanas O Que São, para Que ServemDocumento16 páginas2015 - Ciências Humanas O Que São, para Que ServemLília PintoAinda não há avaliações
- Tânia Stolze PDFDocumento10 páginasTânia Stolze PDFugomaia-1Ainda não há avaliações
- RESUMO: DILTHEY, Wilhelm. Introdução Às Ciências Humanas - Tentativa de Uma Fundamentação para o Estudo Da Sociedade e Da História.Documento4 páginasRESUMO: DILTHEY, Wilhelm. Introdução Às Ciências Humanas - Tentativa de Uma Fundamentação para o Estudo Da Sociedade e Da História.Marcelo RoccoAinda não há avaliações
- A Dupla Ruptura Epistemológica de Boaventura de Sousa Santos: Delineamentos para DebateDocumento9 páginasA Dupla Ruptura Epistemológica de Boaventura de Sousa Santos: Delineamentos para DebateAriston AzevedoAinda não há avaliações
- WOORTMANN, K. Religião e Ciência No RenascimentoDocumento86 páginasWOORTMANN, K. Religião e Ciência No RenascimentoDavid DamascenoAinda não há avaliações
- ANT002Documento8 páginasANT002b bbAinda não há avaliações
- O Materialismo Nietzsche PDFDocumento44 páginasO Materialismo Nietzsche PDFMarcello LuchiniAinda não há avaliações
- Jamais Fomos Modernos, Stengers, Mol e Viveiros de CastroDocumento22 páginasJamais Fomos Modernos, Stengers, Mol e Viveiros de CastroLeitorado Guimarães EquadorAinda não há avaliações
- Chakrabarty (Português)Documento12 páginasChakrabarty (Português)Lucas Marques100% (1)
- O CientificismoDocumento8 páginasO CientificismoDias DanielAinda não há avaliações
- Os fundamentos do globalismo: As origens da ideia que domina o mundoNo EverandOs fundamentos do globalismo: As origens da ideia que domina o mundoAinda não há avaliações
- Biopolítica - Biopoder, o Formato Da Guerra No Poder ContemporâneoDocumento6 páginasBiopolítica - Biopoder, o Formato Da Guerra No Poder ContemporâneoPaulo BüllAinda não há avaliações
- Alcoolismo e Violência em Etnias Indígenas, Uma Visão Crítica Da Situação BrasileiraDocumento7 páginasAlcoolismo e Violência em Etnias Indígenas, Uma Visão Crítica Da Situação BrasileiraPaulo BüllAinda não há avaliações
- Langdon, O Abuso de Álcool Entre Os Indígenas BrasileirosDocumento22 páginasLangdon, O Abuso de Álcool Entre Os Indígenas BrasileirosPaulo BüllAinda não há avaliações
- O Homem Do Castelo Alto - Philip K DickDocumento172 páginasO Homem Do Castelo Alto - Philip K DickPaulo Büll100% (3)
- Os Anos JK, Como Fala A História - Jean Claude BernadetDocumento5 páginasOs Anos JK, Como Fala A História - Jean Claude BernadetPaulo BüllAinda não há avaliações
- A Outra Margem Do Ocidente Resenha Renato StzutmanDocumento8 páginasA Outra Margem Do Ocidente Resenha Renato StzutmanPaulo BüllAinda não há avaliações
- Althusser Sobre Levi StraussDocumento9 páginasAlthusser Sobre Levi StraussPaulo BüllAinda não há avaliações