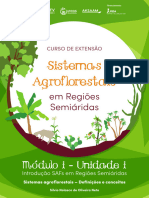Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Importância Dos Levantamentos Floristicos e Fitossociologicos
A Importância Dos Levantamentos Floristicos e Fitossociologicos
Enviado por
Marcos AlbertoDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A Importância Dos Levantamentos Floristicos e Fitossociologicos
A Importância Dos Levantamentos Floristicos e Fitossociologicos
Enviado por
Marcos AlbertoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
V. 9, n. 2, p. 42-48, abr - jun, 2013.
UFCG - Universidade Federal de Campina Grande.
Centro de Sade e Tecnologia Rural - CSTR. Campus
de Patos - PB. www.cstr.ufcg.edu.br
Revista ACSA:
http://www.cstr.ufcg.edu.br/acsa/
Revista ACSA - OJS:
http://150.165.111.246/ojs-patos/index.php/ACSA
AGROPECURIA CIENTFICA NO SEMIRIDO
ISSN 1808-6845
Reviso
A importncia dos levantamentos
florstico e fitossociolgico para a
conservao e preservao das
florestas
RESUMO
Alan Del Carlos Gomes Chaves1;
Roslia Maria de Sousa Santos2;
Jos Ozildo dos Santos3;
Almair de Albuquerque Fernandes4;
Patrcio Borges Maracaj5;
______________________
*Autor para correspondncia
Recebido para publicao em 14/12/2012. Aprovado em 30/03/2013.
1
Graduado em Geografia pela FIP, Especialista em Educao Ambiental
e Sustentabilidade e mestrando em Sistemas Agroindustriais pela UFCG,
Pombal - PB. E-mail: alandcgc@hotmail.com
2
Diplomada em Gesto Pblica, Especialista em Direito Administrativo
e em Gesto Pblica, aluna especial do Curso de Mestrado em Sistemas
Agroindustriais pela UFCG - Pombal - PB.
Email: roseliasousasantos@hotmail.com
3
Diplomado em Gesto Pblica, Especialista em Direito Administrativo
e em Gesto Pblica, mestrando em Sistemas Agroindustriais pela
UFCG - Pombal - PB. E-mail: ozildoroseliasolucoes@hotmail.com
4
Graduado em Geografia, especialista em Cincias da Educao e em
Geopoltica e Histria, mestrando em Sistemas Agroindustriais pela
UFCG - Pombal - PB. E-mail: pazeluzalmair@gmail.com
5
Eng. Agrnomo e Doutor Engenheiro Agrnomo pela UCO - Universidad de
Crdoba Espana, Titulo convalidado pela USP como D, Sc, Entomologia
E-mail: patricio@ufcg.edu.br
O objetivo deste trabalho foi mostrar que os
conhecimentos florstico e fitossociolgico das
florestas so fundamentais para a conservao e
preservao destas formaes. Na atualidade, a
conservao da biodiversidade representa um dos
maiores desafios, em funo do elevado nvel de
perturbaes antrpicas dos ecossistemas naturais,
existentes no Brasil. Nesse contexto, os estudos
sobre a composio florstica e a estrutura
fitossociolgica das formaes florestais so de
fundamental importncia, pois oferecem subsdios
para a compreenso da estrutura e da dinmica destas
formaes, parmetros imprescindveis para o
manejo e regenerao das diferentes comunidades
vegetais. A Fitossociologia o ramo da Ecologia
Vegetal mais amplamente utilizado para diagnstico
quali-quantitativo das formaes vegetacionais.
Vrios pesquisadores defendem a aplicao de seus
resultados no planejamento das aes de gesto
ambiental como no manejo florestal e na recuperao
de reas degradadas. Deve-se registrar que os
levantamentos fitossociolgicos, constituem-se na
coleta e na anlise de dados, que permitem definir,
para uma dada comunidade florestal, a sua estrutura
horizontal (expressa pela abundncia ou densidade,
frequncia e dominncia) e sua estrutura vertical
(posio sociolgica e regenerao natural) e sua
estrutura dendromtrica (relativa aos parmetros
dendromtricos, como na distribuio diamtrica e
distribuio de volume ou rea basal por classe
diamtrica). A Fitossociologia envolve o estudo de
todos os fenmenos que se relacionam com a vida
das plantas dentro das unidades sociais. Ela retrata o
complexo vegetao, solo e clima. Ademais, os
conhecimentos florstico e fitossociolgico das
florestas so condies essenciais para sua
conservao e que a obteno e padronizao dos
ACSA Agropecuria Cientfica no Semirido, v. 9, n. 2, p. 43-48, abr - jun, 2013
Alan Del Carlos Gomes Chaves et al
atributos de diferentes ambientes florsticos e
fisionmicos, so atividades bsicas para a
conservao e preservao.
Keywords: Floristic and Phytosociological Surveys.
Importance. Preservation and Conservation of
Forests.
Palavras-chave: Levantamentos florstico
fitossociolgico. Importncia. Preservao
Conservao das Florestas.
INTRODUO
e
e
The importance of floristic and
phytosociological surveys for
conservation and preservation of
forests
ABSTRACT
The objective of this study was to show that the
floristic and phytosociological knowledge of forests
are essential to the conservation and preservation of
these formations. At present, the conservation of
biodiversity is a major challenge, given the high
level of human disturbance of natural ecosystems
existing in Brazil. In this context, studies on the
floristic composition and phytosociological structure
of forest formations are of fundamental importance
because they offer subsidies for understanding the
structure and dynamics of these formations, which
are essential for the management and regeneration of
different plant communities parameters. The
Phytosociology is the branch of Plant Ecology most
widely used for qualitative and quantitative diagnosis
of vegetation formations. Several researchers
advocate the application of their results in the
planning of environmental management as forest
management and restoration of degraded areas. It is
noteworthy that the phytosociological surveys,
constitute the collection and analysis of data, which
allow to define, for a given forest community, its
horizontal structure (expressed by the abundance or
density, frequency and dominance) and its vertical
structure sociological and natural regeneration) and
its position dendrometric structure (dendrometric on
parameters such as the diameter distribution and
distribution volume or basal area by diameter class).
The Phytosociology involves the study of all
phenomena that relate to plant life within social
units. She portrays the complex vegetation, soil and
climate. Furthermore, floristic and phytosociological
knowledge of forests are essential conditions for its
conservation and that obtaining and standardization
of the attributes of different floristic and
physiognomic environments are key activities for the
conservation and preservation.
Na atualidade, a conservao da biodiversidade
representa um dos maiores desafios, em funo do elevado
nvel de perturbaes antrpicas dos ecossistemas
naturais, existentes no Brasil. Nesse contexto, os estudos
sobre a composio florstica e a estrutura fitossociolgica
das formaes florestais so de fundamental importncia,
pois oferecem subsdios para a compreenso da estrutura e
da dinmica destas formaes, parmetros imprescindveis
para o manejo e regenerao das diferentes comunidades
vegetais.
Nesse contexto, vem ganhando espao a
fitossociologia, que pode ser definida como sendo a
cincia das comunidades vegetais ou o conhecimento da
vegetao em seu sentido mais amplo. Ela serve para
explicar os fenmenos que se relacionam com a vida das
plantas dentro das unidades ecolgicas.
No cenrio atual, a fitossociologia considerada
uma valiosa ferramenta na determinao das espcies mais
importantes dentro de uma determinada comunidade.
Atravs dos levantamentos fitossociolgicos possvel
estabelecer graus de hierarquizao entre as espcies
estudadas e avaliar a necessidade de medidas voltadas
para a preservao e conservaes das unidades florestais.
O presente artigo de reviso tem por objetivo
mostrar que os conhecimentos florstico e fitossociolgico
das florestas so fundamentais para a conservao e
preservao destas formaes.
FITOSSOCIOLOGIA: CONCEITO
A Fitossociologia envolve o estudo de todos os
fenmenos que se relacionam com a vida das plantas
dentro das unidades sociais. Ela retrata o complexo
vegetao, solo e clima.
Inmeras so as definies existentes para o termo
Fitossociologia. Afirma Martins (1989), que no Congresso
Internacional de Botnica de Paris, realizado em 1954,
Guinochet, Lebrun e Molinier apresentaram uma definio
para o termo Fitossociologia, que foi mundialmente aceita.
Para aqueles pesquisadores, a Fitossociologia poderia ser
entendida como o estudo das comunidades vegetais do
ponto de vista florstico, ecolgico, corolgico e histrico.
Segundo Rodrigues e Gandolfi (1998), a
Fitossociologia o ramo da Ecologia Vegetal que procura
estudar, descrever e compreender a associao existente
entre as espcies vegetais na comunidade, que por sua vez
caracterizam as unidades fitogeogrficas, como resultado
das interaes destas espcies entre si e com o seu meio.
Para Martins (1989), a Fitossociologia envolve o
estudo das inter-relaes de espcies vegetais dentro da
comunidade vegetal no espao e no tempo, referindo-se ao
estudo
quantitativo
da
composio,
estrutura,
ACSA Agropecuria Cientfica no Semirido, v. 9, n. 2, p. 43-48, abr - jun, 2013
A importncia dos levantamentos florstico e fitossociolgico para a conservao
e preservao das florestas
funcionamento, dinmica, histria, distribuio e relaes
ambientais da comunidade vegetal, sendo justamente esta
ideia de quantificao que a distingue de um estudo
florstico.
Acrescenta
ainda
aquele
autor
que
a
Fitossociologia apoia-se muito na Taxonomia Vegetal e
tem estreitas relaes com a Fitogeografia e com as
Cincias Florestais.
Na atualidade, a Fitossociologia o ramo da
Ecologia Vegetal mais amplamente utilizado para
diagnstico
quali-quantitativo
das
formaes
vegetacionais. Vrios pesquisadores defendem a aplicao
de seus resultados no planejamento das aes de gesto
ambiental como no manejo florestal e na recuperao de
reas degradadas.
Nesse sentido, afirmam Kageyama et al. (1992),
que os estudos fitossociolgicos relacionados
caracterizao das respectivas etapas sucessionais em que
as espcies esto presentes, seja na regenerao natural ou
em atividades planejadas para uma rea degradada,
apontam possibilidades de associaes interespecficas e
de estudos em nvel especfico sobre agressividade,
propagao vegetativa, ciclo de vida e disperso, dentre
outros.
Por sua vez, Barbosa et al. (1989), ressaltam a
importncia que os estudos quali-quantitativos, aliados aos
estudos fitogeogrficos, ecolgicos e fenolgicos,
possuem na elaborao de modelos para recuperao de
reas degradadas, mais especificamente nas florestas
ciliares.
Segundo Andrade (2005), a Fitossociologia pode
contribuir muito positivamente para o ordenamento e
gesto de ecossistemas.
No entanto, essa contribuio poder ser tanto
maior quanto mais sinergias produzirem com cincias
ecolgicas afins. Somente quando se alia e se aplica ao
Urbanismo, ao Paisagismo, ao Conservacionismo,
Agricultura, Silvicultura, Cinegtica, Silvopastorcia,
Apicultura, ao Ecoturismo e Engenharia do Ambiente,
que a Fitossociologia ganha foros de cincia aplicada
com um papel interdisciplinar.
Deve-se reconhecer que a Fitossociologia possui
um papel importante no embasamento de programas de
gesto ambiental, como nas reas de manejo e recuperao
de reas degradadas. Ademais, as anlises florsticas
permitem comparaes dentro e entre formaes florestais
no espao e no tempo, gera dados sobre a riqueza e
diversidade de uma rea, alm de possibilitar a formulao
de teorias, testar hipteses e produzir resultados que
serviro de base para outros estudos.
O DESENVOLVIMENTO DA FITOSSOCIOLOGIA
NO BRASIL
A metodologia de estudos fitossociolgicos nasceu
na Europa, sendo que nas Amricas desenvolveram-se
tcnicas de anlise quantitativa e a Fitossociologia teve
seu maior enfoque nos estudos do componente arbreo
das florestas (MARTINS, 1989). A dinmica de
populaes de plantas teve sua sntese efetuada em 1977,
a partir do trabalho de John L. Harper (Population biology
of plants), no qual se estabelece esta rea de pesquisa
como cincia consolidada.
Acrescenta ainda Martins (1989), que no Brasil, o
Instituto Oswaldo Cruz realizou os primeiros estudos
fitossociolgicos com o objetivo de conhecer melhor a
estrutura florestal e obter informaes de combate s
epidemias.
Esses estudos comearam a ter carter acadmico,
com enfoques ecolgicos, quando o pesquisador Stanley
A. Cain, da Universidade de Michigan (EUA) veio ao
Brasil com o objetivo de aplicar os conceitos e mtodos
fitossociolgicos, que foram desenvolvidos para florestas
temperadas, s florestas tropicais. Deste estudo resultou
numa publicao, que um dos principais textos didticos
de Fitossociologia da vegetao brasileira e o primeiro
sobre a vegetao tropical.
Nesse sentido, informa Mantovani (2005, p. 14)
que:
A Fitossociologia no Brasil teve seus primeiros
trabalhos efetuados na dcada de 40, mas somente
na dcada de 80 se firmou como uma rea de
pesquisa das mais relevantes em ecologia, com
massa crtica de trabalhos que permitiram bons
diagnsticos de parte da estrutura de diversos
biomas brasileiros, principalmente o cerrado e as
matas ciliares, estacional semidecidual e pluvial
tropical.
No Brasil, a partir da dcada de 1980, alguns
grupos de estudos comeam a interpretar os resultados das
pesquisas desenvolvidas pela UNICAMP, embasadas nas
caractersticas fisiolgicas ou de disperso das espcies,
classificando-as quanto exigncia de luz ou sndrome
de disperso.
At pouco tempo atrs, pouco se sabia acerca da
flora da maioria dos biomas do territrio brasileiro, j que
poucos eram os trabalhos de levantamentos florsticos
amplos. O desenvolvimento da Fitossociologia mudou
essa realidade. Dado ao desenvolvimento recente desta
linha de pesquisa em todo o mundo, os trabalhos
desenvolvidos no Brasil tm acompanhado o nvel dos
trabalhos sobre os biomas estrangeiros, exceto nos
modelos especficos para cada regio.
OS PARMETROS FITOSSOCIOLGICOS
A caracterizao fitossociolgica das florestas pode
ser feita mediante a observncia de vrios parmetros
fitossociolgicos. Nesses ecossistemas, a vegetao est
relacionada com alguns fatores do meio (climticos,
edficos e biticos), dando como resultado distintas
classificaes de tipo ecolgico.
De acordo com Rodrigues e Gandolfi (1998) a
anlise dos parmetros quantitativos de uma comunidade
ACSA Agropecuria Cientfica no Semirido, v. 9, n. 2, p. 43-48, abr - jun, 2013
Alan Del Carlos Gomes Chaves et al
vegetal, permite ainda inferncias sobre a distribuio
espacial de cada espcie.
Segundo Oliveira e Amaral (2004), dentre os
parmetros fitossociolgicos, podem ser estimados os
seguintes:
I - Densidade absoluta por rea proporcional
(DA): representa o nmero mdio de rvores de uma
determinada espcie, por unidade de rea. A unidade
amostral comumente usada para formaes florestais um
hectare (10.000m2). A frmula a seguinte:
DAi = ni.U/A
IV - Frequncia relativa (FR): obtida da relao
entre a frequncia absoluta de cada espcie e a soma das
frequncias absolutas de todas as espcies amostradas.
FRi = FAi.100/ FAZ
V - Frequncia absoluta (FA) = a porcentagem de
unidades de amostragem com ocorrncia da espcie, em
relao ao nmero total de unidades de amostragem.
FAi = Pi.100/P
Onde:
ni = nmero de indivduos da espcie i;
A = rea total amostrada, em m2
U = Unidade amostral (ha)
II - Densidade Relativa (DR): definida como a
porcentagem do nmero de indivduos de uma
determinada espcie em relao ao total de indivduos
amostrados.
DRi = ni.100/N
Onde:
ni= nmero de indivduos da espcie i;
N = nmero total de indivduos
Onde:
PI = nmero de parcelas ou pontos de amostragem
em que a espcie ocorreu;
P = Nmero total de parcelas ou pontos de
amostragem.
VI - Dominncia: definida como a taxa de
ocupao do ambiente pelos indivduos de uma espcie.
Quando se emprega o mtodo de parcelas, pode ser
expressa pela rea basal total do tronco ou pela rea de
coberturas da copa (ou seu dimetro ou seu raio) ou ainda
pelo nmero de indivduos amostrados. Para comunidades
florestais, a dominncia geralmente obtida atravs da
rea basal que expressa quantos metros quadrados a
espcie ocupa numa unidade de rea. Os valores
individuais de rea basal (A) podem ser calculados a partir
do permetro ou do dimetro:
III - Frequncia Absoluta (FA): a porcentagem de
unidades de amostragem com ocorrncia da espcie, em
relao ao nmero total de unidades de amostragem.
FAi = Pi.100/P
ABi = p2 /4 ou ABi = d2 . n/4
Onde:
ABi = rea basal individual da espcie
p = permetro;
Onde:
PI = nmero de parcelas ou pontos de amostragem
em que a espcie ocorreu;
P = Nmero total de parcelas ou pontos de
amostragem
d = dimetro
VII - Dominncia Absoluta: (DoA): calculada a
partir da somatria da rea basal dos indivduos de cada
espcie.
ACSA Agropecuria Cientfica no Semirido, v. 9, n. 2, p. 43-48, abr - jun, 2013
A importncia dos levantamentos florstico e fitossociolgico para a conservao
e preservao das florestas
XII - Equabilidade de Pielou
DoAi = ABi U./A
J = H/ Hmx
VIII - Dominncia relativa (DoR): representa a
relao entre a rea basal total de uma espcie e a rea
basal total de todas as espcies amostradas.
Onde:
Hmx = ln (S)
DoR = (ABi / ABT)x 100
Onde:
ABi = a rea basal de cada indivduo da espcie;
ABT = a soma das reas basais de todas as
espcies
IX - ndice de valor de importncia (IVI):
representa em que grau a espcie se encontra bem
estabelecida na comunidade e resulta em valores relativos
j calculados para a densidade, frequncia e dominncia,
atingindo, portanto, valor mximo de 300.
IVIi = DRi + DoRi + FRi
X - ndice de valor de cobertura (IVC): a soma
dos valores relativos e dominncia de cada espcie,
atingindo, portanto, valor mximo de 200.
IVCi = DRi + DoRi
XI - ndice de Diversidade: usado para se obter
uma estimativa da heterogeneidade florstica da rea
estudada. Entre os diversos ndices existentes, comumente
usa-se o de Shannon-Weaver (H).
H = Pi.l n(Pi)
Onde:
Pi = ni/N em que n o nmero de indivduos da
espcie e N o nmero total de indivduos.
ln = logaritmo neperiano
S = nmero de espcies amostradas
Rodrigues e Pires (1988) definem densidade como
sendo o nmero de indivduos de cada espcie dentro de
uma associao vegetal. Tal parmetro sempre referido
numa unidade de superfcie, geralmente em hectare.
Por sua vez, Vieira (1987), acrescenta que as
espcies com a mesma abundncia, nem sempre tm a
mesma importncia numa comunidade vegetal, devido s
diferentes distribuies que podem apresentar.
Por essa razo, quando se faz um inventrio
fitossociolgico de floresta necessrio interpretar os
valores de abundncia ou caracterizar outros parmetros
que, combinados com a densidade, possam completar o
estudo. Entre estes, pode-se citar a frequncia, que mede a
regularidade da distribuio horizontal de cada espcie
sobre o terreno, ou seja, a sua disperso mdia. Por sua
vez, a dominncia a medida da projeo total do corpo
das plantas.
A densidade, a dominncia e a frequncia so
dados estruturais que revelam aspectos essenciais na
composio florsticas das florestas. No entanto, a anlise
da vegetao importante encontrar um valor que permita
uma viso mais abrangente da estrutura das espcies ou
que caracterize a importncia de cada espcie no
conglomerado total do povoamento.
Um mtodo para integrar os trs aspectos parciais
acima mencionados, consiste em combin-los numa
expresso nica e simples de forma a abranger o aspecto
estrutural em sua totalidade, calculando o chamado ndice
de valor de importncia. Este valor obtido somando-se
para cada espcie os valores relativos de densidade,
dominncia e frequncia.
CONSIDERAES FINAIS
Um estudo fitossociolgico no somente
conhecer as espcies que compem a flora, mas tambm
como elas esto arranjadas, sua interdependncia, como
funcionam, como crescem e como se comportam no
fenmeno de sucesso. Desta forma, o estudo da
composio florstica de fundamental importncia para o
conhecimento da estrutura da vegetao, possibilitando
informaes qualitativas e quantitativas sobre a rea em
estudo e a tomada de decises para o melhor manejo de
cada tipo de vegetao.
ACSA Agropecuria Cientfica no Semirido, v. 9, n. 2, p. 43-48, abr - jun, 2013
Alan Del Carlos Gomes Chaves et al
Assim sendo, pode-se afirmar que os
levantamentos florsticos voltados para a identificao dos
espcimes e com informaes sobre a distribuio das
espcies tm como objetivo subsidiar a conservao de
fragmentos remanescentes de rea com cobertura vegetal,
frente aos crescentes impactos provocados pela ao
antrpica.
Conhecer a flora e a estrutura comunitria da
vegetao natural importante para o desenvolvimento de
modelos de conservao, manejo de reas remanescentes e
recuperao de reas perturbadas ou degradadas. Os
levantamentos da composio florstica e da estrutura
comunitria geram informaes sobre a distribuio
geogrfica das espcies, sua abundncia em diferentes
locais e fornecem bases consistentes para a criao de
unidades de conservao.
Deve-se tambm registrar que os levantamentos
fitossociolgicos, constituem-se na coleta e na anlise de
dados, que permitem definir, para uma dada comunidade
florestal, a sua estrutura horizontal (expressa pela
abundncia ou densidade, frequncia e dominncia) e sua
estrutura vertical (posio sociolgica e regenerao
natural) e sua estrutura dendromtrica (relativa aos
parmetros dendromtricos, como na distribuio
diamtrica e distribuio de volume ou rea basal por
classe diamtrica).
Essas anlises estruturais renem vrios mtodos e
tcnicas, incluindo os de amostragem, estimativas de
parmetros fitossociolgicos e dendromtricos e
levantamentos florsticos, proporcionando nveis de
preciso e de confianas adequados e informaes vlidas
para a tomada de decises sobre o manejo da vegetao.
Ademais, os conhecimentos
florstico e
fitossociolgico das florestas so condies essenciais
para sua conservao e que a obteno e padronizao dos
atributos de diferentes ambientes florsticos e
fisionmicos, so atividades bsicas para a conservao e
preservao.
MARTINS, F. R. Fitossociologia de florestas no Brasil:
um histrico bibliogrfico. Pesquisas - srie Botnica,
So Leopoldo, n. 40, p. 103-164, 1989.
MATTOS, H. rvores brasileiras. 2. ed. So Paulo:
Plantarum, 2005.
MENIN, D. F. Ecologia de A a Z: Pequeno dicionrio de
ecologia. Porto Alegre: L & PM, 2000, p. 212.
OLIVEIRA, A. N.; AMARAL, I. L. Florstica e
fitossociologia de uma floresta de vertente na Amaznia
Central, Amazonas, Brasil. Acta Amaznica. Vol. 34(1)
2004: 21- 34.
RODRIGUES, R. R.; GANDOLFI, S. Restaurao de
florestas tropicais: subsdios para uma definio
metodolgica e indicadores de avaliao de
monitoramento. In: DIAS, L. E.; MELLO, J. W. V. de.
(eds.). Recuperao de reas degradadas. Viosa: UFV,
1998. p. 203-215.
RODRIGUES, W. A., PIRES, J. M. Inventrio
fitossociolgico.
In:
ENCONTRO
SOBRE
INVENTRIOS FLORSTICOS NA AMAZNIA, 1988,
Manaus. Anais ... Manaus, 1988. 5p.
SAMPAIO, E. V. S. B. Fitossociologia. In: SAMPAIO, E.
V. S. B.; MAYO S. J.; BARBOSA, M. R. V. (Eds.)
Pesquisa botnica nordestina: progresso e perspectivas.
Recife: Sociedade Botnica do Brasil/Seo Regional de
Pernambuco, 1996. p 203-230.
VIEIRA, G. Anlise estrutural da regenerao natural
aps diferentes nveis de explorao em uma floresta
tropical mida. Manaus: INPA, 1987.
REFERNCIAS
ANDRADE, L. A. Duas fitofisionomias de caatinga, com
diferentes histricos de uso, no municpio de So Joo do
cariri, estado da Paraba. Cerne, Lavras, v. 11, n. 3, p.
253-262, jul./set. 2005
BARBOSA, L. M. (coord.). Simpsio Sobre Mata Ciliar,
1., 1989, Campinas. Anais... Campinas: Fundao Cargill,
1989. p. 269-283.
KAGEYAMA, P. Y.; REIS, A.; CARPANEZZI, A. A.
Potencialidades e Restries da Regenerao Artificial na
Recuperao de reas Degradadas. In: BALENSIEFER,
M. (coord.). SIMPSIO NACIONAL SOBRE
RECUPERAO DE REAS DEGRADADAS, 1.,
1992, Curitiba. Anais... Curitiba: UFPR/FUPEF, 1992. p.
1-7.
ACSA Agropecuria Cientfica no Semirido, v. 9, n. 2, p. 43-48, abr - jun, 2013
Você também pode gostar
- Ata de Constituição e Fundação Da Associação Recreativa e Cultural Bloco Carnavalesco Vem-K-BbDocumento2 páginasAta de Constituição e Fundação Da Associação Recreativa e Cultural Bloco Carnavalesco Vem-K-BbPotirn100% (2)
- Ata de Constituição e Fundação Da Associação Recreativa e Cultural Bloco Carnavalesco Vem-K-BbDocumento2 páginasAta de Constituição e Fundação Da Associação Recreativa e Cultural Bloco Carnavalesco Vem-K-BbPotirn100% (2)
- BIOMA Da Mata AtlânticaDocumento49 páginasBIOMA Da Mata AtlânticaMilena AndradeAinda não há avaliações
- Aspectosecofisiol Gicosnomanejodepastagens Nabinger1Documento43 páginasAspectosecofisiol Gicosnomanejodepastagens Nabinger1Ossival RibeiroAinda não há avaliações
- Ata de Constituição Do Bloco o Corujão Da Meia NoiteDocumento3 páginasAta de Constituição Do Bloco o Corujão Da Meia NoitePotirnAinda não há avaliações
- Ata de Constituição Do Bloco Carnaval No BastiãoDocumento5 páginasAta de Constituição Do Bloco Carnaval No BastiãoPotirn50% (4)
- 1 s2.0 S1433831922000294 MainDocumento19 páginas1 s2.0 S1433831922000294 MainLIVROS BIOLOGIAAinda não há avaliações
- 2196 11267 1 PBDocumento11 páginas2196 11267 1 PBAbel Tome CaetanoAinda não há avaliações
- Relatório Grupo 2 TardeDocumento10 páginasRelatório Grupo 2 TardeFilipe RibeiroAinda não há avaliações
- Hoeffel Et Al. Conhecimento Tradicional e Uso de Plantas MedicinaisDocumento25 páginasHoeffel Et Al. Conhecimento Tradicional e Uso de Plantas MedicinaisAlex Acosta Vieira100% (1)
- Avaliação Da Regeneração Natural Como Indicativo Da Consolidação Da Restauração Florestal em Área de Reflorestamento MistoDocumento9 páginasAvaliação Da Regeneração Natural Como Indicativo Da Consolidação Da Restauração Florestal em Área de Reflorestamento MistoGeanderson FernandesAinda não há avaliações
- Transição FlorestalDocumento12 páginasTransição FlorestalmncwlkrAinda não há avaliações
- 2011 Especies Multiusos Cadernos AgroecologiaDocumento7 páginas2011 Especies Multiusos Cadernos AgroecologiaVitor Ribeiro De SouzaAinda não há avaliações
- Trabalho de Ecologia AnaidineDocumento37 páginasTrabalho de Ecologia AnaidineValdimiro PatrocinioAinda não há avaliações
- Restauração e Conservação de Ecossistemas TropicaisDocumento2 páginasRestauração e Conservação de Ecossistemas TropicaisBárbara Thaiane SouzaAinda não há avaliações
- BiogeografiaDocumento4 páginasBiogeografiaJunety DamasAinda não há avaliações
- TCC. ChristopherDocumento29 páginasTCC. ChristopherSir FoxAinda não há avaliações
- 29 Rev 74057Documento22 páginas29 Rev 74057Adeliton DelkAinda não há avaliações
- Indicadores de FaunaDocumento13 páginasIndicadores de FaunaLuís Henrique Hertzog da CunhaAinda não há avaliações
- Biologia Ecologia Tropical Mod 1 3 Info 2023Documento25 páginasBiologia Ecologia Tropical Mod 1 3 Info 2023Sofia Alexandra Bessa Guimarães Alves Do ValeAinda não há avaliações
- Princípios de Fisiologia Vegetal Aplicada Ao Manejo de Pasto Revisão de LiteraturaDocumento7 páginasPrincípios de Fisiologia Vegetal Aplicada Ao Manejo de Pasto Revisão de LiteraturaAri ramosAinda não há avaliações
- Exemplo de Revisão de Literatura - AmbientalDocumento12 páginasExemplo de Revisão de Literatura - AmbientalMatheus Santos RezendeAinda não há avaliações
- Discussões interdisciplinares: debates e discussões entre ciências exatas e naturais: – Volume 3No EverandDiscussões interdisciplinares: debates e discussões entre ciências exatas e naturais: – Volume 3Ainda não há avaliações
- Discussões interdisciplinares: debates e discussões entre ciências exatas e naturais: Volume 4No EverandDiscussões interdisciplinares: debates e discussões entre ciências exatas e naturais: Volume 4Ainda não há avaliações
- B.Cons. 1Documento8 páginasB.Cons. 1Antonio Mangame ManuelAinda não há avaliações
- Fenologia de Espécies Arbóreas Estratégicas para A Fauna SilvestreDocumento3 páginasFenologia de Espécies Arbóreas Estratégicas para A Fauna SilvestreNicolas RibasAinda não há avaliações
- Deposição e Aporte de Nutrientes6431-24723-1-PbDocumento16 páginasDeposição e Aporte de Nutrientes6431-24723-1-PbLarissa AssisAinda não há avaliações
- Barbosa, 2001Documento26 páginasBarbosa, 2001Krystiane SardinhaAinda não há avaliações
- Resenha CríticaDocumento7 páginasResenha CríticaFernanda SoaresAinda não há avaliações
- INCREMENTO DIAMÉTRICO DE Protium Heptaphyllum (AUBL.) Marchand em Floresta Estacional Semidecídua Sob Manejo, em Pirenópolis, Goiás, BrasilDocumento6 páginasINCREMENTO DIAMÉTRICO DE Protium Heptaphyllum (AUBL.) Marchand em Floresta Estacional Semidecídua Sob Manejo, em Pirenópolis, Goiás, BrasilJeanpierre RodríguezAinda não há avaliações
- A Vegetacao Como Elemento Do Meio FisicoDocumento21 páginasA Vegetacao Como Elemento Do Meio FisicoIvan MatosAinda não há avaliações
- Introdução A Agroecologia: Resenha Do TextoDocumento6 páginasIntrodução A Agroecologia: Resenha Do TextoAlan HanssenAinda não há avaliações
- Instrumentos Legais Podem Contribuir para A RestauDocumento17 páginasInstrumentos Legais Podem Contribuir para A RestauvictorAinda não há avaliações
- Resenha - A Transição Pós-Industrial Na Agricultura Brasileira Com A Aplicação Da AgroecologiaDocumento6 páginasResenha - A Transição Pós-Industrial Na Agricultura Brasileira Com A Aplicação Da AgroecologiaAlan HanssenAinda não há avaliações
- A Teoria Da Trofobiose Sob A Abordagem Sistêmica Da Agricultura - Eficácia de Práticas em Agricultura Orgânica.Documento12 páginasA Teoria Da Trofobiose Sob A Abordagem Sistêmica Da Agricultura - Eficácia de Práticas em Agricultura Orgânica.Pedro Ivan ChristoffoliAinda não há avaliações
- 1741-Texto Do Artigo-4092-1-10-20220113Documento11 páginas1741-Texto Do Artigo-4092-1-10-20220113medasabAinda não há avaliações
- Fernandes e Souza 2018 - Introduzindo Conceitos Sobre Bioindicadores Aquáticos...Documento13 páginasFernandes e Souza 2018 - Introduzindo Conceitos Sobre Bioindicadores Aquáticos...Ubirajara FernandesAinda não há avaliações
- admin,+07+-+Atelie+Geografico+11 3Documento24 páginasadmin,+07+-+Atelie+Geografico+11 3Kaua FraustoAinda não há avaliações
- Atividade 3 - Thaís LimaDocumento1 páginaAtividade 3 - Thaís LimaThaís FernandesAinda não há avaliações
- Oliveira Et Al. - 2008 - Manutenção Da Biodiversidade e o Hotspots CerradoDocumento14 páginasOliveira Et Al. - 2008 - Manutenção Da Biodiversidade e o Hotspots CerradoMarianna CarrilhoAinda não há avaliações
- Regeneração Natural em Áreas de Floresta Ciliar em Processo de Restauração EcológicaDocumento38 páginasRegeneração Natural em Áreas de Floresta Ciliar em Processo de Restauração Ecológicanelo samuelAinda não há avaliações
- 2784-Texto Do Artigo-12535-1-10-20140401Documento9 páginas2784-Texto Do Artigo-12535-1-10-20140401Nícoli GaloAinda não há avaliações
- 1763-Texto Do Artigo-7871-1-10-20201229Documento5 páginas1763-Texto Do Artigo-7871-1-10-20201229Deyverson MesquitaAinda não há avaliações
- Raízes de Plantas Anuais Tolerância A Estresses Ambientais, Eficiência Na Absorção de Nutrientes e Métodos para Seleção de Genótipos PDFDocumento67 páginasRaízes de Plantas Anuais Tolerância A Estresses Ambientais, Eficiência Na Absorção de Nutrientes e Métodos para Seleção de Genótipos PDFLuiz Henrique FernandesAinda não há avaliações
- Ocorrencia de Especies Nativas e Exoticas Nos QuinDocumento19 páginasOcorrencia de Especies Nativas e Exoticas Nos QuinAlexandre GonçalvesAinda não há avaliações
- Da Silva e Nascimento Junior 2004Documento26 páginasDa Silva e Nascimento Junior 2004Paulo MendesAinda não há avaliações
- Quantificação E Valoração de Produtos Florestais Não-MadeireirosDocumento10 páginasQuantificação E Valoração de Produtos Florestais Não-MadeireirosELLEN CLAUDINE CASTRO BARRETOAinda não há avaliações
- TCC CarolDocumento30 páginasTCC CarolCaroline AygadouxAinda não há avaliações
- A Influência Do Efeito de Borda Na Homogeneização Biótica em Arbustos Na Floresta AtlânticaDocumento17 páginasA Influência Do Efeito de Borda Na Homogeneização Biótica em Arbustos Na Floresta AtlânticathomasAinda não há avaliações
- 2006 - 10 A Nucleacao Como Novo Paradigma Na Restauracao EcologicaDocumento17 páginas2006 - 10 A Nucleacao Como Novo Paradigma Na Restauracao EcologicaPedro OliveiraAinda não há avaliações
- Extensão Fomento SisAgroflorestais Vantagens Agricultor FomentadorDocumento12 páginasExtensão Fomento SisAgroflorestais Vantagens Agricultor FomentadorMicael Oliveira RochaAinda não há avaliações
- Sementes Crioulas, Agrobiodiversidade e AgroecologiaDocumento6 páginasSementes Crioulas, Agrobiodiversidade e AgroecologiaIRAJA FERREIRA ANTUNESAinda não há avaliações
- Avaliação de Pesquisa I2Documento6 páginasAvaliação de Pesquisa I2matheusmoreira180Ainda não há avaliações
- Plantacoes Ef Uni 2023Documento10 páginasPlantacoes Ef Uni 2023Ronaldo ValdimiroAinda não há avaliações
- Restauração FlorestalDocumento21 páginasRestauração FlorestalNathalia FariaAinda não há avaliações
- Tópicos em Análise de VegetaçãoDocumento41 páginasTópicos em Análise de VegetaçãoFernando FrançaAinda não há avaliações
- Ecossistema - Biologia - InfoEscolaDocumento2 páginasEcossistema - Biologia - InfoEscolaRenan CoelhoAinda não há avaliações
- Levantamento Fitossociológico e Índices VegetacionaisDocumento19 páginasLevantamento Fitossociológico e Índices VegetacionaisCélio JossefaAinda não há avaliações
- Cavalcante Et Al., 2022Documento20 páginasCavalcante Et Al., 2022Rhuann TaquesAinda não há avaliações
- Módulo 01 - Aula 01Documento11 páginasMódulo 01 - Aula 01Diogo BragaAinda não há avaliações
- Adubacao VerdeDocumento14 páginasAdubacao VerdetsnAinda não há avaliações
- Manual Dormencia RefloretaDocumento83 páginasManual Dormencia RefloretacatapauAinda não há avaliações
- Curso de Fisiologia Vegetal 2013Documento206 páginasCurso de Fisiologia Vegetal 2013Álvaro RicardoAinda não há avaliações
- Diversidade e Abundância Da EntomofaunaDocumento16 páginasDiversidade e Abundância Da EntomofaunaMarlon Cezar CominettiAinda não há avaliações
- Disertação Mata AtlanticaDocumento48 páginasDisertação Mata AtlanticaMiluska Blas LeonAinda não há avaliações
- A Proteção Supranacional Dos Direitos HumanosDocumento5 páginasA Proteção Supranacional Dos Direitos HumanosPotirnAinda não há avaliações
- Etica Construindo Um ConceitoDocumento7 páginasEtica Construindo Um ConceitoPotirnAinda não há avaliações
- A Importância Do Planejamento Financeiro No Âmbito EmpresarialDocumento6 páginasA Importância Do Planejamento Financeiro No Âmbito EmpresarialPotirnAinda não há avaliações
- A Interdisciplinaridade e A Prática PedagógicaDocumento6 páginasA Interdisciplinaridade e A Prática PedagógicaPotirnAinda não há avaliações
- Bullying - o Novo Fenômeno Da Violencia EscolarDocumento7 páginasBullying - o Novo Fenômeno Da Violencia EscolarPotirnAinda não há avaliações
- O Positivismo e Sua Influência No BrasilDocumento5 páginasO Positivismo e Sua Influência No BrasilPotirnAinda não há avaliações
- A Interdisciplinaridade e A Prática PedagógicaDocumento6 páginasA Interdisciplinaridade e A Prática PedagógicaPotirnAinda não há avaliações
- Espaços Da HistóriaDocumento214 páginasEspaços Da HistóriaPotirnAinda não há avaliações
- Os Sistemas Alternativos de Produção de Base AgroecológicaDocumento7 páginasOs Sistemas Alternativos de Produção de Base AgroecológicaPotirnAinda não há avaliações
- A Evolução Da Agricultura OrgânicaDocumento7 páginasA Evolução Da Agricultura OrgânicaPotirnAinda não há avaliações
- Antônio Alfredo Da Gama e MeloDocumento3 páginasAntônio Alfredo Da Gama e MeloPotirnAinda não há avaliações
- Os Animais No Adagiário Nacional - IDocumento7 páginasOs Animais No Adagiário Nacional - IPotirnAinda não há avaliações
- Cristiano LauritzenDocumento3 páginasCristiano LauritzenPotirnAinda não há avaliações
- Ata de Constituição Do Bloco Sem PreconceitoDocumento2 páginasAta de Constituição Do Bloco Sem PreconceitoPotirn0% (1)
- STC - PlataformaDocumento28 páginasSTC - PlataformacarlammaiaAinda não há avaliações
- Catalogo Apa Final BrasilDocumento8 páginasCatalogo Apa Final BrasilLuiz HenriqueAinda não há avaliações
- RESOLUÇÃO #33-94 - CONAMA Estágios SucessionaisDocumento2 páginasRESOLUÇÃO #33-94 - CONAMA Estágios SucessionaisFassina PauloAinda não há avaliações
- Entendendo o Conceito de Sustentabilidade Nas ORGANIZAÇÕESDocumento13 páginasEntendendo o Conceito de Sustentabilidade Nas ORGANIZAÇÕESSandra AraújoAinda não há avaliações
- Integração de Serviços EcossistêmicosDocumento78 páginasIntegração de Serviços Ecossistêmicosana carolinaAinda não há avaliações
- Atlas Mangues Do MundoDocumento3 páginasAtlas Mangues Do MundoRobson AraújoAinda não há avaliações
- 1.introdução À EcologiaDocumento4 páginas1.introdução À Ecologialuaferraz64Ainda não há avaliações
- 2014 Expectativas de Aprendizagem Ensino Fundamental 1o Ao 5o Ano 5o Ano CienciasDocumento6 páginas2014 Expectativas de Aprendizagem Ensino Fundamental 1o Ao 5o Ano 5o Ano Cienciascorreia marxAinda não há avaliações
- Estudo DirigidoDocumento2 páginasEstudo DirigidoIago AraújoAinda não há avaliações
- Vol I Invertebrados TerrestresDocumento193 páginasVol I Invertebrados TerrestresNosborEvertonAinda não há avaliações
- Trabalho de Cien 7 Ano 1 TrimDocumento5 páginasTrabalho de Cien 7 Ano 1 TrimPatrícia Alexandra da Silva PazAinda não há avaliações
- SUCESSAO ECOLOGICA - PPSXDocumento21 páginasSUCESSAO ECOLOGICA - PPSXCamila MunizAinda não há avaliações
- Relatório Simulador de ErosãoDocumento2 páginasRelatório Simulador de ErosãoLucas DominguesAinda não há avaliações
- A PRIMEIRA UTOPIA DO ANTROPOCENO - Eli Da Veiga PDFDocumento21 páginasA PRIMEIRA UTOPIA DO ANTROPOCENO - Eli Da Veiga PDFFabio ColtroAinda não há avaliações
- Módulo 04Documento44 páginasMódulo 04Helton MontechesiAinda não há avaliações
- Ouro, Posseiros e Fazendas de Café. A Ocupação e A Degradação Ambiental Da Região Das Minas Do Canta Gallo Na Província Do Rio de JaneiroDocumento116 páginasOuro, Posseiros e Fazendas de Café. A Ocupação e A Degradação Ambiental Da Região Das Minas Do Canta Gallo Na Província Do Rio de JaneiroPedro Henrique GarciaAinda não há avaliações
- Parte EscritaDocumento13 páginasParte EscritaNeiliane SouzaAinda não há avaliações
- AIDocumento3 páginasAIPericles FigueiredoAinda não há avaliações
- EM Marketing: Tópicos ContemporâneosDocumento208 páginasEM Marketing: Tópicos ContemporâneosCarol RosárioAinda não há avaliações
- Ecologia SlideDocumento32 páginasEcologia Slidealcidiovascomurambiwa633Ainda não há avaliações
- AxleDocumento50 páginasAxleGerson AlbertoAinda não há avaliações
- Relatorio Da Aula Pratica de Sedimentacao de SoloDocumento8 páginasRelatorio Da Aula Pratica de Sedimentacao de Sololeocordeiro2206763Ainda não há avaliações
- Transferência de Energia Nos EcossistemasDocumento14 páginasTransferência de Energia Nos EcossistemasInêsAinda não há avaliações
- SustentabilidadeDocumento26 páginasSustentabilidadeAurea RochaAinda não há avaliações
- O Problema Do Desenvolvimento Sustentável (Franz Bruseke)Documento7 páginasO Problema Do Desenvolvimento Sustentável (Franz Bruseke)pampmAinda não há avaliações
- Direito Ambiental / Aula 3 - O Direito Ambiental e Sua Proteção Constitucional. Competência Constitucional AmbientalDocumento11 páginasDireito Ambiental / Aula 3 - O Direito Ambiental e Sua Proteção Constitucional. Competência Constitucional AmbientalBruna PintoAinda não há avaliações
- O Impacto Da Caça Furtiva Dos Recursos FaunísticosDocumento15 páginasO Impacto Da Caça Furtiva Dos Recursos FaunísticosAbilio AlbertinoAinda não há avaliações
- Dissertação - Sheyla Olívia Groff Birro - 2019Documento102 páginasDissertação - Sheyla Olívia Groff Birro - 2019Almeida MucunaAinda não há avaliações
- Políca Municipal MossoróDocumento32 páginasPolíca Municipal MossoróAnna JacintaAinda não há avaliações