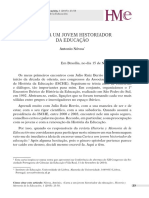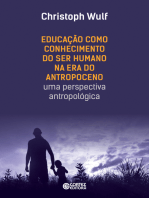Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
REVEJ@ 0 ClaudiaVovio
REVEJ@ 0 ClaudiaVovio
Enviado por
Anelisa PrazeresTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
REVEJ@ 0 ClaudiaVovio
REVEJ@ 0 ClaudiaVovio
Enviado por
Anelisa PrazeresDireitos autorais:
Formatos disponíveis
85
Práticas de leitura na EJA:
do que estamos falando e o que estamos aprendendo
Cláudia Lemos Vóvio1
Resumo: O artigo aborda os variados sentidos atribuídos à leitura, aos modos de ler e aos objetos implicados em
situações em que pessoas interagem e se apropriam desses bens culturais relacionados à escrita. A leitura é
apresentada como objeto produzido nas/pelas relações entre grupos humanos, em tempos e espaços sociais
específicos sendo, portanto, variável, o que traz implicações para as práticas educativas que se realizam nas
turmas de EJA. Uma das conseqüências dessa abordagem é a ampliação do horizonte da leitura, admitindo
variados objetos, modos de ler, comportamentos, gestos e gostos e focalizando uma variedade de práticas
invisíveis e um número surpreendente de vozes e discursos apagados ou não reconhecidos socialmente. Também
discute como as condições sociais e históricas afetam essa atividade humana e as possibilidades de acesso e
apropriação desses bens por educadores e estudantes nas propostas pedagógicas que compartilham.
Palavras-chaves: Leitura, Desenvolvimento da Leitura, Letramento, Educação de Jovens e Adultos, Hábitos de
Leitura.
Atualmente, ao falarmos sobre a leitura estamos nos referindo a um objeto produzido
@
nas/pelas relações entre grupos humanos, em tempos e espaços sociais específicos sendo,
portanto, variável. Essa forma de conceber os atos de ler realizados por sujeitos em situações
específicas, no plural, opõe-se a um enfoque que toma a leitura como um ato invariável,
homogêneo, que tem como objetos um pequeno conjunto de gêneros e autores tomados como
J
legítimos e dignos de se ler, que depende do hábito e da freqüência com as pessoas praticam.
VE
Quando lançamos mão do termo práticas de leitura estamos nos referindo a atividades
humanas, intensamente afetadas pelas condições sociais e históricas particulares que
configuram modos de ler, os usos da leitura, os sentidos e suas possíveis significações, bem
como os modos de aprender e ensinar a ler e os materiais necessários e possíveis de serem
RE
lidos2.
Ao discorrermos sobre as práticas de leitura nesse artigo esperamos trazer à baila
algumas significações que constituem os discursos sobre esse objeto, que os (re)constroem,
valoram e que revelam significados e sentidos possíveis, porque historicamente situados,
ideologicamente constituídos e impregnados por múltiplas vozes sociais3. São esses
movimentos de pôr em contato, de comparar, de colocar em jogo as significações e os
sentidos atribuídos socialmente ao ato de ler que se busca apresentar e que se constituem em
chaves para refletirmos sobre as práticas de leitura que empreendemos nos programas de
1
Mestre em Educação, pela Faculdade de Educação da USP. Doutoranda em Lingüística Aplicada, no Instituto
de Estudos da Linguagem, Unicamp. Assessora do Programa de Educação de Jovens e Adultos da Ação
Educativa
2
Cf. Chartier 2003; Galvão e Batista 1999; Kleiman 2001, 2002.
3
Cf. Bakhtin, 1981.
REVEJ@ - Revista de Educacao de Jovens e Adultos, v. 1, n. 0, p. 1-108, ago. 2007
86
educação de pessoas jovens e adultas a fim de propiciar e ampliar o processo de formação de
leitores. Assumimos que as turmas de EJA constituem-se em espaços de práticas de leitura e
que tanto os educadores que planejam e mobilizam propostas para a aprendizagem que
envolvem o ato de ler como os estudantes que se mobilizam para aprender e tomar
familiaridade com novas práticas e objetos que respondam a suas necessidades e interesses
tomam parte e formam-se mutuamente como leitores nessas ações compartilhadas.
Sobre o que estamos falando?
Quando assumimos que as práticas culturais, especificamente, aquelas relacionadas ao
ato de ler e ao universo da escrita, são criações humanas e variáveis, conseqüentemente,
ampliamos o horizonte dos objetos da leitura, dos modos de ler, dos comportamentos, dos
gestos e dos gostos que os sujeitos podem admitir frente à leitura. Esse modo de compreender
a leitura tem o potencial de fazer emergir uma variedade de práticas e um número
@
surpreendente de vozes e discursos apagados ou não reconhecidos por aqueles que acreditam
que a leitura é um ato invariável e único, que há um leitor idealizado a que todos devem
corresponder e que é somente por meio da educação escolar que se pode adquirir tal conjunto
de habilidades e atitudes.
J
Persistem em nossos dias discursos nos mais variados âmbitos que apregoam que o
VE
leitor é aquele que lê o livro e alguns gêneros literários e de divulgação científica, sendo esses
materiais os maiores representantes do patrimônio cultural ou da Cultura a que todos
deveriam ter acesso, seguidos dos jornais e revistas. Proclamam ainda que são leitores aqueles
que gostam e apresentam uma disposição positiva frente a certos gêneros, os literários
RE
preferencialmente, que têm o hábito e lêem com freqüência e que praticam certos tipos de
consumo cultural. Esse leitor ideal parece ter se apropriado dos modos de ler daquele dos
críticos literários4, dos intelectuais e de certa classe de pessoas que incluem uns poucos que
lêem determinados livros — “livros lidos por muitos não servem; bons são aqueles que
poucos lêem, menos entendem e menos ainda gostam” (Abreu, 2001, p. 155). Ao conceber a
leitura e leitor dessa maneira, estabelece-se uma hierarquia de objetos, de gêneros e de
suportes, define-se o que é ler, e, na mesma operação, escalona-se os leitores segundo os
objetos que consomem, as oportunidades de acesso e a freqüência com que lêem, excluindo os
não-leitores5. Nesse enfoque, quanto menos praticada e partilhada, maior o valor da leitura,
4
Cf Kleiman 2001.
5
Cf. Abreu, 2001; Tardelli, 2003
REVEJ@ - Revista de Educacao de Jovens e Adultos, v. 1, n. 0, p. 1-108, ago. 2007
87
pois se tem implícito que a maioria não é leitor ou não se comporta dentro do padrão e não
realiza o tipo de leitura almejada.
Os discursos sobre a leitura e leitores idealizados atravessam a história da leitura no
Brasil em diversos períodos, como nos aponta Abreu (2001) e são “decorrentes da
delimitação implícita de um certo conjunto de textos e de determinados modos de ler como
válidos e o desprezo aos demais” (p. 154). Compreendida como um bem em si e conjunto de
competências que se adquire e que constitui o patrimônio cultural legítimo, está pressuposto
que a leitura deve ser transmitida e difundida a todos. Assim, aqueles que crêem no mito e no
poder transformador da leitura e dos livros podem buscar a identificação com esse “leitor”,
talvez impossível, já que idealizado, que possui certas competências, disposições e gostos,
tendo a escolarização como a via de iniciação e o meio para chegar à leitura. Nessa
perspectiva, como ressalta Kleiman (1995), uma tendência marcante é a de considerar os
efeitos de aprender a ler sobre os sujeitos como sendo sempre iguais, homogêneos, e
@
colocando a leitura como condição necessária para a participação na espécie humana ou ainda
como dotando aqueles que a praticam de qualidades superiores e até espirituais.
Numa outra mirada, quando nos referimos às práticas de leitura estamos falando de
J
processos de tomar familiaridade, de aprender e de ocupar e desempenhar papéis nas mais
VE
variadas situações e âmbitos sociais. Nessa forma de concebê-la, temos a possibilidade de
reconhecer pluralidades no interior de sociedades e grupos humanos6. O enfoque da
diversidade aponta para aqueles que atuam em processos educativos para a necessária
mudança das lentes com as quais se observa o mundo social, as práticas humanas e os sujeitos
envolvidos nesses processos. Trata-se de abrir mão do enfoque da unidade e assumir um
RE
outro, ancorado nas idéias de multiplicidade, heterogeneidade e variação nos modos de
praticar a leitura, nos objetos que se pode ler e nas formas como as pessoas se apropriam dos
texto e fazem usos deles localmente, em situação.
Essas formas de observar e compreender as práticas de leitura são constituídas e
fortemente influenciadas pelos Estudos do Letramento desenvolvidos nos últimos 25 anos que
concebem as práticas de uso da escrita como algo necessariamente plurais: sociedades
diferentes e grupos sociais que as compõem têm variadas formas de letramento, tendo
variados efeitos sociais e mentais em contextos sociais e culturais específicos. Os letramentos
são vistos como conjuntos de práticas, como formas de usar a linguagem e dar sentido tanto à
fala como à escrita. Essas práticas discursivas estão integralmente conectadas com as
6
Cf. Chartier, 2003; Kleiman, 1995; Lahire, 2006; Osakabe, 2005.
REVEJ@ - Revista de Educacao de Jovens e Adultos, v. 1, n. 0, p. 1-108, ago. 2007
88
identidades e a consciência de si das pessoas que as praticam; uma mudança nas práticas
discursivas resulta em mudanças de identidade7, já que colocam esses sujeitos em novas
posições e formas de interação.
Outra característica fundamental dessa vertente, que tem o pesquisador inglês Brian
Street (1984 e [1993] 2004) como um dos principais representantes, é o reposicionamento das
pesquisas etnográficas e inter-culturais, deixando de lado a prática de comparações e
distinções e abrindo espaço para a percepção das diferenças, não como equivalentes, mas
como possibilidades inscritas e socialmente situadas. Esse modelo se pauta por uma
compreensão etnográfica e teoricamente mais adequada aos significados das práticas letradas
na vida das pessoas. Para o autor e outros pesquisadores que se alinham a essa perspectiva,
como Kleiman no Brasil, as práticas letradas, a leitura, a escrita e a oralidade, são tomadas
como fundamentalmente ligadas às estruturas sociais e às estruturas de poder. Nas palavras de
Street
@
A construção do letramento está imbricada nas práticas discursivas e nas relações de
poder na vida cotidiana: está socialmente construída, materialmente produzida,
moralmente regulada e tem significado simbólico que não pode reduzir-se a nenhum
destes. (Street, [1993] 2004, p. 90).
J
Significa dizer que as práticas de leitura definem-se e ganham concretude em
contextos sociais relacionados às atividades e às interações que ocorrem no interior das
VE
culturas, especificamente nos eventos mediados e organizados pela escrita. E é a partir desses
eventos que chegamos às práticas reais que implicam interações entre pessoas e a apropriação
de instrumentos culturais — chegamos ao que as pessoas fazem com a escrita e podemos
identificar o que textos e tais situações de uso significam para elas. A produção das pesquisas
RE
sobre o conjunto de práticas sociais relacionadas aos usos, à função e aos possíveis efeitos da
aquisição da escrita na sociedade, empreendidas a partir dessa vertente, colaborou para
reposicionar o papel da linguagem nas sociedades, atualizar sentidos atribuídos à
alfabetização8 e à escolarização e ao processo de aprendizagem das práticas de leitura.
Colaborou para percebermos que o fato de os sujeitos tomarem parte em práticas nas quais a
escrita é central não produz resultados ou efeitos homogêneos9, mas sim heterogêneos,
dependentes dos contextos, papéis, objetivos e formas de interação que os guiam em
atividade, o que remete à possibilidade de obter configurações singulares, no interior de
7
Cf. Barton, Hamilton et. al., 2000; Gee [1986], 2004; Kalman 2004; Kleiman, 1995, 2001.
8
Ver Kleiman (1995, 2001), Ribeiro (1999, 2003).
9
Ver por exemplo os trabalhos de Lahire, 2002, Oliveira (2004) e Oliveira e Vóvio (2003) e Vóvio (1999).
REVEJ@ - Revista de Educacao de Jovens e Adultos, v. 1, n. 0, p. 1-108, ago. 2007
89
grupos sociais e da complexa e diversificada sociedade moderna10. Assim, se os leitores
interagem em distintos mundos letrados, tomam parte de variadas comunidades que usam a
escrita para diferentes fins, suas possibilidades de ação, de tomar parte em outras práticas
culturais, bem como suas competências e repertórios construídos, podem, portanto, variar.
Resumindo, abordagem sócio-histórica cultural advindas dos Estudos do Letramento11
propiciou a revisão dos efeitos homogêneos da aprendizagem da escrita sobre os sujeitos12, a
formulação de novas orientações para o desenvolvimento de abordagens de aprendizagem da
linguagem escrita13, a constatação de que as pessoas, ao compartilharem práticas de uso da
escrita, constroem conhecimentos, antes mesmo de ocuparem os bancos escolares. É
importante ressaltar que a disseminação destes estudos no Brasil esteve diretamente
relacionada às novas problemáticas que se colocavam no horizonte do processo de
escolarização, entre elas a expansão e democratização do acesso à educação básica, sem as
mudanças que necessariamente deveriam acompanhar este processo; as avaliações e a questão
@
do fracasso escolar identificadas pela implementação de sistemas nacionais e locais de
avaliação14; ou ainda a compreensão do que as pessoas efetivamente fazem com a linguagem
escrita, para além de saber sobre seu estado ou condição de analfabetas15.
J
O reconhecimento das diferentes práticas de leitura tem amplificado a atribuição
VE
educativa e complexificado a formação de leitores. Como bem sintetiza Dionísio (2005),
saber usar a escrita em nossa sociedade nesse enfoque envolve,
(...) manter um repertório vasto e flexível de práticas, desempenhar papéis e activar
recursos que dêem expressão às dimensões operativas, culturais e críticas, actuando,
tanto: como decodificador, pela mobilização de recursos necessários para abrir o
código dos textos escritos, reconhecendo e usando traços e estruturas convencionais
RE
da organização do texto; como participante textual, participando na construção de
sentidos, tendo consideração, por relação com suas experiências e conhecimentos
sobre outros discursos, textos e sistemas de significação, os sistemas de sentido
específicos de cada texto; como utente [usuário] de textos, usando-os
pragmaticamente, negociando as relações sociais à volta dos textos, sabendo sobre
eles e agindo nas diferentes funções sociais e culturais que eles desempenham na
10
Cf. Lahire, 2002, 2006; Oliveira e Vóvio, 2003.
11
Muitas dessas contribuições são advindas também dos estudos realizados pela escola New Literacy Studies –
NLS (Novos Estudos do Letramento11). Essa abordagem situada dos estudos do letramento, como bem aponta
Kleiman (1995), colaboram para operar mudanças em realidades desiguais, nas quais se perpetuam hierarquias,
se assistem a crescente marginalização e estigmatização de grupos sociais por meio de instrumentos como a
escrita.
12
Ver Vóvio (1999) e Oliveira e Vóvio (2003)
13
Um dos principais impactos é a incorporação destas teorias na produção de parametrizações curriculares
nacionais, no delineamento de critérios para a avaliação de materiais didáticos distribuídos às redes públicas de
ensino, na produção editorial de livros didáticos de língua portuguesa, por exemplo.
14
Ver os dados e avaliações implementadas pelo SAEB, em âmbito nacional e Saresp, em âmbito estadual, por
exemplo.
15
Cf Ribeiro 1999.
REVEJ@ - Revista de Educacao de Jovens e Adultos, v. 1, n. 0, p. 1-108, ago. 2007
90
sociedade (por exemplo, na escola) e compreendendo que estas funções afectam o
modo como os textos são estruturados, o seu tom, o seu grau de formalidade e a
organização dos seus elementos constitutivos (p.76)
Nesse sentido os processos de aprendizagem devem focalizar as práticas culturais
relacionadas à escrita e suas variadas modalidades de uso, para além daquelas de que
tradicionalmente a escola se ocupou. Aprender a ler e praticar a leitura, nessa perspectiva,
“implica saber como funcionam os textos nas diversas práticas socioculturais” (Kleiman,
2002, p. 31) e pode colaborar para que as pessoas possam transitar com familiaridade entre
diversas práticas culturais e em diferentes instituições, conscientes de seus papéis,
possibilidades e modalidades de ação. Contribui para que as pessoas saibam buscar
conhecimentos e informações para continuar aprendendo ao longo de toda a sua vida.
Conceber dessa forma a leitura acarreta uma série de conseqüências para o desenho de
políticas educacionais e para a organização de programas educativos. Aponta para a
necessidade da conexão destes com práticas sociais e, em especial, com aquelas que se
J @
mostram relevantes e emancipatórias para os estudantes (Torres, 2000; Kleiman, 2001, 2002).
Sobre o que estamos aprendendo?
Ao assumirmos a concepção que admite a pluralidade temos uma série de questões
para a elaboração de projetos, programas educativos, atividades a fim de que possamos
VE
propiciar oportunidades variadas para a formação de leitores críticos, capazes de transitar em
meio aos diferentes textos disponíveis nas sociedades letradas e usá-los para variados fins,
fazendo com que convirjam para suas necessidades e interresses. Consoantes a esse enfoque,
os programas de educação de pessoas jovens e adultas, seja no âmbito escolar ou informal,
RE
colocam-se a favor de promover experiências de que abarcam um conjunto amplo,
compreendendo desde as situações de leitura com as quais as pessoas convivem localmente,
em seu cotidiano, até aquelas que, globalmente, se disseminam e são necessárias para a plena
inserção desses sujeitos na sociedade da qual fazem parte. Programas filiados a essa
perspectiva prestam-se à ampliação de repertórios, à tomada de consciência sobre os usos e
funções da escrita em nossa sociedade e, com isso, promovem aprendizagens, muito mais
complexas do que as de decodificar o texto escrito, possibilitando aos estudantes continuar
aprendendo ao longo de toda a vida. É comum pensarmos que um conhecimento fundamental
para ler é aquele que se refere à decodificação. Mas, ao ler, as pessoas colocam em jogo mais
do que isso. Sendo uma atividade social, cada qual interage trazendo sua bagagem
experiencial, seus propósitos, conhecimentos de mundo, intenções, representações sobre o ato
REVEJ@ - Revista de Educacao de Jovens e Adultos, v. 1, n. 0, p. 1-108, ago. 2007
91
de ler, sobre si mesmo e sobre os outros. Nos atos de ler, portanto, estão envolvidos diversos
elementos que vão além de conhecer letras e relacioná-las aos sons que representam.
Assumir essa perspectiva emancipatória nos processos de formação de leitores traz
para aqueles envolvidos em práticas educativas varias questões, como já dito. A primeira
delas é a de conhecer as práticas de leitura locais. Sabemos muito pouco sobre as práticas de
leitura, sobre seu funcionamento em contextos diversos, por exemplo, o que e como se lê nas
comunidades do campo, ou, em âmbitos diversos, como na religião, práticas associativistas e
comunitárias. Muitas vezes essas práticas estão relacionadas a práticas orais e coletivas muito
distintas daquelas de que se ocupa tradicionalmente a escola. Sabemos muito pouco sobre as
posições atribuídas e acatadas pelos participantes nessas situações, por exemplo, o que se lê,
de quem é a responsabilidade de ler, para quem se lê, qual é o papel do texto e como se
interpretam o texto escrito. Sabemos muito pouco sobre o que significam essas práticas para
esses grupos e comunidades. Portanto, conhecê-las e identificá-las exige trocar nossas lentes
práticas e como elas as significam.
J @
para observarmos os comos e os porquês das práticas de leitura que ocorrem em cada local, o
modo como a escrita é usada e os para que, as maneiras como as pessoas se envolvem nessas
Pessoas jovens e adultas em processo de escolarização convivem com situações e
VE
materiais de leitura os mais variados em suas casas, na rua por onde andam, no trabalho, na
religião, nas atividades de lazer. Todos relacionados às atividades desenvolvidas nesses
âmbitos nas quais se constroem representações sobre o que é ler, como se lê, sobre ser ou
tornar-se leitor, o que pode ser lido e que tipos de materiais e textos são valorizados
socialmente (reconhecidos como legítimos de serem lidos). São idéias, opiniões e pontos de
RE
vista sobre si mesmos e sobre os outros, sobre ações, materiais construídas nas experiências
compartilhadas com leitores, nas imagens e discursos veiculados pelos meios de comunicação
e nas situações que compartilham cotidianamente, que influem no modo como se engajam na
aprendizagem da leitura. Essas representações são acionadas em variados momentos e podem,
por meio das atividades e interações que se realizam nas turmas de EJA, serem confirmadas,
transformadas, ressignificadas e/ou apagadas, por isso, é importante conhecer esse universo
para saber como e o que se pode oferecer de interessante e útil para os sujeitos e compreender
suas réplicas a essas propostas.
Outro desafio, na assunção desse enfoque da diversidade, diz respeito a como proceder
para que as pessoas nas situações de aprendizagem familiarizem-se com novos gêneros do
discurso. Segundo Kleiman (2002), a aprendizagem da leitura sob a perspectiva dos Estudos
REVEJ@ - Revista de Educacao de Jovens e Adultos, v. 1, n. 0, p. 1-108, ago. 2007
92
do Letramento, implica saber como funcionam os textos nas diversas práticas socioculturais.
Depreendemos dessa afirmação pelo menos duas conseqüências para a ação educativa na
EJA. A primeira refere-se à inserção dos estudantes em práticas legitimadas e que permitam o
trânsito cultural por variados âmbitos sociais. Significa que temos o desafio de apresentar uma
diversidade tal de situações de interação nas quais a escrita está presente que, de modo geral,
correspondam às práticas socialmente valorizadas de uso da linguagem escrita e necessárias
as demandas sociais mais amplas. A segunda refere-se ao fato de que aprendemos de acordo
com valores, conhecimentos e necessidades que estão condicionadas localmente e que dizem
respeito às motivações e aos interesses dos sujeitos. Significa que ao atuar na EJA temos que
descobrir os gêneros com os quais os estudantes estão familiarizados (orais e escritos) e suas
preferências; considerando-os como pontos de referência para apresentar novos, adequando o
processo de aprendizagem à realidade social dos estudantes e de suas comunidades, tornando
esse processo mais significativo para todos envolvidos. De necessidades de aprendizagem
@
presumidas e comuns a todos, passaríamos a necessidades localmente negociadas e em função
de demandas, interesses dos grupos envolvidos.
Relacionado ao desafio anterior temos outro: o de considerar que as práticas de leitura
J
estão envolvidas por conhecimentos os mais diversos, em geral aqueles advindos de nossas
experiências, nas quais lemos ou ouvimos textos escritos. No ato de ler acionamos saberes
VE
construídos em nossas histórias de vida, além de conhecimentos lingüísticos sobre o
funcionamento do sistema da escrita, sobre o vocabulário, sobre os diferentes gêneros, estilos,
autores, modalidades (oral, escrita, áudio-visual, etc.) entre tantos outros. Também envolvem
conhecimentos sobre o modo como os textos foram produzidos, quem está envolvido nessa
RE
produção, de que modo tornaram-se públicos, em que veículo ou suporte ele foram
publicados, como circulam entre nós. As atividades de leitura passam, desse modo, a serem
orientadas tanto pelo que já sabem os estudantes e por seus interesses como pelas exigências
do gênero em questão, em termos de sua composição, estilo e condições de produção e
circulação social. Isso quer dizer que os critérios para a organização de uma seqüência de
aprendizagem pauta-se pela consideração de que a maior parte dos estudantes que iniciam ou
retomam seus estudos na juventude ou vida adulta teve pouca oportunidade de analisar e
conhecer as características dos textos escritos para além da escuta e manipulação de alguns
deles e de que há textos que demandam um maior conhecimento dos recursos lingüísticos
(gênero do discurso, estilo e escolhas léxicas) de que lançou mão seu autor para que a leitura
REVEJ@ - Revista de Educacao de Jovens e Adultos, v. 1, n. 0, p. 1-108, ago. 2007
93
seja levada a cabo, bem como das características visuais que o definem (configuração,
organização de imagens, títulos etc.) e do suporte no qual se apresenta.
Outro desafio é o de resignificar o processo de aprender a ler. Em vez de ler para
aprender a ler, a leitura só tem significado quando guiada por objetivos, mediada por
problematizações, conhecimentos e necessidades daqueles que se envolvem na atividade.
Aprender a ler e praticar a leitura teriam que ser deslocados tornando-se eixos que articulam
aprendizagens mais gerais relacionadas à identificação de problemas e questões que os
sujeitos consideram importantes de solucionar, à busca de informação e conhecimento que
geram novas formas de compreender a realidade e interpretá-la, ao desenho de ações coletivas
para intervir na realidade e transformá-la. As atividades de leitura e a seleção de gêneros
estariam articuladas às temáticas e aos projetos de trabalho abordados nas turmas. Sendo as
atividades de leitura guiadas por objetivos e elaboradas de modo a que se desenvolvam em
contextos significativos para as pessoas jovens e adultas envolvidas.
@
Tal deslocamento exige um ambiente que disponibilize acervos variados com
diferentes materiais (impressos e áudios-visuais, por exemplo), de gêneros e textos
significativos, que tratam de temas e assuntos de interesse de jovens e adultos. Teriam lugar
J
nesse acervo também os materiais que os estudantes gostam e com os quais costumam
VE
conviver. Um destaque especial no processo de aprendizagem pela própria função da EJA é o
objetivo de ler para aprender, que implica a organização de propostas coletivas que abordam
informações, conhecimentos e competências substanciais para o tratamento de temas e
problematizações. Assim, a organização desses acervos demandaria a inclusão de textos
informativos de diversas áreas do conhecimento, textos jornalísticos, relatos históricos, textos
RE
literários e didáticos, além de listas, esquemas, tabelas, gráficos, mapas e imagens; todos
voltados à apreensão de novos conhecimentos por parte dos estudantes. A apropriação desses
textos pelos estudantes estaria atravessada por oportunidades de aprender estratégias de
estudo, que vão acompanhá-los no enfrentamento de atividades nos mais variados âmbitos.
Por fim, conceber as práticas de leitura desse modo também reposiciona o papel do
educador. A ação do educador nessa perspectiva pauta-se por realizar atividades com seus
estudantes, mediando a aprendizagem por meio do estabelecimento de diálogo entre todos e a
apropriação dos textos, a fim de que ambos possam atribuir sentidos coletivos e individuais ao
que lêem. Essa mediação também está pautada pelo planejamento de ações que visam a
definição de um objetivo para a leitura do texto em questão, a mobilização de conhecimentos
prévios pelos estudantes para lidar com o tema, assunto e tipo de texto a ser estudado e a
REVEJ@ - Revista de Educacao de Jovens e Adultos, v. 1, n. 0, p. 1-108, ago. 2007
94
oferta de informações que facilitem a leitura pelos estudantes (aquelas que caracterizam o tipo
de texto, o tratamento de conceitos e informações, histórico e caracterização do autor).
Considerações finais
É no espaço da recepção e da apropriação do texto pelas pessoas que se insinua uma
produção que dá origem a gestos, pensamentos, gostos, disposições, discursos e práticas
diversos. Mesmo os grupos e sujeitos em posição de maior vulnerabilidade, como o caso de
pessoas não ou pouco escolarizadas, não se encontram desarmados no campo social, eles não
estão desprovidos de recursos culturais próprios e, sobretudo, de capacidade de reinterpretar e
de se apropriar das produções culturais que não fabricam e que lhes são impostas em maior ou
menor grau16. Nem inteiramente dependentes, nem inteiramente autônomas, nem pura
imitação, nem pura criação, as produções culturais dos grupos em situação de maior
vulnerabilidade social precisam ser observadas na e a partir da situação em que são
@
construídas e que as constituem. A força de modelos culturais impostos não anula o espaço
próprio de sua recepção, não se resume à submissão, à interdição e à imobilidade, podendo
assumir os mais diversos contornos: de resistência, de rebeldia, de dormência, de recriação,
J
entre tantos outros. Em Certeau (1994), essa ação humana resulta num conjunto de maneiras
de viver com a dominação que se fabrica no cotidiano, nas atividades ao mesmo tempo banais
VE
e renovadas a cada dia, uma produção multiforme e disseminada, portanto, visível apenas nos
modos de operar desses sujeitos, nos usos que fazem dos produtos culturais.
É a partir do contexto social e histórico específico que as práticas de leitura, seus
objetos, os modos de ler e leitores são constituídos. É no jogo social, em que sujeitos ocupam
RE
posições peculiares que podemos acessar a essa maneira de fazer e as significações dessas
práticas. Ao estabelecermos uma relação de interdependência entre as diferentes práticas de
leitura, a multiplicidade de maneiras de ler e de objetos da leitura, e a variação gerada pelas
condições sócio-históricas e culturais assumimos novas formas de compreender, abordar e
problematizar esse objeto multifacetado, tendo como elementos centrais os textos e seus
leitores. Por este enfoque, as práticas de leitura não se encontram inextricavelmente
relacionadas a um único objeto (o livro), não se definem por uma forma particular de ler
(silenciosa e solitária). Não se localizam exclusivamente na mente das pessoas, como um
conjunto de habilidades a serem aprendidas, e também não residem nos textos. Não podem ser
alcançadas meramente pela determinação de sua freqüência, hábito, pela posse de objetos ou
16
Cf. Certeau, 1994.
REVEJ@ - Revista de Educacao de Jovens e Adultos, v. 1, n. 0, p. 1-108, ago. 2007
95
pelo pertencimento estrito a classes, grupos ou áreas sociais. Como toda atividade humana, é
essencialmente social e pode ser localizada na interação entre as pessoas (Kleiman, 1995).
Enfim, parece claro, que, quando a leitura abarca os contornos expostos até aqui, seu
ensino e aprendizado são tarefas complexas. Ao tomar a perspectiva da diversidade, das
práticas de leitura, implica conceber os processos de aprendizagem como exercícios de
cidadania, à medida que promovem efeitos e significações que, de um lado, se conectam ao
que querem e necessitam os sujeitos da aprendizagem e, de outro, se colocam a favor da
inserção de jovens e adultos na sociedade da qual fazem parte.
Referências Bibliográficas
ABREU, M. (2001) Diferença e desigualdade: preconceitos em leitura. In: MARINHO, M.
(Org.). Ler e navegar: espaços e percursos da leitura. Campinas: ALB; CEALE; Mercado de
Letras. p. 139-157.
BAKHTIN, M. [VOLOCHÍNOV]. ([1929] 1981) Marxismo e filosofia da linguagem. São
Paulo: Hucitec.
@
BARTON, D.; HAMILTON, M.; IVANIC, R. (2000) Situated literacies: reading and writing
in context. Londres: Routlege.
CERTEAU, M. de (1994) A invenção do cotidiano: artes de fazer. Petrópolis: Vozes.
J
CHARTIER, R. (2003) Formas e sentido cultura escrita: entre distinção e apropriação.
Campinas: ALB: Mercado de Letras.
VE
DIONÍSIO, M. de L. (2005) Literatura, leitura e escola: uma hipótese de trabalho para a
construção do leitor cosmopolita. In: PAIVA, A.; MARTINS, A.; PAULINO, G.;
VERSIANI, Z. (Orgs). Leituras literárias: discursos transitivos. Belo Horizonte: Ceale;
Autêntica. p. 71-84.
GALVÃO, A. M. de O.; BATISTA, A. (Orgs.). (1999) Leitura: práticas, impressos,
letramentos. Belo Horizonte: CEALE; Autêntica.
RE
GEE, J. ([1984] 2004) Oralidad y literacidad: del pensamiento salvage a ways with words. In:
ZAVALA, V.; MURCIA-NINO, M.; AMES, P. (Orgs.). (2004) Escritura y sociedad:
nuevas perspectivas teóricas y etnográficas. Lima: Red para el Desarollo de las Ciências
Sociales en el Peru. p. 23-56.
KALMAN, J. (2004) A Bakhtinian perspective on learning to read and write late in life. In:
BALL, A. F.; FREDDMAN, S. W. Bakhtinian perspectives on language, literacy and
learning. Cambridge: Cambridge University Press. p. 252-278.
KLEIMAN, A. B. (Org.). (1995) Os significados do letramento: uma nova perspectiva sobre
a prática social da escrita. Campinas: Mercado das Letras.
KLEIMAN, A. B. (2001) O processo de aculturação pela escrita: o ensino da forma ou a
aprendizagem da função. In: KLEIMAN, A. B.; SIGNORINI, I. et al. O ensino e a formação
do professor: alfabetização de jovens e adultos. Porto Alegre: Artmed. p. 223-243.
KLEIMAN, A. B. (2002) Contribuições teóricas para o desenvolvimento do leitor: teorias de
leitura e ensino. In: RÖSING, T. M. K.; BECKER, P. (Orgs.). Leitura e animação cultural:
repensando a escola e a biblioteca. Passo Fundo: UPF. p. 49-68
REVEJ@ - Revista de Educacao de Jovens e Adultos, v. 1, n. 0, p. 1-108, ago. 2007
96
LAHIRE, B. (2002) Homem plural: os determinantes da ação. Petrópolis: Vozes.
LAHIRE, B. (2006) A cultura dos indivíduos. Porto Alegre: Artmed.
OLIVEIRA, M. K. (2004) Ciclos de vida: algumas questões sobre a psicologia do adulto.
Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 30, n. 2, maio/ago., p. 211-229.
OLIVEIRA, M. K.; VÓVIO, C. L. (2003) Homogeneidade e heterogeneidade nas
configurações do alfabetismo. In: RIBEIRO, V. M. M. (Org.). Letramento no Brasil:
reflexões a partir do INAF. São Paulo: Global. p. 155-175.
OSAKABE, H. (2005) Poesia e indiferença. In: PAIVA, A.; MARTINS, A.; PAULINO, G.;
VERSIANI, Z. (Orgs). Leituras literárias: discursos transitivos. Belo Horizonte: Ceale:
Autêntica. p. 37-54.
RIBEIRO, V. M. M. (1999) Alfabetismo e atitudes: pesquisa junto a jovens e adultos. São
Paulo: Ação Educativa; Campinas: Papirus.
STREET, B. (1984) Literacy in theory and practice. Cambridge: Cambridge University
Press.
STREET, B. ([1993] 2004) Los nuevos estudios de literacidad. In: ZAVALA, V.; MURCIA-
NINO, M.; AMES, P. (Orgs.). Escritura y sociedad: nuevas perspectivas teóricas y
etnográficas. Lima: Red para el Desarollo de las Ciencias Sociales em el Peru. p. 143-180.
@
TARDELLI, G. (2003) Histórias de leitura de professores: a convivência entre diferentes
cânones de leitura. Tese (Doutorado em Lingüística), Universidade Estadual de Campinas,
Instituto de Estudos da Linguagem.
TORRES, R. M. (2000) ¿Quienes son analfabetos?. In: INEA. Lecturas para la educación
de los adultos: aportes de fin de siglo. t. III. México: INEA.
J
VÓVIO, C. L. (1999) Textos narrativos e orais produzidos por jovens e adultos em
processo de escolarização. Dissertação (Mestrado em Educação), Universidade de São
VE
Paulo.
RE
REVEJ@ - Revista de Educacao de Jovens e Adultos, v. 1, n. 0, p. 1-108, ago. 2007
Você também pode gostar
- Itinerários Formativos - Núcleo de Inovação Matemática - SEE/MG - 2º ANO - 2023Documento11 páginasItinerários Formativos - Núcleo de Inovação Matemática - SEE/MG - 2º ANO - 2023Max Andrade89% (9)
- Resumo o Porvir Desafios Das Linguagem Do Seculo Xxi Pedro DemoDocumento2 páginasResumo o Porvir Desafios Das Linguagem Do Seculo Xxi Pedro DemoAline RibeiroAinda não há avaliações
- Ebook BooquinhaDocumento272 páginasEbook BooquinhaSusana cardoso100% (6)
- Os Modelos Educacionais Na Aprendizagem On-Line - José Manuel MoranDocumento7 páginasOs Modelos Educacionais Na Aprendizagem On-Line - José Manuel Moranjapasantos103050Ainda não há avaliações
- Resenha Crítica - Pedagogia Da Iniciação EsportivaDocumento3 páginasResenha Crítica - Pedagogia Da Iniciação EsportivaLuciano ShinodaAinda não há avaliações
- Disurbios Da Aprendizagem ResumoDocumento31 páginasDisurbios Da Aprendizagem ResumoPatricia Elena Pontes DuarteAinda não há avaliações
- Lei TuraDocumento120 páginasLei TuraJuliana BehrendsAinda não há avaliações
- Letramento Digital Na Educação de Jovens e AdultosDocumento34 páginasLetramento Digital Na Educação de Jovens e AdultosCarla Rejane OliveiraAinda não há avaliações
- Alfabetização de Jovens e Adultos - Livro - Moacir - GadottiDocumento216 páginasAlfabetização de Jovens e Adultos - Livro - Moacir - GadottiMel SampaioAinda não há avaliações
- Livro - Políticas Públicas Educacionais e Organização Do Ensino PDFDocumento176 páginasLivro - Políticas Públicas Educacionais e Organização Do Ensino PDFc4b3loAinda não há avaliações
- Origem e Desenvolvimento Da Pedagogia Historico CriticaDocumento15 páginasOrigem e Desenvolvimento Da Pedagogia Historico CriticasergiomelloscmAinda não há avaliações
- Articulação Teoria PráticaDocumento11 páginasArticulação Teoria PráticaLaíza Erler Janegitz100% (1)
- Classe Multisseriada Histórico PDFDocumento21 páginasClasse Multisseriada Histórico PDFMagnólia PereiraAinda não há avaliações
- Retextualizacao Por Inez MatosoDocumento7 páginasRetextualizacao Por Inez MatosoJanne MarjanAinda não há avaliações
- Resenha Alfaletrar 2020Documento7 páginasResenha Alfaletrar 2020Tatiane PaivaAinda não há avaliações
- Filosofia Clinica PropedeuticaDocumento5 páginasFilosofia Clinica PropedeuticaLuiz Felipe PereiraAinda não há avaliações
- Art. Marisa Vorraber Costa - Sobre A Contribuição Das Análises Culturais para A Formação de Professores No Início Do Século XXIDocumento24 páginasArt. Marisa Vorraber Costa - Sobre A Contribuição Das Análises Culturais para A Formação de Professores No Início Do Século XXIvipoa2002Ainda não há avaliações
- Resenha Escola e Democracia - SavianiDocumento4 páginasResenha Escola e Democracia - SavianiDenise De RamosAinda não há avaliações
- Aprender, Ensinar GADOTTIDocumento19 páginasAprender, Ensinar GADOTTIaprendermatematica14Ainda não há avaliações
- A Transformação Do Espaço Pedagógico em Espaço Clínico (A Patologização Da Educação)Documento5 páginasA Transformação Do Espaço Pedagógico em Espaço Clínico (A Patologização Da Educação)José Hiroshi TanigutiAinda não há avaliações
- TCC Alfabetização e LetramentoDocumento11 páginasTCC Alfabetização e LetramentoMayke Kreitlow100% (1)
- fAMÍLIA NUCLEARDocumento14 páginasfAMÍLIA NUCLEARalgoz36Ainda não há avaliações
- Carta A Um Jovem HistoriadorDocumento12 páginasCarta A Um Jovem HistoriadorThiago Rodrigues NascimentoAinda não há avaliações
- Sociologia Da Educação Brasileira Diversidade e Qualidade - Barbosa - GandinDocumento38 páginasSociologia Da Educação Brasileira Diversidade e Qualidade - Barbosa - GandinProf. Magno CastroAinda não há avaliações
- Letramentos de ReexistênciaDocumento3 páginasLetramentos de ReexistênciaLuan CarvalhoAinda não há avaliações
- DISSERTAÇÃO Práticas de Leitura e Formação Do Aluno LeitorDocumento190 páginasDISSERTAÇÃO Práticas de Leitura e Formação Do Aluno LeitorDayane BarrosoAinda não há avaliações
- A Importancia Da Afetividade Na AprendizagemDocumento40 páginasA Importancia Da Afetividade Na AprendizagemArthur Jorge Moura100% (1)
- Cartografia Do Trabalho DocenteDocumento4 páginasCartografia Do Trabalho DocenteSilvano SulzartyAinda não há avaliações
- PCNS PCNEM Linguagens Codigos e Suas TecnologiasDocumento241 páginasPCNS PCNEM Linguagens Codigos e Suas Tecnologiasvilmar konageski jr100% (7)
- Luis Fernando DouradoDocumento26 páginasLuis Fernando DouradoEster HirsonAinda não há avaliações
- E-Book Formação, Pesquisa e Prática DocenteDocumento239 páginasE-Book Formação, Pesquisa e Prática DocenteSara PinheiroAinda não há avaliações
- BNCC Dissertacao PDFDocumento162 páginasBNCC Dissertacao PDFHandherson Damasceno100% (1)
- Resumo de Indagacoe Sobre o CurriculoDocumento43 páginasResumo de Indagacoe Sobre o Curriculocarlosstan80% (5)
- Educação Jovens e AdultosDocumento240 páginasEducação Jovens e AdultosNelma FelippeAinda não há avaliações
- UFMG PESQUISA EGRESSOS - EbookDocumento405 páginasUFMG PESQUISA EGRESSOS - EbookFabrício A. BuenoAinda não há avaliações
- Resumo Livro PerrenoudDocumento5 páginasResumo Livro Perrenoudangela_oreentreacaoAinda não há avaliações
- Marise Nogueira RamosDocumento18 páginasMarise Nogueira RamosViviane RauthAinda não há avaliações
- Lee ShulmanDocumento4 páginasLee ShulmanMaria EduardaAinda não há avaliações
- 2021 CHARLOT Os Fundamentos Antropológicos de Uma Teoria Da Relação Com o SaberDocumento18 páginas2021 CHARLOT Os Fundamentos Antropológicos de Uma Teoria Da Relação Com o SaberSaionara Rosa da CruzAinda não há avaliações
- Tese Doutorado Alfabetização PDFDocumento446 páginasTese Doutorado Alfabetização PDFFláviaRossinAinda não há avaliações
- Construção Da Interdisciplinaridade No Espaço Complexo de Ensino e PesquisaDocumento24 páginasConstrução Da Interdisciplinaridade No Espaço Complexo de Ensino e PesquisaJuliana BarrettoAinda não há avaliações
- Resenha de Letramento LiterárioDocumento3 páginasResenha de Letramento Literáriolorenafaria3100% (2)
- (Resenha) LIMA, J. C. F e NEVES, L. M. W. (Org) - Fundamentos Da Educação Escolar No Brasil ContemporâneoDocumento3 páginas(Resenha) LIMA, J. C. F e NEVES, L. M. W. (Org) - Fundamentos Da Educação Escolar No Brasil ContemporâneoLenioAinda não há avaliações
- Avanços e Desafios para o Atendimento Às Crianças Da Primeira Infância Da Rede Municipal de Ensino de ItumbiaraDocumento11 páginasAvanços e Desafios para o Atendimento Às Crianças Da Primeira Infância Da Rede Municipal de Ensino de ItumbiaraLia Batista MachadoAinda não há avaliações
- Currículo Integrado - Cristina DaviniDocumento10 páginasCurrículo Integrado - Cristina DavinicurriculoemacaodontoAinda não há avaliações
- SARMENTO. A Reinvenção Do Ofício de Criança e de AlunoDocumento22 páginasSARMENTO. A Reinvenção Do Ofício de Criança e de AlunoKleverton AlmiranteAinda não há avaliações
- Artigo - Curriculo, Pensar, Sentir e DiferirDocumento4 páginasArtigo - Curriculo, Pensar, Sentir e DiferirFrancinaldo MartinsAinda não há avaliações
- Resumo 2 Etnografia Da Prática EscolarDocumento4 páginasResumo 2 Etnografia Da Prática EscolarCristiano GalliAinda não há avaliações
- Apostila DidáticaDocumento11 páginasApostila Didáticaclaudiego2Ainda não há avaliações
- CATANI, Afrânio - Pierre Bourdieu e Seu Esboço de Auto-AnáliseDocumento23 páginasCATANI, Afrânio - Pierre Bourdieu e Seu Esboço de Auto-AnáliseEduardo VilarAinda não há avaliações
- O lugar da pedagogia e do currículo nos cursos de Pedagogia no Brasil: reflexões e contradições (2015-2021)No EverandO lugar da pedagogia e do currículo nos cursos de Pedagogia no Brasil: reflexões e contradições (2015-2021)Ainda não há avaliações
- O currículo e relações de saberes produzidos na Escola em Tempo IntegralNo EverandO currículo e relações de saberes produzidos na Escola em Tempo IntegralAinda não há avaliações
- Educação como conhecimento do ser humano na era do antropoceno: uma perspectiva antropológicaNo EverandEducação como conhecimento do ser humano na era do antropoceno: uma perspectiva antropológicaAinda não há avaliações
- A Construção do Consenso Hegemônico sobre o Programa Nacional do Livro Didático (1995-2016): Estado, Mercado Editorial e Sociedade CivilNo EverandA Construção do Consenso Hegemônico sobre o Programa Nacional do Livro Didático (1995-2016): Estado, Mercado Editorial e Sociedade CivilAinda não há avaliações
- Reflexões sobre os modelos de seleção de gestor escolar: Escola públicaNo EverandReflexões sobre os modelos de seleção de gestor escolar: Escola públicaAinda não há avaliações
- Tempo e Docência: Dilemas, Valores e Usos na Realidade EducacionalNo EverandTempo e Docência: Dilemas, Valores e Usos na Realidade EducacionalAinda não há avaliações
- Repercussões das políticas de inclusão na formação docenteNo EverandRepercussões das políticas de inclusão na formação docenteAinda não há avaliações
- Trabalho Docente: Crítica a Partir da Tradição MarxianaNo EverandTrabalho Docente: Crítica a Partir da Tradição MarxianaAinda não há avaliações
- Filosofia da práxis e didática da educação profissionalNo EverandFilosofia da práxis e didática da educação profissionalRonaldo M. de Lima AraujoAinda não há avaliações
- Políticas de avaliação em larga escala:: análise do contexto da prática em municípios de pequeno porteNo EverandPolíticas de avaliação em larga escala:: análise do contexto da prática em municípios de pequeno porteAinda não há avaliações
- BNCC e influências neoliberais: Base Nacional Comum Curricular e as influências neoliberais na sua construçãoNo EverandBNCC e influências neoliberais: Base Nacional Comum Curricular e as influências neoliberais na sua construçãoAinda não há avaliações
- Currículo e Prática Docente no Ensino Médio IntegradoNo EverandCurrículo e Prática Docente no Ensino Médio IntegradoAinda não há avaliações
- Caravana Poética - Caderno de TextosDocumento30 páginasCaravana Poética - Caderno de TextosFlávio De Carvalho Guerra100% (1)
- Historia Das MascarasDocumento7 páginasHistoria Das MascarasFlávio De Carvalho GuerraAinda não há avaliações
- Apostila SEED Língua Estrangeira - Espanhol - InglêsDocumento256 páginasApostila SEED Língua Estrangeira - Espanhol - InglêsCadernos EJA100% (4)
- Os Contos de CantuariaDocumento216 páginasOs Contos de CantuariaÉder SilveiraAinda não há avaliações
- Edital #04 2022 Convocação Interna Iema Bilíngue Santa Inês 1Documento20 páginasEdital #04 2022 Convocação Interna Iema Bilíngue Santa Inês 1Walter SilvaAinda não há avaliações
- DocumentoDocumento2 páginasDocumentophew902Ainda não há avaliações
- Questionário II - ESTUDOS DISCIPLINARES XIIDocumento13 páginasQuestionário II - ESTUDOS DISCIPLINARES XIIcasoufariasAinda não há avaliações
- ABOUT HEALTH - Prontuário Do Paciente em Saúde Mental.Documento7 páginasABOUT HEALTH - Prontuário Do Paciente em Saúde Mental.ritaecmalAinda não há avaliações
- Brinquedo, Peteca, FutebolDocumento136 páginasBrinquedo, Peteca, FutebolWillem De Lima RicardoAinda não há avaliações
- Dissertação - Maria Campos - Final PDFDocumento182 páginasDissertação - Maria Campos - Final PDFRegina FerreiraAinda não há avaliações
- Religiões Orientais No Ensino Religioso Aspectos Metodológicos Na Construção de Perspectivas Das Práticas Curriculares de EnsinoDocumento20 páginasReligiões Orientais No Ensino Religioso Aspectos Metodológicos Na Construção de Perspectivas Das Práticas Curriculares de EnsinoKarin WillmsAinda não há avaliações
- Professor - de - Matematica BhaiaDocumento8 páginasProfessor - de - Matematica Bhaiafelipe.j.r.marquesAinda não há avaliações
- Jornal Bueno 2022 - Mexida2Documento5 páginasJornal Bueno 2022 - Mexida2jordana wolppAinda não há avaliações
- 47Documento82 páginas47Carolina Serrano EstradaAinda não há avaliações
- 1 Aula Atendente de FarmáciaDocumento19 páginas1 Aula Atendente de FarmáciaJackson Da Silveira DóriaAinda não há avaliações
- Instituto Nacional de Educação de SurdosDocumento93 páginasInstituto Nacional de Educação de SurdosLourenço MoreiraAinda não há avaliações
- Letramento Literário BegmaDocumento14 páginasLetramento Literário BegmaLuh OliveiraAinda não há avaliações
- ENG1550 - Eletrônica GeralDocumento170 páginasENG1550 - Eletrônica GeralHumberto Cisneros ChavezAinda não há avaliações
- Doze Dicas Sobre Como Sobreviver Ao PBL Como Estudante de MedicinaDocumento5 páginasDoze Dicas Sobre Como Sobreviver Ao PBL Como Estudante de MedicinaPaula GabrielaAinda não há avaliações
- Ementa Curso de Extensão em IridologiaDocumento3 páginasEmenta Curso de Extensão em IridologiaAnderson Carlos DamacenaAinda não há avaliações
- Desafios Da Formação Docente Na Licenciatura em MatemáticaDocumento17 páginasDesafios Da Formação Docente Na Licenciatura em MatemáticaEliana LiuAinda não há avaliações
- Referencial CurricularDocumento280 páginasReferencial CurricularMarcilene Felix de JesusAinda não há avaliações
- Eletivas 2023Documento14 páginasEletivas 2023Fernanda Amaral MenesesAinda não há avaliações
- 5ano TA Livro PDFDocumento140 páginas5ano TA Livro PDFDanyelle Cipolli DinizAinda não há avaliações
- Sequencia Didática - Dia Da Agua - MaternalDocumento10 páginasSequencia Didática - Dia Da Agua - MaternalPro AlfaAinda não há avaliações
- Aspectos Invisíveis Do HealingDocumento137 páginasAspectos Invisíveis Do HealingDelfin CalderolliAinda não há avaliações
- Carta Da Qualidade Elearning PDFDocumento12 páginasCarta Da Qualidade Elearning PDFPaulo SousaAinda não há avaliações
- Regulamento Disciplinar CTBMDocumento32 páginasRegulamento Disciplinar CTBMGih VieiraAinda não há avaliações
- Aula 5Documento13 páginasAula 5jhonatassouza1998Ainda não há avaliações
- RIAEE V18 PC 2023 - RevDocumento22 páginasRIAEE V18 PC 2023 - RevThiago BittencourtAinda não há avaliações