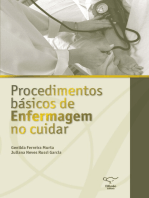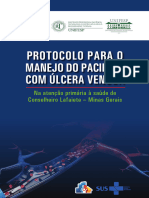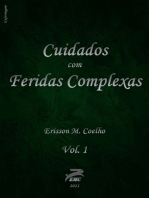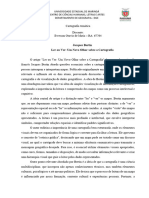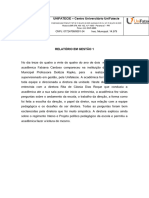Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Protocolo Feridas
Protocolo Feridas
Enviado por
Roserci MolaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Protocolo Feridas
Protocolo Feridas
Enviado por
Roserci MolaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Secretaria da Administrao do Estado da Bahia
NORMAS E DIRETRIZES
PARA PREVENO E TRATAMENTO DE
FERIDAS
MAIO/2010
Secretaria da Administrao do Estado da Bahia
GOVERNADOR DO ESTADO JAQUES WAGNER SECRETRIO DA ADMINISTRAO MANOEL VITRIO DA SILVA FILHO
REALIZAO
COORDENAO GERAL SNIA MAGNLIA LEMOS DE CARVALHO COORDENAO DE GESTO DE PROJETOS DE SADE CRISTIANE MRCIA VELOSO DE CARVALHO LOPES COORDENAO DE PREVENO NGELA MARIA NOLASCO FARIAS ANA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS COORDENAO DE PRODUTOS NADJA NARA REHEM DE SOUZA ANA PAULA BRAGA DAS CHAGAS CRISTIANE DE OLIVEIRA FREIRE
COORDENAO DE PROJETOS ASSISTENCIAIS
DR MARIA CONCEIO QUEIROZ DE OLIVEIRA RICCIO CONSULTORIA TCNICA DR LVIA NERY FRANCO GUERREIRO DA COSTA AUDITORA MDICA ENDOCRINOLOGISTA VALIDAO TCNICA DR. CARLOS HENRIQUE BRIGLIA DE BARROS CIRURGIO PLSTICO ESPECIALISTA PELA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA PLSTICA MEMBRO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUEIMADURAS DR. CCERO FIDELIS LOPES CIRURGIO VASCULAR ESPECIALISTA PELA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR PROFESSOR DA FACULDADE DE MEDICINA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA) PARCERIA TCNICA ENF RAYSSA FAGUNDES B. PARANHOS ENF LEDA LCIA NOVAES BORGES SOCIEDADE BRASILEIRA DE ESTOMATERAPIA SOBEST SEO BAHIA COLABORAO ENF MARINS MARQUES LIMA ESPECIALISTA EM LESES DE PELE PELA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENFERMAGEM EM DERMATOLOGIA SOBENDE ENF.MARIA DAS GRAAS VELANES FARIAS SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES REGIONAL BAHIA
Secretaria da Administrao do Estado da Bahia
BAHIA, Secretaria da Administrao Protocolo Clnico/Feridas Salvador: SAEB/CGPS, 2010 1. Protocolo Clnico/Feridas
Secretaria da Administrao do Estado da Bahia
A AVALIAO CLNICA DO PACIENTE MAIS SATISFATRIA DO QUE QUAISQUER MEIOS ARTIFICIAIS. A HISTRIA DO PACIENTE EST ESCRITA EM SUA PELE L EST PARA SER LIDA POR QUEM QUISER. (Bergan, 1967)
Secretaria da Administrao do Estado da Bahia
Sumrio
1. Dados da Instituio 2. Introduo 3. Justificativa 4. 5. Objetivos Pele 6 6 7 8 8 10 13 20 27 29 30 33 33 39 41 43 44
6. Reparao Tissular 7. Feridas
8. Curativos 9. Queimaduras
10. Oxigenoterapia Hiperbrica (OHB) 11. Estomias 12. Drenos 13. Preveno de Feridas 14. Equipe Multiprofissional 15. Referenciais Tericos 16. Endereos Eletrnicos Referenciais 17. Anexos
Secretaria da Administrao do Estado da Bahia
1. Dados da Instituio
INSTITUIO ENDEREO
PLANSERV Assistncia Sade dos Servidores do Estado da Bahia Centro de Ateno Sade Professor Dr. Jos Maria de Magalhes Netto 4 andar Avenida Antonio Carlos Magalhes S/N Iguatemi Salvador/Ba CEP: 41820-020
TELEFONE ATIVIDADE PREDOMINANTE
(71) 3116-4700 Assistncia Sade dos Servidores Pblicos do Estado da Bahia, seus dependentes, agregados e pensionistas
UNIDADE EXECUTORA
Coordenao de Gesto de Projetos de Sade CGPS
2.
Introduo
O profundo desenvolvimento na rea celular, nas ltimas trs dcadas, tem levado os profissionais de sade que atuam na preveno e tratamento de feridas a uma reviso dos conceitos e procedimentos tradicionais, muitos dos quais empregados desde a Antiguidade e, acima de tudo, ao reconhecimento de que a leso apenas um aspecto de um todo holstico, que o ser humano. Esse motivo exige atuao interdisciplinar, atravs de intervenes integradas e sistematizadas, fundamentadas em um processo de tomada de deciso, que almejem, como resultado final, a restaurao tissular com o melhor nvel esttico e funcional. O conhecimento do estudo da arte e da cincia relativo ao cuidar da pele fundamental quando se objetiva a melhoria da qualidade de vida das pessoas, acelerando o tempo de cicatrizao, reduzindo os riscos e as complicaes e o tempo de internao domiciliar/hospitalar, minimizando o sofrimento e melhorando o custo-benefcio no tratamento de leses agudas e crnicas, especialmente em clientelas mais suscetveis como os idosos, diabticos e outros. A evoluo dos conceitos no tratamento de feridas s foi possvel graas maior compreenso e, mesmo, valorizao dos aspectos anatmicos e fisiolgicos da pele e, principalmente, do processo de cicatrizao.
Secretaria da Administrao do Estado da Bahia
No Brasil, as lceras constituem um srio problema de sade pblica, em razo do grande nmero de pessoas com alteraes na integridade da pele, embora sejam escassos os registros desses atendimentos. O elevado nmero de pessoas com essas leses contribui para onerar o gasto pblico. Com relao s queimaduras, mesmo com subnotificaes, os nmeros giram em torno de um milho de queimados por ano com aproximadamente 100.000 mortes. Os gastos esto entre os mais elevados, devido complexidade das leses, requerendo profissionais especializados, principalmente no tocante aos curativos. O que se vivencia nos dias de hoje, de forma crescente, so profissionais, instituies e indstria empenhando e buscando a excelncia para proporcionar ao portador de leses, em especial os de carter crnico, um tratamento eficaz, em curto prazo, que possa trazer maior conforto e breve normalidade de sua vida social. O cuidado com a pele, ferida e estomia uma tarefa que exige da equipe multidisciplinar conhecimento cientfico e habilidade tcnica. Indivduos portadores de feridas e estomas ocupam um percentual considervel do tempo da equipe preventiva e assistencial. Sendo assim, fazem-se necessrios programas educativos e reciclagens peridicas dos cuidadores, devido importncia, complexidade e avano de tecnologias e abordagens. O tratamento de leses cutneas vem sendo tema destacado em diversos seguimentos profissionais na rea de sade no mundo todo. uma prtica milenar que, nos primrdios da civilizao estava intimamente ligada a costumes e hbitos populares e, com o desenrolar da histria e o desenvolvimento tecnolgico, conquistou seu merecido cunho cientfico. O PLANSERV prope um protocolo sistematizado, no qual os beneficirios tenham um atendimento qualificado, realizado por equipe multidisciplinar: mdico especialista (cirurgio plstico, cirurgio geral, cirurgio vascular, infectologista ou dermatologista), enfermeiro especialista em leses de pele ou estomaterapeuta, nutricionista, assistente social, psiclogo, fisioterapeuta e farmacutico, valorizando a diversidade de papis em busca da integralidade da assistncia, garantindo a adeso dos pacientes e seus familiares ao tratamento, e enfatizando que a participao destes nesse processo de cura e autocuidado torna-se essencial para a reabilitao.
3.
Justificativa
A proposta da abordagem direcionada ao tratamento de feridas e queimaduras deve-se dificuldade de acesso dos beneficirios do PLANSERV ao profissional e instituies especializadas e prevalncia das leses na populao, decorrente de vrias patologias, alm do risco associado de complicaes clnicas e/ou cirrgicas, provocando incapacidade temporria ou definitiva, gerando altos custos para o sistema de assistncia sade.
Secretaria da Administrao do Estado da Bahia
4.
Objetivos
4.1. Objetivo Geral
Fornecer assistncia integral e especializada aos beneficirios do PLANSERV com fatores de risco de desenvolver leses e para aqueles portadores de dermatites, feridas, queimaduras, estomas ou fstulas, promovendo o autocuidado e a reabilitao de forma individualizada e humanizada.
4.2. Objetivos Especficos
Reduzir o tempo de tratamento e internamento, atravs do acompanhamento do quadro clnico e uso adequado das tecnologias existentes, aos portadores de leses cutneas crnicas, evitando agudizaes ou reagudizaes e prevenindo complicaes; Favorecer a cicatrizao e a reabilitao precoces com melhoria da qualidade de vida; Definir critrios de indicao de medidas preventivas, avaliao, tratamento e evoluo para pacientes com integridade da pele prejudicada ou sob risco; Padronizar material, curativos especiais, bolsas e acessrios; Estabelecer classificao de risco para pacientes hospitalizados e em assistncia domiciliar com probabilidade para desenvolver lcera por presso; Prevenir aparecimento de novas feridas, principalmente em pacientes que j tem lcera instalada; Planejar a assistncia mdica e de enfermagem em atendimento domiciliar aos pacientes portadores de feridas, pequenas queimaduras e estomias.
5.
A Pele
5.1. Estrutura
A pele reveste e delimita todo o corpo humano, constituindo-se assim no maior rgo, representando 15% do peso corporal. A pele composta por trs camadas: epiderme, derme, hipoderme ou tecido subcutneo.
Secretaria da Administrao do Estado da Bahia
Epiderme: a camada mais externa da pele, composta por clulas epiteliais (queratincitos). No possui vascularizao e impermeabilizada pelo sebo (produto das glndulas sebceas). Tem como funes principais a proteo do organismo e a constante regenerao da pele. A epiderme impede a penetrao de microorganismos ou substncias qumicas destrutivas, absorve radiao ultravioleta do sol e previne as perdas de fluidos e eletrlitos.
Derme: a camada intermediria da pele, formada por fibras colgenas e elastina, na qual se encontram terminaes nervosas, vasos sanguneos e os anexos da pele (glndulas sebceas e sudorparas e os folculos pilosos).
Hipoderme ou Tecido Adiposo Subcutneo: a camada mais interna da pele, formada por tecido adiposo, que promove isolamento trmico, protege estruturas mais internas como msculos e ossos quanto s presses e aos tratamentos externos, e reservatrio nutricional da pele (lipognese).
Figura 1 Estrutura da Pele
5.2. Funes
Termorregulao: controla a temperatura corporal. Protetora: estabelece uma barreira entre o corpo e o meio ambiente, impedindo a penetrao de microorganismos e raios solares ultravioleta. Imunobiolgica: atua como defesa, local onde os linfcitos e os macrfagos atuam nos processos infecciosos crnicos, como, por exemplo, os da hansenase.
Secretaria da Administrao do Estado da Bahia
Percepo: envolve estruturas especializadas e diferenciadas para cada tipo de estmulo perceptivo (ttil, trmico, doloroso, pressrico, vibratrio e a resposta galvnica). Secretora: atua por meio das glndulas sebceas e sudorparas. A secreo sebcea atua como lubrificante e emulsificante, formando o manto lipdico da superfcie cutnea, com atividade antibacteriana e antifngica. Sntese: sintetiza, sob ao da luz solar, a vitamina D, que tem efeitos sobre o metabolismo do clcio nos ossos.
6. Reparao Tissular
A pele, quando lesada, inicia imediatamente o processo de reparao tecidual. Sua restaurao ocorre por meio de um processo dinmico, contnuo, complexo e interdependente, composto por uma srie de fases sobrepostas denominadas de cicatrizao.
6.1. Fatores que interferem na integridade da Pele e Cicatrizao
6.1.1. Intrnsecos
Idade: um dos aspectos sistmicos mais importantes como co-fator de risco, tanto para a leso como para a sua manuteno, ao gerar um profundo impacto no funcionamento de todos os sistemas fisiolgicos corporais. A idade avanada est associada a uma srie de alteraes nutricionais, metablicas, vasculares e imunolgicas e, muitas vezes, a doenas crnicas, que tornam o indivduo mais suscetvel ao trauma e infeco.
Estado Nutricional: um co-fator sistmico considerado de grande importncia na rea de preveno e tratamento de feridas. Desnutrio, m absoro gastrointestinal e dietas inadequadas podem comprometer o aporte nutricional requerido para a cicatrizao. Independente do estado nutricional do individuo, necessrio um aporte maior de nutrientes que so fundamentais na cicatrizao das lceras, principalmente de protenas, vitaminas A e C e sais minerais, como zinco, selnio, ferro dentre outros. A anemia tem sido referida como fator de interferncia na reparao da ferida.
10
Secretaria da Administrao do Estado da Bahia
Vascularizao: a oxigenao e perfuso tissular so condies essenciais para a manuteno da integridade e sucesso na reparao tissular. Indivduos portadores de insuficincia arterial ou venosa podem desenvolver ulceraes distais que tendem cronificao.
Condies Sistmicas Concomitantes: este item bastante amplo, uma vez que pode englobar desde doenas pr-existentes bem estabelecidas a sintomas vigentes ou sequelas de alteraes crnicas. Assim, alm das doenas vasculares perifricas, arteriais e venosas, incluem-se ainda neste grupo diabetes mellitus, insuficincia renal e imunossupresso.
Estado Psicolgico: o estresse, a ansiedade e a depresso so identificadas como co-fatores que contribuem para a cicatrizao deficiente.
Infeco: a carga biolgica e metablica imposta pela bactria ferida um co-fator importante no retardo ou impedimento da restaurao tecidual. A presena de infeco prolonga a fase inflamatria leva destruio tissular adicional, retarda a sntese de colgeno e impede a epitelizao, uma vez que o microorganismo compete com as clulas normais para obteno de oxignio e nutrientes, alm de liberar seus produtos txicos.
6.1.2 Extrnsecos
Terapia Sistmica: alguns tratamentos sistmicos podem comprometer o processo de restaurao tecidual, tais como: radioterapia, quimioterapia, esterides e drogas antiinflamatrias, corticides, drogas vasoconstrictoras.
Tabagismo: fato que a baixa concentrao de oxignio nos tecidos pode afetar a velocidade de cura das feridas. Observa-se nos fumantes uma propenso em desenvolver lceras perifricas de origem arterial e um risco maior para o desencadeamento de necrose nas feridas.
Fatores Mecnicos: presso, frico e cisalhamento so foras mecnicas que podem contribuir para romper a integridade tissular superficial e profunda. Embora associadas s lceras por presso, podem estar relacionadas com as demais lceras crnicas especialmente as de perna (vasculognicas e neuropticas). A presso leva ocluso capilar, causando isquemia e acmulo intersticial de catablitos com progressiva anxia e morte celular. A inter-relao da intensidade durao da presso e tolerncia tissular determinar o desenvolvimento das lceras de presso.
11
Secretaria da Administrao do Estado da Bahia
6.2. Fases da Cicatrizao
A cicatrizao um processo fisiolgico que visa reparao tecidual, imediatamente aps a ocorrncia de qualquer tipo de trauma, desencadeado pelo organismo, atravs de clulas especficas, mediadores qumicos e mecanismos vasomotores.
Fase Inflamatria (0-5 dias): caracteriza-se pela presena dos sinais flogsticos: dor, calor, rubor e edema. A funo desta fase o controle do sangramento, limpeza e defesa local.
A defesa local ocorre com a migrao dos leuccitos: Neutrfilos: responsveis pela degradao de tecidos desvitalizados. Moncitos: responsveis pelo incio da fagocitose. Macrfagos: responsveis pela fagocitose. Eosinfilos, Basfilos e Linfcitos: responsveis pela resposta antgeno-anticorpo. Em seguida os macrfagos comeam a substituir os moncitos, continuando a ao fagocitria, e a produo de diversos fatores de crescimento que promovem a multiplicao dos fibroblastos.
Fase Proliferativa (5-24 dias): nessa fase ocorre o preenchimento da ferida com tecido conectivo e a cobertura epitelial com a formao de um tecido novo (tecido de granulao), resultado da liberao de fatores angiognicos, secretados pelos macrfagos e a sntese de colgeno pelos fibroblastos. um tecido ricamente vascularizado, com aspecto vermelho, brilhante e mido. Nesta fase ocorre tambm a retrao da leso, provocada pela migrao de clulas epiteliais das bordas da ferida.
Fase de Maturao (24 dias a 2 anos): nessa fase ocorre a remodelao do colgeno e reduo da capilarizao com aumento da fora tnsil da leso em at 70 a 80% da fora original, caracterizandose sempre um tecido menos resistente tenso ou trauma, comparativamente pele nunca lesada.
6.3. Formas de Cicatrizao
Cicatrizao por primeira inteno: h perda mnima de tecido e as bordas so passveis de aproximao. A fase inflamatria mnima com necessidade de pouca epitelizao.
12
Secretaria da Administrao do Estado da Bahia
Cicatrizao por segunda inteno: h perda acentuada de tecido e no existe possibilidade de aproximao das bordas. As fases de cicatrizao so bem acentuadas, com resposta inflamatria evidente, necessidade de formao de tecido de granulao e epitelizao visvel
Cicatrizao por terceira inteno ou retardada: h fatores que podem retardar ou complicar o processo cicatricial por primeira inteno (hematoma subcutneo, infeco, trauma, etc.), levando geralmente deiscncia total ou parcial da inciso. Posteriormente, realiza-se a sutura e a cicatrizao ocorre por reepitelizao.
7. Feridas
7.1. Conceito
As feridas so leses no tecido epitelial, mucosa ou rgo com comprometimento de sua estrutura anatmica e/ou funo fisiolgica. interessante notar que vulnus, do latim, cujo significado ferida, origina o vocbulo vulnervel, o que explica, de certa forma, do ponto de vista histrico, como os indivduos portadores de feridas ou cicatrizes, especialmente as crnicas, sentem-se, percebem-se e comportam-se em suas relaes sociais, e, por outro lado, como a sociedade os encara. O isolamento e at o banimento social resultante algo mencionado desde as Sagradas Escrituras, em relao aos leprosos, tornando-se clara na citao do sculo XVII: Uma ferida mesmo curada ainda deixa uma cicatriz atrs de si.
7.2. Tipos de Feridas
Feridas Limpas: no contm carga bacteriana, ou seja, so isentas de microorganismos. Feridas Cirrgicas: so intencionais, com tendncia regresso espontnea e completa, dentro de um prazo mais ou menos preestabelecido, podendo ser planejadas e realizadas de modo a reduzir os riscos de complicaes. So feridas agudas. Feridas Necrticas: so feridas com tecido desvitalizado (morto). Feridas Exsudativas: possuem exsudato em seu interior (material fluido composto por clulas ou desbris celulares que escapam de um vaso sanguneo e se depositam nos tecidos ou nas superfcies teciduais resultantes de processo inflamatrio). Feridas Complexas: so feridas crnicas decorrentes de complicaes ps-operatrias, infeces, deiscncias de sutura e fstulas com consequente retardo ou dificuldade na cicatrizao.
13
Secretaria da Administrao do Estado da Bahia
Feridas Oncolgicas: as feridas neoplsicas malignas geralmente so de origem metasttica e evoluem, em geral, com formao de grande quantidade de exsudato, de odor extremamente desagradvel, alm de fcil sangramento, tendo importante impacto clnico e sobre a qualidade de vida. lcera por Presso: uma rea de trauma tecidual causada por presso contnua e prolongada, excedendo a presso capilar normal, aplicada pele e os tecidos adjacentes, entre uma proeminncia ssea e uma superfcie externa provocando uma isquemia que pode levar a morte celular. Ferida das mais freqentes, sendo mais comum nas regies sacral, calcneos, trocanter maior do fmur e malolos externos. uma ferida crnica, de cicatrizao demorada e fcil reincidncia. A lcera por presso aumenta a morbidade, o tempo de internao, podendo ser fatal. lcera Venosa: causadas por insuficincia venosa crnica oriunda de varizes primrias, de trombose venosa profunda (Sndrome Ps-trombtica ou Ps-flebtica), anomalias vasculares ou outras causas que interfiram no retorno venoso. As caractersticas clnicas so: localizadas com mais freqncia na regio perimaleolar medial, podendo se apresentar com poucos milmetros at envolvimento de toda a circunferncia da perna, o leito pode se apresentar com tecido de granulao ou com tecidos necrticos e secreo purulenta em casos de infeco, em geral com exsudato abundante; as bordas podem se apresentar finas com caractersticas de epitelizao ou grossas e elevadas, evidncias que podem traduzir tendncia ou no para a cicatrizao, a dor pode estar presente, a pele em volta da lcera pode se apresentar com edema, hiperpigmentao, dermatite, dermatoesclerose, etc. Em geral, surge aps trauma e, muitas vezes, precedida por episdio de erisipela, celulite ou eczema de estase. Dentre as lceras de pernas, 70% so de origem venosa. lcera Arterial: causadas por doena arterial obstrutiva crnica oriunda mais freqentemente da doena aterosclertica, cuja reduo progressiva de fluxo pode levar a um regime de isquemia extremo com necrose tissular que se traduz pela presena de lcera. As caractersticas clnicas so: localizadas, inicialmente, em reas mais distais da extremidade, mas, traumas podem ser responsveis por lceras em outras localizaes, a dor freqentemente referida, exceto se o paciente apresentar neuropatia diabtica (p insensvel), o leito se apresenta com tecido de granulao de colorao plida ou com tecidos desvitalizados e com dimenses variadas. A pele na extremidade afetada pode apresentar atrofia, rarefao de plos, unhas distrficas, diminuio do reenchimento capilar, a depender da gravidade pode ser encontrado diminuio da temperatura local, palidez e cianose. Outro achado relevante a diminuio ou ausncia das pulsaes das artrias dos ps.
14
Secretaria da Administrao do Estado da Bahia
lcera Neuroptica: causada por neuropatia perifrica, em decorrncia de algumas doenas de base, tais como: hansenase, diabetes mellitus, alcoolismo e outras. As pessoas acometidas destes agravos esto em maior situao de risco, pois podem desenvolver leses das fibras autonmicas, sensitivas e motoras, resultando em leses primrias, como mo em garra, p cado e anquilose (articulaes endurecidas); e secundrias, como paralisias musculares, fissuras, lceras plantares, leses traumticas, osteomielite, com posterior necrose, gangrena e perda de segmentos sseos. O indivduo portador de diabetes que apresenta neuropatia poder no mais sentir o incmodo da presso repetitiva de um sapato apertado, a dor de um objeto pontiagudo no cho ou da ponta da tesoura durante o ato de cortar unhas, etc. Isto o torna vulnervel a traumas e denominado de perda da sensao protetora. Acarreta tambm a atrofia da musculatura intrnseca do p, causando desequilbrio entre flexores e extensores, desencadeando deformidades osteoarticulares (dedos em garra, dedos em martelo, proeminncias das cabeas dos metatarsos, joanetes). Estas deformidades alteram os pontos de presso na regio plantar levando sobrecarga e reao da pele com hiperceratose local (calo), que com a contnua deambulao evolui para ulcerao (mal perfurante plantar). A perda da integridade da pele se constitui em uma importante porta de entrada para o desenvolvimento de infeces, que podem evoluir para amputao. lcera Anmica: lcera de membros inferiores decorrente de problemas hematolgicos resultantes da anemia falciforme, associando-se a hepatoesplenomegalia, esplenomegalia, ictercia e outros sintomas. A lcera bastante dolorosa, localiza-se no tero inferior da perna, sem caractersticas especficas.
7.3. Classificao de Feridas
Existem vrias metodologias para classificao de feridas. De acordo com os tecidos envolvidos, este esquema de classificao direcionado para lceras de presso, mas frequentemente utilizado para lceras de outras etiologias. o mais aplicado na prtica. Estgio I: hiperemia que no se desfaz com a mudana de decbito. Em negros podem apresentar leso esbranquiada. O calor local, edema e endurecimento tambm so indicativos desta fase. Estgio II: perda de epiderme e derme. Leso frivel, sangrante, bolhas e abrases. Estgio III: comprometimento at a hipoderme, com presena ou no de infeco e necrose, porm sem alteraes em fascia muscular, ossos e tendes. Estgio IV: grande destruio da pele, com presena de tecido necrtico, com ou sem infeco comprometendo msculos, ossos, tendes e cpsulas articulares.
15
Secretaria da Administrao do Estado da Bahia
Vale ressaltar que no se pode definir o estadiamento da lcera recoberta por necrose, porque no se visualiza as camadas da pele comprometidas.
7.3.1. Classificao quanto perda tecidual das leses arteriais, venosas ou mistas:
Perda superficial: comprometimento da epiderme, ausncia de sangramento e com reepitelizao. Perda parcial: comprometimento da epiderme e parte da derme, presena de sangramento e crosta. Perda total: comprometimento da epiderme, derme, hipoderme e com exposio ssea.
7.3.2. Classificao da Universidade do Texas:
Tabela 1 Classificao da Universidade do Texas GRAU ESTGIO A Leso pr ou psulcerao. Completamente epitelizada Com Infeco Com Isquemia Com Infeco Isquemia e Ferida superficial sem envolvimento de tendo Ferida envolvendo tendo cpsula Com Infeco Com Isquemia e Com Infeco e Isquemia Ferida envolvendo articulao e osso ou 0 1 2 3
B C D
Com Infeco Com Isquemia Com Infeco Isquemia
Com Infeco Com Isquemia Com Infeco e Isquemia
Armstrong DG, Lavery LA, Harkless LB. Diabetes Care 21:855-859, 1998. Lavery LA, Armstrong DG, Harkless LB. J Foot Ankle Surg. 35: 528-531, 1996.
7.4. Avaliao da Ferida
A avaliao da ferida deve ser contnua e se faz necessria para a indicao correta do tratamento e seleo do curativo adequado, na tentativa de reduzir o tempo de cicatrizao. Alguns parmetros so imprescindveis para avaliao:
16
Secretaria da Administrao do Estado da Bahia
Etiologia: principalmente se a ferida for crnica, importante saber a causa primria e fatores predisponentes. Localizao anatmica: feridas em reas mais vascularizadas e de menor mobilidade e tenso cicatrizam mais rapidamente. Dimenses da ferida: as medidas (comprimento, largura, profundidade) devem ser mensuradas regularmente (perodo mnimo, geralmente, 01 semana). As feridas pequenas possuem rea inferior a 4 cm2; as mdias possuem rea compreendida entre 4 16 cm; e as grandes possuem rea superior a 16 cm2. Bordas ou margens: responsveis pela migrao de clulas epiteliais. Observar perfuso e caractersticas (aderida, descolada, macerada, querattica, etc.). Pele perilesional: aparncia/condies (edema, hiperemia, flutuao, crepitao, macerao, etc.). Presena de infeco: observar sinais flogsticos, tipo do exsudato e odor. A infeco prolonga a fase inflamatria, retardando a reparao tecidual. Presena de exsudato: parmetro importante para detectar colonizao ou infeco da ferida. Observar: quantidade, odor, colorao. A quantidade classificada em pequena, mdia e grande. A colorao sanguinolenta, serosa, sero-sanguinolenta, pio-sanguinolenta e ps. Tipo e quantidade de tecido: tecido de granulao, epitelizao, tecido desvitalizado, esfacelo e necrose. Nutrio da pele: observar se o tecido est respondendo positivamente cicatrizao da pele, para interveno imediata. Tipo de necrose: esbranquiada, amarelada, amarronzada, acinzentada e enegrecida.
7.5. Necessidades da Ferida Hidratao: manter meio mido proporciona migrao celular adequada. Isolamento trmico: prover temperatura prxima corprea favorece mitose celular. Livre de tecido desvitalizado: favorece irrigao necessria ao leito da leso e evita proliferao de microrganismos patognicos. Controle de bactrias: evitar complicaes sistmicas favorecendo o processo de cicatrizao. pH timo: evitar o uso de substncias tpicas que modifiquem o pH da leso (pH = 5,8 - 6,6) para garantir um meio mais prximo do fisiolgico possvel.
17
Secretaria da Administrao do Estado da Bahia
7.6. Cuidados com Feridas
Os cuidados com feridas devem ser assumidos por profissionais especializados, dotados de conhecimento, treinamento e habilidade tcnica no cuidado, fundamentais para avaliao e indicao do tratamento adequado, garantindo o melhor nvel de sade individual e coletiva dos portadores de feridas. No momento da preveno e recuperao da pele lesada, a tecnologia tem fornecido aos profissionais de sade curativos de alta eficcia que interagem no leito da ferida, promovendo um ambiente mido, ativando o desbridamento, diminuindo a infeco local e por fim a evoluo de cicatrizao. O custo X benefcio dos curativos especiais e a tcnica empregada pelo profissional habilitado contribuem para a cicatrizao eficiente. Inicialmente o valor do material pode ser mais oneroso, comparado com o curativo simples, porm o n de trocas bem menor e a cicatrizao mais rpida, diminuindo no nmero de sesses, complicaes e possibilitando alta precoce, com consequente reduo do investimento.
7.7. Limpeza da Ferida
Tcnica de limpeza: consiste em remover restos celulares, bactrias, materiais estranhos, resduos de agentes tpicos presentes na superfcie da lcera, propiciando a promoo e a preservao do tecido de granulao. A soluo mais utilizada soro fisiolgico a 0,9%. Irrigao da ferida: pode ser realizada quando esta estiver em fase de granulao a uma distncia de quatro dedos da leso at a retirada de detritos e microorganismos. Leito da lcera: deve ser mantido mido e a pele ntegra ao redor deve ser limpa com gaze umedecida, proceder secagem com gaze para evitar macerao da pele ntegra e facilitar a fixao da cobertura.
7.8. Desbridamento da Ferida
O desbridamento consiste na remoo do tecido no vivel da ferida, como tecidos necrosados, desvitalizados e corpos ou partculas estranhas. A escolha do tipo de desbridamento a ser utilizado depende das caractersticas da ferida, podendo ser utilizado separadamente ou em combinao com outros. A seleo do mtodo de desbridamento mais apropriado depender do local, caracterstica e do tipo da ferida, da quantidade de tecido desvitalizado, das condies do paciente e da experincia do profissional que realizar o curativo.
18
Secretaria da Administrao do Estado da Bahia
7.8.1. Mtodos de Desbridamento
Desbridamento cirrgico: o mtodo mais rpido e invasivo, realizado com instrumental cirrgico como pinas, tesoura ou bisturi. Dependendo da gravidade e extenso da ferida, este procedimento deve ser realizado por cirurgies em centro cirrgico e sob anestesia. Em feridas superficiais, poder ser realizado no ambulatrio por profissionais mdicos e enfermeiros devidamente capacitados. Desbridamento mecnico: consiste na remoo do tecido, aplicando-se uma fora mecnica ao esfregar a ferida. Este procedimento, entretanto, pode prejudicar o tecido de granulao ou de epitelizao, alm de causar dor. Desbridamento autoltico: consiste em manuteno do meio mido com hidrogis, onde o prprio corpo participa do processo de autlise. Desbridamento enzimtico: baseia-se no uso de enzimas para dissolver o tecido desvitalizado. A escolha da enzima depende do tipo de tecido existente na ferida.
7.9. Cobertura da Ferida
Cobertura primria: produto que permanece em contato direto com o leito da ferida na pele adjacente com a finalidade de absorver seu exsudato, facilitando o fluxo livre das drenagens, preservando o ambiente mido e a no-aderncia. Esse tipo de curativo requer permeabilidade aos fluidos, no-aderncia e impermeabilidade s bactrias. Cobertura secundria: produto que recobre a cobertura primria, com a finalidade de absorver o excesso de drenagem, proporcionando proteo e compresso. Este tipo de curativo necessita ter capacidade satisfatria de absoro e proteo. Cobertura mista: produto que possui as duas camadas: uma em contato com o leito da ferida e outra em contato com o ambiente externo.
7.10. Nveis de Atendimento A avaliao do atendimento definida pelo mdico e enfermeiro atravs da consulta, na qual o profissional define as necessidades do paciente e o classifica em:
19
Secretaria da Administrao do Estado da Bahia
Nvel I: apenas orientaes de autocuidado, mudana comportamental e demarcao do estoma. Nvel II: procedimentos de mdia complexidade com curativo de feridas pequenas, manuseio de estomas sem complicaes, troca de equipamento coletor de estomia. Nvel III: procedimentos de alta complexidade como curativos mdio e grande, manuseio de catteres e sondas e estomas complicados.
O atendimento ser realizado em regime ambulatorial, hospitalar e domiciliar de acordo com a complexidade do tratamento.
8. Curativos
O curativo um meio teraputico que consiste na aplicao de uma cobertura estril sobre uma ferida. O curativo ideal tem por objetivo promover a cicatrizao, eliminando fatores que possam retard-la.
8.1. Caractersticas do Curativo Ideal Manter a umidade na interface ferida/curativo; Manter equilbrio entre a absoro e hidratao; Promover isolamento trmico; Agir como barreira entrada de microrganismos; Permeabilidade seletiva para entrada de oxignio; Possibilitar a troca sem traumas para o tecido; Proporcionar conforto fsico e psicolgico; Fechamento progressivo da ferida, resultando na cicatrizao.
8.2. Fatores que interferem na realizao dos Curativos Respeito individualidade do paciente; Orientaes sobre o procedimento; rea fsica adequada, com boa luminosidade e que preserve a intimidade do paciente; Condies adequadas de higiene, esterilizao, de acordo com as medidas de biossegurana; Preparo do material para realizao do curativo;
20
Secretaria da Administrao do Estado da Bahia
Presena de materiais e medicamentos especiais de acordo com as caractersticas da leso e indicao clinica; Descarte de materiais e medicamentos de acordo com as medidas de biossegurana; Periodicidade de troca e incentivo ao autocuidado; Interao familiar.
8.3. Fases do Curativo Remoo do curativo anterior; Limpeza da ferida; Tratamento da leso; Proteo da ferida.
8.4. Materiais para Curativo Instrumentais: (pina Kelly ou tipo Pean, pina anatmica e/ou pina mosquito e tesoura e Mayo ou Iris); Gazes estreis; Soluo fisiolgica de cloreto de sdio a 0,9 %; Agulha 40 x 12 ou 25 x 8; Seringa de 10 e 20 ml; Luvas de procedimento; Equipamentos de Proteo Individual (culos, mscaras, luvas, etc.); Saco plstico para lixo (cor branca); Esparadrapo, micropore ou similar; Cuba rim ou bacia; Esptula de madeira; Ataduras de crepom; Curativos especiais; Coberturas.
21
Secretaria da Administrao do Estado da Bahia
8.5. Tcnicas do Curativo Lavagem das mos; Limpeza adequada da ferida (ver item 10.7); Utilizao de tcnica limpa ou tcnica estril dependendo do tipo de leso; Cumprimento das normas de biossegurana e precauo padro; Avaliao do paciente; Avaliao da ferida localizao, tamanho, tipos de tecidos e exsudato, pele perilesional ou periestoma; Realizao de desbridamento se necessrio; Escolha da cobertura primria e secundria, de acordo com avaliao da ferida; Aplicao de escala de predio de risco para lcera por presso; Registro e documentao das aes e resultados, bem como reavaliao peridica.
8.6. Tipos de Coberturas
A cicatrizao um processo contnuo e medida que as condies de uma ferida mudam, podem ser necessrios diferentes tipos de coberturas, definidos aps avaliao criteriosa do paciente e da ferida realizada por equipe especializada. O produto de escolha deve ser avaliado com relao s indicaes, contra-indicaes, periodicidade de troca, custo e eficcia. As principais coberturas utilizadas so:
cidos Graxos Essenciais: compostos essencialmente pelos cidos linolico, cido cprico e caprlico; vitaminas A e E; e lecitina de soja. Possuem alta capacidade de hidratao, proporcionam nutrio celular e manuteno da funo e integridade das membranas celulares. So indicados para feridas granuladas, onde se deseja uma acelerao da epitelizao e como profilaxia de lceras de decbito. Periodicidade de troca: trocar o curativo sempre que o secundrio estiver saturado ou no mximo a cada 24 horas. Em preveno, duas vezes por dia.
Alginatos: so curativos compostos por fibras derivadas de algas marinhas marrons, onde so adicionados ons de clcio. A troca inica do clcio pelo sdio do exsudato transforma a fibra de alginato em um gel que proporciona ambiente mido ao leito da leso. As fibras de alginato conseguem absorver at 20 vezes o seu peso em fluidos. Tem formato de placas e fitas. O alginato de clcio impregnado com prata indicado para feridas infectadas. Estes curativos so indicados para feridas com mdio a alto
22
Secretaria da Administrao do Estado da Bahia
nvel de exsudato. lceras infectadas e exsudativas, como as por presso, traumticas, reas doadoras de enxerto, lceras venosas e deiscncias. Periodicidade de troca: trocar a cobertura secundria a cada 48 horas. Se saturar antes disso, a indicao foi equivocada e deve-se rev-la. O tempo ideal de uso, quando se aproveita melhor o curativo de no mnimo 72 horas, sendo o ideal de 4 dias.
Antisspticos:
so
substncias
qumicas
que
destroem
ou
inibem
crescimento
de
microorganismos. So destinadas aplicao em pele e mucosas ntegras, para antissepsia. Em reas com soluo de continuidade so indicados para destruir a camada de biofilme bacteriana presente em feridas colonizadas e infectadas. Utilizados o polivinilpirrolidona-iodo 10% (povidine tpico) e preferencialmente o clorohexidine tpica pela baixa toxidade. No indicado em leses abertas, mas deve ser utilizado na preveno da colonizao dos locais de insero de cateteres vasculares, de dilise e fixadores externos. Periodicidade de troca: 24 horas.
Bandagem para Compresso: as bandagens so utilizadas como uma opo para o controle clnico da hipertenso dos membros inferiores, visando auxiliar no processo de cicatrizao das lceras venosas.
Bota
de Unna: sistema constitudo pelas bandagens de curto estiramento, inelstica,
impregnada com xido de zinco, leo castor, recomendadas para os pacientes que deambulam e a compresso ocorre pelo processo de contrao e relaxamento da panturrilha. Esse procedimento deve ser realizado sob indicao mdica e/ou profissionais especializados. Auxilia o retorno venoso, diminui o edema, promove a proteo e favorece a cicatrizao da ferida. Indicado em lcera venosa (estase) de pernas e linfedemas. Periodicidade de troca: semanalmente.
Carvo Ativado e Prata: uma cobertura primria de ferimentos, composta de um tecido viscoso carbonizado e impregnado em prata. Age adsorvendo, imobilizando e eliminando as molculas de odor e as clulas bacterianas. A prata oferece uma ao bacteriosttica/bactericida. Ele age como limpador mecnico da ferida, promovendo tambm ao desodorizante e indicado para uso em feridas colonizadas/infectadas com mdia e alta exsudao, com odores acentuados, em fstulas e gangrena. Periodicidade de troca: trocar a cobertura secundria sempre que estiver saturada, em mdia a cada 03 dias. Trocar o curativo de carvo ativado no incio a cada 48 ou 72 horas, dependendo da capacidade de absoro. Quando a ferida no estiver mais infectada, a troca dever ser feita de 03 a 07 dias.
23
Secretaria da Administrao do Estado da Bahia
Colgeno: o curativo de colgeno composto por 90% de colgeno, derivado do couro bovino e 10% de alginato de clcio, que um formador de gel e mantm o meio mido no leito lesional. O colgeno exgeno, que compe o curativo sofre lise no leito da leso e os aminocidos remanescentes so reaproveitados para produo de mais colgeno endgeno. um curativo absorvente, que proporciona a estrutura para formao de tecido novo, quimiotxico para fibroblastos. indicado para feridas livres de colonizao, infeco e tecido desvitalizado, onde se deseja acelerar o processo cicatricial. Periodicidade de troca: a cada 24 horas.
Curativos Hidrocelulares: so curativos base de espumas, altamente absorventes, no aderentes, que mantm a umidade no leito da leso. So recobertos externamente por uma pelcula impermevel que retm o exsudato e funciona como barreira contra agentes externos. So encontrados tambm em formatos para preenchimento de cavidades. Indicado para feridas com mdio a alto nvel de exsudao. Periodicidade de troca: o curativo pode permanecer aplicado por at 7 dias, dependendo do volume do exsudato.
Curativos No Aderentes Estreis: ativos compostos de acetato de celulose impregnados em petrolatum (vaselina) hidrossolvel. So tramados de forma a manter mnimos pontos de contato com o leito da leso. Sua funo bsica proteger o leito lesional, minimizando o trauma ao tecido neoformado, por ocasio das trocas de curativo. Permitem, livremente, a passagem do exsudato para o curativo secundrio e ajudam a manter o meio mido no leito da leso. So indicados para todos os tipos de feridas e podem ser associados a outros tipos de agentes tpicos. Periodicidade de troca: trocar o curativo a cada 02 dias no mximo.
Hidrocolides: so curativos compostos de uma camada externa de poliuretano impermevel gua e outros agentes, e uma camada interna formada por partculas hidroativas que interagem com o exsudato da ferida, formando um gel. Este gel mantm a umidade no leito da leso, estimulando a granulao. So indicados para feridas superficiais, com baixo a mdio nvel de exsudao. Os hidrocolides em forma de pasta, grnulos, p e fibra em fita so indicados para lceras mais profundas. O gel, a pasta e a placa podem ser utilizadas em lceras por presso, traumticas, cirrgicas, reas doadoras de enxertos de pele, lceras venosas e em reas necrticas ressecadas (escaras). Periodicidade de troca: trocar o hidrocolide sempre que o gel extravasar e/ou o curativo deslocar e no mximo a cada 07 dias.
24
Secretaria da Administrao do Estado da Bahia
Hidrogis: so gis amorfos ou em placas, fabricados a partir de polmeros hidroflicos e um grande percentual de gua. Promovem um desbridamento autoltico, aps reidratar o tecido desvitalizado. Os curativos base de hidrogis proporcionam um ambiente mido, promovendo a granulao e facilitando as trocas de curativo sem traumas para o tecido neoformado. Podem ser usados em lceras de qualquer etiologia. O uso em feridas infectadas no deve ser recomendado. Hidrogel com altas concentraes de alginato se mostram mais eficaz que aqueles apenas com gua. Periodicidade de troca: feridas infectadas no mximo a cada 24 horas; necrose no mximo a cada 72 horas.
Hidrofibras (com ou sem prata): curativos com alta capacidade de absoro de exsudatos, bactericidas, sem aderncia ao leito da ferida, facilitando as trocas. A hidrofibra com prata nanocristalizada o tratamento indicado para infeces cutneas e sua ao se d atravs de constante liberao da prata promovendo uma barreira antimicrobiana sobre feridas de perda parcial e total. Indicado em lceras de presso, lceras diabticas, queimaduras, reas doadoras e receptoras de enxerto. Periodicidade de troca: feridas infectadas 03 a 07 dias ou quando estiver saturado.
Hidropolmero: curativo composto por um hidropolmero altamente absorvente. O exsudato absorvido passar a compor a estrutura fsica deste polmero, expandindo suas paredes, o que o torna indicado tanto para uso em feridas planas como cavitrias. Possui uma segunda camada de falso tecido, que proporciona ao curativo de hidropolmero, alm da alta capacidade de absoro, a manuteno do meio mido adequado. O curativo revestido, externamente, por uma camada de poliuretano semipermevel e um adesivo hipoalergnico. indicado para feridas de qualquer etiologia, crnicas, com mdio a alto exsudato, livre de tecido desvitalizado ou infeco. Periodicidade de troca: trocar o curativo sempre que houver presena de fluido da ferida nas bordas da almofada de espuma ou no mximo a cada 07 dias.
Matriz de Regenerao Drmica: possui uma camada interna formada por matriz tridimensional, derivada da polimerizao do colgeno e glicosaminoglicano (GAG); promove crescimento celular e sntese de colgeno. A camada externa formada por silicone, que atua como barreira infeco e proteo mecnica. indicada em feridas limpas e queimaduras.
Papana: a papana uma enzima proteoltica retirada do ltex do vegetal mamo papaia (Carica Papaya). Pode ser utilizada em forma de p ou em forma de gel. A papana provoca dissociao das molculas de protenas, resultando em desbridamento enzimtico. Tem ao bactericida e bacteriosttica, estimula a fora tnsil da cicatriz e acelera a cicatrizao. indicada no tratamento de lceras abertas, infectadas e para o desbridamento de tecidos desvitalizados e/ou necrticos. Utilizar de 1 a 5% em
25
Secretaria da Administrao do Estado da Bahia
feridas granuladas; 5 a 10% em feridas com esfacelos e necrose mida; e 10 a 20% em necrose seca. Periodicidade de troca: no mximo a cada 24 horas ou de acordo com a saturao do curativo secundrio.
Pelcula Transparente: uma cobertura para ferimentos composta por um filme transparente de poliuretano, semipermevel, ou seja, possui permeabilidade a gases e vapores e impermevel lquidos e bactrias. Favorece o acompanhamento visual da evoluo cicatricial devido a sua transparncia. Est indicada para feridas superficiais, sem exsudato, proteo de suturas cirrgicas, fixao de drenos e catteres, preveno contra atrito em reas sujeitas a maior presso e proteo da pele ao redor de estomas. Periodicidade de troca: trocar quando perder a transparncia, descolar da pele ou se houver sinais de infeco.
Pelcula Transparente para Cobertura de Feridas Superficiais (reas doadoras de enxerto e queimaduras superficiais II grau superficial): base de celulose pura microfibrilar biossinttica. semipermevel e serve como trilhos de queratincitos, facilitando a cicatrizao. Periodicidade de troca: se aderido, deve sair sozinho, nunca retirado. Se no aderir, a ferida est suja ou profunda, o que contra-indica o seu uso.
Prata Nano-Cristalizada: curativo em trs camadas (polister, rayon e polietileno) com prata nano-cristalizada, funciona como barreira bacteriana, alm de exercer com a prata, ao bactericida. Periodicidade de troca: dependendo o tipo de curativo de 3 a 7 dias.
Sulfadiazina de Prata com Crio: ativos que tm como componente bsico a sulfadiazina de prata a 1%, e o crio a 0,4%. O on de prata causa a precipitao de protenas e age diretamente na membrana citoplasmtica da clula bacteriana. Tem ao bacteriosttica residual, pela liberao deste on. indicada no tratamento de queimaduras e feridas colonizadas por pseudomonas. O tempo de ao de apenas 12 horas. Periodicidade de troca: no mximo a cada 12 horas ou quando a cobertura secundria estiver saturada.
Soluo de limpeza e descontaminao: composta de letana, glicerol, gua e polihexamida. Indicado para remover a camada de biofilme bacteriano que se forma na superfcie da ferida infectada ou colonizada. Umedecer a gaze e deixar sobre a ferida por 15 minutos, retirar a gaze e no enxaguar.
26
Secretaria da Administrao do Estado da Bahia
Terapia V.A.C ((Vacuum Assisted Closure, Fechamento Assistido a Vcuo): sistema nico que aplica uma presso subatmosfrica controlada e localizada uniforme no leito da ferida. A terapia V.A.C. promove o aumento do fluxo sanguneo local estimulando a formao de tecido de granulao de forma mais rpida. Alm disso, diminui o edema da ferida removendo o exsudato e auxiliando na diminuio da carga bacteriana. Compreende uma esponja que aplicada diretamente no leito da ferida, coberta por uma pelcula semipermevel, um tubo coletor, que liga a esponja ao sistema de suco (bomba V.A.C.). Todo o exsudato coletado atravs de um reservatrio. A presso pode ser aplicada de modo contnuo ou intermitente. Indicada em feridas agudas, crnicas e traumticas, amputaes, deiscncias, queimaduras, lceras (diabticas ou por presso estgio III e IV, venosas, arteriais e mistas), Sndrome Compartimental Abdominal e enxertos e retalhos. contra-indicada nos casos de malignidade no leito da ferida, osteomielite no tratada, tecido necrtico com presena de escara, fstulas no exploradas e sobre vasos sangneos ou rgos expostos.
8.7. Fixao de Coberturas
A fixao tem a finalidade de manter a cobertura e proteger a ferida. Pode ser realizada por enfaixamento com ataduras de crepom, fitas adesivas dentre elas, esparadrapo, micropore, transpore ou faixas de tecidos de largura e comprimento variados. So indicadas para fixar curativos, exercer presso, controlar sangramento e/ou hemorragia, imobilizar um membro, aquecer segmentos corporais e proporcionar conforto ao paciente. A utilizao de malha tubular elstica em forma de rede vem sendo usada nos grandes centros h mais de 20 anos e nos ltimos 05 anos chegou ao Brasil. Oferece inmeras vantagens como facilidade de colocao, melhor visibilidade da ferida, possibilidade de abrir o curativo secundrio sem ter que refazer todo o curativo e poder ser reutilizado sem comprometimento para o curativo.
9. Queimaduras
A queimadura uma agresso cutnea causada por diversos agentes (qumicos, eltricos, trmicos, produtos inflamveis, dentre outros), causando destruio parcial ou total da pele e de seus anexos, assim como estruturas mais profundas (tecido subcutneo, msculos, rgos internos, tendes, ossos). As queimaduras so classificadas de trs modos distintos: quanto etiologia, profundidade e extenso. Segundo a Sociedade Brasileira de Queimaduras, no Brasil, acontecem cerca de um milho de casos a cada ano, dos quais, 40 mil demandam hospitalizao, com srias complicaes clnicas, apesar da evoluo nas tcnicas de tratamento tpico, deixando resultados estticos e funcionais desastrosos.
27
Secretaria da Administrao do Estado da Bahia
9.1. Classificao de Queimaduras (Portaria 1274/GM 21-11-2000 Art. 3)
Pequeno Queimado: queimaduras de 1 e 2 graus com at 10% da rea corporal atingida. Mdio Queimado: queimaduras de 1 e 2 graus, com rea corporal atingida entre 10% e 25%, ou queimaduras de 3 grau com at 10% da rea corporal atingida, ou queimadura de mo e/ou p. Grande Queimado: queimaduras de 1 e 2 graus, com rea corporal atingida maior do que 26%, ou queimaduras de 3 grau com mais de 10% da rea corporal atingida, ou queimadura de perneo. Ser igualmente considerado grande queimado o paciente que for vtima de queimadura de qualquer extenso que tenha associada a esta queimadura uma ou mais das seguintes situaes: leso inalatria, politrauma, trauma craniano, trauma eltrico, choque, insuficincia renal, insuficincia cardaca, insuficincia heptica, distrbios de hemostasia, embolia pulmonar, infarto agudo do miocrdio, quadros infecciosos graves decorrentes ou no da queimadura, sndrome compartimental e doenas consuptivas.
9.2. Tipos de Queimadura
1 grau: so queimaduras que apresentam o grau de destruio celular limitado s camadas superficiais da epiderme, como caractersticas o eritema associado dor, a pele fica seca, sem bolhas e mnimo de edema. 2 grau superficial: so queimaduras que apresentam toda e epiderme e alguns elementos da derme destrudos. A inflamao da derme causa o extravasamento de lquidos do interior dos vasos sanguneos rico em protenas, deixando a pele mida com bolhas e dor. 2 grau profundo: so queimaduras que apresentam toda epiderme e a maioria dos elementos da derme destrudos, com aspectos de pele seca e endurecidos com bolhas rotas. So as mais difceis de identificao, variando do castanho ao branco e ao vermelho. 3 grau: so queimaduras que apresentam comprometimento da espessura total da derme, destroem toda a derme e epiderme podendo destruir o tecido subcutneo, fascia muscular, msculos ou mesmo ossos. A pele queimada tem aspecto de pele seca, sem retorno capilar, vasos sanguneos coagulados, aparncia de couro ressecado, amarelado, marrom ou preto. Elas se caracterizam pela formao de escaras extensas e secas podendo necessitar de escarotomia.
28
Secretaria da Administrao do Estado da Bahia
10. Oxigenoterapia Hiperbrica (OHB)
uma modalidade teraputica no mbito da MEDICINA HIPERBRICA, no qual o paciente inala oxignio puro a 100% em um ambiente pressurizado, estando o indivduo submetido a uma presso maior do que a atmosfrica, no interior de uma cmara hiperbrica. No se caracteriza como oxigenoterapia hiperbrica a inalao de 100% de oxignio em respirao espontnea ou atravs de respiradores mecnicos em presso ambiente, ou a exposio de membros ao oxignio por meio de bolsas ou tendas, mesmo que pressurizadas, estando o indivduo em presso ambiente. O mecanismo de ao consta da dissoluo fsica do oxignio no plasma, em funo da presso ambiente elevada em relao a presso atmosfrica normal, permitindo assim a oxigenao de tecidos antes isqumicos, atravs de alteraes bioqumicas e biofsicas na fisiologia celular, alm de agredir estrutura da bactria e de suas toxinas.
10.1. Aplicaes clnicas regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina resoluo n1457/95: Embolias gasosas e traumticas pelo ar; Doena descompressiva; Envenenamento por monxido de carbono ou inalao de fumaa; Envenenamento por cianeto ou derivados ciandricos; Gangrena gasosa; Sndrome de Fournier; Outras infeces necrotizantes de tecidos moles: celulites, fasciites e miosites; Isquemias agudas traumticas: leso por esmagamento, sndrome compartimental, reimplantao de extremidades amputadas e outras; Vasculites agudas de etiologia alrgica, medicamentosa ou por toxinas biolgicas (aracndeos, ofdios e insetos); Queimaduras trmicas e eltricas; Leses refratrias: lceras de pele, leses p-diabtico, escaras de decbito, lcera por vasculites auto-imunes, deiscncias de suturas; Leses por radiao: radiodermite, osteorradionecrose e leses actnicas de mucosas; Retalhos ou enxertos comprometidos ou de risco; Osteomielites; Anemia aguda, nos casos de impossibilidade de transfuso sangnea.
29
Secretaria da Administrao do Estado da Bahia
11. Estomias
Os estomas so procedimentos cirrgicos utilizados para tratamentos provisrios ou definitivos, que consistem na abertura de um orgo do aparelho disgestivo, respiratrio ou urinrio.
11.1. Tipos de Estomias
Estomas Digestivos: Gastrostomia: abertura endoscpica ou cirrgica no estmago, para fixao de uma sonda alimentar. Colostomia e Ileostomia: definidos respectivamente pela abertura do segmento clico ou ileal na parede abdominal, visando o desvio do contedo fecal para o meio externo.
Estoma Urinrio: urostomia toda forma de drenagem de urina fora dos condutos naturais que envolvem a pelve renal, ureteres, bexiga e uretra. Estoma Respiratrio: traqueostomia procedimento cirrgico que consiste na abertura da traquia para o meio externo, possibilitando a ventilao pulmonar atravs do orifcio.
11.2. Cuidados com Estomas
O cuidado com estomas iniciado desde o perodo pr-operatrio, com a delimitao do estoma; e durante a sua manuteno, com a seleo adequada de dispositivos coletores para cada caso e ateno com as complicaes recorrentes. O estoma e a pele periestoma devem ser observados cuidadosamente quanto s suas caractersticas normais, relativas cor, forma, tamanho, protuso, umidade e integridade da mucosa. A higiene da pele periestoma e do estoma deve ser feita com gua e sabonete de uso habitual do paciente, com algodo limpo, macio e mido ou sob o chuveiro. Os cuidados com o sistema coletor referem-se remoo e troca do dispositivo, e tambm da higiene e esvaziamento da bolsa coletora, com o objetivo de prevenir complicaes como a dermatite ou a colonizao por bactrias da flora exgena. A troca da bolsa deve ser efetuada quando ocorrer a saturao da barreira de pele, e, antes que haja vazamento do efluente.
30
Secretaria da Administrao do Estado da Bahia
A melhor forma de proteger a pele atravs da escolha adequada de um protetor cutneo, que proporcione boa fixao e eliminao de odores. A escolha dos dispositivos e acessrios adequados fundamental e depende do tipo de efluente que ser coletado: fezes slidas, semi-lquidas ou urina. Os dispositivos so classificados em drenveis e fechados, com 01 ou 02 peas.
Os dispositivos e agentes alternativos encontrados para as complicaes so: Bolsas de estomias para abdmen com pregas, dobras laterais e hrnia paraestomal; Bolsa de estomia com placa convexa, para prega profunda ou estoma retrado; Disco convexo em polipropileno; Medidor de estoma; Placa, pasta e p com hidrocolides (gelatina, pectina e NaCMC corboximetilcelulose sdica); Cinto para suporte e melhor fixao da bolsa de estomia na pele; Leno com soluo de resina descartvel; obtm-se o mesmo efeito com a clara de ovo in natura.
11.3. Materiais especiais para procedimentos relacionados a estomas (colostomias, ileostomias e urostomias) Portaria MS/GM n 321, de 8 de fevereiro de 2007
Bolsa de colostomia fechada c/ adesivo microporoso: bolsa fechada para estoma intestinal ou protetor de ostoma, plstico aniodor, transparente ou opaca, com filtro de carvo ativado, com ou sem resina sinttica ou mista (karaya), recortvel ou pr-cortada, com ou sem adesivo microporoso hipoarlegnico (no mximo 30/ms).
Bolsa de colostomia com adesivo microporo drenvel: bolsa drenvel para estoma intestinal adulto, peditrico ou neonatal, plstico antiodor, transparente ou opaca, com ou sem a segunda abertura, com ou sem filtro de carvo ativado, resina sinttica ou mista (karaya), recortvel ou prcortada, com ou sem adesivo microporoso hipoalergnico (no mximo 30/ms).
Conjunto de placa e bolsa p/ ostoma intestinal: sistema compatvel de bolsa e base adesiva para estoma intestinal adulto ou peditrico, bolsa drenvel, fechada ou protetora de ostoma, plstico antiodor, transparente ou opaca, com ou sem filtro de carvo ativado, base adesiva de resina sinttica, recortvel ou pr-cortada, com ou sem adesivo microporoso hipoalergnico (no mximo de 10/ms).
31
Secretaria da Administrao do Estado da Bahia
Barreiras protetoras de pele sinttica e/ou mista em forma de p/pasta e/ou placa: barreira protetora de pele, de resina sinttica ou formadora de pelcula disponibilizada como 1 tubo de p ou 1 tubo de pasta ou 20 anis planos ou convexos ou 5 tiras ou 15 placas 10 x 10 cm ou 10 placas 15 x 15 cm ou 8 placas 20 x 20 cm ou 1 frasco formador de pelcula 1 tubo/frasco ou 1 kit/ms.
Bolsa coletora p/ urostomizados: bolsa para estoma urinrio adulto ou peditrico, plstico antiodor, transparente ou opaca, com sistema antirefluxo e vlvula de drenagem, com xido de zinco ou resina sinttica, plana ou convexa, recortvel ou pr-cortada, com ou sem adesivo microporoso hipoalergnico (no mximo 30/ms).
Coletor urinrio de perna ou de cama: coletor urinrio de perna ou de cama, plstico antiodor, com tubo para conexo em dispositivo coletor para ostomas ou incontinncia urinria, com sistema antirefluxo e vlvula de drenagem. O coletor de perna devera conter cintas de fixao para pernas (no mximo 4/ms).
Conjunto de placa e bolsa p/ urostomizados: sistema compatvel de duas peas (bolsa e base adesiva), para ostoma urinrio adulto ou peditrico, bolsa com plstico antiodor, transparente ou opaca, sistema anti-refluxo e vlvula de drenagem, base adesiva de resina sinttica, plana ou convexa, recortvel ou pr-cortada, com ou sem adesivo microporoso hipoalergnico (no mximo de 15/ms).
11.4. Complicaes Decorrentes de Estomas
As eroses, a hiperemia e as lceras podem derivar da irritao cutnea causada por: Retrao, fstulas, estenoses; Inadequao do orifcio da placa; Utilizao de bolsas com colantes, que retiram as camadas protetoras da pele; Fluido intestinal em contato com a pele; Doenas de base e tratamento com radioterapia, quimioterapia, corticoesterideterapia e outras; Doenas de pele associadas como psorase, eczema, pnfigo, etc.; Localizao inadequada do estoma na parede abdominal; Presena de hrnia paraestomal; Alergias ao adesivo ou plstico da bolsa.
32
Secretaria da Administrao do Estado da Bahia
12.
Drenos
So dispositivos utilizados para a retirada sistemtica de fluidos e exsudatos de feridas ou cavidades. O sistema considerado fechado quando o dispositivo coletor est hermeticamente conectado ao dreno. O sistema aberto aquele onde a drenagem feita em bolsas coletoras aderidas epiderme ou com curativos oclusivos. Os cuidados com os locais de insero dos drenos devem ser a limpeza, para a preveno de complicaes com a pele adjacente e, cuidados especficos devem ser estabelecidos de acordo com orientao da equipe mdica responsvel.
13.
Preveno de Feridas
A ateno com a pele de fundamental importncia, j que esta o maior rgo do ser humano, revestindo toda a superfcie corporal. Os cuidados bsicos com a pele na preveno e promoo da sade evitam complicaes. A preveno de lcera por presso relaciona-se com o uso adequado de mtodos profilticos (mudana de decbito, superfcies de suporte, hidratao, filmes semipermeveis, reduo da umidade), que possam ser usados em pacientes em risco de desenvolverem lceras por presso. A preveno de leses deve fazer parte do plano de cuidados dos profissionais de sade, principalmente quando se referem a pacientes de risco (crianas, idosos, pessoas restritas ao leito ou em cadeira de rodas e com carncia nutricional). Nos casos de pessoas com dificuldade de deambulao ou mobilidade restrita, aconselha-se a mudana de decbito ativa ou passiva de 2 em 2 horas, o uso de estruturas de proteo como as placas de hidrocolide, filmes transparentes nas regies comprometidas e uso de colcho extrapiramidal, pneumticos, coxins, almofadas em cama, cadeira de rodas ou poltrona. No utilizar rodilha e almofada com orifcio central. Os cuidados com a pele referem-se sua inspeo sistemtica pelo menos uma vez ao dia, particularmente nos locais de proeminncias sseas. Os locais clssicos de lceras de presso so a regio sacral e os calcneos (em decbito dorsal); trocnter maior do fmur e malolos externos (decbito lateral D ou E); tuberosidade do squio (sentado). Alm disso, os cuidados incluem:
Registro sistemtico das alteraes encontradas; Limpeza regular da pele com gua e sabo, evitando fora mecnica e frico; Hidratao regular da pele, com produtos umectantes;
33
Secretaria da Administrao do Estado da Bahia
No exposio da pele umidade e a extremos de frio ou calor; Utilizao de protetores de pele, se necessrio, tais como membranas, filmes transparentes ou curativos de hidrocolide; Utilizao de dispositivos redutores de presso, se necessrio, tais como bolsas ou colches de ar, gel, gua ou colcho piramidal (caixa de ovo).
Durante a mobilizao do paciente importante evitar o contato entre as proeminncias sseas; posicionar corretamente o paciente; utilizar tcnicas de transferncias e mudanas de posio em intervalos rotineiros, no mximo a cada duas horas; proteger a pele de foras mecnicas externas de presso, cisalhamento e frico ao posicionar o paciente em qualquer decbito (dorsal, lateral, ventral ou sentado); em posio de decbito lateral, posicionar o paciente em ngulo de 30 ou invs de 90, como medida preventiva de escara, porque alivia a presso nos locais clssicos. Outro fator importante para preveno de leses de pele diagnosticar as deficincias nutricionais e manter uma nutrio adequada que consiste em uma dieta equilibrada e variada, contendo alimentos fontes de calorias saudveis e protenas e de alguns nutrientes especficos importantes para cicatrizao, como a arginina, zinco, selnio, Vitamina A, C e E, e, por vezes, tambm so necessrios outros nutrientes imunomoduladores (nucleotdeos e mega 3) quando a ferida estiver infectada ou com risco de infectar. Quanto avaliao dos fatores de risco, so propostas escalas, dentre elas, a Escala de Braden, a mais utilizada no Brasil, a qual contm tpicos importantes para definir se um paciente de risco ou no. Deve ser utilizada na admisso e diariamente, principalmente em pacientes em terapia intensiva, em outras unidades de internao, usar em dias alternados e pelo menos uma vez por semana em domiclio.
Tabela 2 Escala de Braden
Percepo Sensorial Totalmente limitado: no reage a estmulos dolorosos devido ao nvel de conscincia diminudo ou sedao. (1) Muito limitado: somente a estmulo doloroso, no se comunica, exceto atravs de gemidos ou agitao. (2) Muito molhada: pele frequentemente molhada, mas nem sempre (2) Confinado cadeira: capacidade de andar est severamente limitada ou nula (2) Levemente limitado: responde ao comando verbal, mas nem sempre capaz de comunicar o desconforto. (3) Ocasionalmente molhada: em poucos momentos do dia (3) Anda ocasionalmente: anda durante o dia a curtas distncia (3) Nenhuma limitao: responde ao comando verbal (4)
Umidade
Completamente molhado: pele molhada quase que constantemente por urina, transpirao ou fezes (1) Acamado: confinado ao leito (1)
Raramente molhada: pele geralmente seca, trocando roupa de cama apenas uma vez dia (4) Anda frequentemente: anda fora do quarto pelo menos 2 vezes dia (4)
Atividade
34
Secretaria da Administrao do Estado da Bahia
Mobilidade
Totalmente imvel: no faz nem pequenas mudanas de posio (1)
Bastante limitado: faz pequenas mudanas ocasionais (2)
Levemente limitado: faz freqentemente, embora pequenas mudanas (3)
No apresenta limitaes: faz importantes e freqentes mudanas (4)
Nutrio
Muito pobre: nunca come uma refeio completa, come 2 pores ou menos de protena ao dia, ingere pouco lquido ou mantido em jejum ou NPT por mais de 5 dias (1)
Provavelmente inadequado: raramente come uma refeio completa, come 3 pores de protena ao dia. Recebe pouca dieta lquida por sonda (2) Problema em potencial: move-se, mas requer assistncia, provavelmente ocorre atrito na pele (2)
Excelente: come a maior Adequado: come mais da metade parte de cada refeio, come das refeies, come 4 mais de 4 refeies ao dia, pores de protena sem recusar todo dia, Alimento por (4) sonda ou NPT na quantidade adequada (3) Nenhum problema: move-se sozinho e tem fora muscular (3)
Frico e Problema: assistncia para se mover, impossvel levantar sem Cisalhamento que haja atrito. Escorrega no leito. Apresenta espasticidade, contraturas, agitao (1)
Avaliao de risco: Total de pontos: < 12 pontos risco alto 13 a 15 pontos risco moderado > 16 pontos baixo risco
13.1. Preveno do P Diabtico
Com o avano da abordagem geral do indivduo portador de diabetes mellitus (DM), houve aumento da sobrevida do portador da doena e com isto a constatao de complicaes com maior freqncia, destacando-se entre outras, as leses em ps que podem levar a algum tipo de amputao de membro inferior. A despeito de todo avano tecnolgico na medicina as taxas de amputao em membros inferiores em pacientes portadores de diabetes mellitus (DM) tm sido elevadas, o que deve nos levar a refletir sobre o assunto e conseqentemente buscar novas formas de atuao. A literatura mdica atualmente oferece dados consistentes que permitem fazer um diagnostico precoce das leses que precedem a amputao e adotar as respectivas medidas teraputicas e preventivas. Tais leses, algumas consideradas como fatores de risco, podem ser identificadas com avaliaes consistentes e de baixo custo como consta no Consenso Internacional sobre P Diabtico realizado na Holanda em maio de 1999.
35
Secretaria da Administrao do Estado da Bahia
A leso no p do paciente portador de DM resulta da presena de dois ou mais fatores de risco associados.Na maioria dos pacientes portadores de DM a neuropatia perifrica tem um papel central; mais de 50% dos pacientes diabticos tipo II tem neuropatia e ps em risco. A neuropatia leva a uma insensibilidade (perda da sensao protetora) e subseqentemente a deformidade do p com possibilidade de uma marcha anormal. A perda de sensao protetora (neuropatia) torna os pacientes vulnerveis a pequenos traumas como, por exemplo: sapatos inadequados, leses da pele ao caminharem descalos por objetos perfurantes, cortantes, etc., o que pode precipitar uma lcera. A deformidade do p e mobilidade articular limitada pode resultar em carga biomecnica anormal do p, com formao de hiperqueratose (calo) que culmina com alterao da integridade da pele (lcera). Com a ausncia de dor o paciente continua caminhando, o que prejudica a cicatrizao.a doena vascular perifrica associada com pequeno trauma pode resultar em dor e lcera puramente isqumicas. Entretanto, deve ser lembrado que em pacientes com isquemia e neuropatia (lcera neuroisqumica), os sintomas podem estar ausentes apesar de isquemia severa. Finalmente, tais leses podem servir de porta de entrada para infeces, o que pode agravar mais a situao do portador de DM. Portanto, o desenvolvimento de um programa voltado para o autocuidado com os ps traz grandes benefcios aos portadores de DM. Difundir as aes de educao em Diabetes buscando alertar a esta populao especfica e familiares, elementos motivacionais que visam adquirir conhecimentos sobre os cuidados com os ps de responsabilidades de todos.
13.1.1 Abordagem do P Diabtico
Inspeo regular e exame do p em risco: todos os pacientes devem ter seus ps examinados pelo menos uma vez por ano, e a depender dos fatores de risco encontrado poder ser agendado a cada 01 a 06 meses. Histria e exame fsico:
Histria: ulcera e ou amputao prvias, educao teraputica prvia, isolamento social, falta de acesso ao sistema de sade, caminhar descalo. Neuropatia: Sintomas (dor, formigamento), perda da sensibilidade. Condio vascular: Claudicao, dor em repouso, pulsao nos ps, palidez elevao, rubor postural. Pele: Colorao, temperatura, edema, patologia ungueal (unhas encravadas), cortes errados das unhas, lceras, calos, anidrose, rachaduras, macerao interdigital. Osso, articulao: deformidades (dedos em garra, em martelo ou proeminncias sseas), perda da mobilidade (hlux rgido).
36
Secretaria da Administrao do Estado da Bahia
Calados e meias: avaliao do interior e exterior do calado.
Identificao do p em risco: tcnicas utilizadas para identificar a perda da sensibilidade. Os profissionais devem estar habilitados para utilizarem o monofilamento de Semmes-Weinstein de 10 g (item 13.1.2). Educao do paciente, da famlia e dos profissionais de sade: a educao, aplicada de modo estruturado e organizado, desempenha um papel importante na preveno, deve ser realizada em vrias sesses, cujo objetivo incentivar a motivao e a habilidade para o autocuidado.
Itens de instrues para os pacientes:
Inspecionar diariamente os ps, inclusive as reas entre os dedos. Buscar auxlio de outra pessoa, quando no puder realizar o auto-exame dos ps. Lavar os ps, enxugando todo ele em especial entre os dedos. Testar a temperatura da gua, que no deve ultrapassar 37 C. Evitar caminhar descalo dentro e fora de casa ou usar sapatos sem meias. No usar agentes qumicos ou emplastros para remover calos. Inspecionar e apalpar diariamente a parte interna dos sapatos. No tentar autocuidado, como corte de unhas, se a viso estiver deficiente. Usar loes hidratantes ou leos para a pele ressecada, evitando a rea entre os dedos. Trocar as meias diariamente. Evitar o uso de meias com costuras internas ou externas, preferencialmente usar aquelas sem quaisquer costuras. Cortar as unhas de forma reta, sem aprofundar os cantos. Remover calos com a ajuda de um profissional de sade treinado. Assegurar o exame regular dos ps pela equipe de sade. Notificar equipe de sade qualquer ocorrncia de bolha, corte, arranho ou ferimento. Uso de calados adequados.
37
Secretaria da Administrao do Estado da Bahia
13.1.2. Identificao do P em Risco: Medida com um monofilamento Semmes-Weinstein de 10 g
PROCEDIMENTO
Devem ser testados nove pontos na regio plantar e um na dorsal. Na regio plantar: 1, 3 e 5 dedos; 1, 3 e 5 cabeas metatarseanas; regies laterais do meio p e na regio dorsal entre 1 e 2 dedos. Figura 2
Teste de sensibilidade com monofilamento Semmes-Weinstein de 10 g Marque a rea de sensibilidade na figura abaixo com + SIM ou - NO
P esquerdo -PE
P direito -PD
A incapacidade do paciente de sentir o filamento de 10 g em (04) quatro ou mais pontos, entre os (10) dez pontos testados, demonstra neuropatia sensitiva ou seja, a ausncia de proteo nos ps. O monofilamento deve ser utilizado cuidadosamente, da seguinte maneira:
Mostre o filamento ao paciente e aplique-o em sua mo para que reconhea o tipo de
estmulo e explique detalhadamente em que consiste o teste. Solicite ao paciente para manter os olhos fechados durante o teste. Pea ao paciente para prestar ateno e simplesmente responder sim ao sentir o filamento
ou no se no sentir. Ao aplicar o monofilamento, mantenha-o perpendicularmente superfcie testada, a uma
distncia de 1-2 cm; com um movimento suave, faa-o curvar-se sobre a pele e retire-o. A durao total do procedimento, do contato com a pele e da remoo do monofilamento, no deve exceder dois segundos.
Se o monofilamento escorregar pelo lado, desconsidere a eventual resposta do paciente e
teste o mesmo local novamente mais tarde.
38
Secretaria da Administrao do Estado da Bahia
Use uma seqncia ao acaso nos locais de teste. Havendo reas ulceradas, necrticas, cicatriciais ou hiperqueratticas, teste o permetro da
mesma. Se o paciente no responder aplicao do filamento num determinado local, continue a
seqncia e volte posteriormente quele local para confirmar. Conserve o filamento protegido, cuidando para no amass-lo ou quebr-lo, se necessrio,
limpe-o com soluo de hipoclorito de sdio a 1:10. Demorar algum tempo para que as pessoas idosas se orientem para o que est sendo feito.
Evitar perguntar sobre a sensibilidade do monofilamento no local para no induzir a resposta.Na presena de calos/calosidades, avaliar a regio circundante, pois os pacientes provavelmente no sentiro o monofilamento nestas regies.
14. Equipe Multiprofissional
Para o cuidado com as feridas torna-se necessrio a atuao de equipe de sade especializada para avaliao criteriosa da ferida e do paciente, considerando todos os fatores individuais (clnicos, psicolgicos, sociais) e prescrio de plano teraputico individualizado e eficaz, favorecendo rpida evoluo e alta.
14.1. Atribuies
Mdico - Realizar avaliao clnica e definir a etiologia da ferida; - Acompanhar as complicaes intercorrentes; - Acompanhar a evoluo do quadro clnico, junto com a equipe; - Realizar assistncia domiciliar quando necessrio; - Desenvolver aes educativas e preventivas.
39
Secretaria da Administrao do Estado da Bahia
Enfermeiro - Realizar consulta de enfermagem; - Definir a cobertura a ser utilizada em conjunto com o mdico especialista; - Fornecer assistncia aos pacientes nas fases pr, trans e ps-operatria imediata, mediata e tardia, objetivando o autocuidado; - Realizar o curativo; - Desenvolver medidas preventivas e curativas relacionadas s complicaes precoces e tardias; - Realizar assistncia domiciliar, quando necessrio; - Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar a conduta; - Orientar os auxiliares/tcnicos de enfermagem para o acompanhamento dos casos em tratamento; - Desenvolver aes educativas e atividades de ensino.
Auxiliar/Tcnico de Enfermagem - Organizar e manter a sala de curativo em condies adequadas para o atendimento; - Recepcionar o paciente, acomodando-o em posio confortvel e que permita boa visualizao da leso; - Orientar o paciente quando ao procedimento a ser executado; - Limpar o instrumental e desinfeco da superfcie; - Realizar assistncia domiciliar, quando necessria; - Desenvolver de aes educativas.
Nutricionista - Realizar avaliao nutricional e bioqumica; - Realizar o plano alimentar individualizado, conforme necessidades nutricionais; - Fazer clculo individualizado das necessidades nutricionais; - Acompanhar o quadro clnico e nutricional; - Interagir com a equipe interdisciplinar. Assistente Social - Avaliar as condies scio-econmicas do paciente e famlia; - Intervir junto s situaes familiares, de trabalho e de outros segmentos da sociedade, que possam interferir no processo de reabilitao; - Orientar quanto aos recursos disponveis na comunidade; - Estabelecer atendimento domiciliar em situaes de excepcionalidade.
40
Secretaria da Administrao do Estado da Bahia
Farmacutico - Selecionar, programar, adquirir, armazenar e dispensar os produtos; - Controlar o estoque; - Controlar o custo dos produtos; - Padronizar os produtos, mediante avaliao custo X benefcio; - Anlise tcnica da composio dos produtos. Psiclogo - Avaliar a condio emocional e a capacidade de enfrentamento do paciente; - Realizar intervenes psicossociais de modo a reduzir os danos nas relaes interpessoais que a ferida possa causar na vida do paciente; - Realizar atendimento em psicoterapia do paciente portador de feridas e estomas, intervindo, especialmente, na reconstruo de sua auto-imagem e na nova distribuio de sua economia libidinal no corpo.
Fisioterapeuta - Avaliar as sequelas e incapacidades causadas pelas leses; - Definir metas preventivas e curativas especficas para cada caso clnico; - Prescrever e executar o tratamento fisioteraputico para reabilitao; - Prevenir complicaes precoces e tardias; - Desenvolver estratgias teraputicas para minimizar a dor; - Acompanhar e assistir o paciente durante todo o tratamento de feridas; - Interagir com a equipe no sentido de planejar e executar atividades de preveno de incapacidades e reabilitao; - Orientar o paciente e seus familiares quanto importncia do tratamento e dos exerccios domiciliares; - Viabilizar o retorno funcional do paciente s atividades da vida diria.
15. Referenciais Tericos
- Manual de condutas para tratamento de lceras em hansenase e diabetes 2 edio Ministrio da Sade, 2008. - Sesab/Cedeba/Codar/P Diabtico Adaptado do Consenso Internacional do P Diabtico. - Associao Brasileira de Estomaterapia Sobest Estomas, feridas e incontinncias. - Revista Estima Sobest, volume 5 (3) jul/ago/set/2007, volume 6 (1) jan/fev/mar.
41
Secretaria da Administrao do Estado da Bahia
Volume 6 (2) abr/mai/jun, volume 6 (3) jul/ago/set, volume 6 (4) out/nov/dez/ - 2008. - Feridas: Como tratar Eline Lima Borges (et al.) 2. Edio, 2008. - Assistncia em Estomaterapia Santos, Vera Lcia Conceio de Gouveia, vol I, 2000. - ALONSO, J.L. et al. Valoracin clnica en cirurgia peditrica de un apsito hidrocolide transparente. Peditrika 12:155-8, 1992. - BARBUL, A. Cicatrizao das feridas. v.3. Interlivros, 1997. - BERNARDES, C.H.A. et al. P diabtico: anlise de 105 casos. Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e Metabologia, v.37, n.3. 37/3:139 142, 1993. - BORGES, E.L. & CHIANCA, T.C.M. Tratamento e cicatrizao de feridas. parte 1. Nursing, n.21, ano 3. fev/2000. - BRITO, CARLOS JOS DE. Cirurgia Vascular cirurgia endovascular/angiologia. 2a edio. Volume 2. Captulo 78: insuficincia venosa crnica conceito, classificao e fisiopatologia. Autora: Maria Elisabete Renn de castro Santos. Editora Revinter Ltda, 2008. - BRITO, CARLOS JOS DE. Cirurgia Vascular cirurgia endovascular/angiologia. 2a edio. Volume 1. Captulo 11: avaliao clnica do paciente com arteriopatia. Autores: Carlos Jos de brito, Sheila Andrade Sales e Eduardo Loureiro. Editora Revinter Ltda, 2008. - DEALEY, C. Cuidando de feridas: Um guia para as Enfermeiras. So Paulo: Atheneu Editora, 2001. - DECLAIR, V. Dermatite irritativa de fraldas. Pediat Atual, 10(9):68-76, 1997. - FIGUEIREDO, A.M. tica e cuidado Perspectiva do Enfermeiro no tratamento das leses cutneas para o prximo milnio. Nursing, n.22, ano 3. mar/2000. - JORGE, Silvia ANGLICA. Abordagem Multiprofissional do Tratamento de Feridas So Paulo: Atheneu Editora 2005. - MONETTA, L. A utilizao de novos recursos em curativos num consultrio de enfermagem. Rev. Paulista de Enfermagem. vol.11, n.1, 1992. - SANTOS, V.L.C.G. Avanos tecnolgicos no tratamento de feridas e algumas aplicaes em domiclio. In: DUARTE, Y.A.O. & DIOGO, M.J.D. Atendimento domiciliar: um enfoque gerontolgico. Cap. 21 p. 265-303. So Paulo, Ed. Atheneu, 2000. - Wound Care Made Incredibly Easy. Feridas. Traduo de Maria de Ftima Azevedo Maria Ins Garbino Rodrigues, Telma Lcia de A. Hennemann. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan 2005. il. (Incrivelmente fcil).
42
Secretaria da Administrao do Estado da Bahia
16. Endereos Eletrnicos Referenciais -
www.ahcpr.gov www.npuap.org sobest@sobest.com.br www.woundcare.org www.biosanas.hpg.com.br www.coren-mg.org.br www.portalcofen.com.br www.feridologo.com.br
43
Secretaria da Administrao do Estado da Bahia
17. Anexos
Anexo I Protocolo de Coberturas
Preveno Epitelizada /Granulada Superfcie Corporal Genitlia Superficial Superficial e Profunda Mdio/Grande Superficial e Profunda Usar apenas SF 0,9%
Morfologia das Leses
Necrosada/ Crosta
Exsudativa
Infectada
Ferida Cirrgica
Pequeno
DRENO: Limpeza com SF 0,9% - Limpar com soluo de biguanida - Alginato com prata - Placas com prata nanocristalina - Carvo ativado e Prata -Sufadiazina de Prata com Crio DEISCENCIA CIRRGICA: Limpeza com SF 0,90% Produto de acordo com a morfologia da leso CATETER CENTRAL/PERCUTNEO: Nas primeiras 24 horas usar curativo convencional com PVPI ou clorexidine; aps filme transparente DERMATITE POR FSTULA: P de stomahesive, retirar o excesso e colocar pasta e recobrir com dispositivo coletor ou placa stomahesive
- Filme Transparente - Alginato - Karinlon Opes de Coberturas - AGE - Pomada com Hidrxido de Alumnio e Derivados - Hidrocolide Transparente - Papana - AGE - Hidrogel - Cobertura No Aderente Estril -Colgeno - Alginato Hidropolmeros - Carvo Ativado - Placa de Prata - Hidrocelular
44
Secretaria da Administrao do Estado da Bahia
Anexo II Estomias
CURATIVO
MATERIAL
TEMPO DE TROCA
OBSERVAES
Traqueostomia
SF 0,9 %, pacote de curativo, gaze.
24h ou quando estiver sujo ou mido.
Trocar o cadaro sempre que estiver sujo ou mido.
Gastrostomia Jejunostomia
SF 0,9 %, pacote de curativo, gaze.
24h ou quando necessrio.
Realizar tcnica de curativo simples.
Colostomia Ileostomia Urostomia
SF 0.9%, pacote de curativo, gaze e gaze peri-estoma. Bolsa coletora se necessrio, p ou pasta regeneradora (SN).
Cistostomia
SF 0,9%, pacote de curativo, gaze, coletor.
Medir estoma, demarcar e recortar a placa no tamanho necessrio. Esvaziar a bolsa em 1/3 de sua capacidade. Realizar a troca da Bolsa apenas quando perder a aderncia ou existir extravasamento de efluente. Ao trocar a bolsa, observar presena de leso periestomal. Aplicar p e pasta regeneradora antes de colocar a bolsa (SN).
45
Secretaria da Administrao do Estado da Bahia
Anexo III Plano Teraputico Inicial
PLANO TERAPUTICO INDIVIDUAL Avaliao da Ferida
IDENTIFICAO DO MDICO ASSISTENTE E PRESTADOR Nome: E specialidade: P restad or: Telefone: Telefone: Fax: E -mail: Telefo ne: CREM EB: E- mail:
IDENTIFICAO DO PACIENTE Nome do Paciente: Data de Nascimen to :___/___/__ _ Data de Internao :___/___/___ Diag nstic o: Anteceden tes patolgicos Sex o: ( Peso: ) FEM ( ) M ASC Cd Id en t PL ANSE RV: Telefone: Altura: ( ) Diabetes
( ) Doenas Cardiovascu lares ( )Alcoolism o ) NO (
) Hip erten so Arterial ( ) Ou tros
) Tabagismo
( ) Alcula Deamb oolismo ) SIM ( AVALIAO DA FERIDA LOCALIZAO: TAMANHO: CLASSIFICAO: ( ) Agud a ( ) Su perficial ( ) Lim pa ( ) Queimad ura
( ) M ID ( ) P equena
( ) M IE ( ) Md ia
( ) MSD ( ) Grand e
) M SE
) Outros
( ) Cr nica ( ) P rofu nda ( ) L im pa/Contaminada
( ) Cirrg ica ( ) Transfix ante ( ) Con tam inada
) In fectada
CARACTERSTICAS DO TECIDO: ( ) Vitalizado ( ) Desv italizad o ( ) Infectado ( ) Necro sado
( ) Granu lado ( ) E xsud ativo
( ) E pitelizad o
CARACTERSTICAS DO EXSUDATO: Aspecto: ( ) S eroso ( ) Sang uin olen to ( ) Serosanguinolento Colorao: ( ) Bran ca ( ) Amarelada ( )Esv erdeada Quantidade: ( ) Po uco ( ) Md io ( ) Grande/Ab undan te Odor: ( ) Inod olor ( ) Ftid o
( ) Se ropurulento ( ) Ach ocolatad a (
) Outras
46
Secretaria da Administrao do Estado da Bahia
PLANO TERAPUTICO: Prescrio Inicial
Descrio da Cobertura: ( ) Primria
( ) Secundria
Periodicidade de Troca:
A avaliao do estado geral do paciente, a classificao da ferida e a indicao teraputica ficam sob a responsabilidade do mdico assistente do paciente e do enfermeiro especialista. Local e Data: Assinatura e Carimbo do Mdico Assistente:
Local e Data:
Assinatura e Especialista:
Carimbo
do
Enfermeiro
MDICO AUDITOR PLANSERV: ( ) Favorvel ao tratamento OBS:
( ) Em exigncia
( ) Solicitao Negada
Local e Data:
Assinatura e Carimbo do Mdico Auditor:
47
Secretaria da Administrao do Estado da Bahia
Anexo IV Plano Teraputico Evoluo
PLANO TERAPUTICO INDIVIDUAL Evoluo do Tratamento da Ferida
IDENTIFICAO DO MDICO ASSISTENTE E PRESTADOR Nome: Especialidade: Prestador: Telefone: Telefone: Fax: E-mail: Telefone: CREMEB: E-mail:
IDENTIFICAO DO PACIENTE Nome do Paciente: Data de Nascimento:___/___/___ Data de Internao :___/___/___ Sexo: ( ) FEM Peso: ( ) MASC Cd Ident PLANSERV: Telefone: Altura: ( ) Diabetes
Diagnstico: Antecedentes patolgicos ( ) Doenas Cardiovasculares ( )Alcoolismo Deambula ( ) SIM ( ) NO
( ) Hipertenso Arterial ( ) Outros
( ) Tabagismo
RESUMO DA FERIDA Local e Tamanho da Ferida:
Classificao, caractersticas do tecido e do exsudato:
48
Secretaria da Administrao do Estado da Bahia
PLANO TERAPUTICO: Evoluo Descrio da Cobertura ( ) Primria ( ) Secundria
Periodicidade de Troca:
PLANO DE ALTA HOSPITALAR
A avaliao do estado geral do paciente, a classificao da ferida e a indicao teraputica ficam sob a responsabilidade do mdico assistente do paciente e do enfermeiro especialista. Local e Data: Assinatura e Carimbo do Mdico Assistente:
Local e Data:
Assinatura e Especialista:
Carimbo
do
Enfermeiro
MDICO AUDITOR PLANSERV: ( ) Favorvel ao tratamento OBS: Local e Data:
( ) Em exigncia
( ) Solicitao Negada
Assinatura e Carimbo do Mdico Auditor:
49
Você também pode gostar
- Relatório de EstágioDocumento11 páginasRelatório de EstágioJunior TavaresAinda não há avaliações
- Extrajudicial para Barulho de Cachorro de VizinhoDocumento2 páginasExtrajudicial para Barulho de Cachorro de VizinhoRaphael BarbieriAinda não há avaliações
- AR086 - Ritual Do REAA - Grau 01 de 1928-GLRJDocumento64 páginasAR086 - Ritual Do REAA - Grau 01 de 1928-GLRJCicero Fernandes0% (1)
- Procedimentos básicos de enfermagem no cuidarNo EverandProcedimentos básicos de enfermagem no cuidarAinda não há avaliações
- Aula 20 - Marketing em UANDocumento33 páginasAula 20 - Marketing em UANLeandro Cardoso100% (2)
- Protocolo Tratamento Feridas 201402Documento113 páginasProtocolo Tratamento Feridas 201402irineuAinda não há avaliações
- Universidade Federal de Minas Gerais Curso de Especialização em Atenção Básica em Saúde Da FamíliaDocumento31 páginasUniversidade Federal de Minas Gerais Curso de Especialização em Atenção Básica em Saúde Da FamíliaTayná SantosAinda não há avaliações
- 2019.1 - Enfermagem - Plano de Disciplina - Enfermagem em EstomaterapiaDocumento3 páginas2019.1 - Enfermagem - Plano de Disciplina - Enfermagem em EstomaterapialuanfrAinda não há avaliações
- Relatório Manuela MarciaDocumento14 páginasRelatório Manuela MarciaAngelino Segunda100% (2)
- Cuidado Com FeridasDocumento146 páginasCuidado Com Feridasr_castr0Ainda não há avaliações
- Estagio Urgência e Emergência Rosangela Santos 2023Documento10 páginasEstagio Urgência e Emergência Rosangela Santos 2023Rosangela SantosAinda não há avaliações
- Intervenção Estética No Tratamento de Fissuras e Rachaduras PodaisDocumento14 páginasIntervenção Estética No Tratamento de Fissuras e Rachaduras PodaisJúnior e KátiaAinda não há avaliações
- Protocolo de FeridaDocumento74 páginasProtocolo de FeridaRafael Freire SilvaAinda não há avaliações
- Relatorio Estagio 2023Documento8 páginasRelatorio Estagio 2023sibele marquesAinda não há avaliações
- HUMANIZAÇÃO NO SETOR DE RADIOLOGIA - Trabalho Completo PDFDocumento3 páginasHUMANIZAÇÃO NO SETOR DE RADIOLOGIA - Trabalho Completo PDFIago Brito da SilvaAinda não há avaliações
- TCC ProntoDocumento59 páginasTCC ProntoBeatriz MouraAinda não há avaliações
- Relatorio PDFDocumento14 páginasRelatorio PDFWilliam AraujoAinda não há avaliações
- Protocolo de Lesoes de Pele FinalizadoDocumento26 páginasProtocolo de Lesoes de Pele Finalizadonti hgfAinda não há avaliações
- Hospital de Clínicas de Porto Alegre Residência Integrada Multiprofissional em Saúde Programa Onco-Hematologia Serviço SocialDocumento44 páginasHospital de Clínicas de Porto Alegre Residência Integrada Multiprofissional em Saúde Programa Onco-Hematologia Serviço SocialVera DuarteAinda não há avaliações
- Cap 15Documento16 páginasCap 15Braz MilanezAinda não há avaliações
- Protocolo MANEJO PACIENTE ULCERA VENOSA Helio Martins2Documento68 páginasProtocolo MANEJO PACIENTE ULCERA VENOSA Helio Martins2wagnervoa02Ainda não há avaliações
- Trabalho Do Curso Atualizado Simone 0505Documento26 páginasTrabalho Do Curso Atualizado Simone 0505Rayssa DiasAinda não há avaliações
- Relatório Final CarineDocumento9 páginasRelatório Final Carineenzolacerda090101Ainda não há avaliações
- Enfermagem em Dermatologia Estética ApostilaDocumento32 páginasEnfermagem em Dermatologia Estética ApostilaKemuel AsafeAinda não há avaliações
- Unip - Estudo de Caso (Precariedades)Documento7 páginasUnip - Estudo de Caso (Precariedades)Jaime Adilton100% (1)
- Trabalho LuisDocumento20 páginasTrabalho LuisMichelle NerysAinda não há avaliações
- Relatorio AlineDocumento11 páginasRelatorio Alinegiorgionicolino2Ainda não há avaliações
- Correio Hospitalar 150 CompactadoDocumento16 páginasCorreio Hospitalar 150 CompactadoHenriqueAinda não há avaliações
- TCC Versão FinalDocumento49 páginasTCC Versão FinalBeto Betinho BetoAinda não há avaliações
- CODES 3 Dias SP PDFDocumento9 páginasCODES 3 Dias SP PDFabreuqueiroz17% (6)
- Bruna CristinaDocumento15 páginasBruna Cristinageiseany Almeida LibórioAinda não há avaliações
- Anais ENNEC 2018Documento430 páginasAnais ENNEC 2018Rodolpho VilelaAinda não há avaliações
- Priscilla - Enf. CirúrgicaDocumento11 páginasPriscilla - Enf. CirúrgicaCarlos MeloAinda não há avaliações
- Centro Universitário Regional Do Brasil Odontologia: Salvador 2019Documento50 páginasCentro Universitário Regional Do Brasil Odontologia: Salvador 2019Beatriz MouraAinda não há avaliações
- Relatorio de Estagio EvertonDocumento18 páginasRelatorio de Estagio EvertonSonhando Alto100% (1)
- 1ºrelatorio Urgencias OdontologicaDocumento11 páginas1ºrelatorio Urgencias OdontologicaCARLAAinda não há avaliações
- TCC Lavagem Das Maos - V1Documento9 páginasTCC Lavagem Das Maos - V1Rafael EirasAinda não há avaliações
- Relatório Parcial Urgência IIDocumento12 páginasRelatório Parcial Urgência IIJúlia VilarAinda não há avaliações
- Ramos 2019Documento33 páginasRamos 2019Igor MarçalAinda não há avaliações
- TCC Final Ibmr 3Documento48 páginasTCC Final Ibmr 3sperlingjuAinda não há avaliações
- Protocolo Prevencao e Tratamento Feridas PDFDocumento82 páginasProtocolo Prevencao e Tratamento Feridas PDFSabrina GuersonAinda não há avaliações
- Saude Coletiva III - RelatoriosDocumento11 páginasSaude Coletiva III - RelatoriosCentro inglesAinda não há avaliações
- Cópia de Relatorio de Estagio II - THALES HENRIQUE 1Documento17 páginasCópia de Relatorio de Estagio II - THALES HENRIQUE 1Thales HenriqueAinda não há avaliações
- PLANO DO CURSO OkDocumento17 páginasPLANO DO CURSO OkNarkjaelAinda não há avaliações
- PPP Programa de Residencia Multiprofissional em PediatriaDocumento69 páginasPPP Programa de Residencia Multiprofissional em Pediatrialarissa AlvesAinda não há avaliações
- Câmara Técnica de Odontologia HospitalarDocumento32 páginasCâmara Técnica de Odontologia HospitalarLuiz Fernando ZochAinda não há avaliações
- RSV124Documento54 páginasRSV124Luis Carlos Pinto SilvaAinda não há avaliações
- Proposta Protocolo UlcerasDocumento34 páginasProposta Protocolo Ulceraswagnervoa02Ainda não há avaliações
- ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE PACIENTE EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - REVISÃO INTEGRATIVA - ISSN 1678-0817 Qualis B2Documento26 páginasATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE PACIENTE EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - REVISÃO INTEGRATIVA - ISSN 1678-0817 Qualis B2Joao Carlos JuniorAinda não há avaliações
- Avaliação Terapia ocupacional/UFPRDocumento14 páginasAvaliação Terapia ocupacional/UFPRvandrade_635870100% (1)
- Priscilla - Enf. em Saúde ColetivaDocumento10 páginasPriscilla - Enf. em Saúde ColetivaCarlos MeloAinda não há avaliações
- Introdução EstomaterapiaDocumento35 páginasIntrodução Estomaterapiaxk9c2fzjbfAinda não há avaliações
- Relatorio Parcial 2 - FeDocumento9 páginasRelatorio Parcial 2 - Feangelmaravilhosa85Ainda não há avaliações
- Livro Enfermagem 2023Documento308 páginasLivro Enfermagem 2023Diogo GinaniAinda não há avaliações
- Pop Radiologia PDFDocumento56 páginasPop Radiologia PDFEmannuel Fernandes100% (1)
- Dentisteria 2021Documento13 páginasDentisteria 2021Emynence KalendaAinda não há avaliações
- O Papel Do Farmacêutico Na Cicatrização De FeridasNo EverandO Papel Do Farmacêutico Na Cicatrização De FeridasAinda não há avaliações
- Relatório ASCITE PRONTODocumento25 páginasRelatório ASCITE PRONTOmayra dos santosAinda não há avaliações
- INTELECTUS FabiolaDocumento20 páginasINTELECTUS FabiolaAndré pégasoAinda não há avaliações
- Publicação Do E Book CovidDocumento90 páginasPublicação Do E Book CovidSimoneHelenDrumondAinda não há avaliações
- Relatório Final VanessaDocumento14 páginasRelatório Final Vanessadebora.pinheiro1909Ainda não há avaliações
- Repdoe 20221206Documento13 páginasRepdoe 20221206Vitor Hugo Pontes FerreiraAinda não há avaliações
- A Importância Do Auto-Conceito txt8 AnoDocumento3 páginasA Importância Do Auto-Conceito txt8 Anobiogeo1011100% (1)
- Fisica Lições 22 PGEDocumento11 páginasFisica Lições 22 PGEAdrian de WitteAinda não há avaliações
- Estudo Dirigido - CitologiaDocumento3 páginasEstudo Dirigido - CitologiaSara Cristina Damásio CavalcanteAinda não há avaliações
- Manuais Adotados 2013 - 2014Documento13 páginasManuais Adotados 2013 - 2014quimgeoavAinda não há avaliações
- Temas para TCC de Direito Civil e Direito Processual Civil em 2022Documento19 páginasTemas para TCC de Direito Civil e Direito Processual Civil em 2022Daniele Rossi DizeróAinda não há avaliações
- Textos Sobre Narcisismo, Depressão e MasoquismoDocumento15 páginasTextos Sobre Narcisismo, Depressão e MasoquismocamcromanceAinda não há avaliações
- Apostila de Matemática Aplicada em EletromecânicaDocumento24 páginasApostila de Matemática Aplicada em EletromecânicaVitor Filho0% (1)
- Artigo Bertin (Cartografia)Documento2 páginasArtigo Bertin (Cartografia)ewersonmatiAinda não há avaliações
- Catalogo COMAERDocumento98 páginasCatalogo COMAERAnonymous ppPVgVWCiAinda não há avaliações
- Entrevista: Ricardo Darín - Entrevista - PlayboyDocumento8 páginasEntrevista: Ricardo Darín - Entrevista - PlayboyClarIssaAinda não há avaliações
- ContagemalunoslicfilDocumento40 páginasContagemalunoslicfilLucas PradoAinda não há avaliações
- Livro de FutebolDocumento53 páginasLivro de FutebolNuno Miguel Cruz100% (1)
- Questionário para Revisão Prova Final Microbiologia IDocumento11 páginasQuestionário para Revisão Prova Final Microbiologia IBia OliveiraAinda não há avaliações
- Bruxaria e A ModaDocumento35 páginasBruxaria e A ModaThayna GomesAinda não há avaliações
- Modernidade TécnicaDocumento4 páginasModernidade TécnicaVinícius GandolfiAinda não há avaliações
- Edital 3 Heteroidentificacao - Atualizado em 16.04Documento40 páginasEdital 3 Heteroidentificacao - Atualizado em 16.04Adeildo JúniorAinda não há avaliações
- How Not To Summon A Demon Lord - Volume 12 - CompressedDocumento144 páginasHow Not To Summon A Demon Lord - Volume 12 - CompressedCanal AziaAinda não há avaliações
- Atividade FilosofiaDocumento3 páginasAtividade FilosofiaSimone SouzaAinda não há avaliações
- Relatório em Gestão OkDocumento4 páginasRelatório em Gestão Okfabiana farbbsAinda não há avaliações
- RESUMO MulticulturalismoDocumento5 páginasRESUMO MulticulturalismonatalianaAinda não há avaliações
- Tabela Dos Fármacos 3 Bimestre AntidepressivosDocumento3 páginasTabela Dos Fármacos 3 Bimestre AntidepressivosMonise CarvalhoAinda não há avaliações
- Orações de Todos Os DiasDocumento7 páginasOrações de Todos Os DiasElenice TeixeiraAinda não há avaliações
- Power Point Final RVCC Form Dia 9Documento27 páginasPower Point Final RVCC Form Dia 9Joana Brazão CachuloAinda não há avaliações
- Letras Das CançõesDocumento6 páginasLetras Das CançõesJefferson DE Oliveira PaivaAinda não há avaliações
- Fundamentos Da Educação Cristã PDFDocumento156 páginasFundamentos Da Educação Cristã PDFValdecir P. NascimentoAinda não há avaliações
- 43 - Ética e Deontologia IDocumento75 páginas43 - Ética e Deontologia IAna BarrosAinda não há avaliações