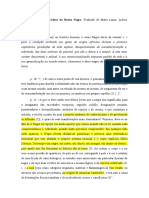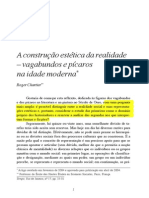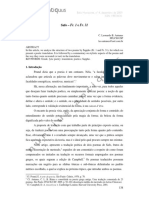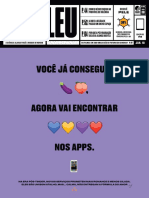Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
ALONSO - Critica e Contestacao PDF
ALONSO - Critica e Contestacao PDF
Enviado por
TiagoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
ALONSO - Critica e Contestacao PDF
ALONSO - Critica e Contestacao PDF
Enviado por
TiagoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
CRTICA E
CONTESTAO:
o movimento reformista
da gerao 1870*
Angela Alonso
No Brasil de fins do Imprio formou-se o
movimento da nova gerao, assim autonomeado numa referncia juventude de seus membros.
Os intrpretes passaram depois, convencionalmente, a identific-lo como movimento intelectual da gerao 1870.
primeira vista, a unidade geracional parece
ser mesmo o nico critrio unificador deste movimento. Embora os intrpretes usualmente o subdividam conforme a adeso a correntes intelectuais
europias cientificismo, positivismo, liberalismo, spencerianismo, darwinismo social , o retrato mais comum aponta um sincretismo, quando
*
Este artigo resume o argumento de minha tese de
doutorado em Sociologia, defendida em maio de 2000
na FaculDade de Filosofia, Letras e Cincias Humanas
da USP. Agradeo os comentrios dos professores Jos
Murilo de Carvalho, lide Rugai Bastos, Eduardo Kugelmas e Srgio Miceli, da banca examinadora, e especialmente ao meu orientador Braslio Sallum Jr., pelo
empenho destes cinco anos. Registro tambm meu
reconhecimento ao GT de Pensamento Social Brasileiro
da Anpocs, pela indicao para a publicao e pelas
discusses de que meu trabalho muito se beneficiou.
Agradeo ainda o parecerista annimo da RBCS e a
leitura cuidadosa de sua editora, Argelina Figueiredo.
Sou grata especialmente a Fernando Limongi, pela
interlocuo e pela solidariedade.
no um caos terico: intelectuais imitativos, deslumbrados com as modas europias; suas preferncias oscilando ao sabor delas.
Pesa sobre a gerao 1870 a acusao de ter
se interessado mais em edificar novos sistemas
filosficos que em interpretar a realidade nacional,
ignorando solenemente, salvo honrosas excees,
como Joaquim Nabuco, os problemas cruciais da
sociedade brasileira, sobretudo a escravido.
Mesmo quando se admite um lugar para as
idias, ele freqentemente pouco lisonjeiro. Na
formulao de Srgio Buarque, a gerao 1870
teria incorporado idias europias essencialmente
como ornatos discursivos. Por princpio artificiais
em relao ao patrimonialismo brasileiro, tais idias forneceriam to-somente uma forma para o
alheamento, a evaso, o secreto horror nossa
realidade acalentado pelos intelectuais.
A controvertida tese de Roberto Schwarz
(1989) igualmente tem por ponto de partida que a
questo central perpassando os escritos da gerao
1870 seria a imitao de teorias estrangeiras. Existiria tambm uma contradio entre as formas de
pensar estrangeiras copiadas e os traos coloniais
da realidade brasileira. Schwarz supe, porm, que
certos membros da gerao 1870 tivessem habiliRBCS Vol. 15 no 44 outubro/2000
36
REVISTA BRASILEIRA DE CINCIAS SOCIAIS - VOL. 15 N o 44
dades para desvelar os fundamentos desta experincia social, inacessveis aos demais: Machado de
Assis teria logrado uma obra de valor cognitivo
superior de seus contemporneos. Nogueira
(1984) aplica esquema similar para Nabuco. Nos
dois casos, intelectuais de grande estatura servem
como ponto de vista para anlises que visam
produzir conhecimento acerca dos dilemas estruturais da sociedade escravista brasileira. Continuamos sem uma explicao para os autores menores que compem a maior parte do movimento
intelectual da gerao 1870.
Nas anlises que enfocam diretamente o
movimento intelectual, como j veremos, o fenmeno aparece reduzido ora s posies sociais de
seus membros, ora a sistemas de idias, descolados das prticas.
Acredito que o quadro de imitao resulta de
dois procedimentos adotados pelos analistas. De
um lado, a incorporao acrtica das explicaes e
classificaes construdas por membros da prpria
gerao 1870 ps-factum, j na Repblica, endossando, assim, a clivagem doutrinria como eixo
explicativo do movimento. De outro lado, a suposio de uma autonomia do campo intelectual. Por
isso tomaram os sistemas intelectuais europeus
contemporneos como parmetro de avaliao do
movimento. por comparao a teorias europias
e em acordo com as memrias e reconstrues dos
prprios agentes que se forma o juzo do movimento da gerao 1870 como intelectual e imitativo.
Neste artigo apresento uma nova interpretao para o fenmeno. Minha proposta tomar por
ponto de vista para a anlise do movimento intelectual da gerao 1870 a experincia social compartilhada por seus membros. Parto da posio
mais ou menos consensual na sociologia contempornea de que formas de pensar e formas de agir
esto em ntima conexo, de sorte que no
possvel compreend-las separadamente. No se
trata de reduzir mecanicamente uma esfera outra;
a questo , antes, como a cultura se vincula
experincia. A interpretao, por isso, exige uma
anlise fina, emprica, do modo pelo qual uma
certa experincia social concreta plasma certas
formas de pensar.
Assim, analiso o movimento intelectual da
gerao 1870 do ponto de vista da experincia
compartilhada por seus membros. Dada a inexistncia de um campo intelectual autnomo no sculo XIX, a experincia da gerao 1870 diretamente
poltica. Por isso adoto a dinmica poltica como
ngulo de anlise. Ao invs de organizar textos e
prticas conforme referncias tericas estrangeiras,
inscrevo-os na conjuntura poltica local.
Esta mudana de tica revela que aquele
movimento intelectual nem era alheio realidade
nacional, nem visava formular teorias universais.
As teorias estrangeiras no eram adotadas aleatoriamente, sofriam um processo de triagem: havia um
critrio poltico de seleo.
O sentido principal do movimento intelectual
da gerao 1870 foi a interveno poltica. Argumento que grupos politicamente marginalizados
pela ordem imperial recorreram ao repertrio estrangeiro e prpria tradio nacional em busca de
recursos para expressar seu descontentamento.
Suas opes tericas adquirem, assim, uma dimenso inusitada: auxiliaram na composio de uma
crtica ao status quo imperial.
O movimento intelectual revela ser um movimento poltico de contestao. Suas obras exprimem interpretaes do Brasil crticas ao status quo
monrquico e programas de reformas. Por isso
proponho nome-lo reformismo.
A seguir, procuro demonstrar meu argumento inicialmente apresentando uma crtica s interpretaes de que o movimento intelectual foi
objeto e, em seguida, construindo uma nova abordagem para suas obras e aes a partir de trs
conceitos-chave: estrutura de oportunidades polticas, comunidade de experincia e repertrio.
Movimentos intelectuais e
crise do Imprio: principais linhas
de interpretao
O movimento intelectual da gerao de 1870
tem sido tema de anlises h mais de um sculo. Os
tratamentos que recebeu so muito desiguais em
escopo. O movimento tanto compe uma dimenso de obras de interpretao do Brasil, como as
de Raimundo Faoro, Srgio Buarque de Holanda e
CRTICA E CONTESTAO: O MOVIMENTO REFORMISTA DA GERAO 1870
Florestan Fernandes, amalgamado s explicaes
da formao do Estado e da sociedade nacionais,
quanto incorporado como a atmosfera do oitocentos, espcie de esprito de poca, nos estudos
culturais sobre o fin-de-sicle (por exemplo, Skidmore, 1976).
Os estudos diretamente sobre o tema podem
ser agrupados em duas grandes vertentes: uma
perspectiva cognitiva considera o movimento intelectual do ponto de vista de sua capacidade de
gerar teorias sociais, situando-o no plano da histria das idias; outra, prtica, caracteriza o movimento como produtor de ideologia modernizadora
para novos grupos sociais, particularmente uma
nova classe mdia.
A tica da histria das idias a mais tradicional no tratamento do movimento intelectual. Os
dois principais nomes nesta linha so Cruz Costa e
Antonio Paim. Embora ambos divirjam em vrios e
importantes pontos, concordam em tomar o movimento do ngulo da produo de textos.
No caso de Paim e de seus seguidores, no h
pretenso de relacionar texto e contexto. Antes o
contrrio. A explicao privilegia o valor heurstico
das obras e extirpa qualquer caracterstica exgena
ao prprio campo das idias. O conceito operatrio a noo de influncia. O movimento intelectual aparece como feixe de rplicas nacionais de
linhas de pensamento europeu, compondo escolas de pensamento (Paim, 1966).
Este passo tem por efeito tomar um fenmeno
disseminado no perodo a formulao de interpretaes do Brasil e de projetos de reforma
como desiderato de grandes sistemas de pensamento. De outro lado, supe uma anterioridade
lgica das idias: a ao poltica dos intelectuais
no nem mesmo aventada. O levantamento sistemtico de autores e obras louvvel. Mas atribuir
aos agentes o propsito de produzir conhecimento
de valor terico universal tem o efeito de elev-los
categoria de filsofos. O metro heurstico suprime a
conjuntura: toda conexo com a problemtica social contempornea desaparece.
Cruz Costa, de outro lado, prope-se a conectar correntes intelectuais europias ao processo
de formao da sociedade nacional brasileira, jogando o foco para o modo pelo qual as idias
37
europias se conformam experincia americana (Cruz Costa, 1956, p. 436). O padro da
formao nacional e o rescaldo colonial no plano
das idias so apresentados como obstculos ao
desenvolvimento de escolas nativas de pensamento, fazendo a reflexo pender mais para a sociologia que para a metafsica. Por isso, o estudo da
histria das idias no Brasil deve se concentrar
nos anos 1870 e no positivismo, momento de
origem de uma sociologia nacional. A investigao
sublinha os processos de deformao das teorias
estrangeiras no Brasil de modo a servir como
instrumentos de ao, principalmente de ao
social e poltica, para grupos sociais especficos.
Dada a nfase em uma perspectiva prtica,
seria de esperar aqui uma avaliao da ao poltica. No entanto, o material emprico aparece, como
em Paim, organizado conforme autores e escolas
europias. Embora o propsito geral seja conectar
as doutrinas europias e a experincia brasileira,
precisamente a chave desta conexo excluda da
anlise: todo o pensamento no-sistemtico, no
imediatamente sociolgico, expelido da anlise
como os escritos de Silva Jardim e de Joaquim
Nabuco. O liberalismo do Segundo Reinado praticamente no mencionado.
Mesmo rivais, as duas linhagens convergiram
na circunscrio de um campo intelectual no fim
do Imprio, a partir dos critrios e informaes de
um dos agentes (Slvio Romero, talvez o mais
faccioso deles), e na cristalizao do movimento
intelectual como escolas. Contriburam, assim,
para a naturalizao da Escola de Recife, da
Igreja Positivista, do Darwinismo Social, do
Castilhismo, do Positivismo Ilustrado. Porque
evitam o reconhecimento direto dos agentes que
produzem o pensamento do perodo, ambos os
trabalhos desguam na constatao de um voluntarismo poltico ou de uma ingenuidade terica
como caractersticas da gerao 1870.
Estas duas verses de histria das idias so
muito influentes. Suas categorias foram acatadas e
incorporadas pela bibliografia especializada, como
se descrevessem instituies, com distino clara
entre membros e no-membros. Mesmo estudos
que recusaram as explicaes de Cruz Costa ou
Paim recorreram s suas categorias e fontes.
38
REVISTA BRASILEIRA DE CINCIAS SOCIAIS - VOL. 15 N o 44
A perspectiva da histria das idias tomou
por pressuposto que o objetivo central do movimento intelectual fosse a criao de uma filosofia,
uma literatura e uma cincia nacionais e sua institucionalizao acadmica. Por isso, nem procurou
possveis conexes com a prtica poltica, assumindo como dada sua inclinao terica e seu
apoliticismo. No mximo, sups os intelectuais
como idelogos da ao de outrem.
Estudos mais contemporneos tm estreitado
o foco e tendido para uma histria intelectual. So
essencialmente monografias que reconstroem a
viso dos intelectuais, pela anlise combinada de
biografia e obra representativas de uma tendncia
(Sussekind e Ventura, 1984; Carvalho, 1998). Estudos deste tipo ganham em preciso ao explodirem
categorias gerais como positivismo e liberalismo em troca da nfase na constituio da identidade de um grupo ou na viso de um personagem
sobre seu tempo. Mas seus objetos empricos
restritos os levam a abandonar a prpria perspectiva de um movimento intelectual.
De outro lado, h estudos restringindo o
movimento intelectual s instituies intelectuais
do Imprio, como, por exemplo, s faculdades de
direito e medicina (Schwarcz, 1993) e escola
militar (Castro, 1995). De fato, os membros dos
movimentos intelectuais so jovens altamente educados. Mas da no se segue que as escolas de
ensino superior do Imprio sejam as unidades de
organizao do movimento ou de produo de sua
identidade coletiva. Uma abordagem no-institucionalista permitiria ler a criao de associaes pelo
movimento intelectual como indcio da prpria
falncia dessas instituies em socializarem a
nova gerao segundo o esprito e o cnon do
Imprio (Alonso, 1998). Ser apenas na Repblica
que os membros do movimento passaro a integrar
instituies propriamente intelectuais.
A interpretao alternativa da histria das
idias consiste em explicar o movimento intelectual em termos da posio social de seus membros.
Especialmente nos anos 1970, surgiram estudos
associando a configurao de novos grupos sociais
na esfera econmica, ou classes, com a emergncia
de novos movimentos intelectuais, ou ideologias: burguesia urbana e darwinismo social/spence-
rianismo (Graham, 1973); positivismo e setores
mdios urbanos (Nachman, 1972); liberalismo
democrtico/positivismo ilustrado e nova burguesia do caf de So Paulo (Bresciani, 1976 e
1993); novo liberalismo e classe mdia (Hall,
1976); positivismo e estancieiros gachos (Love,
1971); positivismo ortodoxo e classe mdia/
contra-elite (Carvalho, 1989).
Assim, o movimento intelectual expressaria
anseios de grupos sociais novos, surgidos com o
processo de modernizao econmica do pas.
Este raciocnio equaliza pertencimento a uma classe, posicionamento poltico e crena ideolgica:
grupos de constituio moderna, como as classes
mdias ou a burguesia, adotariam teorias coerentes com seus interesses, isto , variaes do
liberalismo (moderado por adjetivos spenceriano, doutrinrio ou moderando substantivos
positivismo ilustrado).
Esta equiparao apressada gera equvocos,
como a apresentao dos filhos da elite imperial
brasileira, de famlias socialmente enraizadas, como
representantes de novas classes mdias (Hall, 1976).
Mas esta linha de anlise traz tambm ganhos
explicativos. A justaposio entre os estudos aponta
uma pluralidade de grupos se apropriando das
novas doutrinas. Diversidade inclusive geogrfica, como Bosi (1992, p. 274) sintetiza: positivismo
ortodoxo na Corte; spencerianismo paulista; positivismo modernizador e de bem-estar no Rio
Grande Sul e novo liberalismo no Nordeste.
Quando comparada com as interpretaes em termos de histria das idias, essa abordagem ilumina
um fenmeno antes invisvel: a ao poltica dos
grupos intelectuais.
Dois
pressupostos partilhados pela bibliografia
Embora tenham clivagens e nuanas aqui
abstradas, estas duas grandes linhagens de explicao do movimento intelectual comungam dois
pressupostos que, me parece, tm obstado uma
interpretao adequada do fenmeno: a separao
entre campo intelectual e poltico e a incorporao
das autodefinies doutrinrias dos agentes.
Boa parte dos intrpretes supe que o movimento intelectual da gerao 1870 seja, por definio, formado por intelectuais voltados para a
CRTICA E CONTESTAO: O MOVIMENTO REFORMISTA DA GERAO 1870
produo de conhecimento e apartados do cerne
do processo poltico. A suposta autonomia do
campo intelectual gera a seco da gerao 1870
em dois objetos de anlise. Os intelectuais (imitadores de idias importadas ou criadores de sistemas de pensamento prprios) pertencem aos estudos de histria das idias, alocados em grandes
correntes, como cientificismo. A outra metade
de estudos sobre o pensamento poltico de agentes que, admite-se, andaram envolvidos em prticas para alm de seus gabinetes e escreveram
obras polticas.
Entretanto, os autores das obras filosficas
e das obras polticas no so assim to facilmente
discernveis. Empiricamente, os dois crculos so
parcialmente sobrepostos, com membros duplamente alocados.
O pressuposto da autonomia do campo intelectual, quero argumentar, de validade duvidosa
para o Brasil da segunda metade do sculo XIX. A
separao entre um campo poltico e outro intelectual estava ainda em processo mesmo na Europa.
Na Frana e na Inglaterra, o prprio termo intelectual s se firma nos anos 1870. Ao longo do sculo
XIX, o clima de turbulncia e ativismo poltico
produziu uma reflexo intelectual colada conjuntura, visando interveno poltica (Epstein, 1996,
pp. 54 ss). O contexto intelectual do oitocentos
europeu tem uma clivagem poltica forte e suas
circunscries escolas tericas so frouxas.
Se nem mesmo na matriz havia teorias puras e
bem delineadas disposio, no h razo para
tomar as classificaes tericas como critrio
para a leitura das obras da gerao 1870.
O fato de muitos membros da gerao 1870
exercerem profisses ou pertencerem a instituies intelectuais na Repblica no autoriza expandir o raciocnio para trs. Observando as trajetrias
individuais e o conjunto de obras publicadas,
impossvel distinguir intelectuais de polticos. A
diviso um anacronismo. No havia um grupo
social cuja atividade exclusiva fosse a produo
intelectual. A existncia de uma nica carreira
pblica centralizada no Estado, incluindo de empregos no ensino a candidaturas ao parlamento,
fazia da sobreposio de elites poltica e intelectual
a regra antes que a exceo.
39
A partio convencional da gerao 70 em
positivistas, liberais, darwinistas etc. resultado do
critrio adotado. o intrprete quem seleciona
caractersticas intelectuais em detrimento das polticas. Empiricamente, os grupos tanto se identificam por recurso a termos doutrinrios quanto a
posies polticas.
Se ainda se quiser falar de duas esferas, digo
que elas estavam preenchidas pelas mesmas pessoas. Tanto os autores de obras filosficas desenvolveram atividade poltica contnua, quanto os
polticos escreveram interpretaes com base em
recursos doutrinrios. No tomar o fato em conta
significa decepar parte do objeto: a atividade poltica dos intelectuais ou a atividade intelectual dos
polticos.
O agravante da separao de campos que o
critrio requer das obras uma consistncia terica
que simplesmente no visavam e supe dos autores uma dedicao prioritria atividade intelectual que no existia. Um recorte estrito do universo
das idias num momento em que faltam as instituies de um campo intelectual plenamente constitudo s pode concluir pela fluidez dos grupos,
pela baixa qualidade das obras e pela inconstncia
dos autores.
Da a desvantagem explicativa de uma sociologia dos intelectuais estrito senso para o movimento intelectual da gerao 1870. Como argumentam
Hale (1989) e Rosanvallon (1985) para casos contemporneos, o Mxico do Porfiriato e a Frana da
Monarquia de Julho, ao invs de ignorada, a sobreposio entre cultura e poltica deve ser iluminada.
O outro pressuposto comum a vrias interpretaes do movimento intelectual da gerao
1870 a incorporao acrtica de termos genricos
criados pelos prprios agentes para nomear o
movimento intelectual. Autodefinies de partidrios da prpria luta doutrinria como Slvio
Romero viram conceitos.
Categorias como darwinismo, positivismo,
spencerianismo, liberalismo sofreram apropriaes, redefinies, usos polticos. Isso evidente
nas polmicas entre faces: termos como positivistas laffittistas e littrestas, darwinistas e spencerianos, liberais e conservadores foram criados nas controvrsias. As categorias se constroem
40
REVISTA BRASILEIRA DE CINCIAS SOCIAIS - VOL. 15 N o 44
por constraste, exprimem relaes entre grupos: a
prpria nomeao uma arma em meio a conflitos
de definio de identidades. Os termos esto inscritos num contexto de significados; so construes
no s histricas como polticas. Grande parte das
guerras doutrinrias disputa precisamente significados. Como demonstra Bannister (1988) para o
darwinismo, o uso de terminologia doutrinria
obedece motivao polmica contra adversrios
mais que exprime filiao terica.
da natureza dos movimentos intelectuais e
polticos inventarem rtulos de identidade como
estratgia de diferenciao, bem como uma tradio, um panteo de heris e obras de legitimao
de suas posies, especialmente em perodos de
mudana social (Hobsbawn, 1984; Wuthnow, 1992;
Tilly, 1993). Positivista ortodoxo ou liberal radical no so categorias adstritas, neutras. Seu uso
inquestionado implica assumir as autoclassificaes, os preconceitos, as tores e o prprio esquema explicativo dos agentes, numa traduo direta
da terminologia da disputa doutrinria em conceitos sociolgicos. A auto-imagem e as explicaes
dos agentes devem ser o objeto, no o guia da
anlise. Da o imperativo de desmistificar as prprias categorias, de redefini-las, de modo a perguntar
no quais indivduos ou grupos eram darwinistas
sociais, mas como o rtulo ele mesmo funcionava
nos debates [] (Bannister, 1988, p. xi).
Outro inconveniente que o caso europeu
se torna parmetro automtico de avaliao do
movimento intelectual. Ler os textos brasileiros
conforme graus de fidelidade doutrinria a teorias
estrangeiras conduz sempre a um diagnstico de
insuficincia: a questo acaba formulada como
relao de cpia/desvio entre sistemas intelectuais
nativos e estrangeiros.
Neste tipo de raciocnio, os agentes do processo so as idias. Os intelectuais so seus
meros portadores. Como se idias, lembra Ringer,
por alguma fora lgica ou verdade imanente,
fossem capazes de induzir pensamentos e aes
dos agentes num determinado sentido. Quando
processos de influncia direta no so facilmente
identificveis, geram-se explicaes em termos de
difuso, distoro, diluio das idias no
senso comum. A fraqueza deste esquema repousa
particularmente em seu extremo idealismo ou
intelectualismo. Idias nunca so totalmente separveis de seu enraizamento em instituies, prticas e relaes sociais. (Ringer, 1992, p. 11).
Este modo de pr a questo tem outro alicerce bambo. Supe uma distino de natureza entre
a problemtica intelectual europia e a americana
nos fins do sculo XIX, que tornaria qualquer
transferncia de conceitos e argumentos deslocada
por definio. A sobrevalorizao das singularidades dos pases coloniais leva, como argumenta
Hale, a ignorar a partilha, por europeus e americanos, de uma tradio e de um universo de valores,
de um repertrio ocidental.
Paradoxalmente, muitas anlises apagam o
elemento efetivamente singular: a tradio polticointelectual brasileira. Porque ex-colnias, os pases
americanos teriam mantido as tradies herdadas.
Isto s parcialmente verdade. As naes novas se
empenham em inventar tradies que as definam e
as distinguam (Hobsbawn, 1984). O fato de ser
inventada no torna esta tradio menos ativa.
A relao entre contexto brasileiro e teorias
europias dinmica. A frase de Hale para o
Mxico aplica-se perfeitamente ao Brasil: Devemos superar a contrversia estril acerca do carter
imitativo ou original das idias mexicanas, se elas
eram perifricas realidade mexicana ou propriamente incorporadas e mexicanizadas. (Hale,
1989, p. 19). H um repertrio comum, que inclui
tanto teorias estrangeiras quanto a tradio nacional. A apropriao de elementos deste repertrio
seletiva e envolve necessariamente supresso, modificao.
A explicao do movimento intelectual da
perspectiva cognitiva, como formao de filiais
brasileiras de matrizes europias, implica assumir
um critrio de avaliao exgeno ao objeto e que
solapa o contexto sociopoltico em que ele se
constitui. O movimento analisado principalmente a partir de seus escritos e conforme sua capacidade de produzir sistemas de pensamento coerentes. Assim acentua-se a inteno cognitiva dos
agentes: reduz-se o movimento intelectual a um
projeto de conhecimento, seja de teorias estrangeiras, seja da realidade nacional. As teorias a
liberal de Locke e Rousseau ou ainda Tocqueville,
CRTICA E CONTESTAO: O MOVIMENTO REFORMISTA DA GERAO 1870
a positivista de Comte ou a evolucionista de Spencer e Darwin tornam-se parmetros automticos. Por conseqncia, autores profusamente citados pelo movimento intelectual da gerao 1870
que no atravessam a alfndega da qualidade
intelectual, como Thophilo Braga, Littr, Renan e
Taine, e polticos profissionais, como Gladstone,
Gambetta e Jules Ferry, so expurgados da anlise.
O suposto de que os agentes estivessem
buscando teorias de maior potencial cognitivo
esbarra no fato de que o hit do sculo XIX brasileiro foi o positivismo, no o marxismo. Diante deste
quadro, os analistas deslocam o foco das teorias
para a capacidade cognitiva da elite intelectual
oitocentista: seu carter tacanho, sua mania de
imitao das modas europias, a impediria de
compreender teorias sofisticadas.
A perspectiva cognitiva reduz o movimento
intelectual. O verbo no acidental. Ao menosprezarem a prtica dos agentes, os analistas deixaram
de perceber que o debate poltico coetneo a
principal fonte intelectual do movimento da gerao 1870.
Uma abordagem poltica do
movimento intelectual
A explicao do movimento intelectual em
termos de correspondncia ou desvio em relao
ao padro intelectual estrangeiro ampara-se na
anlise das obras publicadas. Uma dimenso relevante, sem dvida. Mas a interpretao das idias
como sistemas oculta o fundamental: so os agentes sociais que fazem uso de idias, que as selecionam, que as tomam como orientao de sua ao.
O mesmo efeito unilateral resulta das anlises
em termo de ideologias. Vrios intrpretes declaram tomar em conta a ao dos agentes, mas
acabam por reduzir o movimento intelectual a
posies e origens sociais de seus membros. Assim, pem na sombra o significado do substantivo
movimento. De um modo ou de outro, perde-se
de ver que o fenmeno a explicar tem dupla face:
so tanto textos quanto prticas.
A dificuldade provm antes do critrio dos
analistas que das opes dos agentes. O n desaparece se admitirmos que os agentes recorreram a um
41
certo repertrio por razes prticas, ao invs de
atribuir-lhes a inteno de gerar teorias universais.
A base de meu argumento um trusmo
sociolgico: formas de pensar esto imersas em
prticas e redes sociais. Minha proposta tomar a
experincia compartilhada pelos componentes do
movimento intelectual como perspectiva analtica.
Adotar este ponto de vista significa, como argumentam Rosanvallon (1985) e Hale (1989), explodir a distino entre textos e prticas, teoria e obra
de circunstncia, e privilegiar a tenso entre a obra
e a experincia social de seus autores.
O efeito desta mudana de ngulo considervel. Ao invs de partir das teorias e da realidade
brasileira como dois blocos a serem relacionados,
procuro empreender uma anlise conjugada da
experincia social da gerao 1870 e de seus textos.
A inscrio da produo doutrinria do movimento
intelectual no processo sociopoltico em que surge
lhe confere nova inteligibilidade: a prpria produo de textos aparece como uma forma de ao.
As abordagens cognitiva e prtica podem se
completar se tomarmos em conta que representaes e comportamentos esto j articulados nas
estratgias de ao criadas pelos agentes sociais
(Swidler, 1986). Aes e escritos unificam-se politicamente.
Dada a indistino de campos no Imprio,
uma manifestao intelectual era imediatamente
poltica. Por isso, a prpria dinmica poltica a
performance poltica de agentes e argumentos, e
no as teorias ou os intelectuais oferece a
melhor perspectiva de anlise.
Esta opo metodolgica permite lanar luz
sobre a atividade poltica dos intelectuais brasileiros de final do Imprio e identificar uma complementaridade entre textos e formas de ao. Assim se
vislumbra o sentido principal dos escritos do movimento da gerao 1870: a interveno poltica.
O recurso a argumentos de teorias estrangeiras explica-se como busca de armas retricas de
combate aos modos de pensar e agir do Imprio.
Nesta chave, o problema passa a ser como capacidades culturais criadas em um contexto histrico
so reapropriadas e alteradas em novas circunstncias. [...] [e qual a] capacidade de determinadas
idias [] organizarem dados tipos de ao que
42
REVISTA BRASILEIRA DE CINCIAS SOCIAIS - VOL. 15 N o 44
afetam as oportunidades histricas que os atores
so capazes de capturar (Swidler, 1986, p. 283).
Meu argumento que os agentes no visavam
reproduzir e/ou construir sistemas abstratos: estavam em busca de subsdios para compreender a
situao que vivenciavam e para desvendar linhas
mais eficazes de ao poltica.
A tica das prticas permite ver a dimenso
de ao coletiva do movimento intelectual:
Se a luta entre movimentos e seus oponentes fosse
primariamente simblica, ento um movimento
social poderia ser entendido como nada mais que
um centro cognitivo de mensagem. [] Neste
caso, ns estaramos habilitados a ler a interao
entre movimentos e autoridades como um crtico
literrio l um texto [] Mas, se [] os significados
so construdos atravs da interao social e poltica por empreendedores de movimento, no h
substitutivo para relacionar textos e contextos e
perguntar como os movimentos eles mesmos fazem esta conexo. (Tarrow, 1994, p. 119)
Assim, para entender por que certos movimentos recorrem a certas prticas simblicas
preciso inscrever a anlise do discurso do movimento na estrutura de relaes de poder.
Esta abordagem do movimento intelectual
como movimento poltico se ampara em trs noes bsicas: estrutura de oportunidades polticas,
comunidade de experincia e repertrio.
A
estrutura de oportunidades polticas
Movimentos intelectuais so uma modalidade de movimento social. Por sua vez, movimentos
sociais so uma das formas modernas de ao
coletiva, que surgem com o enfraquecimento das
formas tradicionais de expressar demandas, seja
por sua ineficcia, seja pelo aumento da participao poltica. Segundo Tilly (1978 e 1993), esto
associados a momentos nos quais as instituies
polticas falham em responder as demandas de
parte dos membros da prpria comunidade poltica. Esta situao de crise permite que pequenos
grupos insatisfeitos com as regras de distribuio
de bens e recursos e de representao, antes
silenciosos ou inaudveis, possam vocalizar suas
demandas mesmo fora das instituies polticas
estabelecidas. Isto , movimentos sociais surgem
tipicamente em momentos de crise.
Tarrow (1994) agrega que movimentos sociais
se formam quando h uma expanso da estrutura
de oportunidades polticas. Quando processos de
crise dilatam as [...] dimenses consistentes mas
no formais ou permanentes do ambiente poltico que fornece incentivos para pessoas se engajarem em aes coletivas, por afetarem suas expectativas de sucesso ou fracasso. (Tarrow, 1994, p. 85).
A estrutura de oportunidades polticas que
propicia a configurao do movimento intelectual
da gerao 1870 composta por dois processos
fundamentais: a ciso da elite poltica imperial e
uma modernizao conservadora incompleta.
Uma parte da elite poltica monrquica comeou, no incio dos anos 1870, uma reforma controlada, modernizante para a economia e a sociedade
m as sem alterar o mago das instituies polticas
o gabinete Rio Branco (1871-75) sintetiza esta
iniciativa. O impasse quanto ao rumo das reformas
gerou uma crise poltica sem precedentes: os partidos se desestabilizaram, com a formao de dissidncias em cascata, desembocando mesmo na
criao de um partido anti-regime. A crise poltica
enfraqueceu os pilares e instituies que sustentavam o Segundo Reinado, desfigurando a lgica
poltica imperial e criando um clima de incerteza. A
pulverizao tornou a poltica mais dinmica e
permevel. Diante da crise do regime, vrios grupos sociais alijados pela poltica imperial adquiriram condies para expressar publicamente seus
dissensos e projetos.
A reforma conservadora, doutra parte, impulsionou uma significativa modernizao da infraestrutura, com conseqncias polticas inadvertidas e desestabilizadoras para o regime. A disseminao de tipografias e a implantao de estradas de
ferro e do telgrafo revolucionaram o padro da
imprensa. Nivelaram o acesso a informaes sobre
temas polticos e culturais nacionais e estrangeiros
entre todos os grupos sociais alfabetizados. A
mudana social e a crise poltica alteraram os
contornos da populao capacitada para agir politicamente tambm pela redistribuio de recursos
materiais, polticos e simblicos.
CRTICA E CONTESTAO: O MOVIMENTO REFORMISTA DA GERAO 1870
O pacote conservador de reformas quebrou
duas regras tcitas do regime. Na forma, violava o
princpio do consenso na tomada de decises no
Imprio, que dava s medidas seu carter de
responsabilidade coletiva. Substantivamente, inseria na agenda poltica os prprios fundamentos do
status quo: a escravido, a religio de Estado, a
monarquia
representativa.
Assim, a estrutura de oportunidades polticas
abre vias de ao poltica inditas para agentes
sociais at ento alijados do sistema poltico. A crise
expandiu a discusso dos dilemas estruturais para
alm do crculo da elite, configurando um espao
pblico paralelo vida parlamentar. Esta conjuntura poltica incentivou grupos marginalizados ou
insatisfeitos com o arranjo poltico imperial a externarem pblica e coletivamente seus dissensos.
Meu argumento que o movimento intelectual contemporneo da gerao 1870 uma dessas formas coletivas de contestao ordem imperial formadas por grupos marginalizados pelas
instituies
monrquicas.
A combinao entre rpida mudana social e
crise poltica minou a capacidade repressiva do
regime e seus mecanismos de legitimao e reproduo. Contexto em que tipicamente, argumenta
Ringer, gera-se uma clarificao: [] assunes
culturais [] tornam-se explcitas, condies e
ocasies so criadas para a transcendncia parcial
dessas assunes pela inovao intelectual (Ringer, 1992, p. 8). A crise obriga a explicitao do
repertrio de valores e princpios que legitimava o
establishment monrquico no debate pblico: os
princpios estamentais do liberalismo imperial e a
justificao das bases coloniais do status quo (a
monarquia e a escravido). A reiterao dos princpios, do esprito do regime e dos modos de agir
das instituies ameaadas do status quo imperial
se fez em opsculos e discursos de uma ala da elite
imperial. Pondo em alto-relevo a letra no escrita
do regime, trazendo ao debate pblico temas antes
indiscutveis.
A
experincia
compartilhada
Algumas interpretaes, vimos, associam a
emergncia do movimento intelectual constituio de uma classe mdia, resultante da moderni-
43
zao econmica. Entretanto, num contexto de
mudana social acentuada, os contornos dos grupos sociais so pouco precisos. A crise da sociedade brasileira de finais do sculo XIX, decorrente da
mudana de padro da organizao do trabalho,
era estrutural (Holanda, 1972; Fernandes, 1977),
modificando a distribuio de recursos econmicos, sociais, polticos e de status, e mesmo a
capacidade de manipul-los. Por sua magnitude,
atingia todos os grupos sociais, provocando no
apenas a emergncia de novos segmentos, mas a
desestruturao e reorganizao dos antigos.
O movimento intelectual no de classe
mdia. Nenhum membro do movimento intelectual era totalmente alijado de recursos sociais e
econmicos. Por definio, um movimento intelectual um movimento de elite. Quanto mais em
uma sociedade em que o acesso educao era to
restrito. Ao contrrio da maioria da populao do
Imprio, os membros do movimento tinham acesso ao diploma superior, que era tambm o primeiro degrau da carreira poltica. Tinham acesso aos
meios materiais (imprensa, posio social) e intelectuais (educao superior, ingresso no universo
erudito) imprescindveis para exprimir e amplificar
suas opinies e reivindicaes.
Entretanto, no so homogneos. Seguindo a
trajetria de cerca de 130 de seus membros, encontrei uma enorme diversidade. No possvel definir
o movimento em termos de socializao escolar ou
origem regional:h bacharis em direito, em engenharia, em medicina; militares e civis; h gente de
praticamente todas as provncias. Tampouco podese reduzi-los a uma classe. Havia tanto representantes de grupos sociais novos quanto de outros que
h muito cresciam na margem ou nos interstcios da
sociedade estamental, e havia mesmo membros de
famlias tradicionais do Imprio. Portanto, no representavam exclusivamente nem setores mdios
ascendentes, nem grupos decadentes.
Os componentes do movimento intelectual
se definem melhor pela negativa. So um pouco o
que sobra entre o dinheiro e a poltica da Corte e
o universo escravista rural: os filhos de famlias
sem vnculo com a atividade agroexportadora; os
oriundos de provncias de peso poltico grande,
como Pernambuco, mas de grupos marginais
44
REVISTA BRASILEIRA DE CINCIAS SOCIAIS - VOL. 15 N o 44
aliana hegemnica nacional; os de famlias de
estancieiros, mas sem entrada nos feudos polticos
da provncia; os de origem excntrica, no alocados no mundo da elite poltica e da grande economia, filhos de professores; de profissionais liberais
urbanos; de pequenos comerciantes; de imigrantes
portugueses; de estancieiros; de inspetores de
alfndega; de juzes; de oficiais do exrcito (major;
marechal; tenente-coronel); de mdicos de provncia; de tipgrafos; de pequenos lavradores; de
mestres-escolas e at de um vigrio de parquia. O
que os une uma situao.
O epteto gerao 70 delimita um grupo
social que partilhava uma certa comunidade de
experincia: [] isso inclui um largo nmero de
modos possveis de pensar, de experincias, sentimentos e aes, e restringe o escopo de autoexpresso aberta para o indivduo a certas possibilidades circunscritas. (Mannheim, 1997, p. 366). Esta
unidade de gerao circunscreve os indivduos
chegando idade adulta e ao mercado de trabalho ao longo dos anos 1870 e incio dos anos 1880.
Mas certos contemporneos s criam laos concretos entre si, configurando uma ao coletiva, ao
serem expostos aos sintomas sociais e intelectuais
de um processo de desestabilizao dinmica. [],
compartilhando um destino comum e idias e
conceitos os quais so de certo modo delimitados
com seus desdobramentos. (idem, p. 378).
A idia de gerao d a chave para entender
por que o movimento surge em concomitncia
com a crise do Imprio. Seus membros vivenciaram uma mesma experincia social, compartilhavam uma comunidade de situao: a marginalizao frente s instituies centrais da sociedade
imperial.
Esta marginalizao relativa, diferenciada:
diz respeito ao cerne do establishment e comporta
vrias modalidades. A longa dominao conservadora bloqueava o acesso aos melhores postos
pblicos, cadeiras no parlamento e empregos na
burocracia do Estado. Gerava, assim, para os grupos no diretamente vinculados faco hegemnica da elite imperial, alocada no Partido Conservador, uma falta de perspectiva de carreira. De outra
parte, a lentido da modernizao econmica obstava o andamento dos negcios de grupos econ-
micos novos, no representados pela elite poltica.
Uma parte dos membros do movimento intelectual vinha de grupos sem laos estreitos com a
elite imperial. Estes eram, pois, negativamente
privilegiados pela estrutura estamental de distribuio de recursos sociais e de status. Outros eram
oriundos ou de grupos sociais novos ou das faces politicamente subordinadas da elite imperial
e estavam alijados das instituies polticas fundamentais do regime. Por razes diferentes, os grupos que compem o movimento intelectual no
tinham suas demandas processadas pelo sistema
poltico. Todos amargavam uma insatisfao com
um regime fechado, que no se modernizava.
As interpretaes do movimento intelectual
tm procurado estabelecer caractersticas positivas
comuns a seus membros. Assim, perdem o mais
relevante: so vrios grupos, heterogneos entre
si, que compem o movimento.
Embora socialmente diferenciados, estes grupos comungam uma marginalizao poltica. a experincia compartilhada de excluso que d a sentido seus escritos e associaes: so a expresso de
uma crtica s instituies, valores e prticas fundamentais do regime imperial. O movimento intelectual da gerao 1870 pode ser definido, ento, como
manifestaes de contestao ao status quo imperial
por parte de grupos sociais parcial ou totalmente marginalizados em seu arranjo poltico.
As diferenciaes entre os grupos e a ausncia de uma unidade institucional levaram a bibliografia a segmentar a anlise em termos de filiaes
doutrinrias. Entretanto, a reconstruo das trajetrias dos membros do movimento intelectual e de
seus principais agrupamentos revela duas outras
caractersticas importantes: (1) havia uma flagrante
indistino entre suas atividades polticas e intelectuais; (2) suas associaes e publicaes no se
restringem a instituies e tm o carter de contestao ao status quo imperial.
A lgica das manifestaes intelectuais apenas se torna inteligvel no contexto de crise do
Imprio. Todos os grupos exprimem um dissenso
concomitantemente poltico e intelectual em relao ao status quo imperial. Recorrem a um repertrio intelectual distinto do liberalismo estamental
cata de recursos para a compreenso da crise e de
CRTICA E CONTESTAO: O MOVIMENTO REFORMISTA DA GERAO 1870
armas para a luta poltica. A incorporao de novas
perspectivas intelectuais se compreende, desta tica, como busca de novos recursos tericos e
retricos para gerar uma explicao da crise e da
mudana social, bem como para oferecer vias de
ao alternativas aos grupos sociais alijados das
principais instituies monrquicas.
As referncias a doutrinas estrangeiras tinham um significado poltico. Os grupos expressaram suas especificidades adotando para si nomes
que os distinguissem precisamente uns dos outros.
Esse mecanismo de identidade constrastiva formou
rtulos que combinam termos descritivos da pauta
poltica e da orientao intelectual de cada grupo.
Assim, novos liberais, igreja positivista, comteanos, cientficos, darwinistas, abolicionistas,
federalistas so termos que vo sendo criados no
processo mesmo em que os grupos se criam.
O movimento intelectual no est voltado
para um debate doutrinrio alheado da realidade
brasileira. Muito ao contrrio, seus membros so
participantes ativos do debate poltico em torno
dos princpios do liberalismo estamental e da
reforma das instituies monrquicas. Este o
sentido do positivismo, do cientificismo, do
novo liberalismo: so modalidades de crtica ao
status quo imperial.
O critrio doutrinrio e a assuno anacrnica da autonomia dos campos poltico e intelectual
tm dificultado a percepo desta unidade essencial: a dimenso coletiva da revolta poltico-intelectual nos fins do Imprio e sua participao na
prpria derrocada do regime. As diferenas entre
liberais, positivistas, darwinistas, spencerianos configuram oposies internas a um nico
movimento de ataque ao Imprio.
As obras da gerao 1870 e seu repertrio
poltico-intelectual
Dada esta redefinio do fenmeno, estamos
agora em condies de entender melhor as obras
produzidas pelos membros do movimento intelectual. Podemos l-las como formas de interveno
no debate pblico.
Os livros tm um propsito poltico que
escapa ao leitor cujas vistas esto fixas nas questes doutrinrias ou que parte do fosso entre
45
positivistas e liberais, monarquistas e republicanos.
Os intelectuais da crise do Imprio no visavam
produzir obras de valor universal, mas interpretaes do Brasil.
Seguir por uma interpretao em termos de
influncias tericas e de linhagens de liberalismo
versus linhagens de positivismo ou cientificismo
(por exemplo, Faoro, 1993; Morse, 1988) nubla
uma parte importante do fenmeno: a unidade de
temas e problemas, de repertrio poltico-intelectual e de postura crtica da nova gerao. A
separao convencional em cientificistas, liberais,
positivistas impede de ver a dimenso coletiva da
revolta poltico-intelectual dos anos 1870 e 1880 no
Brasil.
A circunscrio geracional evidencia que,
apesar das separaes doutrinrias autoproclamadas, as posies polticas de autores usualmente
classificados como extremos, como por exemplo
Joaquim Nabuco e Miguel Lemos, so muito mais
prximas do que se apregoa. Seus livros O Abolicionismo (1883) e O Positivismo e a escravido
moderna (1884) defendem a mesma plataforma:
abolio imediata e no indenizada da escravido.
De outro lado, novos liberais, como Nabuco,
esto um pouco mais longe e cientificistas como
Miguel Lemos, um pouco mais perto da tradio
liberal do Imprio do que se costuma imaginar: os
novos liberais assim se autonomearam precisamente para se distinguir do velho liberalismo da
gerao de seus pais, com o qual travaram guerras
abertas, enquanto vrios positivistas estiveram em
franco namoro com liberais dissidentes.
A anlise das obras da gerao 1870 conforme os parmetros do debate pblico permite
constatar que h uma unidade de problemas compartilhada. A maior parte dos escritos tematiza
sistematicamente dimenses da sociedade imperial. Seus temas acompanham a conjuntura poltica e
coincidem com a agenda parlamentar do perodo:
so os dilemas estruturais da sociedade imperial
brasileira vindos a pblico durante a crise poltica
dos anos 1870, sobretudo a organizao poltica e
o regime de trabalho. As obras da gerao 1870 so
respostas ao contexto de crise poltica.
Este sentido coletivo apenas se esclarece
com a inscrio dos livros no processo de luta
46
REVISTA BRASILEIRA DE CINCIAS SOCIAIS - VOL. 15 N o 44
poltica. Os textos brasileiros precisam ser analisados com referncia local, a partir dos significados
contemporneos. Ao invs de buscar semelhanas
tericas entre as fontes citadas pela gerao 1870,
podemos entend-las a partir de seu potencial
rendimento poltico para o movimento intelectual.
As citaes e referncias so selecionadas
conforme seu potencial para legitimar posies
polticas, antes que tericas. Os autores recorrentemente mencionados no so filsofos. Vige uma
literatura de autores menores, voltados para a
poltica. Sobretudo polticos estrangeiros e pensadores da reforma social. tambm o propsito
poltico que orienta a citao. Assim, a referncia a
Littr deixa de significar o uso de um manual de
vulgarizao do sistema filosfico de Comte, donde se derivaria uma escola positivista heterodoxa, para sinalizar a simpatia pelo republicanismo
francs de orientao cientfica. O mesmo vale
para Thophilo Braga, lder republicano portugus, talvez o nome mais citado entre cientificistas
e positivistas. As solues positivas da poltica
brasileira (1880) de Pereira Barreto so, no ttulo e
no argumento, um verso nacional de seu As
solues positivas da poltica portuguesa (1879). A
prpria srie Biblioteca til de Ablio Marques
repetia o nome de uma coleo republicana portuguesa. Vrios ttulos da biblioteca positivista foram
traduzidas com intuito poltico: Aaro Reis (1881)
escolheu na obra de Condorcet um texto abolicionista para traduzir: Lesclavage. A tipografia do
Dirio da Bahia fez reimprimir em 1883 a verso
portuguesa das obras completas do republicano
francs Leon Gambetta. O critrio de eleio o
republicanismo dos citados. Do mesmo modo, o
alemo Theodor Mommsen e o portugus Oliveira
Martins comparecem como propugnadores de
uma monarquia esclarecida, espcie de cesarismo,
que foi referncia para novos liberais como Rebouas e Nabuco. A regra de relao entre autores
brasileiros e estrangeiros de filiao poltica.
Mesmo os pensadores sociais mais recorrentes
como Comte, Spencer, Stuart Mill, Renan no so
referidos como filsofos, mas como tericos da
reforma
da
sociedade.
O interesse pela reflexo e experincia estrangeira pode ser lido no como deslumbramento
provinciano, mas como constituio de uma perspectiva comparada: os pases usualmente citados
estavam atravessando crises similares brasileira
caso de Portugal, da Itlia, da Espanha, da Alemanha e da Frana (Hobsbawn, 1996, pp. 22-23).
Meu ponto que a perspectiva poltica de
crtica ao status quo imperial explica o recurso a
determinado conjunto de autores e argumentos. A
questo relevante no est em determinar qual
autor ou matiz terico de predileo de cada
grupo. Havia um repertrio poltico-intelectual
compartilhado.
Um repertrio o conjunto de recursos intelectuais disponvel numa dada sociedade em certo
tempo: padres analticos; noes; argumentos;
conceitos; teorias; esquemas explicativos; formas
estilsticas; figuras de linguagem; conceitos e metforas (Swidler, 1986). No importa a consistncia
terica entre os elementos que o compem. Seu
arranjo histrico e prtico.
Repertrios so criaes culturais aprendidas, mas
elas no descendem de uma filosofia abstrata ou
ganham forma como resultado de propaganda
poltica; eles emergem da luta. []. Repertrios de
ao coletiva designam no performances individuais, mas meios de interao entre pares ou
grandes conjuntos de atores. [] um conjunto
limitado de esquemas que so aprendidos, compartilhados e postos em prtica atravs de um
processo relativamente deliberado de escolha.
(Tilly, 1993, p. 264)
Repertrios funcionam como caixas de ferramentas (tool kit) s quais os agentes recorrem
seletivamente, conforme suas necessidades de compreender certas situaes e definir linhas de ao.
O movimento intelectual da gerao 1870
buscou no repertrio poltico-intelectual de fins do
oitocentos os recursos que lhe permitisse exprimir
sua crtica ao regime imperial numa forma distinta
da tradio liberal-romntica inventada pela elite
imperial.
Dois grupos de elementos foram mobilizados
pelo movimento: a incorporao de teorias estrangeiras da reforma da sociedade, o que Hale (1989)
chamou, no estudo do congnere mexicano, de
CRTICA E CONTESTAO: O MOVIMENTO REFORMISTA DA GERAO 1870
poltica cientfica, e uma resignificao da prpria tradio nacional.
Poltica cientfica designa a simplificao e
converso das principais descobertas da sociologia
nascente em princpios de orientao poltica. O
recurso a uma cincia da sociedade um modo de
distanciamento em relao filosofia poltica do
liberalismo francs da Restaurao que orientou a
fundao das instituies do Segundo Reinado
(Matos, 1987). O movimento intelectual encontrou
a uma linguagem e um esquema conceitual para
se diferenciar da tradio imperial. Incorporou
especialmente duas teorias fundamentais: uma
para a histria, outra para a poltica.
Uma teoria da histria sociologicamente formulada forneceu-lhe uma explicao cientfica da
sociedade brasileira. Uma lei de evoluo universal
organizaria todas as sociedades em graus de atraso
e civilizao conforme padres sucessivos de produo, sociabilidade, instituies polticas e formas
de pensar. H uma teleologia, uma crena no
progresso social: a histria caminha no sentido de
desenvolvimento econmico; complexificao social; secularizao das instituies; expanso da
participao poltica; racionalizao do Estado. A
correlao entre mudana econmica, social e
poltica
aparece
como
necessidade.
Civilizao
significa modernizao: a obsolescncia das instituies e dos modos de pensar e agir das sociedades aristocrticas.
Em par, vem uma teoria da mudana poltica. A modernidade estaria gerando um novo padro poltico. Em oposio preponderncia das
personalidades excepcionais na direo do Estado,
glorificada no incio do sculo (Rosanvallon,
1985), a poltica cientfica recomendava a aplicao do saber sociolgico na conduo do governo,
mediante uma planificao racional das tarefas
poltico-administrativas (Hale, 1989).
Estas teorias, comuns a vrios autores da
segunda metade do sculo XIX, permitiram ao
movimento intelectual reinterpretar as opes estruturais da elite poltica e a prpria histria brasileira, inscrevendo o processo de colonizao e de
formao do Estado-nao numa histria mundial.
Por este parmetro, o Brasil aparecia em meio a
impasses e dilemas da crise de transio: da
47
economia escravista ao trabalho livre; de um regime poltico aristocrtico a outro mais democrtico;
de uma monarquia catlica a um Estado laico e
representativo. Desaguando na constatao da incompatibilidade entre a sociedade imperial seu
fundamento escravista, o carter estamental de
suas instituies polticas e a modernidade. A
conjuntura nacional interpretada, assim, como
decadncia: crise inevitvel do padro de sociedade e do regime poltico tpicos do ancient
rgime e prenncio de mudana da estrutura social
e de abertura do sistema de representao poltica.
A poltica cientfica poderia regrar essa mudana,
impedindo a anarquia potencial. A poltica cientfica fornece, assim, conceitos e macroexplicaes
para o movimento intelectual.
De outra parte, a prosa organicista tpica da
poltica cientfica oferece formas de expresso para
o movimento: o estilo de tese e principalmente as
metforas organicistas e qumicas, cientficas, contrastam a com a retrica liberal-romntico do Imprio. Comparece, assim, como a linguagem comum
pela qual experincias particulares de marginalizao podem se sintonizar em um mesmo discurso
de crtica. O movimento intelectual adotou mesmo
o gnero literrio experimental tpico dos adeptos
europeus da poltica cientfica, o romance naturalista. Romances de tese, minuciosamente descritivos, sociolgicos, rompiam com a estetizao da
sociedade imperial que o indianismo de Alencar
tinha nutrido e se dedicavam ao desvelamento das
patologias da sociedade estamental e escravista.
O movimento intelectual incorporou seletivamente elementos da poltica cientfica para compor seu repertrio por razes prticas. Conforme a
capacidade de certos gneros de argumentos para:
(a) interpretar os rumos da mudana social, dando
respostas aos dilemas estruturais (particularmente
a escravido e a representao poltica) expostos
no debate pblico a partir da ciso da elite; (b)
exprimir as insatisfaes e anseios polticos dos
diferentes tipos de marginalizados que compunham o movimento; (c) oferecer recursos para
combater os princpios liberais que justificavam os
bloqueios polticos e sociais impostos pela sociedade estamental, bem como para legitimar reivindicaes por reformas. Neste sentido, a poltica
48
REVISTA BRASILEIRA DE CINCIAS SOCIAIS - VOL. 15 N o 44
cientfica foi decisiva na passagem do estado de
descontentamento difuso com a ordem imperial
para uma situao de contestao poltica.
No estamos diante de um quadro de importao aleatria de idias a serem adaptadas a um
contexto inteiramente diverso. Os elementos que o
movimento intelectual privilegia no repertrio europeu so aqueles que permitem o dilogo com a
tradio poltico-intelectual imperial. As formas
tradicionais de pensar e de agir constrangem e
impem balizas para as inovaes. Novos movimentos [...] geralmente inovam no permetro do
repertrio existente, ao invs de romper inteiramente com as maneiras antigas (Tilly, 1993, pp.
265-266).
A contraparte nativa da poltica cientfica
uma releitura do repertrio de smbolos e prticas
do prprio Imprio. Em perodos de transformao,
os esquemas de pensamento e o repertrio cultural
cristalizado so no s contestados, como tambm
reinterpretados (Swidler, 1986). O movimento intelectual gerou parte de seu repertrio a partir de uma
apropriao e reinterpretao dos esquemas de
pensamento e formas de ao cristalizados como
tradio poltico-intelectual nacional.
Esta reelaborao implica o manejo do cnon
de personagens, efemrides e smbolos nacionais
contra o status quo imperial. A explicao histrico-sociolgica permite recuperar passagens e personagens nacionais, edificando uma tradio alternativa da elite imperial a partir de seu prprio
panteo. Assim que os movimentos polticos
reformistas derrotados, como a revoluo pernambucana de 1817 e a vertente semi-republicana do
liberalismo da Regncia, expurgados na histria
oficial do Segundo Reinado, so recuperados
como autnticas manifestaes da nao. Figuras
como frei Caneca so reabilitadas como heris
picos, decisivos na fundao da ptria.
O movimento intelectual preserva certos traos romnticos, sobretudo a oratria inflamada. O
prprio estilo de seus opsculos em parte se
inspira no tom jacobino e na retrica clssica do
panfletismo poltico do Primeiro Reinado e da
Regncia.
Tambm recupera o americanismo, segregando-o do nativismo. O modelo americano, po-
rm, no expressa mais o indianismo, mas antes o
padro de desenvolvimento dos Estados Unidos. O
ncleo da tradio inventada atacado tambm
em sua ambio de definir a identidade nacional. A
deslegitimao do cnon se expressa no ataque ao
cerne da imagem da nacionalidade que o indianismo romntico cristalizara: a idia de singularidade
brasileira. As efemrides dos anos 1880 em torno
de Cames e de Castro Alves, poeta-smbolo do
movimento, so exemplos do modo pelo qual a
herana cultural ibrica recuperada, em alternativa tradio nativista imperial.
O movimento logra um efeito crtico a partir
da manipulao do passado imperial: a histria
serve de referncia para a avaliao do presente.
A poltica cientfica e a resignificao da
tradio imperial so os dois elementos centrais
que o movimento intelectual selecionou no repertrio oitocentista para construir uma explicao e
uma crtica do modus operantis da sociedade brasileira.
A partir deste repertrio, os diferentes grupos
geraram interpretaes cujo fulcro era a deteco
de uma crise da ordem sociopoltica legada pela
colonizao. Os fundamentos socioeconmicos da
sociedade imperial e suas principais instituies
surgem como herana colonial e como obstculos
para o desenvolvimento do pas.
essencialmente esta concepo que os
livros do movimento intelectual exprimem. Alm
da convergncia temtica, trazem um ponto de
vista poltico comum. A principal dimenso da
produo doutrinria da gerao 1870 a construo de uma crtica coletiva s instituies, prticas,
valores e modos de agir do status quo imperial.
Os livros privilegiam um ou ambos os flancos
principais da ordem imperial: a base socioeconmica escravista e a forma da monarquia centralizada. Entretanto, a crtica se expande para praticamente todos os setores da sociedade imperial: o
carter oligrquico e a vitaliciedade das instituies
polticas centrais; a organizao escravista da produo; o carter estamental do liberalismo poltico;
a definio indianista da identidade nacional; o
tradicionalismo e a hierarquia da sociedade imperial. Trata-se de um ataque coletivo lgica excludente do liberalismo estamental. Empenham-se
CRTICA E CONTESTAO: O MOVIMENTO REFORMISTA DA GERAO 1870
em rechaar a justificao do regime poltico pelo direito
divino do monarca, em negar a desigualdade racial entre os
indivduos como base legtima da hierarquia social e anfase
e escopo, os pontos centrais comuns so: (1) a reforma das
instituies polticas: supresso ou esvaziamento poltico
dos postos vitalcios (Poder Moderador; Senado; Conselho de Estado); Judicirio independente do Executivo,
que garantisse a lisura das eleies; mudana dos critrios
de representao poltica; adoo do federalismo; (2) a
reforma do Estado: descentralizao poltico-administrativa
e tributria e liberalismo econmico; (3) a secularizao das
instituies: separao Igreja/Estado; instituio do registro civil de nascimento, casamento e bito; abolio da
religio de Estado; liberdade de exerccio pblico de cultos
e direitos polticos plenos para adeptos de qualquer credo;
laicizao do ensino pblico; (4) a extenso da cidadania:
expanso dos direitos civis a estrangeiros e escravos; liberdade civil, religiosa, de imprensa e tribuna; veto censura;
habeas-corpus pleno; expanso do direito de voto e de
candidatura; expanso do ensino; (5) a questo social:
abolio completa do regime escravista e liberao da imigrao; (6) na poltica externa, um americanismo pacificista.
As obras demandavam um novo arranjo polticoinstitucional e a instituio de um mercado livre tanto para
o trabalho quanto para as mercadorias. O sentido das
obras do movimento intelectual era, em uma palavra, a
contestao dos valores e instituies da ordem imperial e
a proposio de reformas estruturais.
At aqui tenho falado do movimento intelectual.
Entretanto, conforme mencionei antes, o movimento
formado por diferentes grupos marginalizados. Esta diferena significa que os pontos de estrangulamento da sociedade imperial variavam conforme a posio de cada grupo. Em conseqncia, h diferenas de nfase em elementos do repertrio poltico-intelectual; em modalidades de
crtica ao status quo imperial; no gnero de explicao da
crise do Imprio; e no programa de reformas proposto.
Assim, a crise do Imprio associada por todos os
grupos herana colonial, mas para novos liberais e positivistas abolicionistas, da Corte e de Pernambuco, a causa
determinante o complexo latifndio-monocultor-escravista, enquanto para liberais republicanos e federalistas
cientficos de So Paulo e do Rio Grande do Sul o ndulo
a forma monrquica do regime poltico. Em consonncia, cada grupo privilegiou uma reforma como crucial: a
dos liberais republicanos da Corte foi a repblica; a dos
novos liberais foi a abolio; federalistas cientficos de-
49
mandaram sobretudo uma repblica federativa, enquanto
os positivistas abolicionistas sobrepuseram as duas pautas, a abolio e a repblica. De modo geral, eram favorveis universalizao de direitos civis, com a abolio da
escravido; de direitos polticos, com o sufrgio universal
( exceo de parte dos positivistas abolicionistas), e de
direitos sociais, com uma legislao protetora do trabalhador (positivistas abolicionistas e parte dos novos liberais).
exceo de parte dos novos liberais agrupados em torno
de Nabuco, todos os grupos entenderam que a conseqncia lgica da abolio da escravido era a repblica.
A produo intelectual da gerao 1870 compe,
ento, modalidades de crtica a instituies, prticas e valores
fundamentais do status quo imperial e de projetos de
reforma. As modalidades variam conforme o grau de
marginalizao dos grupos em relao s instituies, bens
e privilgios da ordem imperial. E no conforme a adeso
a doutrinas estrangeiras.
A diviso doutrinria entre positivismo, spencerianismo, darwinismo social, novo liberalismo e a separao
entre poltica e vida intelectual dificultam a percepo desta
unidade essencial: os escritos e as atividades dos vrios
grupos intelectuais compem modalidades de contestao do
status quo imperial e de demanda por reformas estruturais. Neste
sentido, o movimento intelectual contemporneo crise do Imprio pode ser entendido como um movimento de
contestao.
A ruptura crtica, entretanto, no se efetiva
numa plataforma revolucionria. O movimento
intelectual comunga com o status quo a opo pela
reforma ao invs da revoluo. Os projetos de
todos os grupos tm por ponto de fuga a mudana
controlada das instituies. A poltica cientfica fornece
elementos para um novo tipo de elitismo. As mudanas
no sentido da modernizao social e econmica e da universalizao da participao poltica rompem com o critrio
de propriedade como base da comunidade poltica. Mas
so compensadas pela criao de uma nova elite polticointelectual para gerir as reformas: uma intelligentsia. O elitismo aparece tambm na reedio da soluo pedaggica:
a criao do prprio povo pelo Estado. Essa vocao
antipopular do movimento ajuda a explicar a recepo da
poltica positiva em detrimento das teorias da revoluo,
tambm disponveis em fins do sculo XIX. A questo de
fundo em todas as obras encontrar princpios de organizao social que preservem a hierarquia social, a distino
entre elite e povo, depois de findo o regime escravista.
50
REVISTA BRASILEIRA DE CINCIAS SOCIAIS - VOL. 15 N o 44
O movimento no , pois, revolucionrio. reformista. Ento, melhor que defini-lo por preferncias intelectuais nome-lo a partir desta caracterstica central,
como reformismo, uma categoria que permite abranger todos os seus grupos: positivistas, liberais, cientficos.
O termo permite tambm evidenciar o carter igualmente constitutivo das formas de contestao poltica s
instituies monrquicas e de contestao intelectual ao
liberalismo estamental.
As
formas da mobilizao
No incio deste artigo enfatizei que o reformismo deve ser analisado do ponto de vista da
prtica dos agentes. Isto significa tanto a leitura de
suas obras a partir do debate poltico quanto a
anlise de suas formas de ao e organizao.
O reformismo se materializa tanto em formas
discursivas quanto numa ao poltica coletiva. O
sentido das prticas consonante com o dos
textos: a contestao s instituies, prticas e
valores essenciais da sociedade imperial. Os grupos doutrinrios positivistas, spencerianos, novos liberais foram os principais articuladores das duas maiores campanhas de contestao ao status quo imperial: o abolicionismo e o
republicanismo. Cada uma abrangeu a quase a
totalidade desses grupos, por visarem o cerne do
regime: sua forma de reproduo material e sua organizao poltica.
Ambas foram movimentos de rua. O reformismo recorreu especialmente a formas no institucionalizadas de ao coletiva, como as campanhas, associaes de curta durao, passeatas,
comcios, banquetes. A razo dupla. Marginalizados pelas principais instituies imperiais, como as
ctedras das faculdades, o parlamento e os partidos imperiais, os vrios grupos buscavam formas
alternativas de associao poltica e de manifestao. De outro lado, o reformismo incorporou
prticas que estavam em uso por seus congneres
estrangeiros.
Repertrios so compostos no s por formas de pensar, como tambm por formas de agir.
Conectam-se a formas histricas de ao coletiva.
Tilly (1993) designa como repertrios de conteno o conjunto de formas de ao poltica surgidas
em meio a conflitos a partir de fins do sculo XVIII
e que ficaram disposio dos movimentos sociais desde
ento, incluindo desde a manifestao pblica de reivindicaes atravs da formao de associaes temticas e clubes, a organizao de comcios e passeatas, at as greves
(Tilly, 1993; Favre, 1990).
Foi neste repertrio de estratgias de ao, formas
de organizao e de mobilizao que o reformismo buscou modelos para suas prticas. Inspirou-se especialmente
nas formas contenciosas do abolicionismo americano, do
movimento pr-reformas eleitorais na Inglaterra e dos
republicanismos francs e portugus.
Este gnero de organizao explica a fluidez, a ao
dispersa, a flutuao de membros do movimento. Porque
correm em paralelo e mesmo em desafio s instituies
polticas, os movimentos so formas intermitentes e pouco estruturadas de mobilizao (Tilly, 1993-94, p. 8). Mas
as atividades e associaes, manifestos e eventos esto
conectados entre si. H uma rede de solidariedade entre as
prticas dos diferentes grupos e h coalizes tpicas conforme a convergncia em um item de protesto ou reforma,
como o caso da abolio da escravido. isto que
permite considerar esta forma de ao como ummovimento.
As coalizes so negativas. Como qualquer movimento poltico, o reformismo extraa unidade da situao
de marginalizao poltica compartilhada pelos vrios grupos. Era um inimigo comum, mais que um programa
unificado, que alinhava o movimento. Por isto sua unidade instvel (1878-1888) e se desfaz com o esfacelamento
do adversrio A abolio da escravido, ponto de convergncia central do movimento, tambm chancela seu esboroamento. Desde 1888 os reformistas deixam de ser um
bloco contra o status quo e passam a disputar entre si a
prerrogativa de gerir as mudanas polticas.
Porque o reformismo formado por grupos socialmente heterogneos e divergentes em interesses, quando a
pauta negativa tem de se converter em propostas concretas, comeam os dissensos desagregadores quanto s modalidades e ao alcance das mudanas. Neste momento a
coalizo se pulveriza em vrios pequenos grupos, conforme combinaes de nfase em certos componentes da
poltica positiva e alternativas de reforma: reforma poltica
(republicanos/monarquistas;
federalistas/centralistas;
presidencialistas/parlamentaristas); programa de reformas sociais (imigrao/trabalhador nacional; educao estatal/privada; tipos de seguridade social) e econmicas
(agricultura/indstria; latifndio/minifndio). De tal
sorte que os aliados de uma dcada sero freqentemente
CRTICA E CONTESTAO: O MOVIMENTO REFORMISTA DA GERAO 1870
inimigos na seguinte.
Para os agentes, esta ciso ganhou uma forma doutrinria, especialmente na primeira dcada republicana: a
preferncia terica passou a contar como critrio de distino, como forma de legitimao da ao e de um projeto
positivo de nova ordem. O desfecho do reformismo sua
dissoluo como movimento e a integrao dos seus componentes aos canais polticos, aos partidos, s associaes
profissionais, aos seus grupos sociais de origem. Muitos
dos derrotados ou alijados da grande poltica se dedicaro
a atividades estritamente intelectuais e disputaro rtulos
como positivistas e liberais. essa ltima faceta da
identidade reformista que sobreviveu nas memrias de
seus membros, criando a imagem que a bibliografia depois consagrou: a de um conflito entre linhagens intelectuais descoladas da poltica.
O sentido do reformismo
O sentido das manifestaes intelectuais da
gerao 1870, como procurei mostrar, precisamente o contrrio da evaso, do alheamento,
da indiferena em relao realidade nacional
usualmente apregoada pelos intrpretes. O reformismo desenvolveu interpretaes acerca dos
principais problemas brasileiros e buscou instrumentos para intervir politicamente.
O sentido da adoo de idias estrangeiras
poltico. A produo intelectual no era alheia
realidade nacional e os critrios de seleo de
argumentos no repertrio estrangeiro no residiam
na consistncia terica da combinao de autores
e teorias, e sim na sua relevncia para clarificar a
conjuntura brasileira e evidenciar linhas de ao
poltica at ento inauditas.
O aproveitamento do repertrio europeu
pelo reformismo no visou legitimar ou ocultar os
fundamentos do status quo imperial, mas precisamente compreend-los e contest-los. Trata-se de
um pensamento engajado e de contestao. A
radicalidade das idias no est dada a priori, em
sistemas de pensamento prontos (liberalismo
versus conservadorismo), mas no uso poltico
que os agentes fazem do repertrio disponvel no
seu tempo, extraindo mesmo efeitos progressistas, como o abolicionismo, de sistemas reacionrios, como o positivismo.
51
A formulao do problema em termos de doutrinas pe foco nas diferenas internas ao movimento, como
aquelas entre positivistas e liberais. Encobre, assim, a polarizao essencial: entre modalidades de reformismo e o
liberalismo estamental que elas combatem. As distines
polticas so mais explicativas do que as filiaes intelectuais estritas. O ponto de vista poltico permite mostrar
como liberais e positivistas estiveram mais prximos tanto no diagnstico da crise (centralidade da escravido na
formao social brasileira) quanto no gnero de soluo
poltica proposta (reformas pelo alto atravs do Poder
Moderador). A anlise doutrinria a oposio entre
positivistas e liberais oculta a proximidade poltica: o
novo liberalismo, as variaes de positivismo e cientificismo compem modalidades de crtica ordem imperial.
A tica da importao e adaptao de idias estrangeiras realidade nacional perde ainda de vista que o
movimento recorreu no apenas ao repertrio estrangeiro
disponvel, mas tambm prpria tradio nacional.
A boa questo, me parece, por que o movimento
intelectual recorre a determinados elementos do repertrio
estrangeiro e nacional, composto por prticas e idias, de
seu tempo. Minha resposta que suas razes so polticas.
Os agentes mobilizaram intencionalmente elementos da
poltica cientfica e da tradio nacional para exprimir seu
dissenso com a ordem imperial. O movimento intelectual da gerao 1870 foi, sobretudo, um movimento poltico de contestao.
NOTAS
1
Todo o nosso pensamento dessa poca [fim do Imprio] revela [] a mesma indiferena, no fundo, ao
conjunto social []. No existiria base dessa confiana
no poder milagroso das idias um secreto horror nossa
realidade? (Holanda, 1990 [NA BIBLIOGRAFIA CONSTA 1972], pp. 121 e 118).
Dois balanos recentes do debate sobre cultura e experincia (Boudon, 1997; Lamont e Wuthnow, 1998) apontam uma espcie de convergncia negativa: o esgotamento de anlises que tentam corresponder mecanicamente as duas esferas, a das representaes e a das
prticas; a crtica a todos os gneros de reducionismo.
Vrios autores argumentam que a questo est menos
em saber qual o grau de autonomia ou determinao
das formas de pensamento pelas prticas sociais, e mais
em entender as articulaes entre estas duas dimenses.
Assim, contemporaneamente as discusses se encaminham rumo a uma reformulao do prprio problema:
ao e representaes so duas faces da mesma moeda,
52
REVISTA BRASILEIRA DE CINCIAS SOCIAIS - VOL. 15 N o 44
duas dimenses da vida social. Para entend-las preciso
conjugar o estudo da cultura como complexo de categorias
cognitivas e como conjunto de prticas sociais.
Outros estudos em termos de [?] obras filosficas compondo[?] escolas so os do prprio Paim (1966, 1979 e 1980)
para a Escola de Recife e o positivismo ilustrado; o de Lins
(1964) para o positivismo; o de Collichio (1988) para o darwinismo social. As obras polticas, no mesmo diapaso, so
organizadas em doutrinas como o liberalismo doutrinrio
(Macedo, 1977) e o castilhismo (Velez Rodrigues, 1980). De
modo geral, o movimento intelectual oitocentista seria a fase
de nascena de uma ilustrao brasileira (Barros, 1967, p.
253).
A nossa origem, as condies da nossa formao, a nossa
experincia histrica nos afastam do alcantilado das metafsicas e nos impelem para a meditao de realidades concretas e
vivas. Da a opo por estudar as transformaes ou
deformaes das doutrinas europias no Brasil e indagar das
influncias que estas tiveram entre ns [...] (Cruz Costa, 1956,
pp. 10 e 14-15; grifos do autor).
O carter proselitista das doutrinas filosficas em nossa terra
[...] traduz, ao nosso ver, o desajustamento histrico entre as
doutrinas intelectuais, de importao, e as nossas condies
histricas. (Cruz Costa, 1956, p. 312).
Bresciani (1976), por exemplo, evidencia que em So
Paulo o debate doutrinrio corria junto com uma atividade jornalstica e pedaggica intensa. Carvalho (1989)
mostra como a Igreja positivista desenvolveu ao
jacobina no comeo da Repblica. Mesmo perodo em
que, segundo Nachman (1972), positivistas atingiram
cargos polticos de relevo.
No primeiro caso esto autores de obras sistemticas,
obras filosficas, como as capas das edies do sculo
XX anunciam. A se classificam gente como Pereira
Barreto, Tobias Barreto, Miranda Azevedo, Clvis Bevilqua, Farias Brito, Slvio Romero no acidentalmente, eleitos para ingressar nas tipologias de Cruz Costa e
de Paim. No segundo caso, os polticos, h uma
subdiviso conforme posies poltico-ideolgicas: liberais-democratas, como Joaquim Nabuco, Andr Rebouas, Tavares Bastos, e autoritrios, como Jlio de
Castilhos, Anibal Falco, Alberto Torres e Lauro Muller.
Os postos intelectuais eram ocupados por polticos e
o teor da produo oriunda das faculdades e institutos
era dirigido para o debate poltico (Adorno, 1988;
Salgado Guimares, 1988; Castro, 1995).
Todas as tradues das citaes em lngua estrangeira
so minhas.
10 Os componentes do movimento foram definidos por
bola de neve [ ISSO MESMO?], conforme sua participao no debate pblico, autoria de opsculos e atuao
em associaes e eventos. Reconstru uma biografia
mnima, enfatizando a trajetria pblica, para os 130
indivduos identificados. Nomeei os seis microgrupos
mais claramente delineados, de modo a enfatizar o
cerne de suas reivindicaes, como: liberais republicanos, novos liberais, positivistas abolicionistas da Corte e
de Pernambuco; federalistas cientficos do Rio Grande
do Sul e de So Paulo. Uma pesquisa em profundidade foi
feita para as lideranas de cada um dos grupos: Quintino
Bocaiva e Salvador de Mendona; Joaquim Nabuco, Rui
Barbosa e Andr Rebouas; Miguel Lemos e Teixeira Mendes; Anibal Falco e Martins Jr.; Jlio de Castilhos e Assis
Brasil; Alberto Sales e Pereira Barreto, respectivamente. Veja
Alonso (2000, cap. 2).
11 A socializao escolar no lhes deu uma identidade
comum, como acontecera primeira leva de estadistas
do Segundo Reinado (Carvalho, 1980), ou da Alemanha
contempornea (Ringer, 1983). A educao superior
imperial falhou em homogeneiz-los no houve
alterao curricular significativa para acompanhar a mudana
de perfil dos alunos (Haidar, 1972; Adorno, 1988; Alonso,
1998).
12 Ainda que essa alternativa traga o empecilho evidente
de restringir por um meio estranho ao problema e, no
caso da gerao 1870, tenha por custo adicional o
bizarro de muitos de seus membros s passarem a se
manifestar coletivamente no fim da dcada, ainda assim
a idia de gerao eficiente como tcnica de circunscrio. Este critrio permite excluir os muito jovens, que
so meros aderentes do movimento. Este o caso, por
exemplo, de Alberto Torres, Manoel Bonfim, Euclides
da Cunha e Nina Rodrigues, que praticamente s comearam sua atividade pblica depois da queda do Imprio.
13 Esta subseo se baseia no inventrio de cerca de 200
obras publicadas no Brasil entre 1870 e 1897. Foram
excludas obras literrias, de teoria literria e as que
classifiquei como tcnicas (teses de medicina, livros
sobre tcnicas de cultivo, manuais de engenharia e
afins). O prximo passo foi a organizao do material a
partir dos parmetros da conjuntura poltica, o que
permitiu distinguir trs ondas temticas: (a) 1868-1878: a
configurao de uma autocrtica do status quo imperial
conforme o cnon do liberalismo imperial; (b) 18781888: a consolidao do movimento intelectual da
gerao 70; (c) 1889-1897: o memorialismo, a reconstituio da histria poltica e intelectual do Imprio em
termos doutrinrios. Minha anlise restringe-se ao segundo perodo.
14 O carter de interveno poltica destes escritos fica
claro em vrios ttulos: A incorporao do proletariado
escravo e o recente projeto do governo (1884), de
Miguel Lemos; A Repblica federal (1881), de Assis
Brasil; Apontamentos para a soluo do problema social
no Brasil (1880), de Teixeira Mendes, Anibal Falco e
Teixeira de Souza; Os abolicionistas e a situao do pas
(1880), de Pereira Barreto; As trs formas de organizao republicana (1888), de Slvio Romero; A Repblica
no Brasil (1889), de Silva Jardim.
15 Comparecem nomes agora obscuros: autores de artigos
de jornais ou revistas de variedade, como a Revue des
Deux Mondes; referncias a parlamentares europeus,
como ao ingls William Gladstone (1809-1898), quatro
vezes primeiro-ministro e um verdadeiro smbolo do
reformador responsvel nas dcadas finais do Imprio;
a Camillo Benso di Cavour (1810-1861), lder do movi-
CRTICA E CONTESTAO: O MOVIMENTO REFORMISTA DA GERAO 1870
mento de unificao da Itlia; aos franceses da passagem da
Monarquia de Julho Terceira Repblica; polticos profissionais como Adolphe Thiers, Leon Gambetta e Jules Ferry e
polticos-intelectuais como Littr, Laffitte, Taine e Renan; aos
abolicionistas ingleses e americanos; ao positivista chileno
Lastarria.
16 Estes so os temas, por exemplo, de A questo social
(1879), de Quintino Bocaiva; O oportunismo e a
revoluo (1880) e A Repblica federal (1881), de Assis
Brasil; As solues positivas da poltica brasileira (1880),
de Pereira Barreto; Apontamentos para a soluo do
problema social no Brasil (1880), obra conjunta de
Teixeira Mendes, Anibal Falco e Teixeira de Souza; Trabalhadores asiticos (1881), de Salvador de Mendona; A poltica
republicana (1882), de Alberto Sales; A Repblica federal
(1882), de Alcides Lima; Agricultura nacional estudos
econmicos (propaganda abolicionista e democrtica) (1883),
de Andr Rebouas; A frmula da civilizao brasileira (1883),
de Anibal Falco; A incorporao do proletariado escravo e o
recente projeto do governo (1884), de Miguel Lemos; Processo da monarquia brasileira: necessidade da convocao de
uma Constituinte (1885), de Anfrsio Fialho; O erro do
imperador (1886), de Joaquim Nabuco; A ptria paulista
(1887), de Alberto Sales; A escravido, o clero e o
abolicionismo (1887), de Anselmo da Fonseca; Salvao
da ptria (1888), de Silva Jardim; Abolio da misria
(1888), de Andr Rebouas.
BIBLIOGRAFIA
ADORNO, S. (1988), Os aprendizes do poder. Rio de
Janeiro, Paz e Terra.
ALONSO, A. (1998), Social frustration and republicanism in 19th century Brazil. Paper apresentado
em congresso da Latin American Studies Association (LASA), Chicago, 24-26 de setembro.
__________. (2000), Idias em movimento: a gerao
70 na crise do Brasil Imprio. Tese de doutoramento, Departamento de Sociologia, FFLCH/
USP.
BANNISTER, R. (1988), Social darwinism. Science
and myth in Anglo-American social thought.
Philadelphia, Temple University Press.
BARROS, R.S.M. (1967), A evoluo do pensamento de
Pereira Barreto. So Paulo, Edusp/Grijalbo.
BOSI, A. (1992), Dialtica da colonizao. So Paulo,
Cia. das Letras.
BOUDON, R. (1997), The analysis of ideology, in R.
Boudon, M. Cherkaoui e J. Alexander, European sociology in the twentieth century: from
post-industrialism
to
post-modernism,
Londres, Sage.
53
BRESCIANI, M.S. (1976), Liberalismo: ideologia e controle
social (Um estudo sobre So Paulo de 1850 a 1910).
Tese de doutorado, Departamento de Histria,
FFLCH/USP.
__________. (1993), O cidado da Repblica. Liberalismo versus positivismo no Brasil: 1870-1900. Revista USP, 17, mar.-abr.-maio.
CARVALHO, J.M. de. (1980), A construo da ordem. A
elite poltica imperial. Rio de Janeiro, Campus.
__________. (1989), A ortodoxia positivista no Brasil.
Um bolchevismo de classe mdia. Revista
Brasileira, ano 4, 8.
CARVALHO, M.A.R. de. (1998), O quinto sculo. Andr Rebouas e a construo do Brasil. Rio de
Janeiro, Iuperj/Revan.
CASTRO, C. (1995), Os militares e a Repblica um
estudo sobre cultura e ao poltica. Rio de
Janeiro, Jorge Zahar.
COLLICHIO, T.A.F. (1988), Miranda Azevedo e o
darwinismo no Brasil. So Paulo, Edusp/Itatiaia.
CRUZ COSTA, J. (1956), Contribuio histria das
idias no Brasil. Rio de Janeiro, Jos Olympio.
EPSTEIN, J. (1996), Bred as a mechanic: plebein
intellectuals and popular politics in early nineteenth-century England, in L. Fink, S. Leonard
e D.M. Reid (eds.), Intellectuals and public life.
Between radicalism and reform, Cornell Universtiy Press.
FAORO, R. (1993), A aventura liberal numa ordem
patrimonialista. Revista USP, 17
FAVRE, P. (1990), La manifestation. Paris, Presses de
la Fondation Nationale des Sciences Politiques.
FERNANDES, F. (1977), Circuito fechado. So Paulo,
Hucitec.
GRAHAM, R. (1973), Gr-Bretanha e o incio da
modernizao no Brasil (1850-1914). So
Paulo, Brasiliense.
HAIDAR, M. (1972), O ensino secundrio no Imprio
brasileiro. So Paulo, Grijalbo/Edusp.
HALE, C. (1989), The transformation of liberalism in
late
nineteenth-century
Mexico.
Princeton,
Princeton University Press.
54
REVISTA BRASILEIRA DE CINCIAS SOCIAIS - VOL. 15 N o 44
HALL, M. (1976), Reformadores de classe mdia no
Imprio: a Sociedade Central de Imigrao.
Revista de Histria, 105.
RINGER, F. (1983), The decline of the German mandarins: the German academic community 18901933. Cambridge, Cambridge University Press.
HOBSBAWN, E. (1984), A inveno das tradies,
in E. Hobsbawn e T. Ranger (orgs.), A inveno das tradies, Rio de Janeiro, Paz e Terra.
__________. (1992), Fields of knowledge. French academic
culture
in
comparative
perspective,
1890-1920. Paris/Cambridge, Maison des Sciences de lHomme/Cambridge University
Press.
___________. (1996), The age of empire (1875-1914).
Londres, Abacus.
HOLANDA, S.B. de. (1972), O Brasil monrquico do
Imprio Repblica. Histria Geral da Civilizao Brasileira, vol. 3. So Paulo, Difel.
LAMONT, M. e WUTHNOW, R. (1990), Betwixt and
between: recent cultural sociology in Europe
and the United States, in George Ritzer (ed.),
Frontiers of social theory: the new syntheses,
Nova York, Columbia University Press.
LINS, I. (1964), Histria do positivismo no Brasil. So
Paulo, Cia. Editora Nacional.
LOVE, J. (1971), Rio Grande do Sul and Brazilian
regionalism, 1882-1930. Stanford, Stanford
University Press.
MACEDO, U.B. (1977), A liberdade no Imprio. O
pensamento sobre a liberdade no Imprio brasileiro. So Paulo, Convvio.
MANNHEIM, K. (1997), Essays on the sociology of
culture. Collected works. Londres/Nova York,
Routledge.
MATOS, I.R. (1987), O tempo Saquarema. So Paulo,
Hucitec/INL.
MORSE, R.M. (1988), O espelho de Prspero cultura
e idias nas Amricas. So Paulo, Cia. das
Letras.
ROSANVALLON, P. (1985), Le moment Guizot. Paris,
Gallimard.
SALGADO GUIMARES, M.L. (1988), Nao e civilizao nos trpicos. Estudos Histricos, 1.
SCHWARCZ, L. (1993), O espetculo das raas. So
Paulo, Cia. das Letras.
SCHWARZ, R. (1989), Nacional por subtrao, in R.
Schwarz, Que horas so?, So Paulo, Cia das
Letras.
SKIDMORE, T. (1976), Preto no branco raa e
nacionalidade no pensamento brasileiro. Rio
de Janeiro, Paz e Terra.
SUSSEKIND, F. e VENTURA, R. (1984), Uma teoria
biolgica da mais-valia? anlise da obra de
Manuel Bonfim, in F. Sussekind e R. Ventura,
Histria e dependncia. Cultura e sociedade
em Manuel Bonfim, So Paulo, Moderna.
SWIDLER, A. (1986), Culture in action: symbols and
strategies. American Sociological Review, 51.
TARROW, Sidney. (1994), Power in movement. Social
movements,
collective
action
and
politics.
Cambridge, Cambridge University Press
TILLY, C. (1978), From mobilization to revolution.
Reading M.A., Addison-Wesley.
NACHMAN, R.G. (1972), Brazilian positivism as a
source of middle sector ideology. Master Degree, University of California.
__________. (1993), Contentious repertoires in
Great Britain, 1758-1834. Social Science History, 17: 2.
NOGUEIRA, M.A. (1984), As desventuras do liberalismo. Joaquim Nabuco, a monarquia e a repblica. Rio de Janeiro, Paz e Terra.
__________. (1993-94), Social movements as historically specific clusters of political performances. Berkeley Journal of Sociology: A Critical
Review, XXXVIII.
PAIM, A. (1966), A filosofia da Escola de Recife. Rio de
Janeiro, Saga.
__________. (1979), O pensamento poltico positivista na Repblica, in A. Crippa (coord.), As
idias polticas no Brasil, vol. II, So Paulo,
Convvio.
__________. (1980), Como se caracteriza a ascenso
do positivismo. Revista Brasileira de Filosofia,
119.
VELEZ RODRIGUES, R. (1980), Castilhismo. Uma
filosofia da Repblica. Porto Alegre, UCS/EST.
WUTHNOW, R. (1992), Infrastructure and superstructure. Revisions in marxist sociology of culture, in R. Munch e N. Smelser (eds.), Theory
of culture, Berkeley, University of California
Press.
CRTICA E CONTESTAO: O MOVIMENTO REFORMISTA DA GERAO 1870
55
Você também pode gostar
- MUCHEMBLED, R. Uma Historia Da ViolenciaDocumento31 páginasMUCHEMBLED, R. Uma Historia Da ViolenciaWillen Bispo0% (1)
- Modernidades Alternativas Daniel Aarão ReisDocumento16 páginasModernidades Alternativas Daniel Aarão ReisluizsalAinda não há avaliações
- Homem Barroco - ResumoDocumento7 páginasHomem Barroco - ResumoVeridiana Palmieri100% (1)
- Portfólio 01 Comunicação EmpresarialDocumento6 páginasPortfólio 01 Comunicação EmpresarialHermann PessoaAinda não há avaliações
- DIP - Notas de AulaDocumento36 páginasDIP - Notas de AulaCarlos Oliveira100% (1)
- Caderno Huila PDFDocumento96 páginasCaderno Huila PDFLívia Hadanny BrownAinda não há avaliações
- Análise Crítica Do Livro "A Revolução Brasileira" Publicado Caio Prado JúniorDocumento3 páginasAnálise Crítica Do Livro "A Revolução Brasileira" Publicado Caio Prado JúniorRennan SantosAinda não há avaliações
- Bonciani, Rodrigo (Org.) - Encontros Luiz Felipe de AlencastroDocumento237 páginasBonciani, Rodrigo (Org.) - Encontros Luiz Felipe de AlencastroRodrigo BoncianiAinda não há avaliações
- Feminismos SubalternosDocumento21 páginasFeminismos SubalternosJennifer M RodríguezAinda não há avaliações
- Historia Das Revistas PiauiensesDocumento15 páginasHistoria Das Revistas PiauiensesMayara FerreiraAinda não há avaliações
- BOURDIEU, P, Et CHARTIER, Roger - Gente Com História, Gente Sem HistóriaDocumento9 páginasBOURDIEU, P, Et CHARTIER, Roger - Gente Com História, Gente Sem HistóriaCarlos CarretoAinda não há avaliações
- Celia Maria Marinho de AzevedoDocumento14 páginasCelia Maria Marinho de AzevedoEdilvan Moraes LunaAinda não há avaliações
- Atualidade de Carl Schmitt Alain de Benoist PDFDocumento160 páginasAtualidade de Carl Schmitt Alain de Benoist PDFDenis CardosoAinda não há avaliações
- BOURDIEU, Pierre. Descrever e Prescrever: Nota Sobre As Condições de Possibilidade e Os Limites Da Eficácia PolíticaDocumento5 páginasBOURDIEU, Pierre. Descrever e Prescrever: Nota Sobre As Condições de Possibilidade e Os Limites Da Eficácia PolíticamateusfilippaAinda não há avaliações
- MBEMBE, Achille. Crítica Da Razão Negra.Documento11 páginasMBEMBE, Achille. Crítica Da Razão Negra.Michael BatistaAinda não há avaliações
- Carolina Maria de Jesus Uma Breve Cartografia de Seu Espolio LiterarioDocumento17 páginasCarolina Maria de Jesus Uma Breve Cartografia de Seu Espolio LiterarioRayana AlmeidaAinda não há avaliações
- Economia Brasileira Curso AtlasDocumento14 páginasEconomia Brasileira Curso AtlasfuzarkanajangadaAinda não há avaliações
- ALBUQUERQUE, Walmyra. Resenha Jogo Da Dissimulação. Pós AboliçãoDocumento7 páginasALBUQUERQUE, Walmyra. Resenha Jogo Da Dissimulação. Pós AboliçãoGoshai DaianAinda não há avaliações
- Tese - Contracultura No Brasil - Marcos - Alexandre - CapellariDocumento256 páginasTese - Contracultura No Brasil - Marcos - Alexandre - CapellariNíveaLinsAinda não há avaliações
- ABREU, MATTOS, DANTAS. em Torno Do Passado Escravistaas Ações Afirmativas e Os Historiadores PDFDocumento17 páginasABREU, MATTOS, DANTAS. em Torno Do Passado Escravistaas Ações Afirmativas e Os Historiadores PDFRoarrrrAinda não há avaliações
- BALDI Cesar Augusto-Novo Constitucionalismo Latino-AmericanoDocumento3 páginasBALDI Cesar Augusto-Novo Constitucionalismo Latino-Americanorvtr321Ainda não há avaliações
- Ensaio de Valentim Alexandre O Imperio Português 1825-1890 Ideologia e EconomiaDocumento21 páginasEnsaio de Valentim Alexandre O Imperio Português 1825-1890 Ideologia e EconomiaaprumomilitarAinda não há avaliações
- Compreender o Império - Usos de Gramsci No Brasil No Século XIXDocumento20 páginasCompreender o Império - Usos de Gramsci No Brasil No Século XIXGlauber Miranda FlorindoAinda não há avaliações
- Estado, Ditadura e Permanencias Sobre A Forma Politica - Mauro Luís IasiDocumento26 páginasEstado, Ditadura e Permanencias Sobre A Forma Politica - Mauro Luís IasiAgnus LaurianoAinda não há avaliações
- 2a Edição Ilegal PrazerDocumento125 páginas2a Edição Ilegal PrazerFernanda Lemos de LimaAinda não há avaliações
- Borges após Auschwitz: ensaios sobre o nazismo nos contos de Jorge Luis BorgesNo EverandBorges após Auschwitz: ensaios sobre o nazismo nos contos de Jorge Luis BorgesAinda não há avaliações
- ANIBAL QUIJANO - Colonialidade Do Poder, Eurocentrismo e América LatinaDocumento23 páginasANIBAL QUIJANO - Colonialidade Do Poder, Eurocentrismo e América LatinaNaomi Takada100% (1)
- Ficha de Leitura Antropologia - StolerDocumento20 páginasFicha de Leitura Antropologia - StolerCarlota MirandaAinda não há avaliações
- BOLÍVAR, S. - Carta Da JamaicaDocumento9 páginasBOLÍVAR, S. - Carta Da JamaicaFelipe Roman de Carvalho Silva100% (1)
- MAGNOLI. O Corpo Da Pátria PDFDocumento8 páginasMAGNOLI. O Corpo Da Pátria PDFRebeca RochaAinda não há avaliações
- Três Felicidades Ediçao 19092009Documento253 páginasTrês Felicidades Ediçao 19092009João VictorAinda não há avaliações
- História Da Beleza Negra No Brasil1Documento3 páginasHistória Da Beleza Negra No Brasil1JuciaraPerminioQueirozSouzaAinda não há avaliações
- Balaban MarceloDocumento361 páginasBalaban MarceloLindervalMonteiroAinda não há avaliações
- Cornelius CastoriadisDocumento4 páginasCornelius CastoriadisGisele GonçalvesAinda não há avaliações
- FOUCAULT - Raymond Roussel - Notas 24022019Documento25 páginasFOUCAULT - Raymond Roussel - Notas 24022019Luiz Felipe CandidoAinda não há avaliações
- REBOUÇAS Agricultura NacionalDocumento5 páginasREBOUÇAS Agricultura NacionalMedeiros ClaudioAinda não há avaliações
- Fichamento - História Do Brasil III - VELLOSO, Mônica Pimenta. O Modernismo e A Questão NacionalDocumento3 páginasFichamento - História Do Brasil III - VELLOSO, Mônica Pimenta. O Modernismo e A Questão NacionalVilker MartinsAinda não há avaliações
- Americanidade Como Um ConceitoDocumento5 páginasAmericanidade Como Um ConceitoLuciana MeloAinda não há avaliações
- A Ocupação Dos Espaços Vazios No Governo VargasDocumento21 páginasA Ocupação Dos Espaços Vazios No Governo VargasTalita BaenaAinda não há avaliações
- Metodo Comparativo PDFDocumento21 páginasMetodo Comparativo PDFChristopherAlvesGuimarãesAinda não há avaliações
- 7 Jacques Revel - A Historia Ao Res Do Chao PDFDocumento18 páginas7 Jacques Revel - A Historia Ao Res Do Chao PDFRenan CardosoAinda não há avaliações
- Domenico Losurdo As Raízes Norte-Americanas Do NazismoDocumento9 páginasDomenico Losurdo As Raízes Norte-Americanas Do NazismoAnselmo Sum DutraAinda não há avaliações
- Manolo Garcia Florentino: As Histórias Do Tráfi Co Atlântico de Cativos e Da Escravidão Como Nexos Inevitáveis para Compreender o Brasil e A ÁfricaDocumento27 páginasManolo Garcia Florentino: As Histórias Do Tráfi Co Atlântico de Cativos e Da Escravidão Como Nexos Inevitáveis para Compreender o Brasil e A ÁfricaigorAinda não há avaliações
- A Construção Estética Da Realidade - Vagabundos e Pícaros Na Idade Moderna - Roger ChartierDocumento19 páginasA Construção Estética Da Realidade - Vagabundos e Pícaros Na Idade Moderna - Roger ChartierLucas CabralAinda não há avaliações
- Mariza Correa A Invenção Da MulataDocumento16 páginasMariza Correa A Invenção Da MulataEdilvan Moraes LunaAinda não há avaliações
- Discurso Sobre o Colonialismo de Aime Cesaire Um T PDFDocumento3 páginasDiscurso Sobre o Colonialismo de Aime Cesaire Um T PDFIves RosenfeldAinda não há avaliações
- Texte 2 Chiappini RegionalismoDocumento10 páginasTexte 2 Chiappini RegionalismoSu ZetteAinda não há avaliações
- SAFO. Safo Fr. 1 e Fr. 31 (Trad. Leonardo Antunes)Documento9 páginasSAFO. Safo Fr. 1 e Fr. 31 (Trad. Leonardo Antunes)SIMONE BLAIRAinda não há avaliações
- O Arcaísmo Como Projeto. Introdução. Fragoso, João. Florentino, Manolo. 2001Documento18 páginasO Arcaísmo Como Projeto. Introdução. Fragoso, João. Florentino, Manolo. 2001Gabriel CrivelloAinda não há avaliações
- A Antropologia e A Esfera Pública No Brasil PDFDocumento666 páginasA Antropologia e A Esfera Pública No Brasil PDFElaine Andreatta100% (1)
- Mulheres e FicçãoDocumento1 páginaMulheres e Ficçãona100% (1)
- Intelectuais X MarginaisDocumento4 páginasIntelectuais X MarginaisLilian FirminoAinda não há avaliações
- A Rua Espaço, Tempo, Sociabilidade. (RESENHA)Documento4 páginasA Rua Espaço, Tempo, Sociabilidade. (RESENHA)Rafael RochaAinda não há avaliações
- Literatur A Do PresenteDocumento182 páginasLiteratur A Do PresenteAgatha CamilaAinda não há avaliações
- Falbel, NachmanDocumento30 páginasFalbel, NachmanMariana MeloAinda não há avaliações
- A viagem de Alfred Russel Wallace ao Brasil: uma aplicação de história da ciência no ensino de BiologiaNo EverandA viagem de Alfred Russel Wallace ao Brasil: uma aplicação de história da ciência no ensino de BiologiaAinda não há avaliações
- Maquinaria da unidade; bordas da dispersão: Estudos de antropologia do EstadoNo EverandMaquinaria da unidade; bordas da dispersão: Estudos de antropologia do EstadoAinda não há avaliações
- Neuropsicopedagogia e Autismo Uma Junação Necessária Na Formação Do DocenteDocumento17 páginasNeuropsicopedagogia e Autismo Uma Junação Necessária Na Formação Do DocenteIvone Francisca da Cruz CostaAinda não há avaliações
- Apresentação PPT Agostinho Da SilvaDocumento15 páginasApresentação PPT Agostinho Da SilvaFilomenaAinda não há avaliações
- Matematica 3º Ano AlunoDocumento14 páginasMatematica 3º Ano Alunogerviz100% (2)
- Mestrado em Musica UnbDocumento23 páginasMestrado em Musica UnbCiro QuintannaAinda não há avaliações
- Percurso Didático para Mediação Da Aprendizagem em Geografia: Experiências em Torno de Uma PropostaDocumento21 páginasPercurso Didático para Mediação Da Aprendizagem em Geografia: Experiências em Torno de Uma Propostamarielly mirandaAinda não há avaliações
- Matemática 12º Ano - Cálculo Combinatório: Questões de Escolha MúltiplaDocumento7 páginasMatemática 12º Ano - Cálculo Combinatório: Questões de Escolha MúltiplaJorge CabralAinda não há avaliações
- Empreendedorismo PDFDocumento108 páginasEmpreendedorismo PDFKeyla PortelaAinda não há avaliações
- "AS DURAS CADEIAS DE HUM GOVERNO SUBORDINADO": História, Elites e Governabilidade Na Capitania Da Paraíba (C. 1755 - C. 1799)Documento284 páginas"AS DURAS CADEIAS DE HUM GOVERNO SUBORDINADO": História, Elites e Governabilidade Na Capitania Da Paraíba (C. 1755 - C. 1799)Carla Mary OliveiraAinda não há avaliações
- TCC - Maria Do Socorro Braz PDFDocumento42 páginasTCC - Maria Do Socorro Braz PDFsidneypcostaAinda não há avaliações
- Diretor - de - Unidade - Escolar Prefeitura Municipal de Laranjal PaulistaDocumento10 páginasDiretor - de - Unidade - Escolar Prefeitura Municipal de Laranjal PaulistaSol AsenAinda não há avaliações
- Atividades Remota Etapa 1Documento23 páginasAtividades Remota Etapa 1Fernanda SiqueiraAinda não há avaliações
- WITTGENSTEIN. Investigações Filosóficas. (Os Pensadores)Documento208 páginasWITTGENSTEIN. Investigações Filosóficas. (Os Pensadores)Thales MedeirosAinda não há avaliações
- Requisicao Documentos 166002 573 1Documento3 páginasRequisicao Documentos 166002 573 1ariane candidoAinda não há avaliações
- Metodologias Ativas de Ensino em Saúde e Ambientes Reais de Prática Uma RevisãoDocumento8 páginasMetodologias Ativas de Ensino em Saúde e Ambientes Reais de Prática Uma RevisãoScheila MaiAinda não há avaliações
- 20180205-090048 4VMPV1 MatDocumento56 páginas20180205-090048 4VMPV1 MatLeticia CastroAinda não há avaliações
- Liderança e Gestão de Pessoas - MicrolinsDocumento88 páginasLiderança e Gestão de Pessoas - MicrolinsCA RA100% (1)
- 15 Conselhos de Içami Tiba para Educar Filhos AdolescentesDocumento6 páginas15 Conselhos de Içami Tiba para Educar Filhos AdolescentesIsais LamblemAinda não há avaliações
- O Tema Da Empatia em Edith SteinDocumento185 páginasO Tema Da Empatia em Edith SteinTulio Miliano100% (2)
- Avaliação Da OralidadeDocumento2 páginasAvaliação Da OralidadeLuís C Maia100% (2)
- Galileu - Edição 318 - (Janeiro 2018)Documento76 páginasGalileu - Edição 318 - (Janeiro 2018)Valnei NascimentoAinda não há avaliações
- Inglês III TurismoDocumento4 páginasInglês III TurismoJuliaPaivaAinda não há avaliações
- Currículo, Território e Disputa - Henrique Morais MenezesDocumento2 páginasCurrículo, Território e Disputa - Henrique Morais MenezesHenrique Morais MenezesAinda não há avaliações
- Cristãs-Novas e Criptojudaísmo Na Bahia Setecentista (+ata)Documento360 páginasCristãs-Novas e Criptojudaísmo Na Bahia Setecentista (+ata)Ademir Schetini Jr.100% (1)
- Alfabetização EmocionalDocumento6 páginasAlfabetização EmocionalKarla DaniellaAinda não há avaliações
- Plano Da Aprendizagem BANCO DE DADOS DGT0282Documento8 páginasPlano Da Aprendizagem BANCO DE DADOS DGT0282Márcinho MitoAinda não há avaliações
- Oliveira - 2003 - Capítulo 2 - Projetos e RelatóriosDocumento11 páginasOliveira - 2003 - Capítulo 2 - Projetos e RelatóriosAvimar JuniorAinda não há avaliações
- CASTANHEIRA, Dennis BRITO, Raquel. "Uma Resenha de 'Dinâmicas Funcionais Da Mudança Linguística'" - BAGNO, Marcos Et Al.Documento5 páginasCASTANHEIRA, Dennis BRITO, Raquel. "Uma Resenha de 'Dinâmicas Funcionais Da Mudança Linguística'" - BAGNO, Marcos Et Al.June CarterAinda não há avaliações
- SCHUSTERDocumento17 páginasSCHUSTERBruna PalharesAinda não há avaliações
- Síntese RReis ExameDocumento5 páginasSíntese RReis ExameIsabel VazAinda não há avaliações