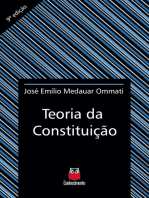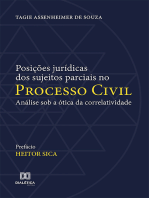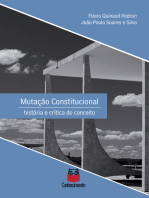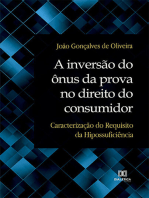Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
13 - Hermenêutica Constitucional - Decisões Judiciais - Mauro Augusto Ponce de Leão Braga (2016) PDF
13 - Hermenêutica Constitucional - Decisões Judiciais - Mauro Augusto Ponce de Leão Braga (2016) PDF
Enviado por
Tiago Arantes FrancoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
13 - Hermenêutica Constitucional - Decisões Judiciais - Mauro Augusto Ponce de Leão Braga (2016) PDF
13 - Hermenêutica Constitucional - Decisões Judiciais - Mauro Augusto Ponce de Leão Braga (2016) PDF
Enviado por
Tiago Arantes FrancoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Eid Badr | Mauro Augusto Ponce de Leão Braga • Hermenêutica Constitucional: Decisões Judiciais
Com a edição desta obra do Programa de Pós-Gradução em
Direito Ambiental da Universidade do Estado do Amazonas
HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL
(PPGDA-UEA), de 2016, demarca-se mais um momento de su-
cesso do curso de Mestrado em Direito Ambiental, reconhe-
DECISÕES JUDICIAIS
Programa de Pós-Graduação em Direito Ambiental da UEA
cido pela Capes em 2004, e que se constitue um dos quatro
Mestrado em Direito Ambiental – 2016
únicos programas de pós-graduação “Stricto Sensu” da Re-
gião Norte do País, sendo que três destes situados no vizinho
Estado do Pará. Eid Badr | Mauro Augusto Ponce de Leão Braga
Organizadores
Autores
Aline Maria Alves Damasceno | Cláudia de Santana
Dayla Barbosa Pinto | Eduardo Terço Falcão | Eid Badr
Emerson Victor Hugo Costa de Sá | Guilherme de Andrade
Antoniazzi | Marie Joan Nascimento Ferreira
Talita Benaion Bezerra | Tâmara Mendes Gonçalves de
Souza | Thaisa Carvalho Batista
Capa Dec. Judiciais_COR ALTERADA.indd 3 26/01/17 12:07
HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL
DECISÕES JUDICIAIS
Programa de Pós-Graduação em Direito Ambiental da UEA
Mestrado em Direito Ambiental – 2016
Herm. Constitucionais 1.indd 1 26/01/17 12:17
Herm. Constitucionais 1.indd 2 26/01/17 12:17
HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL
DECISÕES JUDICIAIS
Programa de Pós-Graduação em Direito Ambiental da UEA
Mestrado em Direito Ambiental – 2016
Eid Badr | Mauro Augusto Ponce de Leão Braga
Organizadores
Autores
Aline Maria Alves Damasceno | Cláudia de Santana
Dayla Barbosa Pinto | Eduardo Terço Falcão | Eid Badr
Emerson Victor Hugo Costa de Sá | Guilherme de Andrade
Antoniazzi | Marie Joan Nascimento Ferreira
Talita Benaion Bezerra | Tâmara Mendes Gonçalves de
Souza | Thaisa Carvalho Batista
Herm. Constitucionais 1.indd 3 26/01/17 12:17
Copyright © Eid Badr, 2016.
Editor Isaac Maciel
Coordenação editorial Tenório Telles • Neiza Teixeira
Capa e Projeto Gráfico Maysa Leite
Revisão Núcleo de editoração Valer
Área das Ciências Sociais Aplicadas
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito Ambiental Eid Badr
Conselho Editorial da Editora Valer para Área do Direito Prof. Dr. Jose Luis Bolzan
de Morais • Prof. Dr. Adriano Fernandes Ferreira • Prof.ª Dr.ª Dinara de Arruda Oliveira
Normalização Ycaro Verçosa
B00h Badr, Eid
Hermenêutica Constitucional, decisões judiciais: programa de pós-gra-
duação em Direito Ambiental da UEA: mestrado em Direito Ambiental /
Orgs. Eid Badr, Mauro Augusto Ponce de Leão Braga. – Manaus: Editora
Valer, 2016.
256p. 14x21cm
ISBN 978-85-7512-837-4
1. Direito 2. Hermenêutica Constitucional I. Badr, Eid, org II Braga,
Mauro Augusto de Leão, org. II. Título
CDD 869
22 ed.
Obra de acesso livro no Portal http://www.pos.uea.edu.br/direitoambiental/
2016
Editora Valer
Av. Rio Mar, 63, Conj. Vieiralves – Nossa Senhora das Graças
69053-180, Manaus – AM
Fone: (92) 3184-4568
www.editoravaler.com.br
Herm. Constitucionais 1.indd 4 26/01/17 12:17
Sumário
Apresentação 7
A ideologia valorativa redimensionadora do Direito: 9
a relação da “prévia escolha” axiológica do juiz e a
“pré-compreensão” do círculo hermenêutico
Aline Maria Alves Damasceno
O Poder do Supremo Tribunal Federal 27
Cláudia de Santana
O papel dos juízes na efetivação dos direitos 63
fundamentais
Dayla Barbosa Pinto
Lacuna no direito: a equidade como instrumento de 81
integração no ordenamento jurídico brasileiro
Eduardo Terço Falcão
Princípio da motivação das decisões judiciais 101
como garantia constitucional
Eid Badr
Herm. Constitucionais 1.indd 5 26/01/17 12:17
Negação do direito fundamental de greve aos 117
servidores públicos civis da segurança e da saúde:
críticas às decisões do Supremo Tribunal
Federal no âmbito das reclamações constitucionais
6.568/SP e 24.597/SP
Emerson Victor Hugo Costa de Sá
Impactos socioeconômicos das decisões 141
judiciais
Guilherme de Andrade Antoniazzi
A (inter)definibilidade entre o proibido e 165
o permitido
Marie Joan Nascimento Ferreira
O Estado brasileiro e o desenvolvimento sustentável: 187
das diretrizes legais aos (des)caminhos da gestão urbana
Talita Benaion Bezerra
A utilização da hermenêutica em matéria ambiental 211
Tâmara Mendes Gonçalves de Sousa
Fundamentação analítica no Novo Código de 235
Processo Civil Brasileiro: análise do Imperativo
Legal às Decisões Judiciais nos termos do Art. 489,
§ 1º da Lei nº 13.105 de 16 de março de 2015.
Thaisa Carvalho Batista
Herm. Constitucionais 1.indd 6 26/01/17 12:17
Apresentação
C om a edição desta obra do Programa de Pós-Gradu-
ção em Direito Ambiental da Universidade do Estado
do Amazonas (PPGDA-UEA), de 2016, demarca-se mais
um momento de sucesso do curso de Mestrado em Direi-
to Ambiental, reconhecido pela Capes em 2004, e que se
constitue um dos quatro únicos programas de Pós-Gra-
duação “Stricto Sensu” da Região Norte do País, sendo
que três destes situados no vizinho Estado do Pará.
Os trabalhos, ora publicados, são resultado das pes-
quisas realizadas na disciplina Hermenêutica Constitu-
cional, recentemente introduzida no Projeto Pedagógico
do curso de Mestrado em Direito Ambiental, em total
sintonia com as suas linhas de pesquisa, cujo resultado
demonstra uma reflexão crítica desenvolvida que enfren-
ta os problemas mais atuais do Direito com base em ricas
e bem sedimentadas construções teóricas, contribuindo
para o desenvolvimento científico da área do Direito.
A presente obra e a atualização e aperfeiçoamento
do projeto pedagógico do Curso de Mestrado em Direi-
to Ambiental da UEA ocorrem em momento de grandes
avanços, desde o último cilco avaliativo realizado pela
Capes, pois o Programa conta com nova e moderna in-
Herm. Constitucionais 1.indd 7 26/01/17 12:17
fra-estrutura, quadro docente renovado a partir de iné-
ditos concursos públicos realizados nos últimos dois
anos, consolidando o seu quadro docente permanente
com oito docentes com vínculo efetivo dos atuais doze
integrantes, firmando definitivamente o Programa como
um centro de excelência e de formação de quadros pro-
fissionais de elevado nível, especialmente, para a carreira
acadêmica, para o Estado do Amazonas, toda a Região
Norte, bem como para a Região Nordeste e Centro-Oes-
te do País, na medida em que se tornou um grande pólo
regional de atração de alunos, conforme revela a diversi-
dade de origens de seu quadro discente.
Todo o esforço de investimento, renovação e apri-
moramento do PPGDA-UEA, é revelado, em parte, pela
obra que ora vai à lume, e que estará disponível, sem
ônus, a todos que dela quiserem fazer uso no Portal do
Mestrado em Direito Ambiental da UEA, na rede mun-
dial de computadores, Internet.
Eid Badr
Herm. Constitucionais 1.indd 8 26/01/17 12:17
A ideologia valorativa redimensionadora do Direito:
a relação da “prévia escolha” axiológica do juiz e a
“pré-compreensão” do círculo hermenêutico.
Aline Maria Alves Damasceno1
Introdução
Em pleno período pós-positivista vivenciado pelos
Estados na contemporaneidade, e de Constituições com-
promissórias e transformadoras que asseguram direitos
fundamentais sociais, deslocou-se para o Poder Judiciário
a questão das condições interpretativas que se propõem a
encontrar a resposta adequada à Constituição acerca das
demandas não satisfeitas pelos Poderes Legislativo e Exe-
cutivo. Afirma-se que com a previsão de grande número
de direitos e a possibilidade de enquadrá-los como fun-
damentais, resultou-se na indeterminabilidade do Direi-
to e na ineficácia das normas constitucionais2.
No âmbito das condições interpretativas da norma,
é preciso ressaltar a relação entre hermenêutica e ideo-
logia, e desta última a função integradora valorativa uti-
lizada pelos intérpretes do Direito, que serve de sistema
neutralizador de valores. Sob o olhar ideológico, acredi-
ta-se que a existência de lacuna ocorre quando há uma
subversão na expectativa dos valores já instituídos na
1 Mestranda do Programa em Direito Ambiental da Universidade do Estado do
Amazonas. Advogada.
2 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso. Constituição, Hermenêutica e Teorias
Discursivas da possibilidade à necessidade de respostas corretas em Direito, p.
1- 4.
Herm. Constitucionais 1.indd 9 26/01/17 12:17
sociedade, e que a colmatação desta lacuna se dará por
meio das decisões dos juízes, que inspirados em consi-
derações fundadas em avaliações ideológicas usarão de
orientações gerais para sanar os casos. Estas orientações
gerais servirão de base para o ato de interpretar a nor-
ma, apresentado por Gadamer em sua teoria do círculo
hermenêutico como apenas o explicitar de algo já com-
preendido previamente em função do modo de ser no
mundo do intérprete.
Considerando o caráter dinâmico da ideologia e das
normas que regulam determinada sociedade e também a
pré-compreensão do intérprete eivada de fundamentos da
ideologia valorativa, este trabalho pretende abordar bre-
vemente como se estrutura o sistema da valoração ideoló-
gica utilizado pelos juízes na colmatação das lacunas e no
redimensionamento valorativo do Direito. Parece adequa-
do a divisão do capítulo em duas seções, a primeira apre-
senta a função redimensionadora da ideologia no Direito,
partindo da relação entre norma jurídica e valor, no sen-
tido ontológico e finalizando com a função integradora
da ideologia no Direito, diante da frustação das expecta-
tivas valorativas. A segunda seção relacionará a pré-com-
preensão defendida no teorema do círculo hermenêutico
de Heiddeger e Gadamer, com a pré-escolha axiológica
do juiz, para elucidar a estrutura do sistema de valoração
ideológica utilizado nas decisões de casos concretos.
A função redimensionadora da ideologia no Direito
Importa esclarecer que a abordagem sobre ideologia
aqui apresentada afasta o sentido negativo e desvinculado
10
Herm. Constitucionais 1.indd 10 26/01/17 12:17
do estudo científico das ideias, originariamente deprecia-
do por Napoleão em suas críticas aos ideais intelectuais
liberais do Instituto da França que ameaçavam seu po-
der3. O sentido de ideologia apresentado a seguir, mais se
aproxima do interesse na compreensão da estrutura do
pensamento e ideias, e como esta pode delimitar o âmbito
axiológico que prescinde as decisões do Poder Judiciário.
Acredita-se que a relação entre ideologia e sistema
jurídico reflete o problema do preenchimento de lacu-
nas. A compreensão desta relação se inicia com a análi-
se ontológica do conceito de norma e valor. Nesta ótica,
considera-se a norma jurídica um ser, uma realidade, e o
valor uma qualidade atribuída a ela, seria um dever ser4.
A integração da qualidade do dever-ser atribuída à norma
e ao fato possibilita a elaboração da norma. Nesta inte-
gração de fato e valor à norma, Maria Helena Diniz (1997)
destaca a função do elaborador da norma:
O elaborador da norma é razão do dever-ser, é o ele-
mento de referência, a medida para determinação
de valores, pois é ele que dá valor às normas. [...] A
autoridade que elabora as normas assume uma atitu-
de de quem relaciona fatos e valores, sem, contudo,
valorar os fatos; não lhes interessa saber qual o valor
determinado. Sua função não é estimar, positiva ou
negativamente, a norma de direito, mas a relacionar
a fatos e a valores, dando-lhe um sentido, sem lhe
atribuir um valor (DINIZ, 1997, p. 281).
3 WOLKMER, Antonio Carlos. Ideologia, Estado e Direito. São Paulo: RT, 2003, p. 100.
4 DINIZ, Maria Helena. As Lacunas no Direito. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 280-281.
11
Herm. Constitucionais 1.indd 11 26/01/17 12:17
O sentido da norma destina-se a explicitar seu obje-
tivo de existência, qual seja o de ser um instrumento diri-
gido à liberdade humana e à realização da justiça. A ques-
tão da justiça adiciona na estrutura da norma uma dupla
relatividade expressa por processos seletivos responsá-
veis pela concretização de valores, que são: o campo va-
lorativo e o programa valorativo. Tércio Sampaio Ferraz
Junior explica o conceito de cada processo. O primeiro
dimensiona a possibilidade fática de realização do con-
teúdo axiológico da norma, ou seja, ocorrendo determi-
nado comportamento, este será justificado por um valor
determinável ou determinado. Em outras palavras, um
comportamento (ou conjunto deles) tido como invarian-
te é recepcionado pela dimensão axiológica do direito, se
justificado por um valor. Sua função por este motivo é de
seleção externa e justificadora. O segundo modifica e de-
marca a realidade, ou seja, fixa diretrizes sobre um dado.
Neste processo já existe um valor invariante, que servirá
de base para criação de critérios de seleção de comporta-
mentos. Sua função por este motivo é de seleção interna
e modificadora5.
Ocorre que em casos concretos, para além dos pro-
cessos seletivos (programa-campo valorativo) o sistema
jurídico deve proceder a uma simplificação, ou neutra-
lização de valores por meio da ideologia6. Acredita-se
também na ideologia como um sistema estabilizador e
encobridor de valores nas correntes doutrinárias de fun-
5 Ferraz Jr, “Rigidez teleológica e flexibilidade valorativa”, in Filosofia II – Anais do
VIII Congresso Interamecano de Filosofia, p. 242-243.
6 Diniz, M. H. As Lacunas no Direito, p. 282.
12
Herm. Constitucionais 1.indd 12 26/01/17 12:17
damentação, nas instâncias institucionalizadas e nos se-
tores dogmáticos de experiência jurídica7.
Maria Helena Diniz (1997, p. 283) concorda que a
ideologia “é um conceito axiológico” que toma por ob-
jeto os próprios valores, é um sistema de valoração dos
próprios valores. Isso porque, para além dos processos
seletivos de concretização de valores a ideologia delimi-
ta o âmbito de valores possíveis pela seletividade. Tércio
Sampaio Ferraz Junior explica:
Sabemos que um sistema jurídico, numa situação
concreta de decisão, tem de simplifica-la, referindo
as relações conflitivas a determinadas possibilidades.
Isto exige, para além dos dois modos de concretiza-
ção, um processo de neutralização das relevâncias
valorativas possíveis, o que se torna concretamente
necessário na medida em que a confiança ingênua na
validez dos fins tradicionais desaparece e a mobiliza-
ção e diferenciação da ordem social abalam os fun-
damentos seguros do consenso (FERRAZ JR, p. 246).
Para Ferraz Jr, o âmbito das possibilidades é redu-
zido por fórmulas seletivas (de valores) no processo de
valoração ideológica, fazendo assim que uma dessas pos-
sibilidades seja escolhida, aceita e o valor juridicamente
concretizado. Por isso o autor afirma que a valoração
ideológica torna rígida a flexibilidade do momento valo-
rativo, pois a ideologia fixa a norma positivada dando um
cerne axiológico indisputável, fazendo com que o ques-
7 WOLKMER, Antonio Carlos. Ideologia, Estado e Direito, p. 173.
13
Herm. Constitucionais 1.indd 13 26/01/17 12:17
tionamento em relação a validade da norma seja somente
técnico-instrumental8.
Um exemplo de cerne ideológico indisputável é a
evolução da proteção ao concubinato como exigência de
justiça. Esta proteção só ganhou sentido após a ideologia
referente ao sentido monogâmico da família sofrer ate-
nuações. Antes disso, os conflitos resultantes da situação
do concubinato eram afastados da apreciação jurídica.
Menciona-se a utilização da ideologia em duas situa-
ções: primeiro quando o órgão judicante usa da ideologia
para compreender se há ou não norma para fundar de-
terminada decisão, e segundo quando constatada a não
existência de normas para a decisão, o órgão usará nova-
mente da ideologia para indicar os meios que a funde. Na
segunda situação, quando não houver norma para funda-
mentar a decisão, está-se diante de uma lacuna9, que para
Maria Helena Diniz (1997, p.285) significa a constatação
“de uma subversão na expectativa dos valores que redi-
mensiona as expectativas ideológicas”. Ou seja, significa
a possibilidade de criação de novos valores, de novas con-
dições de realizabilidade e, portanto de redimensiona-
mento das expectativas ideológicas.
O redimensionamento das expetativas ideológicas,
em outras palavras dos valores, corresponderá ou valerá
para10 a dinamicidade dos comportamentos sociais, e as-
sim para o próprio Direito, que como afirmado no início
8 Ferraz Jr, “Rigidez teleológica e flexibilidade valorativa”, in Filosofia II – Anais do
VIII Congresso Interamecano de Filosofia, p. 248
9 Diniz, M. H. As Lacunas no Direito, p. 284.
10 Ferraz Jr, “Rigidez teleológica e flexibilidade valorativa”, in Filosofia II – Anais do
VIII Congresso Interamecano de Filosofia, p. 243
14
Herm. Constitucionais 1.indd 14 26/01/17 12:17
desta seção deve estar dirigido à liberdade humana e à
realização da justiça.
Ultima-se assim a estrita relação entre sistema jurí-
dico e ideologia, quando se percebe a presença de carga
valorativa nas decisões dos juízes. Maria Helena Diniz
(1997) desta forma conclui:
O sistema jurídico está embebido de ideologia valo-
rativa: seria, portanto, inútil e contraproducente em-
balsamar o direito numa mumificação lógica, imutá-
vel, estativa, fechada e alheia à introdução de novos
valores, provenientes da evolução dos tempos. De
modo que o magistrado, ao integrar as lacunas, im-
buído está de ideologia, pois está condicionado por
uma prévia escolha, de natureza axiológica, dentre
várias soluções possíveis. (DINIZ, 1997, p.286)
Relata-se também a indissociabilidade da manifesta-
ção ideológica nas áreas da interpretação e das lacunas
legislativas ao se constatar nas sentenças formulações
ideológicas institucionalizadas. Por este motivo não se
pode negar a aproximação da hermenêutica jurídica, nem
tampouco de seus métodos de interpretação, dos discur-
sos ideológicos11.
A prévia escolha de natureza axiológica do juiz, im-
buída de valores já delimitados pela ideologia tem sua
origem em quadros de compreensão prévia estruturados
por este intérprete ao longo de sua existência. O modo
como se estrutura esta compreensão pode ser explica-
do através de um movimento hermenêutico conhecido
11 WOLKMER, Antonio Carlos. Ideologia, Estado e Direito. p. 173.
15
Herm. Constitucionais 1.indd 15 26/01/17 12:17
como viragem linguístico ontológica de Heiddeger e Ga-
damer, abordada suscintamente na seção a seguir.
A prévia escolha axiológica do juiz e a pré-compreen-
são do círculo hermenêutico
Fixada a tese de que o sistema jurídico está imbuído
de ideologia, e partindo da premissa de que o juiz está
condicionado a uma previa escolha axiológica na tomada
de suas decisões, pretende-se traçar uma relação entre a
pré-escolha axiológica do juiz e a pré-compreensão de-
senvolvida nas teses do círculo hermenêutico de Heidde-
ger e Gadamer, para assim aclarar a estrutura fundante
das decisões dos juízes.
Afirma-se que a principal crítica feita por Heiddeger
e Gadamer no início do século XX foi em relação ao pro-
cesso interpretativo clássico que definia a interpretação
como o resultado de processo fracionado em partes, em
que primeiro se compreende, depois se interpreta, para
enfim se aplicar 12.
Gadamer, em contraposição a este fracionamento,
atribui ao ato de interpretar fundamentos da hermenêu-
tica filosófica, estes por sua vez influenciados pelos teore-
mas de Heiddeger: o círculo hermenêutico e a diferença
ontológica13, explicam a interpretação sob um novo vérti-
ce, como explica Lenio Streck (2007),
12 STRECK, Lenio Luiz. Bases para a compreensão da hermenêutica jurídica em tem-
pos de superação do esquema sujeito-objeto. Revista Seqüência, no 54, p. 31, jul.
2007
13 STRECK, Lenio Luiz. Bases para a compreensão ... cit, p. 31-32. O círculo hermenêu-
tico e a diferença ontológica foram os principais teoremas de Heidegger no início
do século XX, que serviram de base para a hermenêutica filosófica apresentada
16
Herm. Constitucionais 1.indd 16 26/01/17 12:17
O acontecer da interpretação ocorre a partir de uma
fusão de horizontes (Horizontenverschmelzung), por-
que compreender é sempre o processo de fusão dos
supostos horizontes para si mesmos. [...] Para inter-
pretar, necessitamos compreender; para compreen-
der, temos que ter uma pré-compreensão, consti-
tuída de estrutura prévia do sentido – que se funda
essencialmente em uma posição prévia (Vorhabe),
visão prévia (Vorsicht) e concepção prévia (Vorgriff)
– que já une todas as partes do “sistema”. (STRECK,
2007, p. 31-32).
A proposta da viragem linguística ontológica é de
não condicionar o ato interpretativo a métodos e proce-
dimentos, mas compreendê-lo à luz da fenomenologia do
conhecimento, produto de uma estrutura prévia de sen-
tido das coisas.
Apresenta-se a estrutura circular de Heiddeger como
a forma de realização da própria interpretação compreen-
siva, e não de sua práxis. Significa dizer que a aplicação do
método ocorre depois da compreensão, pois conforme
afirma Lenio Streck (2007, p.37), “o método (o procedi-
mento discursivo) sempre chega tarde, porque pressupõe
saberes teóricos separados da ‘realidade’. Antes de argu-
mentar, o intérprete já compreendeu. A compreensão [...]
é condição de possibilidade”.
por Gadamer. A hermenêutica filosófica serve de instrumento para uma fenome-
nologia do conhecimento incompatível com os paradigmas objetivista aristotéli-
co-tomista e da subjetividade que pretendem a adequação dedutiva das decisões
judiciais por meio de regras prévias e procedimentos. O círculo hermenêutico
dispõe que a interpretação é mera explicitação do conhecimento apreendido por
uma antecipação de sentido das coisas no mundo. E a diferença ontológica rom-
pe com a ideia de subsunção e deduções, pois para este teorema “o ser é sempre
um ser de um ente”, o que significa que a norma não carrega seu sentido no enun-
ciado, pois este sentido está colado no existencial do intérprete.
17
Herm. Constitucionais 1.indd 17 26/01/17 12:17
Se a interpretação é simplesmente o explicitar da-
quilo já compreendido, segundo as bases da hermenêuti-
ca filosófica, zela-se, então, pela abstenção da ocorrência
de “felizes ideias” e de limitações dos hábitos imperceptí-
veis do pensar do intérprete, que certamente influenciam
na antecipação de sentido no processo de compreensão.
Portanto, orientar-se pelo sentido da própria coisa, e não
por preconceitos oriundos exclusivamente do próprio
sujeito, deve ser o objetivo primeiro do intérprete14.
Indica-se o início do processo de compreensão por
um projetar, ou seja, pela primeira atribuição de sentido
ao texto se antecipa o sentido do todo. A manifestação
de atribuição de sentido ocorre dentro dos limites das
expectativas e perspectivas de sentido que o leitor tem
sobre o texto15.
Relacionam-se, neste ponto, os limites de ocorrên-
cia da pré-compreensão com os limites de ocorrência da
prévia escolha axiológica do juiz. Ambas ocorrem em es-
paços limitados condicionados à facticidade e historici-
dade em que o intérprete se expõe, a primeira limita-se
às expectativas e perspectivas de sentido, e a segunda ao
âmbito de ideologia valorativa da época.
Contudo, para que se garanta uma compreensão
adequada e correta do texto e para que se evitem opiniões
prévias eivadas de erros no processo de compreensão, fa-
z-se necessário o exame das opiniões prévias, na opinião
de Gadamer (1997, p.403) “quanto à sua legitimação, isto
é, quanto à sua origem e validez”.
14 Gadamer, Hans-Georg, Verdade e método. 1997, p. 401.
15 Gadamer, Hans-Georg, Verdade e método. 1997, p. 402.
18
Herm. Constitucionais 1.indd 18 26/01/17 12:17
Acredita-se que o alcance a uma compreensão cor-
reta e adequada do texto, decorrerá da confirmação das
opiniões retiradas da leitura “nas coisas” e a partir do
hábito linguístico epocal de seu autor, não nas opiniões
próprias do leitor (seus próprios hábitos linguísticos, por
exemplo), sob o risco de se aniquilarem no processo de
sua execução por se caracterizarem como opiniões pré-
vias inadequadas. Mas distinguir o que é uso linguístico
costumeiro e uso linguístico do texto pode ser um pro-
blema, isso porque os próprios hábitos linguísticos na
maioria das vezes são inconscientes ao intérprete16.
Gadamer (1997) encontra a solução no confronto das
opiniões prévias dos hábitos linguísticos ou de conteúdo
do leitor com “as coisas” e temporalidade do autor, e com
o acesso à opinião do outro,
Em geral tem-se de dizer que é somente a experiên-
cia do choque com um texto – seja porque ele não
oferece nenhum sentido, seja porque seu sentido
não concorda com nossas expectativas – o que nos
faz perceber um possível ser-diverso do uso da lin-
guagem. [...]
Quando se ouve alguém ou quando se empreende
uma leitura, não é necessário que se esqueçam to-
das as opiniões prévias sobre seu conteúdo e todas
as opiniões próprias. O que se exige é simplesmente
a abertura à opinião do outro ou à do texto (GADA-
MER, 1997, p. 403-404).
16 Gadamer, Hans-Georg, Verdade e método. 1997, p. 403.
19
Herm. Constitucionais 1.indd 19 26/01/17 12:17
O exame das opiniões prévias se faz necessário para
que do confronto de projeções rivais emane a paridade de
sentidos e assim se revele o estabelecimento unívoco da
unidade de sentido, permitindo que a validade e o senti-
do do todo do texto não se estruture e posteriormente se
desmorone por conta de uma opinião prévia equivocada.
Quanto à abertura da opinião do outro, e no mesmo
sentido do confronto de projeções rivais, pode-se veri-
ficar na interpretação a integração entre a ideologia do
intérprete e a ideologia na qual o texto normativo foi es-
crito. Christiano José de Andrade (1991) aponta a função
doadora do intérprete no sentido do texto:
De conseguinte, a operação de esclarecimento em
que consiste a interpretação jurídica depende essen-
cialmente da ideologia do intérprete e da ideologia
que a lei reflete. As normas jurídicas não tem assim
tanta autonomia significativa, apesar de encerrarem
um sentido como ponto de partida, pois a tarefa de
descobrir um sentido consiste em atribuir um signi-
ficado, de sorte que o intérprete não é um autônomo
diante do fetiche da lei, para satisfazer a necessidade
de segurança jurídica, mas uma instância ideológica
doadora de significados heterônomos (ANDRADE,
1991, p. 44).
Esta comunicação de projeções rivais, seguida de
confronto e estabelecimento unívoco de sentido é expli-
cada como aquilo que constitui o processo de sentido da
compreensão e da interpretação no teorema do círculo
20
Herm. Constitucionais 1.indd 20 26/01/17 12:17
hermenêutico. Para Gadamer17, é “justamente todo esse
constante reprojetar, que perfaz o movimento de sentido
do compreender e do interpretar, é o que constitui o pro-
cesso que Heiddeger descreve”.
Cabe ainda elucidar um último ponto comum en-
tre a pré-compreensão e a prévia escolha do juiz, que é
o de fixar a norma. Sobre a valoração ideológica a qual
está imbuído o juiz em sua prévia escolha, visualiza-se o
caráter imperativo da norma. Este controlador e imposi-
tor de comportamento fixa a relação autoridade/sujeito18,
e conforme Tércio Sampaio Ferraz Júnior (2006, p.156),
“torna rígida a relação estabelecida, dando-lhe os limites
de variação, mas garantindo-a contra eventuais desquali-
ficações, mesmo à custa de uma coerência lógica”. Quan-
to à fixação da norma pela ideologia, Maria Helena Diniz
(1997) entende:
A ideologia fixa a norma positivada, dando-lhe um
cerne axiológico indisputável, de modo que ela não
possa ser questionada, permitindo-se apenas sua
discussão técnico-instrumental, pois a ideologia ma-
nifesta sua superioridade valoradora, ao eliminar, de
modo artificial, outras possibilidades (DINIZ, 1997,
p. 284).
Destaca-se que a estrutura prévia de sentido - com-
posta da posição prévia, visão prévia e concepção prévia
de algo, constitui a pré-compreensão, sendo esta o ele-
mento indispensável à interpretação. Por outro lado,
17 Gadamer, Hans-Georg, Verdade e método, 1997, p. 402.
18 Ferraz Jr, Tércio Sampaio. Teoria da Norma Jurídica: ensaio da pragmática da co-
municação normativa. p. 156.
21
Herm. Constitucionais 1.indd 21 26/01/17 12:17
define-se a interpretação como uma estrutura do nosso
modo de ser no mundo, isto porque atribuímos sentido
a partir de algo já compreendido no nosso existencial19. A
norma, portanto, condiciona-se ao horizonte de sentido
do intérprete, assim como a prévia escolha axiológica do
juiz se condiciona ao cerne ideológico indisputável atri-
buído a norma positivada. Lenio Luiz Streck (2007) expli-
ca a relação da compreensão com o estabelecimento da
norma:
Estamos condenados a interpretar. O horizonte de
sentido nos é dado pela compreensão que temos de
algo. Compreender é um existencial, que é uma cate-
goria pela qual o homem se constitui. A facticidade, a
possibilidade e a compreensão são alguns desses exis-
tenciais. É no nosso modo da compreensão como ser
no mundo que exsurgirá a “norma” produto da “sín-
tese hermenêutica”, que se dá a partir da facticidade
e historicidade do intérprete (STRECK, 2007, p. 32).
Em suma a relação entre a pré-compreensão do cír-
culo hermenêutico de Gadamer e a prévia escolha axioló-
gica do juiz é verificada nos limites impostos pela valora-
ção ideológica e também pela compreensão do modo de
ser no mundo do interprete no momento do preenchi-
mento de lacunas.
19 STRECK, Lenio Luiz. Bases para a compreensão da hermenêutica jurídica em tem-
pos de superação do esquema sujeito-objeto. Revista Seqüência, no 54, p. 32, jul.
2007
22
Herm. Constitucionais 1.indd 22 26/01/17 12:17
Conclusão
Este trabalho pretendeu abordar o tema da valora-
ção ideológica como integradora do direito, e as condi-
ções interpretativas da norma a partir da relação entre
hermenêutica e ideologia, o que em alguns pontos se de-
monstraram em evidente proximidade.
O conceito de lacuna decorrente da subversão de
expectativas ideológicas abre a possibilidade de um re-
dimensionamento valorativo no sentido dado às normas
jurídicas, pois como visto no decorrer do trabalho o juiz
está condicionado a uma prévia escolha axiológica e tam-
bém a uma pré-compreensão ou antecipação de sentido,
exsurgida do seu modo de ser no mundo.
Todo o percurso deste trabalho apresentou os limites
delimitadores das decisões judiciárias diante de situações
que a simples norma positivada não encontra resposta.
Demonstrou-se, inclusive, que a colmatação de lacunas re-
sulta no redimensionamento das expectativas ideológicas,
deveras importante para o acompanhamento da dinami-
cidade dos comportamentos sociais e do próprio Direito.
A intenção de identificar similaridades entre os
conceitos da prévia escolha axiológica do juiz e da pré-
-compreensão desenvolvida no círculo hermenêutico de
Gadamer encontrou êxito quando se consideram ambos
como fenômenos do conhecimento, limitados pela fac-
ticidade e historicidade do intérprete, e explicados pela
hermenêutica filosófica de Heiddeger e Gadamer.
Entende-se, dessa maneira, a dificuldade de desvin-
cular a pré-compreensão do juiz no preenchimento da
lacuna, e também de dissociar a hermenêutica jurídica da
hermenêutica filosófica, se for considerado que a valora-
23
Herm. Constitucionais 1.indd 23 26/01/17 12:17
ção ideológica como integradora do Direito e a interpre-
tação como mera explicitação do que já foi previamente
compreendido.
No que se refere ao conceito explanado de interpre-
tação e a proximidade entre ideologia e hermenêutica ju-
rídica, afinal, resta a seguinte reflexão: o que é uma ideia
senão um pensamento. E que é o pensamento senão uma
compreensão. E o que é a compreensão senão aquilo que
se apreende do modo de ser no mundo.
Referências
ANDRADE, Christiano José de. Hermenêutica Jurídica
no Brasil. São Paulo: RT, 1991.
DINIZ, M. H. As Lacunas no Direito. São Paulo: Saraiva,
1997.
FERRAZ JR, Tércio Sampaio. Rigidez teleológica e flexibi-
lidade valorativa, in Filosofia II – Anais do VIII Congresso
Interamericano de Filosofia, p. 242-243.
______. Teoria da Norma Jurídica: ensaio da pragmáti-
ca da comunicação normativa. Rio de Janeiro: Forense,
2006.
GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método / Hans-
-Georg Gadamer; tradução de Flávio Paulo Meurer. - Pe-
trópolis, RJ: Vozes, 1997.
24
Herm. Constitucionais 1.indd 24 26/01/17 12:17
STRECK, Lenio Luiz. Bases para a compreensão da her-
menêutica jurídica em tempos de superação do esquema
sujeito-objeto. Revista Sequência, nº54, p. 29-46, jul. 2007.
______. Verdade e Consenso: constituição, hermenêu-
tica e teorias discursivas: da possibilidade à necessidade
de respostas corretas em Direito. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2008.
WOLKMER, Antonio Carlos. Ideologia, Estado e Direito.
São Paulo: RT, 2003.
25
Herm. Constitucionais 1.indd 25 26/01/17 12:17
26
Herm. Constitucionais 1.indd 26 26/01/17 12:17
O Poder do Supremo Tribunal Federal
Cláudia de Santana20
Introdução
O que é o Estado, esta fixação jurídica que liga os
homens enquanto nação, que serve de limite, que impõe
limites, direciona o caminhar e ao mesmo tempo ocasio-
na sensação de bem estar, de segurança, de estar entre os
seus.
O Estado democrático de direito é caracterizado pela
alternância no poder, é o Estado constitucionalmente es-
tabelecido, que se submete ao ordenamento jurídico que
o constitui,e tem por finalidadepromover o bem comum,
o interesse público, por intermédio de membros eleitos
para o exercício das funções principais do Estado, que
tem a função de representar o povo, motivo pelo qual de-
vem ser legitimamente construídos e permanecerem no
poder por tempo determinado.
Segundo Dallari quando se afirma que alguém ou al-
guma coisa tem uma finalidade a atingir, essa afirmação
pressupõe um ato de escolha, um objetivo conscientemente
estabelecido.21
Mas no caso do Estado Democrático só existe uma
possibilidade de atuação, que consiste na promoção do
bem comum.
20 Mestranda em Direito Ambiental da Universidade do Estado do Amazonas.
21 DALLARI, Dalmo de Abreu. 2013, p. 33.
27
Herm. Constitucionais 1.indd 27 26/01/17 12:17
Carlos Alberto de Moraes Ramos Filho ensina que
o Estado como ordem política da sociedade é conheci-
do desde a antiguidade e que é impossível identificar um
conceito unívoco de Estado que seja totalmente aceito
entre os doutrinadores, mas observa o doutrinador, a
partir dos conceitos e juízos de vários autores, a existên-
cia de elementos fundamentais para estruturação de um
conceito básico, os quais seriam a sociedade permanente
de pessoas, território determinado, governo independen-
te e uma finalidade específica que consiste na busca do
bem comum.22
No mesmo sentido Dalmo Dallari já dizia que a so-
ciedade humana tem por fim o bem comum e que uma
sociedade só pode ser considerada organizada se promo-
ver o bem de todos.
A sociedade humana tem por finalidade o bem co-
mum, isso quer dizer que ela busca a criação de con-
dições que permitam a cada homem e a cada grupo
social a consecução de seus respectivos fins particu-
lares. Quando uma sociedade está organizada de tal
modo que só promove o bem de uma parte de seus
integrantes, é sinal de que ela está mal organizada e
afastada dos objetivos que justificam sua existência.23
Mas Dallari foi além, após reconhecer a necessidade
da sociedade se fundar numa finalidade e que este funda-
mento social é o bem comum, acrescentou que a finali-
dade social refletida por um agrupamento humano para
22 RAMOS Filho, Carlos Alberto de Mores. 2015, p. 35.
23 DALLARI, Dalmo de Abreu. 2013, p. 35.
28
Herm. Constitucionais 1.indd 28 26/01/17 12:17
atingir o bem comum é insuficiente, sendo indispensável
à manifestação ordenada.24
Para Dallari o Estado é necessariamente dinâmico, e
toda a sua atividade está ligada a justificativas e objetivos
em função dos quais se estabelecem os meios e é o caráter
político do Estado que lhe confere a função de coordenar
a sociedade, impondo a escolha dos meios adequados.25
Desta forma verifica-se que o Estado é poder, e o po-
der do estado brasileiro emana do povo, sendo os princí-
pios e objetivos fundamentais do Estado estabelecidos na
Constituição Federal.
A Constituição Federal é que distribui entre os órgãos
de direção do Estado o poder soberano do povo que lhe é
atribuído, de forma harmônica, atribuindo funções espe-
cíficas e fundamentais para o funcionamento do Estado,
sendo distribuído este poder unitário para cumprimento
dos fundamentos do Estado de forma equilibrada, justa-
mente para preservar a supremacia da vontade popular e
o interesse público, sem que com isto perca a sua unida-
de, que é justamente a de ser o poder soberano do povo,
evitando a entrega do poder do estado de forma absoluta.
O Poder do Estado Brasileiro Democrático de Direito
está previsto na Constituição e tem o povo brasileiro como
seu verdadeiro titular. E para evitar abuso na sua utiliza-
ção, o constituinte determinou sua divisão, concedendo
as funções principais do Estado a órgãos diversificados.
A função de executar as ações do Estado ficou a car-
go do Poder Executivo, cujo chefe máximo é o Presidente
da República; a de definir o ordenamento jurídico e esta-
24 DALLARI, Dalmo de Abreu. 2013, p. 36.
25 DALLARI, Dalmo de Abreu. 2013, p. 128 e 130.
29
Herm. Constitucionais 1.indd 29 26/01/17 12:17
belecer os preceitos que devem regrar o povo, ao Poder
Executivo, por intermédio principalmente do Congresso
Nacional; e a de fiscalizar se os atos e leis são compatíveis
com os fundamentos do Estado, zelando pela integridade
da Constituição Federal e assim dizendoo que é direito,
ficou a cargo do Poder Judiciário, cujo maior órgão é o
Supremo Tribunal Federal.
Diante desta função do Poder Judiciário, de fiscalizar
se a Constituição está sendo respeitada e de determinar o
que é constitucionalmente aceito ou não, é concedido ao
Supremo Tribunal Federal o poder de ter a última pala-
vra, analisando a constitucionalidade dos atos emanados
pelos Poderes Executivo e Legislativo, proferindo deci-
sões que afetam diretamente os demais poderes e atuam
na direção da sociedade.
Esse poder de atuação concedido ao Supremo Tribu-
nal Federal é muitas vezes questionado, no presente capí-
tulo pretende-se analisar o Poder do Supremo Tribunal Fe-
deral, a legitimidade de seus membros e a compatibilidade
do sistema atual o com o estado democrático de direito.
O Supremo Tribunal Federal
O Supremo Tribunal Federal é órgão máximo do
Poder Judiciário Brasileiro, responsável pela guarda da
Constituição Federal, dos princípios, dos valores, dos ob-
jetivos fundamentais da República, possuindo o direito
de conceder a última palavra no que se refere à compati-
bilidade dos atos de todos, inclusive dos demais Poderes,
Legislativo e Executivo, com a Constituição.
30
Herm. Constitucionais 1.indd 30 26/01/17 12:17
O tema central desta análise do Supremo Tribunal
Federal é justamente averiguar a legitimidade e o caráter
democrático deste órgão do Poder Judiciário para con-
ceder a última palavra quanto à constitucionalidade dos
atos praticados pelos Poderes Legislativo e Executivo e os
mecanismos de limitação no exercício deste poder.
A Evolução Histórica do Supremo Tribunal Federal
A Constituição do Brasil de 1824 em seu artigo 163
estabelece o dever de existir um Tribunal supremo, o qual
denominou Supremo Tribunal de Justiça, que deveria ser
composto por juízes letrados, tirados das relações por
suas antiguidades.
A denominação Supremo Tribunal Federal foi ado-
tada pela Constituição Provisória de 1890, com o Decreto
nº 510 de 1890.26
A Constituição de 1891 institui o controle de consti-
tucionalidade das leis e dedicando os artigos 55, 56, 57, 58
e 59 ao Supremo Tribunal Federal. Estabelece que o Poder
Judiciário tenha um órgão supremo, o qual denominou
Supremo Tribunal Federal, o qual deveria ser composto
por quinze juízes nomeados dentre cidadãos de notável
saber e reputação.27
Com a Revolução de 1930 houve redução do núme-
ro de ministros do supremo para onze, composição que
foi mantida pela nova Constituição de 1934 a qual mudou
26 STF. História do STF. Portal do STF. Acesso em 17.11.2016.
27 BRASIL, Constituição, 1891. Artigos 55, 56, 57, 58 e 59.
31
Herm. Constitucionais 1.indd 31 26/01/17 12:17
a denominação do Supremo tribunal Federal para Corte
Suprema.
Segundo o artigo 74 da Constituição de 1934 os Mi-
nistros da Corte Suprema seriam nomeados pelo Presi-
dente, com aprovação do Senado, dentre brasileiros de
notável saber jurídico e reputação ilibada alistados elei-
tores, salvo os magistrados, com no mínimo 35 e não mais
de 65 anos de idade.
A Constituição de 1937 alterou o nome da “Corte Su-
prema” novamente para “Supremo Tribunal Federal”, re-
duziu para 58 anos a idade mínima exigida para Ministro
do Supremo e estabeleceu que nos crimes de responsa-
bilidade os Ministros do Supremo seriam processados e
julgados pelo Conselho Federal.
O Conselho Federal segundo disposto no artigo 50
da Constituição de 1937 é composto por dois represen-
tantes de cada Estado e do Distrito Federal, eleitos por
sufrágio direto, com duração do mandato de seis anos,
sendo exigida idade mínima de 35 anos para concorrer
ao cargo. E além de ser responsável pelo processamento
e julgamento dos ministros do STF o Conselho também
é responsável pela aprovação das nomeações de Minis-
tros do Supremo Tribunal Federal, artigo 55, alínea “a”, da
Constituição de 1937.
A Constituição de 1946 fixou o número de Ministros
do Supremo Tribunal Federal em onze, posteriormente,
já no período de regime militar, pelo Ato Institucional
n. 2, foi ampliado o número de ministros para dezesseis
(artigo 98).
A Constituição de 1946 manteve a idade mínima de
35 anos para ingresso, reputação ilibada e notável saber
jurídico, e retirou a restrição à idade máxima que até en-
32
Herm. Constitucionais 1.indd 32 26/01/17 12:17
tão existia (artigo 99) e estabeleceu ao Senado Federal a
competência para processar e julgar os Ministros do Su-
premo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade.
A constituição de 1967 manteve as disposições quan-
to ao Supremo Tribunal Federal que vigoravam na Cons-
tituição de 1946, posteriormente, pela redação dada pelo
Ato Institucional n. 6, de 1969, o número de Ministros do
supremo foi reduzido para onze.
Pela atual Constituição Federal o Supremo Tribunal
Federal é composto por onze Ministros, sendo exigido
para posse no cargo que o interessado seja indicado pelo
presidente da República, brasileiro nato, com mais de 35 e
menos de 65 anos de idade, possuidor de notável saber ju-
rídico e reputação ilibada, que seja aprovada a escolha do
indicado pela maioria absoluta do Senado Federal, e que
seja nomeado pelo Presidente da República após aprova-
ção pelo Senado.28
Atualmente compõe o Supremo Tribunal Federal a
Ministra Carmem Lúcia, Presidente, o Ministro Dias Tof-
foli, Vice-Presidente, o Ministro Celso de Mello – Deca-
no, e os ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricar-
do Lewandowski, Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki,
Roberto Barroso e Edson Fachin.29
A última palavra é do Supremo
O Poder do Supremo Tribunal Federal decorre da
Constituição Federal, é a parcela do poder do povo con-
28 BRASIL, Constituição, 1988. Artigo 101, parágrafo único.
29 STF. Portal do STF: www.jus.br. Acesso em 17.11.2016.
33
Herm. Constitucionais 1.indd 33 26/01/17 12:17
cedido para o órgão que tem a missão de guarda dos pre-
ceitos do Estado estabelecidos pela Constituição, sendo
a ele atribuída a competência para dizer o que é consti-
tucional e o que não é; sendo sua decisão soberana sobre
os demais poderes do Estado, sobre todos que compõe o
Estado, no que se refere a dizer o que é direito aos olhos
da Constituição.
Para Canotilho os Poderes de Estado são sistemas ou
complexos de órgãos aos quais à Constituição atribui certas
competências para o exercício de certas funções. Sendo com-
petência o poder de ação e atuação atribuído para atingir
o fim do órgão ou agente que são constitucionalmente
ou legalmente incumbidos. Tarefa e meio, necessário à
concretização do fim que sustenta sua existência, deli-
mitando o campo de atuação e organizando os demais
poderes30.
O Estado de Direito é o Estado que se submete a suas
próprias regras, o Estado democrático de Direito é o esta-
do que aplica e submete-se aos princípios e regras estabe-
lecidos democraticamente, sendo o poder estatal conce-
dido pelo povo, verdadeiro detentor da soberania estatal.
Não há como reconhecer um estado constitucional
democrático sem democracia e sem direitos fundamen-
tais. Isto porque a democracia e os direitos fundamentais são
os elementos principais do constitucionalismo democrático. 31
A Constituição Federal, carta fundamental da Repú-
blica, reconhece que todo poder emana do povo e confere
aos integrantes do Supremo Tribunal Federal o poder de
julgar os atos de qualquer um que atentem contra princí-
30 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. 2000, p. 543.
31 ALEXY, Robert. 2014, p. 228.
34
Herm. Constitucionais 1.indd 34 26/01/17 12:17
pios, valores e objetivos fundamentais, contra as normas
constitucionais do Estado.32
Este atributo concedido aoSupremo Tribunal Fede-
ralpelo Estado Brasileiro é necessário para cumprimento
de sua função constitucional que consiste em guardar,
zelar pelo cumprimento e obediência de todos aos pre-
ceitos constitucionais estabelecidos pelo Poder Consti-
tuinte, e tem por finalidade estabelecer uma sociedade
justa, livre e solidária, e como fundamentos principais, a
cidadania e a dignidade da pessoa humana.
A missão do Supremo, portanto, não é simplesmente
garantir a supremacia da ordem jurídica, mas do ordena-
mento constitucional, considerando, ao apreciar os casos
que lhe são submetidos, o norma não de forma isolada,
mas como parcela integrante de todo sistema jurídico
constitucional,analisando sua compatibilidade com o es-
pírito constitucional.
Isto porque no estado constitucional, o positivismo per-
de essa função. Para Robert Alexy o não-positivismo se en-
caixa melhor a realidade do estado democrático constitu-
cional sendo capaz de atribuir a ele um fundamento real.33
A constituição restringe a atuação dos poderes a
Constituição e atribuiu competência ao Supremo Tribu-
nal para averiguar se todos estão observando os limites
constitucionais.
Convêm esclarecer que a competência do STF limita
a atuação dos demais podres, e da mesma forma limita-
da, pois sua competência é taxativamente prescrita pela
Constituição Federal, e não admite restrição ou amplia-
32 BRASIL, Constituição, 1988. Artigos 101, parágrafo único, e 102.
33 ALEXY, Robert. 2014, p. 237-238.
35
Herm. Constitucionais 1.indd 35 26/01/17 12:17
ção. Como esclarece Alexandre Moraesa Competência
originária do STF é taxativamente prevista na Constituição
Federal, pois qualifica-se como um conjunto de atribuições
jurisdicionais de natureza constitucional, não possibilitando
sua ampliação pelo legislador ordinário.
Para João Carlos Medeiros de Aragão a Carta Magna
responde não só pela instituição dos órgãos que exercerão a
função pública, como também pela competência de cada um
deles e pelos métodos a serem empregados quando da atua-
ção política de cada um.34
João Carlos Medeiros de Aragão afirma que com res-
paldo nesse poder de guarda da Constituição o judiciário
passou a zelar pelo respeito à Constituição e que neste
atuar passou a ter competência para julgar os demais
poderes, e que por aplicar a regra a casos concretos, por
possuir o direito de interpretá-las, de dizer o que está ou
não está de acordo com a Constituição, conclui-se que
a atividade jurídica é igualmente política, pois é a própria
opção do juiz por um ou outro rumo na decisão das lides.35
Constitucionalismo em sentido estrito é a técnica
jurídica de tutela das liberdades36. E a preservação da li-
berdade exige limitação dos poderes do Estado.
Para João Carlos Medeiros de Aragão o Supremo Tri-
bunal Federal exerce poder político quando exerce sua
função jurisdicional. Isto porque, segundo Aragão, todas
as funções do Estado são políticas por manifestarem o
poder político e que esta difusão do poder político não
desrespeita os princípios democráticos
34 ARAGÃO, João Carlos Medeiros de. 2013, p. 46.
35 ARAGÃO, João Carlos Medeiros de. 2013, p. 47.
36 BULOS, Uadi Lammêgo. 2009, p. 10.
36
Herm. Constitucionais 1.indd 36 26/01/17 12:17
Todas as funções referentes ao poder constituem-se,
na essência, como políticas, haja vista que manifes-
tam o poder político. (...) a legitimidade do papel
político exercido pelos tribunais – uma vez que este
não significa desrespeito a princípios democráticos
– advém de sua maneira de decidir, da forma de esco-
lha dos representantes, bem como das características
dos escolhidos, embora eles não sejam selecionados
pelos cidadãos.37
Canotilho argumenta que as decisões do supremo
acabam por ter força política, não só porque lhe cabe re-
solver em última instância, mas também por suas deci-
sões influenciarem o modo e direção dos demais órgãos
de direção políticos.
As decisões do Tribunal Constitucional acabam
efectivamente por ter força política, não só porque
a ele cabe resolver, em última instância, problemas
constitucionais de especial sensibilidade política,
mas também porque a sua jurisprudência produz,
de facto ou de direito, uma influência determinante
junto dos tribunais e exerce um papel condicionante
do comportamento dos órgãos de direcção política38.
Barroso reconhece que a natureza da função jurisdi-
cional constitucional é política, que esta natureza política
é minimizada na solução de casos fáceis, mas que se des-
taca nos casos difíceis, e que tanto na solução de casos fá-
ceis quanto na solução de casos difíceis a função do órgão
37 ARAGÃO, João Carlos Medeiros de. 2013, p. 85.
38 ARAGÃO, João Carlos Medeiros de. 2013, p. 681.
37
Herm. Constitucionais 1.indd 37 26/01/17 12:17
jurisdicional será jurídica e política, mas que nesta haverá
influência das filosofias, moral e política.
Segundo Luiz Roberto Barroso os métodos de atuação
e argumentação dos órgãos judiciais são essencialmente jurí-
dicos, mas a natureza de sua função, notadamente quando
envolva a jurisdição constitucional, é inegavelmente política.39
Pra Barroso nos casos difíceis a interpretação cons-
titucional, sem deixar de ser uma atividade jurídica, sofrerá
influência da filosofia moral e da filosofia política.40
Barroso apresenta uma diferenciação do papel do in-
terprete na interpretação tradicional e na constitucional
contemporânea, esclarecendo que na primeira acredita-
va-se piamente na objetividade da atividade interpretativa e
na neutralidade do intérprete¸ enquanto a segunda já não
aceita o modelo importado do positivismo científico de
separação absoluta entre o sujeito da interpretação e o
objeto a ser interpretado.41
Barroso ao analisar a Constitucionalização e a Judi-
cialização das Relações Sociais destaca a evolução das de-
mandas postas ao Judiciário após a Constituição Federal
de 1988, salientando que este aumento é fruto da redes-
coberta da cidadania e da conscientização das pessoas em
relação aos seus próprios direitos.42
Reconhece Barroso que houve uma ascensão do Po-
der Judiciário, que deixa de ser um departamento técnico
para assumir um papel efetivamente político, esclarecen-
do que permanece o judiciário com a utilização de méto-
39 BARROSO, Luiz Roberto, 2015, p. 321.
40 BARROSO, Luiz Roberto, 2015, p. 132.
41 BARROSO, Luiz Roberto, 2015, p. 343 e 345.
42 BARROSO, Luiz Roberto, 2015, p. 421.
38
Herm. Constitucionais 1.indd 38 26/01/17 12:17
dos de atuação e de argumentação, jurídicos, mas que a
natureza da função é política, gozando, portanto, de re-
presentatividade, o que exige um exercício em nome do
povo e a prestação de contas à sociedade. 43
Essa supremacia do Poder Judiciário para decidir
questões conflitantes tem origem com a Constituição
Americana que estabeleceu ao Poder Judiciário à tarefa
de solucionar conflitos entre os órgãos de poder e autori-
zou o Judiciário a interpretação das leis.44
Esse poder concedido ao Supremo Tribunal Fede-
ral, jurídico e político, para dizer com soberania o que é
Constitucional; o que é e o que não é compatível com os
preceitos fundamentais da República Federativa do Bra-
sil, implica em atribuir ao Supremo Tribunal Federal uma
parcela gigantesca do Poder Estatal.
A Legitimidade e o Caráter Democrático do Supremo
Tribunal Federal
O Supremo Tribunal Federal é o órgão máximo do
Poder Judiciário, sobre ele recai o dever de guarda da
Constituição e a ele é atribuída, como visto, o direito de
dizer a ultima palavra em matéria constitucional.
É função, portanto, do Supremo Tribunal Federal
enquanto órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro
cuidar para que se respeitem os procedimentos democráticos
para uma formação da opinião e a da vontade política, e ao
43 BARROSO, Luiz Roberto, 2015, p. 421-422.
44 PAIXÃO, Leonardo André. 2007, p. 30.
39
Herm. Constitucionais 1.indd 39 26/01/17 12:17
assim proceder deve tomar cuidado, para que não assu-
mir neste processo papel de legislador político.45
Mas este ato do Constituinte de conceder ao Judi-
ciário a última palavra muitas vezes é questionado, por
conceder ao poder mais “ilegítimo” dos três poderes o
poder de se sobrepor aos demais. Questionando-se a le-
gitimidade do Poder Judiciário para proferir a última pa-
lavra quanto à constitucionalidade em face ausência de
legitimidade e de alternância no poder, dos membros de
seu órgão supremo.
Num estado constitucional democrático é no míni-
mo estranho o fato de ser atribuído ao Poder Judiciário,
por intermédio do Supremo Tribunal Federal, poder so-
berano do Estado, isto porque seus membros não eleitos
e gozarem de vitaliciedade.
Destaca Canotilho ser a composição do Tribunal
Constitucional problema central da organização do Estado,
em razão das funções a ele atribuída. Esclarecendo que de
modo geral, em todos os tribunais constitucionais criados no
após guerra teve-se em conta a necessidade de legitimação
democrática dos juízes através da participação dos órgãos de
soberania, directa ou indirectamente legitimados, na eleição
ou escolha de seus membros.46
Canotilho ao analisar o Tribunal Constitucional es-
tabelecido pela Constituição Portuguesa conclui que ele
não corresponde ao padrão escolhido pelo modelo clás-
sico, por que para sua composição não intervém todos os
45 CARVALHO, Kildare Gonçalves. 2007, p. 346.
46 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. 2000, p. 682.
40
Herm. Constitucionais 1.indd 40 26/01/17 12:17
órgãos de soberania, mas apenas um, e por parte dos juízes
assentarem-se apenas por simples legitimidade indireta47.
O Supremo Tribunal Federal brasileiro tem sua com-
posição, de acordo com o que estabelece a Constituição
Federal. Pela atual prescrição constitucional a nomeação
de um ministro ao supremo Tribunal Federal é ampla e
dispensa a necessidade de submissão a concurso público
e a aprovação popular por voto direto, podendo perma-
necer no cargo até sua morte ou até atingir a idade limite
para aposentadoria.
Isto porque, segundo a Constituição Federal, para
ser Ministro do Supremo Tribunal Federal basta ser bra-
sileiro nato, contar com mais de 35 e menos de 65 anos de
idade, possuir notável saber jurídico e reputação ilibada e
ser escolhido pelo Presidente da República.
Ou seja, os Ministros do Supremo são indicados e
nomeados por uma única pessoa – o Presidente da Repú-
blica, é o presidente da república quem livremente, ob-
servando os pressupostos constitucionais acima relata-
dos, define o nome de quem irá compor o órgão máximo
do Poder Judiciário, sendo apenas exigida a aprovação do
indicado pelo Senado. Observando-se que até hoje ne-
nhum indicado foi recusado pelo Senado.
Desta forma constata-se que não há legitimidade
na escolha nem impessoalidade, basta à graça Presiden-
cial. O Presidente escolhe, indica, num processo cogni-
tivo isolado e desconhecido, diz quem será oministro do
Supremo Tribunal Federal. O nome por ele escolhido é
apenas submetido à apreciação não do povo, mas dos Se-
nadores, que representam os Estados federativos.
47 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. 2000, p. 683.
41
Herm. Constitucionais 1.indd 41 26/01/17 12:17
E este órgão máximo, composto por membros que
foram indicados por uma única pessoa, o Presidente, com
o aval dos Senadores da República, tem a competência de
guarda da Constituição por prazo indeterminado.48
Essa atual delimitação constitucional da composição
do supremo é objeto de críticas, dentre as quais se desta-
cam a influência política na nomeação, a legitimidade do
poder concedido aos seus membros e a vitaliciedade con-
cedida aos ministros para exercerem o poder soberano.
Como exemplo de influência política, de ilegitimida-
de na sua nomeação e da gravidade da vitaliciedade con-
cedida aos membros do Supremo, destaca-se, a indicação
e nomeação do Ministro José Antônio Dias Toffoli.
Para Álvaro Dias, por exemplo, a indicação deJosé
Antônio Dias Toffoli, hoje Vice-Presidente do Supremo
Tribunal Federal e Presidente do Superior Tribunal Elei-
toral, promovida por Luís Inácio Lula da Silva, Presidente
da Repúblicaa época, não se justifica e comprova, de for-
ma inequívoca, que a indicação é política, lembrando que
o atual ministro foi assessor do Partido dos Trabalhadores
e advogado do Presidente Lula nas disputas eleitorais.49
Ademais, é questionável se o Ministro Dias Toffoli
teria notável saber jurídico para ser membro da mais alta
corte do Poder Judiciário, em razão de sua pouca idade
e da ausência qualificação, o Ministro é apenas Bacharel
em direito e não apresenta um currículo que corrobore a
indicação.
Oportuno salientar que o Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva indicou oito dos onze ministros que compõem o Su-
48 Servidor vitalício está sujeito à aposentadoria compulsória, em razão da idade.
(súmula 36 do STF).
49 DIAS, Álvaro Fernandes. 2009.
42
Herm. Constitucionais 1.indd 42 26/01/17 12:17
premo Tribunal Federal, e justamente essa resultante de
quase a totalidade dos membros do supremo serem indi-
cados por um único Presidente, e hoje a quase totalidade
ser preenchida por indicados de Presidentes vinculados a
um mesmo partido político, faz surgir indagações e ques-
tionamentos quanto à legitimidade e “democraticidade” do
modelo de escolha previsto no art. 101 da Magna Carta50.
A Ministra Carmem Lúcia, hoje presidente do Supre-
mo Tribunal Federal, em entrevista concedida em 2012
declarou que acha que indicação de Ministro ao Supremo
tem que ser o mais impessoal possível, e relatou que a
dependência política nas indicações foi um dos assuntos
atacados pelo Ministro Joaquim Barbosa em seu discurso
de posse como Presidente do Supremo Tribunal Federal.51
Na mesma entrevista a Ministra Carmem Lúcia de-
clarou ser favorável ao sistema de mandato para o STF,
com duração de nove e doze anos, conforme já ocorre em
outros países, criticando o sistema atual por permitir que
os ministros fiquem até a aposentadoria compulsória, o
que resulta em ficar muito no cargo quem dá a palavra a
final.52
Para Canotilho a duração do cargo dos juízes do Tri-
bunal Constitucional é outra questão com dimensões po-
líticas, principalmente quando sua composição provém
de indicação de um só órgão com legitimidade limitada
no tempo e sujeito a renovações.53
50 VALENTE, Christopher Elias. 2014.
51 ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. 2014.
52 ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. 2014.
53 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. 2000, p. 683.
43
Herm. Constitucionais 1.indd 43 26/01/17 12:17
A legitimidade do poder do Supremo Tribunal Fede-
ral é objeto de crítica, em face da influência política na
sua composição, da ausência de submissão ao voto popu-
lar e da perpetuação do poder.
Os defensores da legitimidade do Supremo dirão que
não há prejuízo, uma vez que o Presidente que indica foi
eleito e que há submissão do nome aos representantes
do povo (Congresso Nacional). Havendo, portanto, uma
legitimação indireta na formação do Supremo.
Mas tal ato não supre à ausência de submissão ao
voto popular dos seus integrantes, não minimiza o fato
de um único indivíduo, chefe do Poder Executivo, esco-
lher quem integrará ou não o órgão máximo do Poder Ju-
diciário, quem serão aqueles que terão o poder de dizer o
que é aceito ou não pela constituição Federal, quem irá
deter o poder de interpretar com chancela soberana os
preceitos constitucionais.
Outra crítica que se faz ao Supremo é a incompatibi-
lidade da concessão de poder vitalício aos seus membros,
isto porque os Ministros do Supremo podem permanecer
no Cargo até o limite estabelecido a aposentadoria com-
pulsória, o que implica em atribuir a uma pessoa o poder
de dizer a última palavra quanto à constitucionalidade
durante décadas, impondo um absolutismo numa parce-
la tão importante do Poder do Estado Constitucional que
é incompatível com o princípio democrático, que impõe
a alternância no poder.
E esta ausência de compatibilidade com os preceitos
democráticos se dá justamente ao órgão de Poder do Es-
tado que detém o poder de dizer a última palavra quanto
aos atos e leis serem ou não compatíveis com os preceitos
fundamentais do Estado.
44
Herm. Constitucionais 1.indd 44 26/01/17 12:17
Questiona-se ainda a imparcialidade do Supremo,
em face da indicação para Ministro nas últimas décadas
terem sido promovidas por presidentes de um mesmo
partido político, sendo somente dois dos componentes
atuais do Supremo os que não foram indicados pelo Par-
tido dos Trabalhadores.
Esses questionamentos afloram diante do cenário
atual em que casos tão importantes serão julgados.
No estado brasileiro a formação do Supremo Tri-
bunal, conforme analisado, não é legitimada pelo povo,
verdadeiro detentor do poder soberano do estado demo-
crático. E além de não ser legitimada a composição dos
membros do supremo, o ingresso como membro do su-
premo advém da escolha de um único poder, que sequer
detém o poder de forma efetiva, pois apenas o possui en-
quanto detentor do mandato que é limitado no tempo.
Como salientado, a permanência por muito do tem-
po dos membros do supremo, e consequente manuten-
ção por muito tempo deste poder soberano do estado nas
mãos de homens específicos, de forma indeterminada,
não é aconselhável e não corresponde ao ideal de demo-
cracia, que pressupõe a alternância no poder, o que não
ocorre dentro da forma desejada entre os membros do
Supremo Tribunal Federal brasileiro, tanto que a atual
composição do supremo revela a supremacia de um úni-
co partido político na indicação de sua composição e a
possibilidade de permanência por até quatro décadas de
seus membros.
Assim sendo, como impedir que o Supremo Tribu-
nal Federal, formado por membros de forma perpétua,
sem alternância, sem sujeição a vontade popular, não se
desvirtue do papel fundamental do Estado, que consiste
45
Herm. Constitucionais 1.indd 45 26/01/17 12:17
justamente em promover o bem comum, zelando pelos
valores, princípios e objetivos fundamentais, estabeleci-
dos pela Constituição Federal.
Para Barroso a natureza da função do Supremo Tri-
bunal Federal é política, gozando, portanto, de represen-
tatividade, o que exige um exercício em nome do povo e
a prestação de contas à sociedade.
Os métodos de atuação e de argumentação dos ór-
gãos judiciais são, como se sabe, jurídicos, mas a na-
tureza de sua função é inegavelmente política. (...)
Sem embargo de desempenhar um poder político, o
Judiciário tem características diversas das dos outros
Poderes. É que seus membros não são investidos por
critérios eletivos nem por processos majoritários. (...)
Mas o poder dos juízes e tribunais, como todo poder
em um Estado democrático, é representativo. Vale
dizer: é exercido em nome do povo e deve contas à
sociedade 54.
Na defesa desta legitimidade do Poder Judiciário,
em face do papel desempenhado pela Corte Constitu-
cional contramajoritário, emergem, segundo Barroso,
duas grandes correntes. Uma tradicional, que reconhece
a Constituição como expressão maior da vontade do povo,
que deve, portanto, prevalecer. Outra, que reconhece o
papel decisivo do intérprete na atribuição de sentido às nor-
mas jurídicas, que fundamenta a legitimidade no papel
que deve ser desempenhado pelo juiz constitucional, ao
qual cabe assegurar determinados valores substantivos e a
54 BARROSO, Luiz Roberto, 2015, p. 421-422.
46
Herm. Constitucionais 1.indd 46 26/01/17 12:17
observância dos procedimentos adequados de participação
e deliberação.55
Para Barroso, este papel do judiciário de decisão que
ordena atos do Poder Executivo e Legislativo, manifesto
principalmente na Corte Suprema, deve resguardar o pro-
cesso democrático e promover valores constitucionais; para
assim superar o déficit de legitimidade dos demais poderes.56
Mas seria este procedimento suficiente a superar a
ausência de legitimidade, e como de fato aconteceria essa
sujeição proposta da submissão da corte suprema aos va-
lores constitucionais, e a quem competiria fiscalizar se de
fato esta sujeição está ocorrendo?
Poderia ser aceito essa sugestão num estado demo-
crático de direito, reconhecer como legítimo. Acredita-se
que não, pois não há como conceder representatividade
sem antes submeter à manifestação dos representados
quanto aos pretensos representantes.
O próprio Barroso, reconhece a ausência de legiti-
midade dos membros do supremo, ao reconhecer que há
necessidade de se promover um algo a mais para superar
esse déficit de legitimidade que o Poder Judiciário detém
com relação aos demais poderes.
Desta forma, conclui-se que o processo de composi-
ção dos Membros do Supremo, como prescrito pela atual
Constituição Federal, é legal, pois promovido em con-
formidade com o que estabelece o ordenamento vigente,
mas é inconstitucional, por ser incompatível com estado
democrático de direto, em face da ilegitimidade na no-
meação de seus membros e da ausência de alternância no
55 BARROSO, Luiz Roberto, 2015, p. 424-425.
56 BARROSO, Luiz Roberto, 2015, p. 429.
47
Herm. Constitucionais 1.indd 47 26/01/17 12:17
poder decorrente da vitaliciedade concedida aos Minis-
tros do supremo.
Mecanismo de Limitação ao Poder do Supremo
A ideia central do modelo do balanceamento de po-
deres é através de freios e contrapesos recíprocos. Este
sistema de controle recíproco entre os poderes, pelos
quais os poderes do Estado se limitam, evitando que um
poder se constitua em poder perigosamente totalizador
do poder do Estado, é que confere o necessário equilíbrio
para que não haja a supressão de um poder pelo outro, o
que comprometeria a harmonia entre os poderes do exer-
cício da função do poder soberano do Estado57.
Segundo Canotilho a cada um dos poderes ou fun-
ções do poder soberano, possui um núcleo essencial, que
remete ao campo de tarefa específica de cada um, e que
as tarefas específicas não podem deslocar-se de um órgão
para outro sob pena de violação a esse núcleo essencial.58
Para Aragão a existência desta conotação política do
Supremo representa o condão que tem o Supremo de refrear
as outras funções políticas do Estado, ao preservar a decisão
política fundamental59.
O princípio da separação e interdependência é um
princípio estrutural-conformador do domínio político.
Sendo o controle das funções do Estado mecanismo im-
57 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. 2000, p. 551.
58 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. 2000, p. 551.
59 ARAGÃO, João Carlos Medeiros de. 2013, p. 85.
48
Herm. Constitucionais 1.indd 48 26/01/17 12:17
portante para impedir um superpoder, e consequente-
mente, as possibilidades de abuso e desvios60.
Ao tratar do freio, balanço e controle na ordenação
de órgãos e funções do estado, Canotilho esclarece que
é variável conforme o ordenamento constitucional, mas
que fundamentalmente consistem num complexo sis-
tema de corresponsabilidades e interdependência, num
sistema de balanço em que a escolha, nomeação ou ma-
nutenção no cargo de um ou vários titulares de órgão de-
pende de outro, e na divisão de poderes dentro do mesmo
poder. E que resulta em ilegitimidade qualquer desloca-
ção de peso funcional conducente61.
Importante destacar que a nenhum órgão podem ser
estabelecidas atribuições que resulte no esvaziamento
das funções materiais especialmente atribuídas a outro.
Pois o princípio da separação de poderes só admite exce-
ções quando essas não resultarem na violação deste nú-
cleo essencial62.
Assim sendo, o Controle jurisdicional, judiciário ou
jurídico, é função desempenhada pelo Poder Judiciário
que o exerce com exclusividade. Fundamentando-se na
competência dada ao Judiciário para verificar a compatibi-
lidade de leis e atos normativos com a Constituição, tarefa
que exige tempo, técnica e imparcialidade; e no controle de
constitucionalidade, meio eficaz de combate a falibilidade
do legislador, fazendo valer o império das leis na medida dos
direitos da liberdade63.
60 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. 2000, p. 556.
61 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. 2000, p. 559.
62 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. 2000, p. 559.
63 BULOS, UadiLammêgo, 2009, p. 115.
49
Herm. Constitucionais 1.indd 49 26/01/17 12:17
Mas nem mesmo o Poder Judiciário é soberano, uma
vez que como os demais poderes ele mesmo se sujeita aos
limites constitucionais por ele guardados.
Críticas ao controle jurisdicional consistem na afir-
mação de que seu uso responsável pela existência de um “es-
tado de juízes” ou “judiocracia”, que este sistema desvia o
Poder Judiciário de seu ofício, convertendo-se num órgão de
natureza política, e o terceiro relacionado aos juízes pes-
soalmente, acusando-os de serem legalistas, insensíveis e
tecnicistas64.
Mas é impossível dissociar o poder judiciário de sua
função política conforme já analisado.
Bonavides esclarece que o erro do jurista puro ao inter-
pretar a norma constitucional é querer exatamente desmem-
brá-la de sue manancial político e ideológico, das nascentes
da vontade política fundamental, do sentido dinâmico e re-
novador que deve acompanhá-la65.
A conotação política do Supremo representa em ver-
dade o poder concedido para refrear as outras funções
políticas do Estado, exercendo o controle negativo, no
sentido de afastar normas que não encontrem amparo na
Constituição, extirpar do ordenamento jurídico, atos que
não encontram amparo na Constituição Federal, e posi-
tivo, na medida em que reprimi a pratica de atos e elabo-
ração de leis que divorciados do espirito constitucional.
Para Aragão (2013, p.85) a existência desta conotação
política do Supremo representa o condão que tem o Supre-
64 BULOS, UadiLammêgo. 2009, p. 115.
65 BONAVIDES, Paulo. 2013, p. 476.
50
Herm. Constitucionais 1.indd 50 26/01/17 12:17
mo de refrear as outras funções políticas do Estado, ao pre-
servar a decisão política fundamental66.
Segundo Bonavides é muito difícil estabelecer crité-
rios absolutos de interpretação, e que há necessidade de
estabelecer-se um equilíbrio no momento da interpreta-
ção entre o jurídico e o político, esclarecendo que ambos
são decisivamente importantes67.
Conforme analisado o Poder do Supremo Tribunal
Federal de dizer a ultima palavra quanto a Constitucio-
nalidade dos atos e leis resulta em aviltamento do Poder
Judiciário. Deste poder de dizer a ultima palavra no que se
refere à compatibilidade constitucional dos atos e das leis.
Mas mesmo possuindo essa função suprema o Su-
premo Tribunal Federal não é superior aos limites por ele
guardados, aos preceitos fundamentais da Constituição
Federal, isto porque o Supremo é guardião da Constitui-
ção, mas não é o seu dono.
Assim sendo, para evitar que o poder do supremo es-
vazie os demais poderes e para impedir que ultrapasse os
limites previstos na Constituição, uma vez que seu poder
não é maior que os demais poderes, por na verdade ser par-
te integrante de um mesmo poder, o Poder Soberano do
Estado, Supremo deve respeitar os limites constitucionais.
Segundo Kildare Gonçalves Carvalho a atividade de
interpretar não é absoluta. Esclarecendo que essa atividade
encontra limites no programa da norma constitucional, in-
suscetível de alteração, pois se devem preservar os princípios
estruturais (políticos e jurídicos) da Constituição68.
66 ARAGÃO, João Carlos Medeiros de Aragão, 2013, p. 85.
67 BONAVIDES, Paulo. 2013, p. 476-477.
68 CARVALHO, Kildare Gonçalves. 2007, p. 360.
51
Herm. Constitucionais 1.indd 51 26/01/17 12:17
Ou seja, assim como os demais agentes públicos, os
membros do Supremo Tribunal Federal devem agir com
respeito a sua qualidade de membro do Estado, agindo
não movido por suas paixões e opiniões, mas nos limites
fixados pela Constituição Federal, fundamentando seus
atos e decisões nos princípios, objetivos e valores funda-
mentais da República Federativa do Brasil, promovendo
o bem comum.
Como mecanismo de defesa quanto a este possível
abuso no momento de decidir quanto à constituciona-
lidade, Barroso traz dois parâmetros a serem seguidos
pelos intérpretes: a preferência pela lei e a preferência pela
regra. Destacando em seguida que a Constituição não pode
pretender ocupar todo espaço jurídico em um Estado demo-
crático de direito69.
No ato de decidir não cabe ao ministro do Supremo
Tribunal Federal, portanto, valer-se de valores, ideológi-
cos e morais, que não encontrem compatibilidade com
os preceitos constitucionais, que não sejam voltados ao
interesse público, à promoção do bem comum.
O desvio de função dos ministros do Supremo Tri-
bunal Federal são sujeitos a julgamento e penalidade,
competindo à função de julgar os ministros por crimes de
responsabilidade ao Senado Federal, uma vez que os mi-
nistros do STF são sujeito ao Impeachment, sendo seus
atos passíveis de submissão de julgamento quandodivor-
ciados dos princípios que devem moldar o agir do agente
público no desempenho de suas funções.
A fiscalização dos atos dos Ministros do Supremo,
assim como os atos de todos aqueles que detêm poder
69 BARROSO, Luiz Roberto, 2015, p. 531.
52
Herm. Constitucionais 1.indd 52 26/01/17 12:17
estatal, deve sujeitar-se a fiscalização de toda sociedade,
dos organismos de fiscalização do Estado e dos demais
poderes, ou seja, a todos.
Para João Carlos Medeiros de Aragão os chamados
remédios constitucionais possuem natureza eminente-
mente política e podem permitir que o Poder Judiciário se
transforme em um poder “acima dos outros”, e em face des-
ta possibilidade de comprometimento da tripartição de
poderes o STF não pode criar norma tampouco refutar par-
tes de uma lei questionada como inconstitucional, pois, ao
assim agir, arriscar-se-ia a alterar o espírito da lei, ato que
não lhe compete70.
Contudo, como evitar que o Supremo Tribunal assu-
ma esse papel de superpoder? Como evitar que ultrapasse
os limites constitucionais?
A única forma de fazer com que não haja excesso do
órgão máximo do Poder Judiciário é à força dos demais po-
deres juntamente com força do povo, é o medo do poder
soberano do Estado a que estão submetidos, é o reconhe-
cimento de que existe um Poder que está acima do seu.
O único poder que está acima do Poder Judiciário é
o Poder soberano do Estado do qual é apenas parte. É o
poder soberano do Estado, é a soberania do poder popu-
lar e os preceitos constitucionais que limitam o poder de
atuação concedido aos Ministros do Supremo Tribunal
Federal.
O abuso de poder é crime de responsabilidade e os
Ministros do Supremo Tribunal respondem por crime de
responsabilidade.
70 ARAGÃO, João Carlos Medeiros de. 2013, p. 71.
53
Herm. Constitucionais 1.indd 53 26/01/17 12:17
Logo, tem-se que os atos dos ministros do Supremo
Tribunal encontram limites, que os limites estão estabe-
lecidos justamente na Constituição Federal, e emanam
do poder soberano do povo.
Note-se que é poder soberano do povo que de fato
limitar, por intermédio dos demais poderes que fazem
parte deste poder, por intermédio de seus órgãos repre-
sentativos do Estado, por intermédio da força popular.
Esse temor da punibilidade por seus atos deve exis-
tir, de fato, pois é ele condicionante da ação no sentido
desejado, sendo o único meio de obrigar que seja feita a
vontade do Estado, da Constituição, e não à vontade dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal.
E esse temor quanto à punibilidade somente existirá
se de fato houver essa força democrática, se houver essa
força impositiva dos demais poderes, se houver respeito e
temor à soberania popular.
Isto porque o povo não pode deixar-se representar
em sua qualidade de soberano71.
Para José Afonso da Silva jurisdição constitucional
emergiu historicamente como um instrumento de defesa da
Constituição, não da Constituição considerada como um
puro nome, mas das constituições tidas como expressão de
valores sociais e políticos72.
O fim primordial do Supremo Tribunal Federal é fa-
zer a concretização da Justiça quando desafiada. Segundo
Kildare Gonçalves Carvalho, justiça é um dos fins do Es-
71 HABERMAS, Jurgen, 1929. Tradução: Flávio BenoSiebeneichler. 1997. p. 24.
72 SILVA, José Afonso da. 2013, p. 559.
54
Herm. Constitucionais 1.indd 54 26/01/17 12:17
tado e do próprio direito, sendo para o Estado, condição e
fundamento, do pacto social73.
E é justamente esse compromisso constitucional com
o justo que limita os atos do Supremo Tribunal Federal.
Os desvios das finalidades e dos fundamentos do
Estadopraticados pelos membros do Supremo Tribunal
Federal são passiveis de represálias, sendo atribuída ao
Senado a função de processar e julgar os Ministros do Su-
premo por crimes de responsabilidade e a todos o dever
de fiscalizar, cuidar e cobrar a responsabilidade dos Mi-
nistros que praticarem crime de responsabilidade.
Conclusão
O Poder Supremo Tribunal Federal é uma parcela do
Poder Soberano do Estado que consiste em dizer o que é
ou não constitucional, o que encontra ou não amparo na
constituição, o que deve ou não ser praticado de acordo
com os princípios e objetivos do Estado.
Para Bonavides o pós-positivismos, de raízes manifes-
tamente axiológicas, elaborou uma metodologia que fez da
hermenêutica o capítulo mais importante do Direito Cons-
titucional.74
É a Constituição que solidifica a organização do es-
tado, seus princípios e objetivos fundamentais e tutela
direitos e garantis aos indivíduos. Segundo Bonavides a
sociedade sem Constituição é sociedade sem liberdade.75
73 CARVALHO, Kildare Gonçalves. 2007, p. 193.
74 BONAVIDES, Paulo. 2013, p. 627.
75 BONAVIDESPaulo. 2013, p. 678.
55
Herm. Constitucionais 1.indd 55 26/01/17 12:17
Isto porque alterar a interpretação de um texto normati-
vo significa alterar a própria norma jurídica correspondente.76
Dallari ao tratar da ordem questiona se é possível
acreditar num ordenamento comum, diante da diversi-
dade e da necessidade de, apesar dela, manter a liberda-
de e a unidade, conjugando-se todas as ações humanas em
função de um fim comum.E após indagar tal questão relata
que isto ocorre na natureza, esclarecendo que mesmo em
constante movimento, o mundo da natureza permanece
justamente em face da harmonia e da criação.77
O processo de supremacia do poder do povo, de efe-
tivação da soberania popular é uma constante num esta-
do democrático, sendo imprescindível a fiscalização e co-
brança efetiva por seu respeito e cumprimento, fazendo
com os todos se submetam ao Poder soberano do povo.
Das considerações apresentadas, tem-se que há ne-
cessidade de repensar a forma pela qual os membros do
Supremo Tribunal Federal são nomeados ao cargo, bem
como o tempo que devem permanecer no cargo, para as-
sim alcançar a legitimidade e representatividade de que
este Poder necessita.
Isto porque a alternância e a submissão à manifesta-
ção da vontade popular daqueles que detêm poder esta-
tal é pressuposto necessário num Estado que se qualifica
como democrático.
É inconcebível num estado democrático que per-
maneça essa perpetuidade dos membros do supremo na
posse desse poder soberano de dizer o que é direito, o
que é constitucional. Mas qual seria a solução para este
76 SBDP, 2010, p. 58.
77 DALLARI, Dalmo de Abreu. 2013, p. 37.
56
Herm. Constitucionais 1.indd 56 26/01/17 12:17
problema e quais seriam as repercussões econômicas,
administrativas e jurídicas? Como promover esta repre-
sentatividade e esta legitimidade de modo a preservar a
qualidade que o ministro do Supremo Tribunal Federal
deve possuir; de modo a não transformar o Supremo Tri-
bunal Federal num Tribunal simplesmente político; e o
transformar de um Tribunal ilegítimo o mais próximo
possível de um órgão legitimo de poder, representativo
da sociedade e ao mesmo tempo exigente da qualidade
ética, moral e técnica jurídica que seus integrantes devem
possuir para efetivamente promoverem a guarda e cum-
primento dos preceitos Constitucionais.
O modelo existente se mostra falho e deve ser re-
pensado, principalmente diante do cenário atual. Sendo
necessário o estabelecimento de novas premissas, condi-
zentes com o princípio democrático, para tornar o poder
judiciário legítimo e democrático.
Não podemos negar o papel do Supremo Tribunal
Federal nem a sua importância, mas há necessidade de
modificar a forma de sua composição e de estabelecer
alternância ao seu poder, tornando-o compatível com o
estado democrático de direito.
O Estado democrático exige alternância no poder e
legitimidade daqueles que irão exercer o poder sobera-
no do Estado. Num estado democrático de direito, todos
devem se submeter à lei e devem respeito aos preceitos
constitucionais e somente é possível exercer o poder do
estado de forma limitada e com a anuência do povo.
Logo, o membro do Supremo Tribunal Federal, de-
tentor, portanto, de parcela do poder soberano do estado,
não pode permanecer até a sua morte ou aposentadoria
no poder, devendo ser estabelecido um limite para sua
57
Herm. Constitucionais 1.indd 57 26/01/17 12:17
permanência no cargo. Sendo razoável a sugestão apre-
sentada pela Ministra Cármen Lúcia em 2012, de que os
ministros permaneçam no cargo por no máximo nove ou
doze anos.
Para ser membro do Supremo Tribunal deve haver
submissão à manifestação da vontade popular, deve ser
feita a indicação de modo a garantir representatividade
ao povo brasileiro, sendo imprescindível que o nome do
possível ministro do supremo seja submetido ao voto po-
pular; sendo insuficiente para dar legitimidade aos Mi-
nistros do Supremo Tribunal Federal, o sistema atual,
cuja decisão fica a cargo do Presidente sem qualquer pa-
râmetro além de idade e idoneidade; sem previsão de par-
ticipação efetiva dos demais poderes, nem do povo.
Os membros do Supremo devem representar o povo
brasileiro e ser representativo do povo que o legitima,
deve ser admitido pelo povo e devem ficar no poder por
um tempo determinado.
Desta forma, Por mais difícil que seja a admissão,
tem-se que o poder do Supremo Tribunal Federal é um
poder jurídico, porque tem função de dizer o direito em
face do que prescrevem os preceitos fundamentais do Es-
tado; é um poder político, porque dotado de uma parcela
da soberania estatal, por ser um dos poderes pelo qual
o Estado concretiza-se; não é um poder absoluto nem
soberano porque está limitado pelo Poder Soberano do
Povo e vinculado a Constituição; é um poder especifico,
pois possui uma só função, defender e cumprir a Consti-
tuição Federal. Mas é um poder que padece de legitimi-
dade e se mostra incompatível com estado democrático,
porque seu órgão máximo é composto por membros não
58
Herm. Constitucionais 1.indd 58 26/01/17 12:17
legitimados pelo povo e o poder de seus membros é con-
cedido de forma vitalícia.
Referências
ALEXY, Robert. Teoria Discursiva do Direito. Organiza-
ção, Tradução e Estudo Introdutório: Alexandre Traves-
soni Gomes Trivisonno. Rio de Janeiro: Forense, 2014.
Álvaro Fernandes Dias. Folha Online, Indicação de Toffo-
li para vaga no STF divide opinião de líderes da oposição
do Senado. Folha Online, [S.l.].17 set. 2009.
ARAGÃO, João Carlos Medeiros de. Judicialização da po-
lítica no Brasil: Influência sobre atos interna corporis do
Congresso Nacional. Brasília: Câmara dos Deputados,
Edições Câmara, 2013.
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional.
28ª Ed. São Paulo: Malheiros. 2013.
BRASIL, Constituição, 1891.
BRASIL, Constituição, 1934.
BRASIL, Constituição, 1937.
BRASIL, Constituição, 1967.
BRASIL, Constituição, 1988.
59
Herm. Constitucionais 1.indd 59 26/01/17 12:17
BULOS, UadiLammêgo. Curso de Direito Constitucio-
nal. 4ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p.10.
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitu-
cional e Teoria da Constituição. 7ª Ed. Coimbra- Por-
tugal: Edições Almedina.(Manuais Universitários) ISBN
978-972-40-2106-5. 2000.
CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito Constitucional –
Teoria do Estado e da Constituição. Direito Constitucio-
nal Positivo. 13ª Ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 346.
DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral
do Estado. 32ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 33.
DIAS, Álvaro Fernandes. Folha Online, Indicação de Tof-
foli para vaga no STF divide opinião de líderes da oposi-
ção do Senado. Folha Online, [S.l.].17 set. 2009.
HABERMAS, Jurgen, 1929. Direito e Democracia: Entre
facticidade e Validade, Volume II. Tradução: Flávio Beno
Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997.
PAIXÃO, Leonardo André. A Função Política do Supremo
Tribunal Federal, São Paulo, 2007. Tese de Doutorado,
Faculdade de Direito da Universidade Estadual de São
Paulo.
RAMOS Filho, Carlos Alberto de Moraes. Direito Finan-
ceiro Esquematizado. Coordenador Pedro Lenza. São
Paulo: Saraiva, 2015, p. 35.
60
Herm. Constitucionais 1.indd 60 26/01/17 12:17
ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Cármen Lúcia critica
influência política em indicação de ministros de tribu-
nais. Por Débora Zampier. Edição: Davi Oliveira. Fonte:
Agência Brasil l. Acesso em 17.11.2016. http://www.ebc.
com.br/2012/12/carmen-lucia-critica-influencia-politica-
-em-indicacao-de-ministros-de-tribunais
SBDP – Sociedade Brasileira de Direito Público Série Pen-
sando o Direito: Controle de Constitucionalidade dos Atos
do Poder Executivo. N. 30. Consultor: Conrado Hubner
Mendes. Ministério da Justiça. São Paulo-Brasília, 2010.
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional
Positivo. 36ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 559.
STF. História do STF. Portal do STF. www.stf.jus.br
STF. Composição. Composição Atual. www.stf.jus.br
VALENTE, Christopher Elias. Composição do STF: da es-
colha política à legítima. In: Âmbito Jurídico, Rio Gran-
de, XVII, n. 120, jan 2014. Disponível em: <http://www.
ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_lei-
tura&artigo_id=14238>. Acesso em nov/ 2016.
AMB. [S.l.]: Associação dos Magistrados Brasileiros, 2002.
Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2002-mai-12/
amb_abrat_questionam_criterio_escolha_ministro>.
Acesso em: 09 nov. 2009.
61
Herm. Constitucionais 1.indd 61 26/01/17 12:17
MORAES, Alexandre de. Jurisdição Constitucional e Tribu-
nais Constitucionais. - São Paulo: Altas, 2000.
COSTA, Flávio Dino de Castro e. A política e o Supremo
Tribunal Federal. Folha de São Paulo, São Paulo, 20 fev.
2009. Folha Opinião, A3.
62
Herm. Constitucionais 1.indd 62 26/01/17 12:17
O papel dos juízes na efetivação dos direitos
fundamentais
Dayla Barbosa Pinto78
Introdução
O presente artigo tem o objetivo de demonstrar o
papel dos juízes na efetivação dos direitos e princípios
fundamentais. Para isto, será feita pesquisa bibliográfica
e documental.
A dissertação iniciará discorrendo sobre a mudança
no paradigma positivista para o pós-positivista, no qual o
juiz adquire papel de extrema importância na interpreta-
ção da norma aos casos concretos. Ele abandona a ação
mecânica da subsunção do fato à norma, para ser co-par-
tícipe na criação do Direito.
Em seguida será, analisado o neoconstitucionalismo
para demonstrar esta nova perspectiva interpretativa da
constituição, com o objetivo de identificar e caracterizar
o ativismo judicial, como prática importante na efetiva-
ção dos direitos fundamentais.
Partindo disto, será feita uma breve leitura sobre a
importância destes direitos, chamados de fundamentais,
justificando a atuação do judiciário para sua efetivação,
quando da omissão do Estado no seu papel de cumprir o
que está descrito na Constituição.
Por fim, serão abordadas algumas críticas acerca do
ativismo judicial e sua interferência na separação dos po-
78 Mestranda em Direito Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas.
Advogada.
63
Herm. Constitucionais 1.indd 63 26/01/17 12:17
deres, assim como jurisprudências que mostrem a neces-
sidade do judiciário em completar o papel do legislador e
também o de suprir a omissão estatal.
Do positivismo jurídico ao pós-positivismo
O positivismo e o mecanicismo judicial
O positivismo jurídico chega como proposta de su-
peração ao jusnaturalismo. A modernidade avançando
ao cientificismo e à pureza dos métodos científicos, de-
manda que as ciências sociais, como o direito, também se
adequem às novas ideologias de mundo. Como Barroso79
cita, o positivismo foi uma idealização do conhecimento
científico, com métodos analíticos válidos para ciências
naturais que foram estendidos às ciências humanas.
A ciência passa a ser a única verdade, destituindo a
teologia e a metafísica do seu papel de explicar o mundo
através de princípios abstratos. O conhecimento cientí-
fico demonstra que a verdade se atinge através de obje-
tividade, distinguindo sujeito de objeto, através de um
método científico descritivo, de observação ou de expe-
rimentação80.
Kelsen81 foi um dos maiores propagadores do posi-
tivismo jurídico, que possui como características princi-
pais: a) similaridade entre Direito e norma; b) origem es-
tatal do Direito; c) completude do ordenamento jurídico;
79 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. 3a ed.
São Paulo: Saraiva, 2012.
80 Idem.
81 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Trad. João Baptista Machado. 6a. Ed. São
Paulo: Martins Fontes, 1998.
64
Herm. Constitucionais 1.indd 64 26/01/17 12:17
e, d) formalismo. Esta última é a principal característica
que influencia no papel do juiz como intérprete e aplica-
dor da norma jurídica.
O formalismo indica que a norma é válida quando
decorre de procedimento específico para sua criação, e
isto basta para dar validade, sem necessidade análise de
seu conteúdo82. A elaboração da norma pelos métodos
formais que a validavam eram o suficiente para que a nor-
ma se tornasse vigente no ordenamento jurídico.
Exatamente por este motivo, o juiz tinha um papel
simples e limitado83: fazer a subsunção do fato à norma.
O positivismo jurídico considerava que a norma válida
não necessitava de intervenção da interpretação criativa
do juiz, para que este não alterasse seu real sentido. Por
este motivo estabeleceu-se dentro do pensamento jurídi-
co, o dogma da subsunção84.
Nas primeiras décadas do século XX, o positivismo
influenciou toda teoria e a filosofia do direito, o Direito
passava a ser entendido, portanto, como o conjunto de
normas em vigor, considerando um sistema perfeito, e,
por isso, “não precisava de qualquer justificação além da
própria existência”85.
82 “A Ciência do Direito, como todas as demais, deve fundar-se em juízos de fato, que
visam ao conhecimento da realidade, e não em juízos de valor, que representam
uma tomada de posição diante da realidade. Não é no âmbito do Direito que se
deve travar a discussão acerca de questões como legitimidade e justiça.” In: BAR-
ROSO, Luís Roberto. Op. cit., p. 262.
83 “A Escola da Exegese, por sua vez, irá impor o apego ao texto e à interpretação gra-
matical e histórica cerceando a atuação criativa do juiz em nome de uma interpre-
tação pretensamente objetiva e neutra”. In: BARROSO, Luís Roberto. Op. cit., p. 260.
84 “A aplicação do Direito consistiria em um processo lógico-dedutivo de submissão à
lei (premissa maior) da relação de fato (premissa menor), produzindo uma conclu-
são natural e óbvia, meramente declarada pelo intérprete, que não desempenha-
ria qualquer papel criativo.” In: BARROSO, Luís Roberto. Op. cit., p. 262, nota 39.
85 BARROSO, Luís Roberto. Op. cit., p. 263.
65
Herm. Constitucionais 1.indd 65 26/01/17 12:17
Barroso86 afirma que o “positivismo pretendeu ser
uma teoria do Direito. na qual o estudioso assumisse uma
atitude cognoscitiva (de conhecimento), fundada em juí-
zos de fato”, mas que, no entanto, acabou se tornando
numa “ideolodia, movida por juízos de valor, por ter-se
tornado não apenas um modo de entender o Direito, mas
também de querer o direito”.87
Essa certeza que a ciência jurídica pretendeu ofere-
cer, custou caro à humanidade, graves crimes que viola-
ram direitos humanos foram cometidos, à luz da legali-
dade e do formalismo positivista. A mera prescrição do
“dever ser” já não caberia mais nos casos concretos.88
Esta violência “institucionalizada”, ou seja, “legal” é a
maior problemática que encontrou o positivismo jurídico
como filosofia jurídica. Era necessário ser superada em
suas bases para ascender a outras maneiras de aplicar o
Direito.
A neoconstitucionalismo e a constituição contemporâneo
pós-positivista
A perspectiva que se deu para o Direito pelo pós-posi-
tivismo inclui ideias de justiça para além da lei exclusiva-
mente, além da igualdade material mínima, influenciadas
86 Idem. Ibidem.
87 Idem. ibidem.
88 “Sem embargo da resistência filosófica de outros movimentos influentes nas
primeiras décadas do século, a decadência do positivismo é emblematicamente
associada à derrota do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha. Esses movi-
mentos políticos e militares ascenderam ao poder dentro do quadro de legalida-
de vigente e promoveram a barbárie em nome da lei.” In: BARROSO; Luís Roberto.
Op. cit., p. 264.
66
Herm. Constitucionais 1.indd 66 26/01/17 12:17
pela teoria crítica e pela teoria dos direitos fundamentais,
juntamente com a nova hermenêutica, que estabelece
uma “redefinição das relações entre valores, princípios e
regras” 89 no Direito.
Dentre as teorias desenvolvidas estada a do perso-
nalismo ético, elaborada na Alemanha em consequência
dos fatos funestos ocorridos durante a 2ª Guerra Mun-
dial. Esta teoria ratificava a importância da retomada da
relação entre Direito e ética, posicionando a dignidade da
pessoa humana90 como fator fundamental para interpre-
tação do Direito.
O constitucionalismo contemporâneo se dá com a
experiência europeia, após a 2ª Guerra Mundial, da Cons-
tituição alemã, de 1949, e seu Tribunal Constitucional Fe-
deral, em 1951. Após este marco, veio a Constituição ita-
liana, de 1947, com a instalação da Corte Constitucional,
89 BARROSO, Luís Roberto. Op. Cit. p. 264.
90 “As características do conceito geral do sistema são a ordem e a unidade. Eles
encontram a sua correspondência jurídica nas ideias da adequação valorativa e
da unidade interior do Direito; estas não são apenas pressuposições de uma juris-
prudência que se entenda a si própria que se entenda como Ciência e premissas
evidentes dos métodos tradicionais de interpretação, mas também, e sobretu-
do, consequências do princípio da igualdade e da tendência generalizadora da
justiça, portanto, mediatamente, da própria ideia de Direito […] o conceito de
sistema jurídico deve-se desenvolver a partir da função do pensamento sistemá-
tico. Por isso, todos os conceitos de sistema que não sejam capazes de exprimir
a adequação valorativa e a unidade interior da ordem jurídica são inutilizáveis
ou, pelo menos, de utilização limitada; […] uma vez determinado o conceito de
sistema como referência às ideias de adequação valorativa e unidade interior do
Direito, deve-se definir o sistema jurídico como ordem axiológica ou teleológica
de princípios jurídicos gerais Também é imaginável uma correspondente ordem
de valores de conceitos teleológicos ou de institutos jurídicos. […] este sistema
não é fechado, mas antes aberto. Isto vale tanto para o sistema de proposições
doutrinárias sistema científico, como para o próprio sistema da ordem jurídica,
o sistema objectivo A propósito do primeiro, a abertura significa a incompleitude
do conhecimento científico, e a propósito do último, a mutabilidade dos valores
jurídicos fundamentais”. In: CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento Sistemático e
Conceito de Sistema na Ciência do Direito. 4. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gul-
benkian, 2008.
67
Herm. Constitucionais 1.indd 67 26/01/17 12:17
em 1956; seguidas pelas Constituições Portuguesas (1976)
e Espanhola (1978).91 E no Brasil, a Constituição de 1988
foi a que incorporou o neoconstitucionalismo ou consti-
tucionalismo contemporâneo.
Este constitucionalismo trazia como principal carac-
terística a força normativa da Constituição, o que dava
força às normas constitucionais, fugindo à tradição de a
Constituição ser um mero documento político, subordi-
nado ao Parlamento e ao Executivo.92 Os direitos e garan-
tias fundamentais, anunciados pela Constituição Federal
de 1988, têm aplicação imediata.
Além disso, as Cortes Constitucionais são tribunais
compostos por juízes chamados de guardiões da Consti-
tuição, ou seja, tribunais com competência para declarar
nulidade de atos e leis inconstitucionais, ou seja, que fos-
sem contrários à Constituição.
A doutrina pós-positivista traz a revalorização da
razão prática, a teoria da justiça e a legitimação demo-
crática, mas não despreza o direito posto, apenas busca
fazer uma releitura à luz dos princípios constitucionais.
O neoconstitucionalismo ou novo direito constitucional
passa a ser um reencontro entre a ciência jurídica e a filo-
sofia do direito, buscando igualdade e liberdade que nela
já constavam de longa data.
Com isso, as Constituições pós-positivistas ab-
sorvem e tornam centro de sua irradiação normativa o
princípio da Dignidade da pessoa humana, valorizando o
“ser” e não o “ter”, e, originam os direitos fundamentais
91 Idem.
92 Idem.
68
Herm. Constitucionais 1.indd 68 26/01/17 12:17
materiais, “representando seu núcleo essencial”, assim
como os individuais, políticos e sociais.93
Além deste princípio basilar do direito constitucio-
nal, estão os princípios da razoabilidade ou proporciona-
lidade, que ordenam tanto a elaboração das leis, quanto a
aplicação destas, sempre propondo uma razão com mo-
deração, equilíbrio e harmonia.
Estes são os princípios também que norteiam a ativi-
dade do juiz no momento da aplicação do direito ao fato,
são os direcionamentos dados pela constituição, sempre
com a dignidade da pessoa humana à frente para atingir
os ideais de igualdade e liberdade.
Ativismo judicial na perspectiva do neoconstitucionalismo
O neoconstitucionalismo traz uma nova visão a res-
peito da função da Constituição nos ordenamentos jurí-
dicos contemporâneos. Esta função parte do pressuposto
de que a Constituição tem uma supremacia diante das
demais normas e possui um controle de constitucionali-
dade que vai além da esfera individual de liberdade.94
93 BARROSO, Luís, Roberto. Op. cit. p. 273.
94 “O desenvolvimento do pensamento constitucionalista, mais especificamente
em relação à atribuição de força normativa conferida à Constituição, levou a uma
nova situação hermenêutica. De fato, o constitucionalismo moderno enterrou, de
uma vez por todas, a noção de que somente o texto legal, que não fosse claro, de-
veria ser interpretado. Toda norma carrega, direita e potencialmente o elemento
disposicional de ser interpretado à luz da Constituição. A tarefa de interpretação,
como o conhecimento melhor do texto, equivale à tarefa de aplicação do Direito.
Não são dois momentos separados, como se imaginava nos estudos da herme-
nêutica clássica. In: MOREIRA, Eduardo Ribeiro. Neoconstitucionalismo e Teoria
da Interpretação. Neoconstitucionalismo. Obra coordenada por Regina Quares-
ma, Maria Lúcia de Paula Oliveira e Farlei Martins Riccio de Oliveira. Editora Fo-
rense. Rio de Janeiro. 1ª Ed.. 2009.
69
Herm. Constitucionais 1.indd 69 26/01/17 12:17
A Constituição de 1988 inaugura esta perspectiva no
Brasil, trazendo institutos, por exemplo, como o judicial
review of legislation (revisão judicial das leis), já utilizado
no sistema da common law norte-americana. O judiciário
passa a ser o guardião da Constituição, como já foi dito,
trazendo a superação da supremacia do Parlamento so-
bre o judiciário.
Nesta perspectiva o juiz adquire outro papel, que
não é mais aquele de obedecer ao dogma da subsunção,
mas de co-participante do processo de criação do direito,
complementando o trabalho do legislador. Um exemplo
onde essa situação pode ocorrer é na aplicação das cláu-
sulas abertas e normas genéricas, na qual não há uma
descrição específica do fato, mas normas genéricas que
podem igualmente ser aplicadas a mais de uma situação
fatídica. Então o juiz, usando os princípios mencionados
no item anterior, aplica tais normas de acordo com o caso
em questão ponderando qual será a melhor resposta para
o litígio.95
Disto se percebe tanto a atuação dos juízes na Cor-
te Constitucional com questões afetas a sua competên-
cia, e, ressalte-se aqui, o controle de constitucionalidade,
quanto os demais juízes, visto que devem todos obedecer
e guardar a Constituição em quaisquer julgados a serem
analisados. Isto ocorre tanto pela força normativa da
Constituição, quando pelo processo de irradiação do Di-
reito Constitucional e dos Princípios contidos na Cons-
tituição aos demais ramos do direito, ao que se chama
constitucionalização do Direito.
95 Idem.
70
Herm. Constitucionais 1.indd 70 26/01/17 12:17
Este processo de co-participação do juiz na criação
do Direito ocorre durante o processo de elaboração da
sentença, em que alguns autores lhe conferem a função
de completar o trabalho do legislador. As normas gené-
ricas e cláusulas gerais, como já mencionadas, requerem
uma atuação mais veemente do juiz, portanto, pode-se
compreender o ativismo judicial como a “participação
mais ampla e intensa do Judiciário na concretização dos
valores e fins constitucionais, com maior interferência no
espaço de atuação dos outros dois Poderes”.96
Barroso ainda afirma que o ativismo judicial se ma-
nifesta por meio de outras condutas, além das menciona-
das97. Esta atividade rompe com a clássica separação de
poderes elaborada pelo iluminista francês Montesquieu,
que costumeiramente é anunciada como pilar dos Esta-
dos Democráticos de Direito modernos.
Muito se discute sobre a ampliação dos poderes dos
magistrados, os quais, em nome da busca da concreti-
zação de direitos fundamentais violados, ou em que se
vêem negados sua efetivação, revolucionam a prática ju-
risprudencial tradicional, por meio de decisões altamente
politizadas e criadoras do direito, e teriam a pretensão de
substituir os poderes políticos quanto a efetivação de po-
líticas públicas.
96 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Demo-
crática. Revista OAB: p. 6. Disponível em: <http://www.oab.org.br/editora/revista/
users/revista/12350 66670174218181901.pdf>. Acesso em: 10/11/2016.
97 Como por exemplo: “a) a aplicação direta da Constituição a situações não ex-
pressamente previstas em seu texto e independentemente de manifestação do
legislador ordinário; b) a declaração de inconstitucionalidade de atos normativos
emanados do legislador, com base em critérios menos rígidos que os de patente
e ostensiva violação da Constituição; c) a imposição de condutas ou de absten-
ções ao Poder Público, notadamente em matéria de políticas públicas.” (Idem,
Ibidem).
71
Herm. Constitucionais 1.indd 71 26/01/17 12:17
Tais direitos são reclamados perante o judiciário es-
pecialmente em virtude de sua inefetividade por parte
dos órgãos políticos que, de quando em vez, se omitem
quanto a suas obrigações de realizá-los minimamente,
resultando em pronunciamentos jurisdicionais que se re-
vestem de caráter criador do direito por meio da jurispru-
dência. Essa prática conhecidamente denominada ‘ativis-
mo judicial’, cuja conceituação está longe de habitar em
consenso, tem sua definição apresentada na doutrina em
diversos tons.
A expressão Judicial Activism adveio a partir de um
artigo publicado em 1947 pelo jornalista estadunidense
Arthur Schlesinger Jr, na revista Fortune, cujo texto refle-
tia a atuação da Suprema Corte do seu país em relação ao
controle de constitucionalidade das leis do New Deal do
Presidente Roosevelt. De acordo com a matéria veiculada
no periódico, existia dois grupos de juízes: os ativistas e
os que apregoavam a autocontenção judicial.98
O ativismo emerge no novo cenário jurídico, usual-
mente caracterizado pela postura proativa do judiciário
no modo de interpretar e julgar as normas quando da
aplicação do direito, imiscuindo-se significativamente
nas opções políticas dos demais poderes. Luiz Roberto
Barroso indica que o ativismo judicial “é uma atitude, a
escolha de um modo específico e proativo de interpretar
a Constituição, expandindo o seu sentido e alcance”. 99
98 LEAL, Saul Tourinho. Ativismo ou Altivez? O outro lado do Supremo Tribunal Fede-
ral. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2010, p. 24 e 32.
99 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, Ativismo e Legitimação Democrática.
Revista OAB: p. 6. Disponível em: <http://www.oab.org.br/editora/revista/users/
revista/12350666701742 18181901.pdf>. Acesso: 10/11/2016.
72
Herm. Constitucionais 1.indd 72 26/01/17 12:17
Todavia, esse novo modo de interpretar vem causan-
do calorosas discussões acerca do tema, relativamente a
suposta invasão dos limites fronteiriços que delimitam as
funções jurisdicionais, representando uma violação à se-
paração dos poderes. Essa ultrapassagem dos poderes do
judiciário estaria invadindo indevidamente competên-
cias de outros entes estatais.100
O fundamento principal das críticas lançadas sobre
o ativismo judicial, diz respeito exatamente a essa incur-
são do judiciário em funções típicas que foram atribuídas
pelo texto constitucional a outros poderes da república,
o que violaria de morte a clássica tripartição sugerida na
teoria de Montesquieu, como já mencionado. Isto por-
que, conforme leciona Daniel Sarmento, essa intromis-
são injustificada do Poder Judiciário no domínio dos
outros Poderes Estatais, seria tida como uma conduta
antirrepublicana.101
Assim, pela vertente criticista o ativismo revela um
judiciário que estaria a agir além dos poderes que lhe são
conferidos pela ordem constitucional. Mas esse limite
constitucional para a atuação do magistrado poderia ser
imposto de forma absolutamente inflexível, quando o
judiciário é chamado a solucionar questões relacionadas
100 Elival Ramos pondera que: “ao se fazer menção ao ativismo judicial, o que se está
a referir é a ultrapassagem das linhas demarcatórias da função jurisdicional, em
detrimento principalmente da função legislativa, mas, também, da função admi-
nistrativa e, até mesmo, da função de governo. Não se trata do exercício desabri-
do da legiferação (ou de outra função não jurisdicional), que, aliás, em circuns-
tâncias bem delimitadas, pode vir a ser deferido pela própria Constituição aos
órgãos superiores do aparelho judiciário, e sim da descaracterização da função
típica do Poder Judiciário, com incursão insidiosa sobre o núcleo essencial de fun-
ções constitucionalmente atribuídas a outros poderes.” In: RAMOS, Elival da Silva.
Ativismo Judicial: parâmetros dogmáticos. São Paulo: Saraiva, 2010, p.116-117.
101 SARMENTO, Daniel. O Neo-constitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades.
São Paulo: Fórum, 2007, p. 1-27.
73
Herm. Constitucionais 1.indd 73 26/01/17 12:17
a inefetividade de direitos fundamentais pelos poderes
políticos?
Ambas perspectivas lançadas acima são importantes
na análise do ativismo judicial. Neste trabalho, focou-se
na efetividade dos direitos fundamentais, sem adentrar
na perspectiva teórico-constitucional da separação de
poderes, para analisar o ativismo judicial diante da im-
portância da efetivação de direitos fundamentais muitas
vezes negligenciados pelo Estado.
A efetivação de direitos e garantias fundamentais por
meio das decisões judiciais
Como já foi visto, no no item anterior, no neocons-
titucionalismo houve uma ruptura com a tradicional di-
visão de poderes faz parte da nova perspectiva constitu-
cional ou do neoconstitucionalismo. Ainda que não haja
unanimidade na doutrina, há que se lembrar a impor-
tância da efetivação dos direitos fundamentais diante de
uma omissão do Estado, por exemplo. E ainda, a eficácia
imediata de tais direitos, assim como a Supremacia da
Constituição, que justificam uma demanda judicial para
seu cumprimento pela omissão na efetivação de direitos
fundamentais.
Não é foco deste trabalho discutir o embate teóri-
co entre Constitucionalismo e Democracia, mas faz-se
relevante mencionar que em casos de direitos sociais
ou direitos de minorias, ambos de natureza de direito
fundamental, inúmeras vezes são violados pelo próprio
Estado, ou por uma política que desconsidera-os como
importantes, ou por negligência, trazendo a importância
74
Herm. Constitucionais 1.indd 74 26/01/17 12:17
do magistrado na defesa da Constituição e dos Direitos
Fundamentais.
O Ministro Celso de Mello, durante a posse do Min.
Gilmar Mendes na Presidência do STF, falou sobre o
ativismo judicial, efetuado em momentos excepcionais,
tende a tornar-se uma necessidade institucional.102
Por outro lado, Malmelstein103 explica que o confli-
to entre o princípio da máxima efetividade dos direitos
fundamentais e os princípios da separação dos poderes e
da democracia representativa (que pressupõe que as de-
cisões políticas sejam tomadas por representantes eleitos
pelo povo).104
102 “Quando os órgãos do Poder Público se omitem ou retardam, excessivamente,
o cumprimento de obrigações a que estão sujeitos por expressa determinação
do próprio estatuto constitucional, ainda mais se tiver presente que o Poder Ju-
diciário, tratando-se de comportamentosestatais ofensivos à Constituição, não
pode se reduzir a uma posição de pura passividade” (23.04.2008).
103 MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos Fundamentais. 4a ed. São Paulo: Atlas
S.A, 2013.
104 “A tradição ensina que em nome da segurança jurídica e da preservação das li-
berdades contra o arbítrio, os magistrados deveriam se abster de (em uma fór-
mula antiga) ‘consultar o espírito das leis’; ou (para falar de maneira mais atual)
de promover interpretações evolutivas do direito positivo. (...) por uma questão
de legitimidade política, a inovação na ordem jurídica deveria ser exclusiva atri-
buição dos representantes eleitos, competentes para criar, modificar ou renovar
normas gerais. (...) as inovações promovidas pelo Judiciário exporiam o ordena-
mento jurídico a uma torrente de opiniões pessoais, que, assim, obstariam a uni-
forme proteção das liberdades, com grave elevação da insegurança jurídica. As
inovações promovidas por juízes- pior ainda - não estariam sujeitas aos mesmos
controles democráticos, visto que não são alcançadas pelas mesmas formas de
responsabilização política que constrangem tanto o Legislativo quanto o Execu-
tivo.” In: STRAPAZZON, Carlos Luiz. Responsabilidade judicial e interpretação dos
direitos sociais- um programa de revisão da teoria democrática da jurisdição à
luz das exigências dos direitos constitucionais do trabalho e da seguridade social.
In: BAEZ, Narciso Leandro Xavier; LEAL,Rogério Gesta; Mezzaroba, Orides. Dimen-
sões materiais e eficácias dos direitos fundamentais. São Paulo: Conceito edito-
rial, 2010. “A importância da Constituição – e do Judiciário como seu intérprete
maior – não pode suprimir, por evidente, a política, o governo da maioria, nem o
papel do Legislativo. A Constituição não pode ser ubíqua. Observados os valores
e fins constitucionais, cabe à lei, votada pelo parlamento e sancionada pelo Pre-
75
Herm. Constitucionais 1.indd 75 26/01/17 12:17
No que tange à jurisprudência acerca do assunto,
vale citar ecisão proferida através do Rel. Min. Celso de
Mello, em 23.08.2011 105, e outra proferida pelo Rel. Min.
Celso de Mello, na ADI 1.484/DF, que trata da inércia do
Estado em executar prerrogativas constitucionais.106
sidente, fazer as escolhas entre as diferentes visões alternativas que caracterizam
as sociedades pluralistas. Por essa razão, o STF deve ser deferente para com as
deliberações do Congresso. Com exceção do que seja essencial para preservar a
democracia e os direitos fundamentais, em relação a tudo mais, os protagonistas
da vida política, devem ser os que têm votos. Juízes e tribunais não podem pre-
sumir demais de si próprios – como ninguém deve, aliás, nessa vida – impondo
suas escolhas, suas preferências, sua vontade. Só atuam, legitimamente, quando
sejamcapazes de fundamentar racionalmente suas decisões, com base na Consti-
tuição.”. In: BARROSO, Luís Roberto. Op. cit, 2012).
105 CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE - ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-
-ESCOLA – (...) EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO
TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV, NA REDAÇÃO DADA PELA EC No
53/2006)- COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCA-
ÇÃO - DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, NOTA-
DAMENTE AO MUNICÍPIO (CF, ART. 211, § 2o)- LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL
DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM CASO DE OMISSÃO ESTATAL NA
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO –(...)
- Embora inquestionável que resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e
Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se pos-
sível, no entanto, ao Poder Judiciário, ainda que em bases excepcionais, deter-
minar, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria
Constituição, sejam estas implementadas, sempre que os órgãos estatais compe-
tentes, por descumprirem os encargos político- -jurídicos que sobre eles incidem
em caráter impositivo, vierem a comprometer, com a sua omissão, a eficácia e a
integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucio-
nal. DESCUMPRIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEFINIDAS EM SEDE CONSTITU-
CIONAL: HIPÓTESE LEGITIMADORA DE INTERVENÇÃO JURISDICIONAL. - O Poder
Público - quando se abstém de cumprir, total ou parcialmente, o dever de imple-
mentar políticas públicas
106 “A inércia estatal em adimplir as imposições constitucionais traduz inaceitável
gesto de desprezo pela autoridade da Constituição e configura, por isso mesmo,
comportamento que deve ser evitado. É que nada se revela mais nocivo, perigoso
e ilegítimo do que elaborar uma Constituição, sem a vontade de fazê-la cumprir
integralmente, ou, então, de apenas executá-la com o propósito subalterno de
torná-la aplicável somente nos pontos que se mostrarem ajustados à conveniên-
cia e aos desígnios dos governantes, em detrimento dos interesses maiores dos
cidadãos. - A intervenção do Poder Judiciário, em tema de implementação de
políticas governamentais previstas e determinadas no texto constitucional, no-
tadamente na área da educação infantil (RTJ 199/1219-1220), objetiva neutralizar
76
Herm. Constitucionais 1.indd 76 26/01/17 12:17
Conclusão
Este trabalho foi elaborado por meio de pesquisa
bibliográfica e documental com o objetivo de estudar o
papel do juiz diante da efetivação dos direitos fundamen-
tais. Para isto, fez o percurso histórico da doutrina cons-
titucional do positivismo ao pós-positivismo, explicando
em cada momento do direito as características da inter-
pretação constitucional e o papel do juiz.
Restou claro que o juiz mudou seu papel de “boca da
lei” ou de promover a subsunção do fato à norma, para
atuar como co-partícipe na criação do direito, com a fun-
ção de complementar o trabalho do legislador, nos casos
onde as normas genéricas estiverem presentes.
Por outro lado, observou-se também o papel do juiz
no cumprimento das normas constitucionais,em virtude
da omissão do Estado diantes destas, que, por sua vez,
possuem eficácia imediata, e são mais urgentes na pon-
deração com demais princípios, como separação de po-
deres, por exemplo.
Viu-se, portanto, que o ativismo ao provocar tensão
entre o Poder Judiciário e os demais poderes, acaba por co-
locar em acirrado debate o clássico primado da separação
dos poderes (limitador central da atuação do magistrado).
Em que pese as discussões favoráveis ou condenado-
ras dessa nova atividade judicial, insta notar que o acesso
ao judiciário constitui uma das garantias constitucionais,
sendo defeso excluir da apreciação deste Poder qualquer
lesão ou ameaça a direito (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88),
os efeitos lesivos e perversos, que, provocados pela omissão estatal, nada mais
traduzem senão inaceitável insulto a direitos básicos que a própria Constituição
da República assegura à generalidade das pessoas”.
77
Herm. Constitucionais 1.indd 77 26/01/17 12:17
sendo evidente que o julgador deve entregar a tutela ju-
risdicional do direito tutelado, devendo cuidar para que
não haja uma exacerbação quanto aos limites de sua atua-
ção, posto que fundamentadas deverão suas decisões, nos
termos do inciso IX, do art. 93, da Constituição (ou seja,
algum suporte no ordenamento jurídico deve haver na
decisão, mesmo que revestida de ativismo.
Referências
BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucio-
nal Contemporâneo. 3a ed. São Paulo Saraiva: 2012.
_____. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade
Democrática. Revista OAB: p. 6. Disponível em: <http://
www.oab.org.br/editora/revista/users /revista/12350
66670174218181901.pdf>. Acesso em: 10/11/2016
CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento Sistemático e
Conceito de Sistema na Ciência do Direito. 4. ed. Lisboa:
Fundação Calouste Gulbenkan, 2008.
KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Trad. João Bap-
tista Machado. 6a. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
LEAL, Saul Tourinho. Ativismo ou Altivez? O outro lado
do Supremo Tribunal Federal. Belo Horizonte: Editora
Fórum, 2010, p. 24 e 32.
MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos Fundamen-
tais. 4a ed. São Paulo: Atlas S.A, 2013.
78
Herm. Constitucionais 1.indd 78 26/01/17 12:17
MOREIRA, Eduardo Ribeiro. Neoconstitucionalismo e
Teoria da Interpretação. Neoconstitucionalismo. Obra
coordenada por Regina Quaresma, Maria Lúcia de Paula
Oliveira e Farlei Martins Riccio de Oliveira. Editora Fo-
rense. Rio de Janeiro. 1ª Ed.. 2009.
RAMOS, Elival da Silva. Ativismo Judicial: parâmetros
dogmáticos. São Paulo: Saraiva, 2010, p.116-117.
SARMENTO, Daniel. O Neo-constitucionalismo no Bra-
sil: riscos e possibilidades. São Paulo: Fórum, 2007, p.
1-27.
STRAPAZZON, Carlos Luiz. Responsabilidade judicial e
interpretação dos direitos sociais- um programa de re-
visão da teoria democrática da jurisdição à luz das exi-
gências dos direitos constitucionais do trabalho e da
seguridade social. In: BAEZ, Narciso Leandro Xavier;
LEAL,Rogério Gesta; Mezzaroba, Orides. Dimensões ma-
teriais e eficácias dos direitos fundamentais. São Paulo:
Conceito editorial, 2010.
79
Herm. Constitucionais 1.indd 79 26/01/17 12:17
80
Herm. Constitucionais 1.indd 80 26/01/17 12:17
Lacuna no direito: a equidade como instrumento de
integração no ordenamento jurídico brasileiro
Eduardo Terço Falcão107
Introdução
Ao conjunto de normas que regulam a conduta dos
indivíduos de uma sociedade dá-se o nome de ordena-
mento jurídico, sendo a lei a principal fonte.
Ao se elaborar um ordenamento jurídico busca-se a
completude, ou seja, criá-lo de forma que exista para cada
caso concreto norma reguladora.
Porém, nem sempre o legislador consegue prever
todas as situações, surgindo o que a doutrina chama de
lacunas, isto é, ausência de norma reguladora, e mesmo
assim o magistrado não pode ser furtar a dizer o direito.
É a proibição do non liquet.
Percebe-se que legislador pátrio admite que o sis-
tema jurídico brasileiro é passível de lacuna, visto que
foram fornecidas as formas de integração. É que o art.
4º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro
(Decreto-Lei nº 4.657/42) prescreve que “quando a lei for
omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia,
os costumes e os princípios gerais de Direito”.
Porém, não há expressa menção à “equidade” como
forma de integração da lacuna. Contudo, o artigo 5º dessa
mesma lei dispõe que “o juiz atenderá aos fins sociais a
que ela se dirige e às exigências do bem comum”, poden-
107 Mestrando em Direito Ambiental pela Universidade Estadual do Amazonas. Pro-
curador da Câmara Municipal de Manaus.
81
Herm. Constitucionais 1.indd 81 26/01/17 12:17
do ser isso entendido como recurso à equidade no preen-
chimento de eventual lacuna.
Inobstante a falta de menção à equidade na Lei de
Introdução, legislações infraconstitucionais fazem men-
ção a ela, bem como decisões de tribunais brasileiros.
Dessa forma, o presente artigo tem por escopo anali-
sar como a doutrina trata da lacuna das normas jurídicas,
bem como sua integração, e mais especificamente como o
ordenamento jurídico brasileiro utiliza a equidade como
forma de integração.
O Ordenamento Jurídico
Norma e Ordenamento Jurídico
De início, faz-se necessário discutir o que vem a ser
norma e ordenamento jurídico. Norberto Bobbio faz as
seguintes considerações para ordenamento jurídico e
norma jurídica:
Ordenamento jurídico são as normas jurídicas que
nunca existem isoladamente, mas sempre em um
contexto de normas com relações particulares entre
si. Esse contexto de normas costuma ser chamando
de ordenamento. (...). O Direito não é norma, mas
um conjunto coordenado de normas, sendo evidente
que uma norma jurídica não se encontra jamais só,
mas está ligada a outras normas com as quais forma
um sistema normativo. (...). Norma jurídica é aque-
la norma cuja execução é garantida por uma sanção
externa e institucionalizada (BOBBIO, ano 1999, p.
19-27).
82
Herm. Constitucionais 1.indd 82 26/01/17 12:17
Então, ordenamento jurídico é o conjunto das nor-
mas jurídicas que regulam a conduta dos indivíduos em
sociedade. São, portanto, regras e princípios espécies do
gênero norma jurídica.
Já as leis são, em sentido amplo, generalidade e abs-
tração, ou seja, o ato emanado pelo legislador aplicável a
todos de forma geral. Abstrata porque é uma proposição
vinculativa a casos fáticos, concretos.
Sendo a lei produto da atividade do legislador, é pre-
sente a questão acerca da possibilidade de falha na pre-
visão legal de todos os comportamentos que poderão
aparecer na realidade. Segundo Tércio Sampaio Ferraz
Junior:
A concepção do ordenamento como sistema dinâmi-
co envolve, por fim, o problema de saber se este tem
a propriedade peculiar de qualificar normativamen-
te todos os comportamentos possíveis ou se, even-
tualmente, podem ocorrer condutas para as quais o
ordenamento não oferece qualificação. (...) Trata-se
da questão da completude (ou incompletude) dos sis-
temas normativos também conhecida como proble-
ma das lacunas do ordenamento (FERRAZ JUNIOR,
2003, p. 218).
Disso surge a questão referente à lacuna no Direito:
considerando-se o sistema completo, não se admitirá a
existência de lacuna. Porém, considerando-o incomple-
to, deverão ser observadas eventuais omissões legislati-
vas, bem como os mecanismos de soluções para o caso
concreto.
83
Herm. Constitucionais 1.indd 83 26/01/17 12:17
A completude e a incompletude do ordenamento jurídico
Um ordenamento jurídico é completo quando o juiz
pode encontrar nele uma norma para regular qualquer
caso que se apresente.
Incompletude consiste no fato de que o sistema não
compreende nem a norma que proíbe um certo compor-
tamento nem a norma que o permite. É a lacuna.
Maria Helena Diniz, citando Karl Engisch disserta
que “lacuna é uma imperfeição insatisfatória dentro de
uma totalidade jurídica”; logo, na sua concepção a lacuna
representa uma “falha” ou uma “deficiência” do sistema
jurídico, revelando o intrínseco caráter relacional entre
“lacuna” e “sistema” (ENGISCH apud DINIZ, 1999, p. 69).
Observa-se, portando, uma imperfeição do sistema.
O perfeito é aquilo que está feito e completo dentro de
um determinado limite, ou seja, é algo que ocorre dentro
de um limite.
Dessa forma, a imperfeição é algo não acabado, algo
que não foi concluído dentro de um limite. Há lacuna
no sistema de normas se há um dado que não pode ser
regulado, sendo que a palavra “lacuna” implica ideia de
incompletude.
Para Bobbio, “completude é a propriedade pela qual
um ordenamento jurídico tem uma norma para regular
qualquer caso, e lacuna é a falta de uma norma. Logo
completude é a falta de lacuna.” (op. cit. p. 115).
Incoerente é um sistema no qual existem tanto a nor-
ma que proíbe um certo comportamento quanto aquela
que o permite (antinomia). Já incompleto é um sistema
no qual não existem nem a norma que proíbe um certo
comportamento nem aquela que o permite.
84
Herm. Constitucionais 1.indd 84 26/01/17 12:17
A Coerência é uma exigência, mas não uma necessi-
dade. Um ordenamento pode tolerar normas incompatí-
veis sem desmoronar-se.
A Completude é algo mais que uma exigência, é uma
necessidade, quer dizer, é uma condição necessária para
o funcionamento do sistema, valendo essas duas regras:
1) o juiz é obrigado a julgar todas as controvérsias que se
apresentarem ao seu exame;
2) deve julgá-las com base em uma norma pertencente ao
sistema.
Se uma dessas duas regras perder o efeito, a comple-
tude deixará de ser considerada como um requisito do
ordenamento.
No caso de um ordenamento em que faltasse a pri-
meira regra, o juiz não teria que julgar todas as contro-
vérsias que lhe fossem apresentadas: poderia pura e sim-
plesmente repelir o caso como juridicamente irrelevante,
como um juízo de non liquet (não convém).
Num caso de ordenamento no qual faltasse a segun-
da regra, o juiz seria, sim, levado a julgar cada caso, mas
não seria obrigado a julgá-lo baseado em uma norma do
sistema. É o caso do ordenamento que autoriza o juiz a
julgar, na falta de um dispositivo de lei segundo a equida-
de. É como se o juiz fosse legislador. Dá pra entender que
num ordenamento onde o juiz está autorizado a julgar
segundo a equidade, não tem nenhuma importância que
o ordenamento seja preventivamente completo, porque é
a cada momento completável.
85
Herm. Constitucionais 1.indd 85 26/01/17 12:17
As Lacunas Ideológicas
Lacunas no ordenamento jurídico ou incompletude
do ordenamento jurídico não se referem à falta de norma
a ser aplicada, mas à falta de critérios válidos para decidir
qual norma deve ser aplicada.
Outro sentido de lacuna também diz respeito não
de uma solução, qualquer que seja ela, mas de uma solu-
ção satisfatória. Não à falta de uma norma, mas à falta de
uma norma justa, isto é, de uma norma que se desejaria
que existisse, mas que não existe.
Lacunas “ideológicas” surgem da comparação entre
o ordenamento jurídico como ele é e como deveria ser.
Também conhecida como de iure condendo (de direito a
ser estabelecido).
Lacunas “reais” se encontram no ordenamento jurí-
dico como ele é. Também conhecida como de iure condito
(de direito já estabelecido).
Existem lacunas ideológicas em cada sistema jurí-
dico. Nenhum ordenamento jurídico positivo é perfeito.
Somente o ordenamento jurídico natural não deveria ter
lacunas ideológicas. Aliás, uma definição do direito natu-
ral é aquele que o classifica como um direito sem lacunas
ideológicas.
Mas, segundo Bobbio, “um sistema de direito natural
nunca ninguém formulou.”. (op. cit. p. 140).
No direito positivo, que é o sistema que mais inte-
ressa aos aplicadores do direito, as lacunas a se preocupar
não são as ideológicas, mas as reais.
Quando os juristas sustentam que o ordenamento
jurídico é completo, isto é, não tem lacunas, eles estão se
referindo à lacunas reais e não às ideológicas.
86
Herm. Constitucionais 1.indd 86 26/01/17 12:17
Quem procurou colocar em relevo os dois planos do
problema das lacunas de iure condendo e de iure conden-
do, foi Brunetti, junto com Romano e Donatti, citado por
Bobbio, que pode ser assim resumido:
1) o problema de o ordenamento jurídico, considerado
em si próprio, ser completo ou incompleto: o problema
assim colocado não tem sentido;
2) o problema de ser completo ou incompleto o orde-
namento jurídico, comparado a um ordenamento jurí-
dico ideal: o problema tem sentido, mas por se tratar de
lacuna ideológica não interessa aos juristas;
3) o problema de ser completo ou incompleto o orde-
namento legislativo confrontado com um todo como o
ordenamento jurídico: esse problema tem sentido e é o
único em que se pode falar de lacunas no sentido próprio
da palavra (BRUNETTI, ROMANO e DONATTI, apud,
op. cit., 1999, p.142-143).
Na realidade pode ser enquadrado na categoria das
lacunas ideológicas, isto é, na oposição entre aquilo que
a lei diz e aquilo que deveria dizer para ser perfeitamente
adequada ao espírito de todo o sistema.
Portanto, para Brunetti, o problema da completude
é um problema sem sentido, sendo que as únicas lacunas
das quais se pode mostrar a existência são as ideológicas.
87
Herm. Constitucionais 1.indd 87 26/01/17 12:17
Vários tipos de Lacunas
Pelos tratados gerais, as lacunas podem ser próprias
e impróprias. Lacuna própria (ou Lacuna real) é uma la-
cuna do sistema ou dentro do sistema. Lacuna imprópria
(ou Lacuna ideológica) deriva da comparação do sistema
real com o sistema ideal.
Observa-se a lacuna própria onde, ao lado da norma
geral exclusiva, existe também a norma geral inclusiva,
e o caso não regulamentado pode ser encaixado tanto
numa quanto na outra.
O que tem em comum entre esses dois tipos de la-
cuna é que designam um caso não regulamentado pelas
leis vigentes num certo ordenamento jurídico. E o que as
diferenciam é a forma pela qual podem ser eliminadas as
lacunas, ou seja, a lacuna imprópria somente com a for-
mulação de novas normas, e a própria, mediante as leis
vigentes.
As lacunas impróprias são completáveis somente pelo
legislador, enquanto as lacunas próprias, pelo próprio in-
térprete. Quando se diz que um sistema está incompleto,
isso se refere às lacunas próprias, e não às impróprias.
A questão da completude do ordenamento jurídico
é se há e como podem ser eliminadas as lacunas próprias.
Quanto aos motivos que as provocaram, as lacunas
podem ser distinguidas em lacunas subjetivas e objetivas.
Lacunas subjetivas são aquelas que dependem do legis-
lador enquanto as objetivas independem da vontade do
legislador.
Por seu turno, as lacunas subjetivas podem ainda ser
divididas em voluntárias e involuntárias. Involuntárias
são as resultantes de um descuido do legislador, enquan-
88
Herm. Constitucionais 1.indd 88 26/01/17 12:17
to que as voluntárias são aquelas que o legislador deixa de
propósito, confiando na interpretação do juiz, ou seja, a
integração do vazio é confiada ao poder criativo do apli-
cador da norma.
Pode-se dizer que onde age esse poder criativo, o sis-
tema estará sempre completo, porque em cada circuns-
tância é completável, e, portanto, o problema da comple-
tude ou incompletude nem se apresenta.
Outra distinção é entre lacunas praeter legem e lacu-
nas intra legem. Praeter legem quando as regras, por serem
muito particulares, não compreendem todos os casos que
podem apresentar-se. Intra legem quando as normas são
muito gerais e revelam vazios ou buracos que caberá ao
intérprete preencher.
Heterointegração e Auto-Integração
A heterointegração consiste na integração operada
através do recurso à a) ordenamentos diversos; e, b) fon-
tes diversas daquela que é dominante.
Para o caso de heterointegração operada através de
recurso à ordenamentos diversos, pode-se exemplificar
com aquela situação onde o juiz, no caso de lacuna do
Direito positivo, recorra ao Direito natural, visto que este
era imaginado como um sistema jurídico perfeito, sobre
o qual repousava o ordenamento positivo, por natureza
imperfeito.
Pode ocorrer que um dado ordenamento recorra a
outros ordenamentos positivos para operar a própria in-
tegração, observando-se assim o a) o reenvio a ordena-
89
Herm. Constitucionais 1.indd 89 26/01/17 12:17
mentos anteriores no tempo; e, b) reenvio a ordenamen-
tos vigentes contemporâneos.
Para o caso de recurso às fontes diversas daquela que
é dominante (e considerando o ordenamento cuja fon-
te predominante é a Lei), a heterointegração assume três
formas: a) recurso ao costume, considerado como fonte
subsidiária da Lei, também conhecido como consuetu-
do praeter legem; b) recurso ao Direito judiciário, que é o
método mais importante de heterointegração que utiliza
o poder criativo do juiz; e, c) recurso ao Direito científi-
co que é o recurso às opiniões dos juristas que em deter-
minadas circunstâncias seria considerada autoridade de
fonte de Direito.
Já a auto-integração consiste na integração operada
através do recurso ao mesmo ordenamento e mesma fon-
te dominante, sem recorrência a outros ordenamentos.
Integração das Normas no Ordenamento Jurídico
Brasileiro
No Ordenamento Jurídico Brasileiro, as formas de
preenchimento das lacunas estão dispostas no art. 4º da
Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Dec-
-Lei nº 4.657 de 04 de setembro de 1942)108.
Pelo que ficou anteriormente dissertado, pode-se
dizer que integrar uma norma é colmatá-la, ou seja, é
preencher eventuais vazios, e o art. 4º proíbe o non liquet.
108 Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os
costumes e os princípios gerais de direito.
90
Herm. Constitucionais 1.indd 90 26/01/17 12:17
Isso significa que o juiz não pode eximir-se do dever de
julgar alegando desconhecimento109 ou a lacuna da lei.
Portanto, quando a lei for omissa, o juiz decidirá
preenchendo as lacunas, integrando a norma. A integra-
ção é uma atividade de preenchimento de lacunas. E essa
integração da norma se dá na forma do art. 4º, da Lei de
Introdução às normas do Direito Brasileiro: analogia,
costumes e princípios gerais.
O juiz não pode deixar de julgar alegando desconhe-
cimento da lei. Ele não pode dizer que não conhece a lei
porque pressupõe-se que ele conhece todas as leis, com
exceção das hipóteses do Art. 376, do CPC.
Também não pode o juiz deixar de julgar alegando a
ausência, a falta de lei porque quando não houver lei, ele
deve julgar com base na analogia, nos costumes e princí-
pios gerais de direito.
A Analogia
É a integração da lei pela comparação, ou seja, quan-
do o juiz preenche um vazio comparando uma situação
com omissão legislativa com outra situação próxima, pa-
recida, que está tratada em lei.
Bobbio entende que é um tipo de método de inte-
gração “pelo qual se atribui a um caso não regulamentado
109 O art. 376 do CPC estabelece exceções à regra de presunção de que o juiz conhece
todas as leis: “Art. 376. A parte, que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro
ou consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar.”
Nessas quatro hipóteses, o juiz não está obrigado a conhecer a lei. Quando o art.
376 alude a direito estadual e direito municipal, pressupõe-se que seja de um mu-
nicípio ou de um estado em que ele não tenha jurisdição.
91
Herm. Constitucionais 1.indd 91 26/01/17 12:17
a mesma disciplina que a um caso regulamentado seme-
lhante” (op. cit., p. 151).
Porém, é preciso ressaltar que entre os casos seme-
lhantes a semelhança não seja qualquer semelhança, mas
uma semelhança relevante, ou seja, uma qualidade co-
mum e que seja ao mesmo tempo a razão suficiente pela
qual ao caso regulamentado foram atribuídas aquelas e
não outras consequências.
O uso da analogia no direito penal e no direito tribu-
tário somente é possível in bonam partem.
Exemplo de analogia é o previsto no Art. 499, do
Código Civil, que trata licitude do contrato de compra
e venda entre cônjuges, com relação a bens excluídos da
comunhão110.
O dispositivo trata de cônjuges, mas não de com-
panheiros. Ou seja, há uma omissão, mas o juiz tem que
decidir sobre se é válida ou não a compra e venda entre
companheiros. Na ausência da lei ele se vale da analogia
em primeiro lugar. Se é lícita a compra e venda entre côn-
juges na constância do casamento, também é lícita a com-
pra e venda entre companheiros na constância da união
estável, desde que relativa a bens excluídos da comunhão.
A doutrina ainda costuma:
distinguir a analogia propriamente dita, conhecida
também pelo nome de analogia legis, seja da analogia
iuris, seja da interpretação extensiva. É curioso o fato
de que a analogia iuris, não obstante a identidade do
nome, não tem nada a ver com um raciocínio por
analogia, enquanto a interpretação extensiva, não
110 Art. 499. É lícita a compra e venda entre cônjuges, com relação a bens excluídos da
comunhão.
92
Herm. Constitucionais 1.indd 92 26/01/17 12:17
obstante a diversidade do nome, é um caso de apli-
cação do raciocínio por analogia. Por analogia iuris
entende-se o procedimento através do qual se tira
uma nova regra para um caso imprevisto não mais da
regra que se refere a um caso singular, como aconte-
ce com a analogia legis, mas de todo o sistema ou de
parte dele; esse procedimento não é nada diferente
daquele que se emprega no recurso aos princípios
gerais do direito. Quanto à interpretação extensiva,
é opinião comum, mesmo que às vezes contestada,
que esta seja algo de diferente da analogia propria-
mente dita (op. cit., p. 154-155).
Assim, a analogia pode ser analogia legis que se dá
quando o juiz compara uma situação fática não prevista
em lei com uma outra situação que está especificamente
prevista em lei; e a analogia legis que se dá quando o juiz
não compara com um dispositivo de lei específico, mas
com o sistema jurídico como um todo, com os princípios,
enfim.
Enquanto na interpretação extensiva se elastece o
sentido da norma para a própria situação criada, na Ana-
logia se elastece o sentido da norma para alcançar uma
outra situação que não foi aquela originariamente pre-
vista. Logo, não há que se confundir analogia com inter-
pretação extensiva.
Costumes
Os costumes são os usos reiterados de um lugar.
Dessa forma, pelo art. 4º, da Lei de Introdução às normas
do Direito Brasileiro, se o juiz não conseguir preencher a
93
Herm. Constitucionais 1.indd 93 26/01/17 12:17
lacuna pela analogia, ele deve preencher pelos costumes.
E integrando pelos costumes, ele vai fazê-lo de acordo
com os usos reiterados de um determinado lugar.
Os costumes podem ser secundum legem, contra le-
gem e praeter legem.
Costumes secundum legem ocorre quando a própria
lei manda aplicar os costumes. O próprio legislador man-
dou aplicar os costumes. Logo, os costumes secundum
legem constituem a própria aplicação da lei. Portanto, é
aplicação da lei.
Costumes contra legem é o uso de algum costume
contra legem é abuso de direito, portanto não permitido
no nosso ordenamento jurídico.
Costumes praeter legem é integração da norma. A lei
não previu o momento de usar o costume praeter legem.
Como o juiz não conseguiu decidir por analogia, ele se
vale dos costumes. Um exemplo bastante comum de uso
de costume praeter legem é o dano moral por cheque pré-
-datado depositado antes do prazo.
Problema a ser enfrentado é o fato de que se um cos-
tume for invocado, o juiz não terá como conhecê-lo de
ofício. A parte provar terá que trazer subsídios para que
aquele costume alegado em seu favor seja comprovado.
Princípios Gerais de Direito
Em não se conseguindo preencher o vazio usando
a analogia ou costumes, o magistrado poderá usar uma
cláusula geral, uma fórmula genérica, que permita uma
solução.
94
Herm. Constitucionais 1.indd 94 26/01/17 12:17
Entretanto, não se pode confundir princípios fun-
damentais de direito com os princípios gerais. Enquan-
to os princípios fundamentais têm força normativa, os
princípios gerais são método integrativo, mecanismo de
colmatação.
Em suma, quando no ordenamento jurídico brasilei-
ro a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com
a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.
Equidade
Excepcionalmente o ordenamento jurídico brasi-
leiro utiliza como mecanismo de integração da norma o
uso da equidade. Esta se origina do conceito de justiça
equitativa (não é justiça distributiva). Justiça distributi-
va é distribuir justiça, acesso à justiça, justiça social, etc.
Justiça equitativa é a ideia do bom, do justo, do reto. A
justiça equitativa dá ideia de justiça equilibrada.
Equidade é equilíbrio, ponderação, razoabilidade. O
uso da equidade pelo juiz deve se dar somente nos casos
em que a lei atribui a ele, juiz, o poder de decidir por equi-
dade. O juiz somente poderá decidir por equidade nos ca-
sos em que o próprio sistema lhe encarrega de fazê-lo,
nos casos em que o próprio sistema entrega a ele o uso
dessa equidade111.
111 A Consolidação das Leis do Trabalho, no art. 8º, dispõe que “as autoridades admi-
nistrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais,
decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e ou-
tros princípios e normas gerais do Direito, principalmente do Direito do Trabalho,
e, ainda, de acordo com os usos e costumes, o Direito comparado, mas sempre de
maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interes-
se público”. Também o artigo 108 do Código Tributário Nacional dispõe que “na
ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legisla-
95
Herm. Constitucionais 1.indd 95 26/01/17 12:17
Tanto o Superior Tribunal de Justiça112 quanto o Supre-
mo Tribunal Federal113 têm decidido com base na equidade.
ção tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada: I – a analogia; II – os
princípios gerais de direito tributário; III – os princípios gerais de direito público; IV
– a eqüidade”. Interessante observação é que “emprego da eqüidade não poderá
resultar na dispensa do pagamento de tributo devido (§ 2º)”.
112 PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART.
543-C, DO CPC. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS PARLAMENTARES IPC. EXTIN-
ÇÃO. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. DIREITO DOS ANTIGOS E ATUAIS CON-
GRESSISTAS. 1. O Direito Tributário contém regras de hermenêutica para as hi-
póteses de lacunas legais, determinando, em seu art. 108, verbis: Na ausência de
disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária
utilizará sucessivamente, na ordem indicada: I - a analogia; II - os princípios gerais
de direito tributário; III - os princípios gerais de direito público; IV - a equidade. §§
1º e 2º(...). 2. A Lei nº 9.506/97, ao extinguir o IPC e disciplinar o ressarcimento das
verbas a ele recolhidas a título de contribuição dos segurados, omitiu-se quanto
à situação dos ex-segurados não detentores do direito à pensão. 3. É princípio
basilar de direito público a isonomia, mercê cláusula pétrea, admitindo-se na
omissão da lei a analogia e a eqüidade. 4. À luz desses cânones, revela-se injusta
a interpretação literal dada à norma indigitada do art. 1º, § 5º, da Lei n. 9.506/97,
porquanto discrimina ex-congressistas em situações idênticas. 5. In casu, os au-
tores eram segurados obrigatórios do mencionado instituto e contribuíram para
o IPC, consoante dessume-se do seguinte excerto do voto condutor do acórdão
recorrido, litteris: “Os autores são ex-congressistas, conforme demonstram os do-
cumentos de fls. 51 e contribuíram para o Instituto de Previdência dos Congressis-
tas: Ana Júlia V. Carepa (01/02/95 a 31/12/1996), Gumercindo de Souza Milhomem
Neto (01/02/87 a 31/01/1991), Agostinho César Valente (01/02/1991 a 31/01/1995),
José Alberto Réus Fortunati (01/02/1991 a 31/12/1996), Roberto França Filho
(01/02/1991 a 31/01/1995), Edésio Franco Passos ( 01/02/1991 a 31/01/1995), José
Fritsch (01/02/1995 a 31/12/1996), Luis Soares Dulci (01/02/1983 a 31/01/1987) e
Valdir Ganzer (01/02/1991 a 31/01/1995).” 6. O direito dos contribuintes ao ressar-
cimento das contribuições recolhidas ao IPC funda-se precipuamente no princí-
pio básico do direito previdenciário da contraprestação, obstando o enriqueci-
mento sem causa. 7. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao regime
do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1122387/DF, Rel. Ministro
LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 10/09/2010).
113 Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
TRIBUTÁRIO. PROSSEGUIMENTO DE PROCESSO DE INVENTÁRIO. PENDÊNCIA DE
PAGAMENTO DE TRIBUTOS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGA-
DA OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. 1.
O prosseguimento de processo de inventário independentemente da pendência
de pagamento de tributos, quando sub judice a controvérsia, encerra análise de
normas infraconstitucionais. 2. A prestação jurisdicional resta configurada com
a prolação de decisão devidamente fundamentada, embora contrária aos inte-
resses da parte. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Se-
96
Herm. Constitucionais 1.indd 96 26/01/17 12:17
Portanto, a equidade é uma forma de integração da
norma, porém de uso excepcional no sistema brasileiro,
não se podendo, entretanto, ultrapassar os limites legais
impostos pelo legislador, para que sua utilização não se
torne instrumento do livre e desmedido arbítrio do juiz.
Deve ser utilizado apenas quando o ordenamento
jurídico não oferece alternativa na solução do litígio.
Conclusão
O ordenamento jurídico real é naturalmente lacuno-
so, visto que a incompletude é uma de suas característi-
cas. As lacunas são faltas ou falhas de regulamentação-ju-
rídico positiva para determinadas situações fáticas, que
admitem sua remoção por uma decisão judicial jurídico
integradora.
Em uma situação concreta na qual o ordenamento
jurídico não regula a situação (e diante da proibição do
non liquet), o magistrado poderá utilizar instrumentos in-
tegradores estabelecidos pelo próprio legislador, que im-
plicitamente reconhece o sistema como lacunoso diante
gunda Turma, DJe 4/6/2013. 3. In casu o acórdão extraordinariamente recorrido
assentou: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso tempestivo e e interesse recursal
que se afigura presente – Preliminares repelidas. INVENTÁRIO – Pretensão recur-
sal que almeja a determinação de prosseguimento do inventário, independente
da existência de pendências tributárias relativas ao IPTU incidente sobre os imó-
veis – inadmissibilidade – Necessidade de recolhimento dos tributos incidentes
sobre os imóveis – Inteligência do artigo 1.026 do CPC e do art. 192 do Código
Tributário Nacional – Emprego da equidade que não pode resultar na dispensa
do pagamento do tributo devido (§ 2º, do art. 108, do Código Tributário Nacional)
– Decisão mantida – Recurso conhecido e desprovido, revogado o efeito suspen-
sivo.” 4. Agravo regimental DESPROVIDO. (ARE 729783 AgR, Relator(a): Min. LUIZ
FUX, Primeira Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161
DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-08-2014).
97
Herm. Constitucionais 1.indd 97 26/01/17 12:17
da impossibilidade da previsão de todos os casos que po-
derão surgir no plano concreto. O art. 4º da Lei de In-
trodução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº
4.657/42) fornece as seguintes soluções: a analogia, costu-
mes e princípios gerais de Direito.
Ocorre que esses instrumentos nem sempre são su-
ficientes para a solução de todas as questões levadas a juí-
zo, de forma que nem sempre se garante decisão justa,
ou adequada ao caso concreto. Surge, portanto, a necessi-
dade de se recorrer a meios hetero-integradores, ou seja,
a recursos estranhos ao ordenamento jurídico responsá-
veis pela correção da justiça legal no caso concreto.
Inobstante não estar relacionada no art. 4º, da Lei de
Introdução às normas do Direito Brasileiro, a equidade é
uma forma de integração da norma expressamente pre-
vista em leis infraconstitucionais e também utilizada na
jurisprudência para a solução de lacunas.
O magistrado recorre a este meio (equidade), pen-
sando como o próprio legislador, e o que teria incluído
em na lei se houvesse previsto o caso em questão.
Entretanto, o uso da equidade deverá ocorrer so-
mente nos casos em que a lei atribui ao juiz o poder de
decidir por meio dela, ou seja, nos casos em que o próprio
sistema entrega a ele o uso dessa equidade.
Referências
BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico.
Trad. Maria Celeste C. J. Santos. 10. ed. Brasília: Ed. UnB,
1999.
98
Herm. Constitucionais 1.indd 98 26/01/17 12:17
BRASIL. Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Código
Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil/
leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 31/08/2016.
______. Lei nº 13.105 de 16 de março de 2015. Código de
Processo Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso
em 31/08/2016.
______. Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966. Código
Tributário Nacional. Disponível em: http://www.planal-
to.gov.br/ccivil/leis/L5172.htm. Acesso em: 31/08/2016.
BRASIL. Decreto-Lei nº 5.452 de 01 de maio de 1943. Con-
solidação das Leis Trabalhistas. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil/Decreto-Lei/Del5452.htm.
Acesso em: 31/08/2016.
______. Decreto-Lei nº 4.657 de 04 de setembro de 1942.
Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. Dis-
ponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil/Decreto-
-Lei/Del4657.htm. Acesso em: 31/08/2016.
______. Supremo Tribunal Federal. http://www.stf.jus.
br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp.
DINIZ, Maria Helena. As lacunas no direito. 5ª ed. São
Paulo: Saraiva, 1999.
FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estu-
do do direito: técnica, decisão, dominação. 4ª ed. São
Paulo: Atlas, 2003.
99
Herm. Constitucionais 1.indd 99 26/01/17 12:17
100
Herm. Constitucionais 1.indd 100 26/01/17 12:17
Princípio da motivação das decisões judiciais como
garantia constitucional
Eid Badr114
Introdução
O princípio da fundamentação das decisões judiciais,
ao nosso ver, é de suma importância ao Estado que se de-
fine como Estado Democrático de Direito (art.1º, da CF).
Ainda que o constituinte de 1987/1988 tenha ressaltado a
importância do mencionado princípio ao consagrá-lo ex-
pressamente na Constituição (art. 93, IX), e, inclusive, ao
prever a sanção decorrente de sua inobservância, tem-se
visto no quotidiano forense a banalização de tal garantia
constitucional.
114 Coordenador do Programa de Pós-Graduação “Stricto Sensu” em Direito Ambien-
tal da Universidade do Estado do Amazonas. Titular da disciplina Hermenêutica
Constitucional do Curso de Mestrado em Direito Ambiental da referida Universi-
dade. Advogado.
101
Herm. Constitucionais 1.indd 101 26/01/17 12:17
Breve histórico
As Ordenações Filipinas115 foram transmigradas116
para o Brasil e vigoraram por imposição da metrópole
portuguesa. Após a independência política de nosso País,
em 7 de setembro de 1822, continuaram a viger por força
do Decreto de 20 de outubro de 1823. Esta legislação, em
seu Livro III, Título LXVI, § 7º, primeira parte, dispunha
o seguinte:
E para as partes saberem se lhes convém apellar, ou
aggravar das sentenças deffinitivas, ou vir com em-
bargos a ellas, e os Juízes da mór alçada entenderem
melhor os fundamentos, por que os Juízes inferiores
se movem a condenar, ou absolver, mandamos que
todos nossos Desembargadores, e quaesquer outros
Julgadores, ora sejam Letrados, ora não sejam, de-
clarem specificamente em suas sentenças diffiniti-
vas, assim na primeira instancia, como no caso da
115 A mais antiga “lei do rei” surge no reinado de Henrique I, em 1051, na França. A
partir de então com as frequentes intervenções do rei em matéria costumeira,
seja para derrogar um “costume mau” ou confirmar um bom, surgem “ordonnan-
ces” reais. Nos meados do séc. XII, surgem as primeiras “ordonnances” reais sem
qualquer relação aparente com o costume. A partir de então elas se multiplicam
e no séc. XIV e passam a refletir o efetivo estabelecimento do poder real. Em Por-
tugal, o movimento de codificação resultou nas Ordenações Afonsinas, de 1446-
1447, nas Ordenações Manuelinas, cuja primeira redação data de 1512-1514, e a
Segunda de 1521, e, por fim, nas Ordenações Filipinas, que foram publicadas em
1603, durante a união das monarquias ibéricas (Espanha e Portugal), no Reinado
de Filipe II. Cf. GILISSEN, John. Introdução histórica do Direito. Trad. A. M. Hespa-
nha e L. M. Macaísta Malheiros. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1995, p.
297, 310 e 321.
116 Transmigração, no caso da colonização, é o fenômeno por meio do qual uma or-
denação jurídica é estendida a novos países, mantendo-se íntegra ou parcialmen-
te modificada. Cf. ROMANO, Santi. Princípios de direito constitucional. Trad. Maria
Helena Diniz. São Paulo: RT, 1977, 48.
102
Herm. Constitucionais 1.indd 102 26/01/17 12:17
appellação, ou aggravo ou revista, as causas, em que
se fundaram a condenar, ou absolver, ou a confir-
mar, ou revogar.117 (grifamos).
Posteriormente, o dever de motivar as decisões judi-
ciais foi previsto em nosso ordenamento jurídico no Re-
gulamento nº 737, de 25 de novembro de 1850:
Art. 232 – A sentença deve ser clara, sumariando o
juiz o pedido e a contestação com os fundamentos
respectivos, motivando com precisão o seu julgado,
e declarando sob sua responsabilidade a lei, uso ou
estylo em que se funda118. (grifamos).
Na fase republicana do Estado brasileiro, foi con-
sagrado, por meio da Constituição de 1891, o sistema da
dualidade processual que conferia uma divisão de com-
petência legislativa sobre a matéria processual, entre a
União e os Estados. Nesse período, os Estados membros,
que tinham competência para legislar sobre processo civil
e criminal, fizeram constar em seus Códigos de Processo
o dever de motivação das decisões judiciais, a exemplo do
CPC do Maranhão (Art. 322), do CPC da Bahia (Art. 308),
do CPC de Pernambuco (Art. 388), do CPC do Rio Grande
do Sul (Art. 499), do CPC de Minas Gerais (Art. 382), do
CPC de São Paulo (Art. 333), do CPC de 1924 do Distrito
Federal (Art. 273, caput), do CPC do Ceará (Art. 231) e do
CPC do Paraná (Art. 231)119.
117 Transcrito conforme as regras ortográficas da época.
118 Idem.
119 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. São
Paulo: 1999, p. 173-174.
103
Herm. Constitucionais 1.indd 103 26/01/17 12:17
A Constituição de 1937 restabeleceu a unidade legis-
lativa em matéria processual (art. 16, XVI). O princípio da
motivação das decisões judiciais estava previsto nos arts.
118 e 280, do Código de Processo Civil de 1939:
Art. 118. O juiz indicará na sentença ou despacho os
fatos e as circunstâncias que motivaram o seu con-
vencimento.
Art. 280. A sentença, que deverá ser clara e precisa,
conterá:
I – [...]
II – os fundamentos de facto e de direito;
III - [...]
Parágrafo único. O relatório mencionará o nome das
partes, o pedido e o resumo dos respectivos funda-
mentos.
O atual Código de Processo Civil não deixa dúvidas
sobre o dever de fundamentar do magistrado, fazendo-o
expressa e detalhadamente em seu art. 489, §1º do Novo
Código de Processo Civil120.
120 Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...)
§1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem expli-
car sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto
de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus
fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajus-
ta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado
104
Herm. Constitucionais 1.indd 104 26/01/17 12:17
O princípio em tela foi alçado, de forma expressa,
ao status de garantia constitucional pela Constituição de
1988, no art. 93, IX, in verbis:
Art. 93 [...]
IX – todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciá-
rio serão públicos, e fundamentadas todas as decisões,
sob pena de nulidade, podendo a lei, se o interesse pú-
blico o exigir, limitar a presença, em determinados atos,
às próprias partes e a seus advogados, ou somente estes.
(grifamos).
A motivação da decisão judicial sob o aspecto da
técnica processual
No passado, a exemplo do que previam as Ordena-
ções Filipinas, a obrigatoriedade da motivação das deci-
sões judiciais era vista como mero instrumento técnico
processual, ou seja, permitia às partes avaliarem a con-
veniência de recorrer e permitia aos juízes das instâncias
superiores compreender melhor os fundamentos da sen-
tença recorrida.
Nesse sentido, a fundamentação da sentença permi-
te às partes identificar precisamente quais os motivos que
levaram o juiz a julgar daquela forma, para decidir se vale
a pena ou não recorrer. Possibilita, ainda, ao sucumbente,
nas razões de seu recurso, definir de forma individuali-
zada o objeto da impugnação, uma vez que, de regra, o
nosso sistema jurídico repele as impugnações genéricas,
pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a
superação do entendimento.
105
Herm. Constitucionais 1.indd 105 26/01/17 12:17
a exemplo das disposições atinentes ao agravo de instru-
mento. Sendo a decisão carecedora de motivação, trans-
forma-se num verdadeiro obstáculo ao exercício do direi-
to ao contraditório, pela parte que se julgar prejudicada,
na medida em que enfrentará dificuldades para aduzir
adequadamente às razões de seu recurso.
Além do aspecto supramencionado, a ausência de
fundamentação prejudica o próprio andamento do pro-
cesso na instância ad quem, a qual enfrentará dificuldades
para visualizar as razões que levaram o magistrado a quo
a decidir da forma que decidiu.
A motivação da decisão judicial sob o aspecto
extraprocessual
Como visto, há muito o nosso ordenamento jurídico
impõe aos magistrados o dever de fundamentar as suas
decisões. Entretanto, interessante é notar que o aspecto
instrumental dessa obrigatoriedade é insuficiente, por
si só, para justificá-la. Nesse sentido, basta lembrar que,
partindo-se unicamente do pressuposto instrumental
processual de que é necessária a motivação da senten-
ça para permitir uma melhor apreciação da instância ad
quem das razões da decisão recorrida, não é suficiente
para explicar o motivo que leva a instância máxima do
judiciário, em decisão última, portanto, irrecorrível, a
fundamentar a suas decisões. E que não se olvide, mesmo
o Supremo Tribunal Federal em decisão última, irrecorrí-
vel, é obrigado a motivar as suas decisões.
Neste diapasão, forçosa é a pergunta: Se a decisão ju-
dicial ocorre em última instância, ou seja, nenhum outro
106
Herm. Constitucionais 1.indd 106 26/01/17 12:17
magistrado irá apreciá-la, qual a necessidade de se funda-
mentar tal decisão?
Esse questionamento obriga-nos à busca de outros
motivos jurídicos, além dos de natureza instrumental,
que exigem a motivação da decisão judicial. Encontra-
remos tais elementos na base do nosso sistema jurídico,
mais exatamente na consagração do princípio do Estado
Democrático de Direito no art. 1º, caput, da Constituição
da República:
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada
pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e
do Distrito Federal, constitui-se em Estado Demo-
crático de Direito e tem como fundamentos: [...]
(grifamos).
O princípio do Estado Democrático de Direito é mais
que a simples união formal dos conceitos de Estado De-
mocrático e do Estado de Direito, uma vez que os supera,
pois além de assimilar os componentes desses, encerra
um componente novo e revolucionário que objetiva a
transformação do status quo.121
A efetiva participação e controle, através da motiva-
ção, dos atos decisórios emanados pelo Poder Judiciário
por parte de todos os indivíduos, além das partes do pro-
cesso, é requisito revelador do princípio do Estado De-
mocrático de Direito.
Sobre o tema, Barbosa Moreira destaca o seguinte:
121 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito constitucional positivo. São Paulo: Malhei-
ros, 2007, p. 119.
107
Herm. Constitucionais 1.indd 107 26/01/17 12:17
O controle ‘extraprocessual’ deve ser exercitável,
antes de mais nada, pelos jurisdicionados ‘in gene-
re’, como tais. A sua viabilidade é condição essencial
para que, no seio da comunidade, se fortaleça a con-
fiança na tutela jurisdicional – fator inestimável, no
Estado de Direito, da coesão social e da solidez das
instituições.122
Dessa forma, o cidadão que submete os seus interes-
ses à tutela jurisdicional pode e deve exigir uma conduta
impessoal do órgão judicial, livre de qualquer interesse
mesquinho, capricho de ordem pessoal ou de caracterís-
ticas estranhas à finalidade maior do Estado atual, qual
seja, a justiça, entendida no seu mais amplo significado.
Portanto, como corolário ao Estado Democrático de
Direito, o princípio da motivação das decisões judiciais
é uma garantia aos indivíduos de que o Estado–Juiz, na
sua função social pacificadora, agirá de forma indepen-
dente e responsável, em conformidade com os preceitos
constitucionais, sem perseguições ou favorecimentos de
qualquer espécie.
Princípios correlatos
O controle popular das decisões judiciais, por meio
do princípio da motivação das decisões judiciais como
garantia do Estado Democrático de Direito, exige a pre-
sença de outro princípio: o da publicidade, consagrado
pela atual Constituição no art. 93, IX. No dizer de Hely
122 MOREIRA, José Carlos Barbosa. A motivação das decisões judiciais como garan-
tia inerente ao Estado de Direito. Temas de Direito Processual. São Paulo: Saraiva,
1988, p. 90.
108
Herm. Constitucionais 1.indd 108 26/01/17 12:17
Lopes Meirelles: “a publicidade não é elemento formativo
do ato; é requisito de eficácia e moralidade.”123
O magistrado ao exercer sua função não a realiza
em caráter próprio (p. da impessoalidade), mas em razão
do cargo público que ocupa, objetivando alcançar o fim
legal (princípio da finalidade), a ela inerente, em prol da
coletividade (o interesse público). Daí porque, ao exercê-la,
deve fundamentar sua decisão nos postulados legais e ex-
por esse produto de sua função a todos aqueles que têm
interesse em conhecê-lo.
A publicidade é reveladora de outro princípio caro ao
Estado Democrático: o da responsabilidade estatal, pois
“é da essência do regime republicano que quem quer que
exerça uma parcela do Poder Público tenha responsabi-
lidade de seu exercício; ninguém desempenha funções
políticas por direito próprio; nele não pode haver invio-
láveis e irresponsáveis, entre os que exercitam poderes
delegados da soberania nacional”124.
A regra da motivação das decisões judiciais, além de
significar uma garantia ao cidadão e a todos os que bus-
cam a tutela jurisdicional, também se apresenta instru-
mento assegurador do livre convencimento motivado do
juiz. Nelson Nery, acerca da matéria, observa que:
A motivação da sentença pode ser analisada por vá-
rios aspectos que vão desde a necessidade de comuni-
cação judicial, exercício de lógica e atividade intelec-
tual do juiz, até sua submissão, como ato processual,
123 MEIRELES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros,
1997, p. 86.
124 BARBALHO, João. Constituição Federal brasileira comentada. p. 61, apud ATALIBA,
Geraldo, República e Constituição. São Paulo: RT, 1985, p. 38.
109
Herm. Constitucionais 1.indd 109 26/01/17 12:17
ao estado de direito e às garantias constitucionais
estampadas no art. 5º, CF, trazendo conseqüente-
mente a exigência da imparcialidade do juiz, a publi-
cidade das decisões judiciais, a legalidade da mesma
decisão, passando pelo princípio constitucional da
independência jurídica do magistrado, que decidir
de acordo com sua livre convicção, desde que motive
as razões de seu convencimento (princípio do livre
convencimento motivado).125 (grifamos).
Assim sendo, ao fundamentar a sua decisão judicial,
o juiz estará operando, também, pelo respeito à sua inde-
pendência jurídica como magistrado.
A lógica na fundamentação das decisões judiciais
A decisão judicial como expressão de um silogismo
normativo126 é tenazmente combatida por vários doutri-
nadores, como esclarece Lourival Vilanova:
[...] Esta posição vem sendo debatida, entre outros,
por Recaséns Siches [...]. Recaséns Siches, em sua
obra, tem insistido nisso: i) a premissa maior é gené-
rica, abstrata, isto é, diz algo sobre o locador, funcio-
nário público, credor hipotecário; algo in genere sobre
125 NERY JUNIOR, Nelson, op. cit., p. 174.
126 “Na formação da sentença, terá assim o juiz de estabelecer duas premissas: uma
referente aos fatos, outra referente ao direito. São as premissas do silogismo. Di-
z-se, assim, que a sentença, na sua formação, se apresenta como um silogismo,
do qual a premissa maior é a regra de direito e a menor a situação de fato, per-
mitindo extrair, como conclusão, a aplicação da regra legal à situação de fato”
(SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil.v. 3. São Pau-
lo: 1995, p. 10).
110
Herm. Constitucionais 1.indd 110 26/01/17 12:17
a prestação, obrigação de dar algo, de fazer, de omitir;
faz menção ao sujeito ativo e passivo da relação jurídi-
ca, mas genericamente; ii) na conclusão do pretendi-
do silogismo, há determinação, quer dizer, conceitos
repletos de conteúdo, indicação individualizada dos
sujeitos intervenientes na relação jurídica concreta,
indicação específica sobre o objeto da prestação, so-
bre o prazo, modalidade em que devem ser satisfei-
tas as recíprocas obrigações ou os direitos subjetivos
exercitados. Enfim, tudo individuado nos âmbitos
pessoal, material, temporal e espacial de incidência da
norma jurídica que figura na conclusão. Nada dessa
concreção estava na premissa maior que, por ser abs-
trata, deixa de lado o individual único da experiência
jurídica. Com o silogismo não se esgota a experiência
do Direito, que não consiste apenas de normas gerais,
mas também de normas individuais [...].
O argumento em questão vem justamente demons-
trar que a Lógica não é suficientemente potente para
ir à concreção material da experiência jurídica. Da
experiência integral, isola, como temático, o formal,
o sintático das estruturas proposicionais das normas.
Tão só127.
Apesar das críticas à lógica jurídica, não se pode ne-
gar a sua grande importância como instrumento posto à
disposição do pensamento jurídico, não como formadora
do conteúdo das decisões judiciais, visto que isso é maté-
ria extraformal, mas trataria dos problemas referentes aos
127 VILANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema do direito positivo. São Paulo:
Editora Max Limonad, 1997, p. 322-323.
111
Herm. Constitucionais 1.indd 111 26/01/17 12:17
tipos de raciocínios usados pelo jurista, como o argumento a
contrário sensu, a inferência por analogia, etc.128
A fundamentação das decisões judiciais e o papel
persuasivo da linguagem
A interpretação do Direito é um contínuo exercí-
cio de persuasão. O juiz ao decidir, como todo emissor
de uma mensagem, tenta convencer o seu interlocutor a
aceitar a argumentação exposta conforme o seu prisma.
Nesse aspecto, a linguagem tem fundamental im-
portância na medida em que a decisão judicial, como ato
de comunicação, necessita conter uma racionalidade, de-
vendo esta não apenas ser demonstrada, mas comprovada,
mediante um discurso bem construído em termos racio-
nais. Só que esse discurso, que também pode ser encara-
do como uma forma de argumentação, difere da chama-
da demonstração.
A demonstração se baseia na ideia de evidência, con-
cebida como algo diante do qual todo pensamento do
homo medius tem de ceder (desnecessidade de prova), e
liga-se ao raciocínio lógico-formal. Já a argumentação
parte da ideia de que nem todas as provas podem ser re-
duzidas à evidência (não se supõe um sistema axiomáti-
co), mas requer técnicas capazes de provocar ou acrescer
adesão e liga-se ao raciocínio persuasivo129.
O juiz, portanto, ao justificar a sua decisão, exerce
uma função de persuasão em relação às partes no pro-
128 VILANOVA, Lourival, op. cit., p. 64.
129 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, deci-
são, dominação. São Paulo: Atlas, 1994, p. 323.
112
Herm. Constitucionais 1.indd 112 26/01/17 12:17
cesso, visando convencê-las de que ao julgar aplicou ao
caso concreto a solução mais adequada que poderia ser
encontrada no ordenamento legal, consequentemente,
seria essa alternativa a de se esperar. O professor Tércio
Sampaio Ferraz Jr. trata da questão:
[...] a decisão aparece como um sistema de procedi-
mentos regulados em que cada agente age de certo
modo porque os demais agentes estão seguros de
poder esperar dele um certo comportamento. Não
se trata de regularidades lógicos-formais, mas, por
assim dizer, ideológicas. O discurso dogmático sobre
a decisão não é só um discurso ‘informativo’ sobre
como a decisão deve ocorrer, mas um discurso ‘per-
suasivo’ sobre como se faz para que a decisão seja
acreditada pelos destinatários. Visa despertar uma
atitude de crença. Intenta motivar condutas, embora
não se confunda com a eficácia das próprias normas.
Por isso a ‘verdade’ decisória acaba se reduzindo,
muitas vezes, à decisão prevalecente, com base na
motivação que lhe dá suporte130.
Dessa feita, a decisão judicial adequadamente funda-
mentada não objetiva tão-somente adequar-se ao orde-
namento jurídico em termos de validade, mas significa,
também, um exercício de persuasão que magistrado rea-
liza, de forma a convencer aos destinatários de sua deci-
são que esta é a melhor solução que se poderia alcançar.
130 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio, op. cit., 1994, p. 344.
113
Herm. Constitucionais 1.indd 113 26/01/17 12:17
Conclusão
O princípio da motivação das decisões em nossa rea-
lidade jurídica não tem a sua origem em nosso ordena-
mento jurídico atual, mas nas Ordenações Filipinas, as
quais vigoraram em nosso Estado mesmo após a nossa
independência política, fez-se presente, também, no Re-
gulamento nº 737, de 25 de novembro de 1850, na fase
monárquica. Na República, figurou nos códigos de pro-
cesso estaduais sob a égide da Constituição de 1891, na
Constituição Federal de 1937, no Código de Processo Ci-
vil de 1973, no atual Código de Processo Civil e na Consti-
tuição Federal, como garantia constitucional consagrado
no artigo 93, inciso IX.
Como instrumento técnico processual, o princípio
da motivação das decisões judiciais, permite às partes
avaliar a conveniência de recorrer; aos juízes das instân-
cias superiores compreenderem melhor os fundamentos
da sentença recorrida, pois a ausência de fundamentação
prejudica o próprio andamento do processo na instância
ad quem, a qual enfrentará dificuldades para visualizar as
razões que levaram o magistrado a quo a decidir da forma
que decidiu. Além disso, a decisão carecedora de motiva-
ção transforma-se num verdadeiro obstáculo ao exercício
do direito ao contraditório, pela parte que se julgar preju-
dicada, na medida em que lhe impede de aduzir adequa-
damente às razões de seu recurso.
O princípio da motivação, além dos motivos jurídi-
cos de natureza instrumental, também encontra justifica-
tiva para a obrigatoriedade na sua aplicação no princípio
do Estado Democrático de Direito (art. 1º, caput, da CF), a
garantir a efetiva participação e controle, dos atos decisó-
114
Herm. Constitucionais 1.indd 114 26/01/17 12:17
rios emanados pelo Poder Judiciário por parte de todos os
jurisdicionados, objetivando-se a atuação do Estado–Juiz
de forma independente e responsável, em conformidade
com os preceitos constitucionais, sem perseguições ou
favorecimentos de qualquer espécie.
São princípios correlatos: o da publicidade; da impes-
soalidade, da finalidade; do interesse público; da responsa-
bilidade estatal; do livre convencimento motivado do juiz; e
da independência jurídica do magistrado.
A interpretação do Direito é um contínuo exercí-
cio de persuasão. O juiz ao decidir, como todo emissor
de uma mensagem, tenta convencer o seu interlocutor a
aceitar a argumentação exposta conforme o seu prisma.
Nesse aspecto, a linguagem tem fundamental importân-
cia na medida em que a decisão judicial, como ato de co-
municação, necessita conter uma racionalidade, devendo
esta não apenas ser demonstrada, mas comprovada, me-
diante um discurso bem construído em termos racionais.
Dessa feita, a decisão judicial adequadamente funda-
mentada não objetiva tão-somente adequar-se ao orde-
namento jurídico em termos de validade, mas significa,
também, um exercício de persuasão que magistrado rea-
liza, de forma a convencer aos destinatários de sua deci-
são que esta é a melhor solução que se poderia alcançar.
Referências
ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. São Paulo:
RT, 1985.
115
Herm. Constitucionais 1.indd 115 26/01/17 12:17
FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do
direito: técnica, decisão, dominação. São Paulo: Atlas, 1994.
GILISSEN, John. Introdução histórica do Direito. Trad. A.
M. Hespanha e L. M. Macaísta Malheiros. Lisboa: Funda-
ção Calouste Gulbenkian, 1995
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro.
São Paulo: Malheiros, 1997.
MOREIRA, José Carlos Barbosa. A motivação das decisões
judiciais como garantia inerente ao Estado de Direito. Te-
mas de Direito Processual. São Paulo: Saraiva, 1988.
NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do Processo Civil na
Constituição Federal. São Paulo: 1999.
ROMANO, Santi. Princípios de direito constitucional. Trad.
Maria Helena Diniz. São Paulo: RT, 1977.
SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de Direito pro-
cessual civil. v. 3. São Paulo: 1995.
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito constitucional po-
sitivo. São Paulo: Malheiros, 2007.
VILANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema do
direito positivo. São Paulo: Editora Max Limonad, 1997.
116
Herm. Constitucionais 1.indd 116 26/01/17 12:17
Negação do direito fundamental de greve aos servi-
dores públicos civis da segurança e da saúde: críticas
às decisões do Supremo Tribunal Federal no âmbito
das reclamações constitucionais 6.568/SP e 24.597/SP
Emerson Victor Hugo Costa de Sá131
E essa justiça
Desafinada
É tão humana
E tão errada
Nós assistimos televisão também
Qual é a diferença?
(Baader-Meinhof Blues, Legião Urbana)
Introdução
Proibido, permitido e, enfim, reconhecido como di-
reito fundamental, a greve corresponde a um fato social
de consequências inegáveis e tratamento jurídico indis-
pensável. Estampado na Constituição da República de
1988 (CR/88) como direito dos trabalhadores em geral
(art. 9º)132 e dos servidores públicos civis (art. 37, VII)133, a
131 Mestrando em Direito Ambiental da Universidade do Estado do Amazonas. Audi-
tor Fiscal do Trabalho.
132 Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir so-
bre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele
defender. § 1º - A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o
atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.
133 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também,
ao seguinte: VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites defini-
dos em lei específica.
117
Herm. Constitucionais 1.indd 117 26/01/17 12:17
relativização é admitida nos serviços e atividades essen-
ciais, e para o atendimento das necessidades inadiáveis.
A falta de norma regulamentadora para os servido-
res públicos levou o Supremo Tribunal Federal (STF) a
determinar aplicação temporária e adaptada dos contor-
nos atinentes aos trabalhadores da iniciativa privada (Lei
7.783/89), tal como decidido no Mandado de Injunção
(MI) 712/PA, ficando a cargo da categoria e do ente pú-
blico definirem a forma de prestação das atividades míni-
mas indispensáveis.
Surgiram, então, novos questionamentos, que exigi-
ram do STF respostas acerca da definição de atividades
e serviços que não admitem interrupção em virtude do
caráter publicístico dos interesses em e sobre a possibili-
dade de restrição do direito para categorias exercentes de
tais serviços inadiáveis, pretendendo o ente público a de-
limitação da abrangência da decisão em sede de injunção.
Nesse contexto, o desenvolvimento da pesquisa com-
preende a exposição dos casos; a aplicação da Hermenêu-
tica Constitucional; as críticas às decisões do STF nas Re-
clamações Constitucionais 6.568/SP134 e 24.597/SP135, que
versam sobre o direito fundamental de greve, quanto aos
servidores públicos civis da polícia civil (primeira) e da
saúde (segunda); e, ainda, a aplicação do teste de propor-
cionalidade (adequação, necessidade e proporcionalidade
em sentido estrito). Nesse momento, são identificados os
princípios em confronto e sugerido o caminho a nortear
o exercício argumentativo para a solução do problema.
134 Reclamação 6.568/SP, Rel. Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2009.
135 Reclamação 24.597/SP, Rel. Ministro Dias Toffoli, Decisão monocrática, DJe 217,
de 10/10/2016.
118
Herm. Constitucionais 1.indd 118 26/01/17 12:17
O estudo da temática justifica-se em razão dos con-
tornos fáticos e jurídicos oriundos das decisões lavradas
no âmbito dos processos em exame, as quais revolvem
interpretações restritivas em matéria de direitos funda-
mentais. Questiona-se: Qual o ponto central em discus-
são? Que métodos e princípios hermenêuticos são impor-
tantes para o estudo da matéria? Qual o direcionamento
dado pelo STF? Como o teste de proporcionalidade pode
resolver a questão? Afinal, os princípios constitucionais
postos em confronto respaldam a vedação ao direito de
greve dos servidores públicos civis? Essas perguntas de-
vem orientar o debate para a formação de uma solução
juridicamente sólida.
A abordagem metodológica considerou a pesquisa
bibliográfica e documental, tendo como parâmetros li-
vros, artigos, leis e decisões judiciais.
Síntese do caso
Em um primeiro momento, o estudo compreende a
decisão monocrática do Ministro Dias Toffoli, expressa
no bojo da Medida Cautelar na Reclamação 24.597/SP.
Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de li-
minar, ajuizada pelo Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São
Paulo (reclamante), em face de decisão do Tribunal Re-
gional do Trabalho da 15ª Região (TRT15), sob a alegação
de afronta à autoridade do STF, relativamente à eficácia
da decisão proferida no MI 712/PA.
Pretendendo a integral continuidade da prestação
do serviço público de saúde, a autarquia requereu ao
119
Herm. Constitucionais 1.indd 119 26/01/17 12:17
TRT15 tutela provisória antecedente, a qual foi parcial-
mente concedida para determinar a manutenção de 70%
(setenta por cento) dos serviços da suscitada, sob pena de
incidência de multa diária.
A reclamante argumenta que, não obstante o TRT15
tenha reconhecido a essencialidade do serviço de saúde,
deixou-se de determinar o integral retorno dos emprega-
dos públicos vinculados às atividades indispensáveis ao
atendimento da população, o que entende como afron-
ta ao entendimento do STF no MI 712/PA. Aduz que o
STF, no precedente paradigma, viabilizou o exercício do
direito de greve aos servidores da administração públi-
ca direta e indireta, excepcionando, contudo, a garantia
de continuidade dos serviços inadiáveis. Defendeu-se a
possibilidade de privação do exercício do direito de greve
dos trabalhadores contratados pela entidade autárquica,
em razão de o serviço de saúde possuir natureza inadiável
para a população atendida pelo Sistema Único de Saúde.
Segundo destaca a decisão liminar do Ministro Dias
Toffoli, a Corte já havia analisado a amplitude da decisão
proferida no MI 712/PA em precedente plenário. No julga-
mento da Reclamação 6.568/SP, entendeu-se que o direito
de greve não é absoluto e que a proteção e garantia de di-
reitos fundamentais igualmente contemplados pela CR/88
legitimam a privação desse direito a certas categorias136.
136 RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAIS CIVIS. DISSÍDIO COLETIVO DE GRE-
VE. SERVIÇOS OU ATIVIDADES PÚBLICAS ESSENCIAIS. [...] DIREITO DE GREVE.
ARTIGO 37, INCISO VII, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. LEI N. 7.783/89. INAPLICA-
BILIDADE AOS SERVIDORES PÚBLICOS. DIREITO NÃO ABSOLUTO. RELATIVIZAÇÃO
DO DIREITO DE GREVE EM RAZÃO DA ÍNDOLE DE DETERMINADAS ATIVIDADES
PÚBLICAS. AMPLITUDE DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DO MANDA-
DO DE INJUNÇÃO N. 712. ART. 142, § 3º, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
INTERPRETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395. [...].
RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
120
Herm. Constitucionais 1.indd 120 26/01/17 12:17
No precedente, afirmou-se que há viabilidade jurídica
da alegada violação à decisão no MI 712/PA, assentando-
-se que as categorias da polícia civil – e da saúde pública,
como no caso da autarquia –, não estão inseridas no elen-
co dos servidores alcançados pelo direito de greve. Sob es-
ses fundamentos, deferiu-se o pedido liminar para esten-
der à totalidade dos empregados públicos a determinação
de continuidade dos serviços, sob pena de multa diária.
Na Reclamação 24.597/SP, o Ministro Dias Toffoli
não se restringiu a definir quais atividades inadiáveis no
hospital demandariam a manutenção da totalidade dos
serviços. Foi além. Alterou o percentual antes imposto de
modo a privar do exercício do direito de greve todos os
MI n. 712, afirmou entendimento no sentido de que a Lei n. 7.783/89, que dispõe
sobre o exercício do direito de greve dos trabalhadores em geral, é ato normativo
de início inaplicável aos servidores públicos civis, mas ao Poder Judiciário dar
concreção ao artigo 37, inciso VII, da Constituição do Brasil, suprindo omissões do
Poder Legislativo. 2. [...]. Defesa dessa conservação e efetiva proteção de outros
direitos igualmente salvaguardados pela Constituição do Brasil. 3. Doutrina do
duplo efeito, segundo Tomás de Aquino, na Suma Teológica (II Seção da II Parte,
Questão 64, Artigo 7). Não há dúvida quanto a serem, os servidores públicos, ti-
tulares do direito de greve. Porém, tal e qual é lícito matar a outrem em vista do
bem comum, não será ilícita a recusa do direito de greve a tais e quais servidores
públicos em benefício do bem comum. Não há mesmo dúvida quanto a serem
eles titulares do direito de greve. A Constituição é, contudo, uma totalidade. Não
um conjunto de enunciados que se possa ler palavra por palavra, em experiência
de leitura bem comportada ou esteticamente ordenada. Dela são extraídos, pelo
intérprete, sentidos normativos, outras coisas que não somente textos. A força
normativa da Constituição é desprendida da totalidade, totalidade normativa,
que a Constituição é. Os servidores públicos são, seguramente, titulares do direi-
to de greve. Essa é a regra. Ocorre, contudo, que entre os serviços públicos há al-
guns que a coesão social impõe sejam prestados plenamente, em sua totalidade.
Atividades das quais dependam a manutenção da ordem pública e a segurança
pública, a administração da Justiça – onde as carreiras de Estado, cujos membros
exercem atividades indelegáveis, inclusive as de exação tributária – e a saúde pú-
blica não estão inseridos no elenco dos servidores alcançados por esse direito.
Serviços públicos desenvolvidos por grupos armados: as atividades desenvolvi-
das pela polícia civil são análogas, para esse efeito, às dos militares, em relação
aos quais a Constituição expressamente proíbe a greve [art. 142, § 3º, IV]. 4. [...].
Pedido julgado procedente. (grifei).
121
Herm. Constitucionais 1.indd 121 26/01/17 12:17
trabalhadores contratados pela autarquia, por considerar
que o serviço de saúde possui natureza essencial e ina-
diável. Embora em decisão liminar monocrática, ficou a
mensagem de que tais servidores não podem exercer o
direito de greve.
Essas decisões (Reclamações 6.568/SP e 24.597/SP)
não se mostram albergáveis pela principiologia que cir-
cunda o tema. No caso, tem-se um direito fundamental,
ínsito a qualquer pessoa. Mais ainda. O direito de greve
é de expressão coletiva, cujos titulares são as categorias
de trabalhadores, na acepção ampla, comportando quem
presta serviços nos setores público e privado. Por isso,
não pode ser peremptoriamente negado.
Segundo a teoria positivista, o Poder Constituinte
Originário é juridicamente ilimitado e cria as normas de
hierarquia máxima. Afasta-se, então, a inconstituciona-
lidade dos seus atos. Esse foi o entendimento adotado
pelo STF. Apesar de as construções estudadas por Otto
Bachof137 não terem sido aceitas no direito brasileiro, o
afastamento do direito de greve dos servidores públicos
civis indiretamente opõe-se à literalidade da CR/88 e efe-
tiva uma forma de alteração do texto originário, por via
transversa ao exercício do poder de emenda. O STF atri-
buiu sentido próprio à Constituição, desconsiderando o
contexto histórico em que foi promulgada. Negou o di-
reito de greve aos trabalhadores da saúde e da segurança
pública e deixou aberto o caminho para vedá-lo a outras
categorias.
Quando o STF julga contrariamente à clareza do
texto da CR/88, inova na ordem jurídica e substitui-se
137 BACHOF, Otto. Normas Constitucionais Inconstitucionais? Trad. José Manuel Car-
doso da Costa. Coimbra: Livraria Almedina, 1994.
122
Herm. Constitucionais 1.indd 122 26/01/17 12:17
ao Poder Legislativo sem preencher adequadamente a
discussão democrática exigida para assuntos de grande
relevância. Na esteira de Habermas138, esse tema deman-
daria a discussão no âmbito do Congresso Nacional. A es-
sencialidade do atendimento às necessidades inadiáveis
da comunidade demanda a indicação de quais atividades
não podem ser reduzidas, dentro das atribuições dos gre-
vistas, e, para as demais, a aplicação de percentuais míni-
mos, definidos por comum acordo entre o ente público e
o sindicato.
Na medida em que a CR/88 proibiu expressamente o
direito de greve apenas aos militares (art. 142, § 3º, IV)139,
qualquer interpretação abolicionista do direito de greve
dos servidores públicos civis traz consigo o risco de ilegi-
timidade. A conclusão pode ser aferida a partir dos méto-
dos e princípios da Hermenêutica Constitucional.
Métodos e Princípios de Hermenêutica Constitucional
A Hermenêutica Constitucional serve para solu-
cionar, no caso concreto, conflitos entre bens jurídicos
protegidos e, assim, conferir eficácia e aplicabilidade às
normas constitucionais. Essa tarefa compete ao Judiciá-
rio, ao Executivo e ao Legislativo. Não se trata mais de
138 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Tradução
de Flávio B. Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, v. 1. 354 p. Títu-
lo original: Faktizität und Geltung: Beiträge zur Diskurstheorie des Rechits und des
demokratische Rechitstaats, 1992.
139 Art. 142. [...] § 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares,
aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposi-
ções: IV - ao militar são proibidas a sindicalização e a greve.
123
Herm. Constitucionais 1.indd 123 26/01/17 12:17
atividade exclusiva a um grupo de juízes. Häberle140 mu-
dou esse paradigma ao propor um modelo para a inter-
pretação constitucional, segundo o qual são intérpretes
da Constituição todos os que a vivenciam, como os cida-
dãos – “sociedade aberta dos intérpretes”.
Longe de ser um sistema fechado, a Constituição
precisa captar a evolução da sociedade, sob pena de per-
der a força normativa e tornar-se desconectada da reali-
dade. A abertura à interpretação ocorre em conformidade
com os princípios e técnicas de preservação máxima dos
valores constitucionais. À Hermenêutica Constitucional
são aplicáveis os métodos interpretativos das normas ju-
rídicas em geral (literal, lógico, histórico, teleológico e
genético) e os próprios da ideia de supremacia (jurídico
ou clássico, tópico-problemático, hermenêutico-concre-
tizador, integrativo ou científico-espiritual e normativo-
-estruturante).
O método jurídico ou clássico considera a Consti-
tuição como qualquer outra lei, admitindo interpretação
conforme a hermenêutica tradicional. No tópico-proble-
mático, há prevalência do problema sobre a norma e en-
tende-se que a interpretação constitucional tem caráter
prático, pois busca resolver problemas concretos. Quanto
ao hermenêutico-concretizador, de Hesse141, há prevalên-
cia do texto sobre o problema e a leitura inicia-se pela
pré-compreensão do sentido pelo intérprete, a quem cabe
aplicar a norma para a resolução de uma situação concre-
140 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional, A sociedade aberta dos intérpretes
da Constituição: Contribuição para a Interpretação Pluralista e ‹Procedimental›
da Constituição. Trad.: Gilmar Ferreira MENDES. Ed. Sérgio Antônio Fabris, Porto
Alegre: 1997.
141 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira
Mendes. Porto Alegre : S.A. Fabris, 1991.
124
Herm. Constitucionais 1.indd 124 26/01/17 12:17
ta, em referência ao círculo hermenêutico de Gadamer142.
No integrativo ou científico-espiritual, a interpretação
das normas constitucionais deve considerar a ordem ou
o sistema de valores subjacentes ao texto constitucional,
conjuntamente. Por fim, o normativo-estruturante con-
sidera que, para se interpretar a norma, utiliza-se tanto o
texto quanto a verificação da realidade social.
Além dos métodos expostos, há os princípios da inter-
pretação constitucional. Destacam-se os seguintes: unida-
de; força normativa; máxima efetividade (eficiência ou in-
terpretação efetiva); justeza (conformidade funcional ou,
ainda, correção funcional); concordância prática (ou har-
monização); e efeito integrador (ou eficácia integradora).
Pelo princípio da unidade da Constituição, o texto
deve ser interpretado como um todo, de modo a evitar
contradições entre as normas constitucionais, pois não
há contradição verdadeira e o conflito dá-se no plano da
aparência. A força normativa da Constituição determina
que toda norma jurídica precisa de um mínimo de efi-
cácia, sob pena de não ser aplicada, privilegiando-se as
soluções que possibilitem a atualização das normas e a
garantia de eficácia e permanência. Quanto à máxima
efetividade, demanda-se que o intérprete atribua à nor-
ma constitucional o sentido que lhe dê maior efetividade
social. No que concerne à justeza, o órgão encarregado de
interpretar a Constituição não pode chegar a uma con-
clusão que subverta o esquema organizatório-funcional
estabelecido pelo Constituinte. Na concordância prática,
impõe-se a harmonização dos bens jurídicos, para evitar
o sacrifício total de uns em relação aos outros. Finalmen-
142 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método. Traços fundamentais de uma herme-
nêutica filosófica. Trad. Flávio Paulo Meurer. 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998.
125
Herm. Constitucionais 1.indd 125 26/01/17 12:17
te, pelo efeito integrador, a interpretação da Constituição
deve preferir a determinação favorável à integração e à
unidade política e social.
Tem-se, ainda, o princípio da interpretação confor-
me a Constituição. Oriundo da jurisprudência alemã,
não se refere à interpretação de normas contidas no tex-
to constitucional, mas às infraconstitucionais. Trata-se
de técnica interpretativa que objetiva preservar a vali-
dade das normas, privilegiando uma interpretação que
conduza à constitucionalidade. Não se aplica às normas
de sentido unívoco. Somente deverá ser usada diante de
normas polissêmicas, plurissignificativas. A regra é a ma-
nutenção da validade da lei, não a declaração da incons-
titucionalidade. A interpretação dada à norma não deve
contrariar sua literalidade ou sentido e pode ser com ou
sem redução do texto, concessiva ou excludente.
Os métodos e princípios hermenêuticos destacados
formam a base argumentativa que fundamenta a análise
do assunto objeto de estudo, exatamente em virtude do
caráter fundamental dos preceitos envolvidos.
Servidores públicos civis e o direito fundamental
de greve
Em um primeiro momento, o estudo de Otto Ba-
chof , aparenta ser desconexo da realidade jurídica pátria.
143
Não obstante o STF tenha indicado o não acatamento da
tese, as decisões em exame terminam por aplicar normas
constitucionais fora dos respectivos âmbitos semânticos.
143 Op. Cit.
126
Herm. Constitucionais 1.indd 126 26/01/17 12:17
Indiretamente, é a teoria da inconstitucionalidade de
normas constitucionais sendo aplicada concretamente.
Quando quis, a Constituição vedou o direito de gre-
ve aos militares. Relativamente aos servidores públicos
civis, além de não proibi-lo, reconheceu-o expressamente
como um direito fundamental dos trabalhadores em ge-
ral (art. 9º) e também dos servidores públicos civis (art. 37,
VII). A necessidade de preservação desse direito funda-
mental consta de modo claro no voto do Ministro Celso
de Mello, proferido no âmbito do MI 712/PA (fls. 523/524):
Em suma, Senhores Ministros, as considerações que
tenho de fazer somente podem levar-me ao reconhe-
cimento de que não mais se pode tolerar, sob pena de
fraudar-se a vontade da Constituição, esse estado de
continuada, inaceitável, irrazoável e abusiva inércia
da União Federal, cuja omissão, além de lesiva ao di-
reito dos servidores públicos civis - a quem se vem
negando, arbitrariamente, o exercício do direito
de greve, já assegurado pelo texto constitucional -,
traduz um incompreensível sentimento de desapre-
ço pela autoridade, pelo valor e pelo alto significado
de que se reveste a Constituição da República. [...]
Por tais razões, peço vênia para acompanhar os dou-
tos votos dos eminentes Ministros EROS GRAU
(MI 712/PA) E GILMAR MENDES (MI 670/ES), em
ordem a viabilizar, desde logo, nos termos e com as
ressalvas e temperamentos preconizados por Suas
Excelências, o exercício, pelos servidores públicos
civis, do direito de greve, até que seja colmatada,
pelo Congresso Nacional, a lacuna normativa de-
corrente da inconstitucional falta de edição da lei
127
Herm. Constitucionais 1.indd 127 26/01/17 12:17
especial a que se refere o inciso VII do Art. 37 da
Constituição da República. (grifei).
Como direito fundamental social, a greve consiste
em extensão da dignidade humana. O direito de greve é
um direito fundamental não individual, mas social, com
índole essencialmente coletiva. Não pertence a um indi-
víduo especificamente, mas a uma categoria de pessoas.
Sendo um direito de tal quilate, não pode ser negado à
categoria como um todo, sob pena de afronta à concep-
ção de direitos humanos e à vedação ao retrocesso em
matéria de direitos sociais. A essencialidade dos serviços
não pode justificar a negação absoluta do direito de gre-
ve. A máxima eficácia do preceito pode ser alcançada pela
determinação de percentuais ou especificação dos servi-
ços indispensáveis e que não podem ser obstados, dentro
das atividades exercidas pelos obreiros. Essa é a leitura
coerente com a principiologia interpretativa e aplicativa
dos direitos fundamentais.
Há que se buscar a máxima eficácia do direito funda-
mental e zelar pela manutenção do patamar social histo-
ricamente conquistado, em consideração à proibição do
retrocesso (efeito cliquet). O nível interpretativo alcança-
do no MI 712/PA não admite redução. A regulamentação
e o exercício do direito de greve precisam considerar a le-
gislação aplicável à iniciativa privada. As peculiaridades do
serviço público comportam regras diferenciadas; todavia,
devem representar simples delineamento do movimento
paredista no setor público, jamais a absoluta e peremptó-
ria negação do direito constitucionalmente estabelecido.
Como direito fundamental, aplica-se a eficácia ex-
pansiva e o afastamento de interpretações desfavoráveis.
Norma mais favorável e interpretação pro homini são
128
Herm. Constitucionais 1.indd 128 26/01/17 12:17
princípios de Direito Interacional a serem prestigiados
no ordenamento pátrio. Existindo contraposição do di-
reito coletivo (greve) com outros direitos fundamentais
pretensamente atingidos pelos grevistas (atividades es-
senciais), pode ser aplicado o teste de proporcionalidade,
que busca a preservação de ambos os direitos.
Negar o direito de greve a determinadas categorias
de servidores públicos civis configura uma forma de in-
terpretação desconforme com a literalidade do texto.
Aplicar a norma originária fora do contexto semântico
consiste em estimular o sentido abolicionista de uma in-
terpretação que está coerente com a integridade do Di-
reito e com a comunidade de princípios consagrados na
Constituição144. A concepção adotada em decisões da es-
tirpe das avaliadas contraria a forma como o Direito vem
sendo aplicado e as posições históricas que privilegiam o
direito de greve.
O respeito às atividades essenciais pode ser alcança-
do por meio da determinação de percentuais de trabalho
mínimo e de atividades que não podem ser olvidadas em
qualquer aspecto (flagrante delito, para os policiais civis,
e situações emergenciais – UTI – no setor de saúde, por
exemplo). As atividades de segurança e saúde públicas
não podem fundamentar a supressão ou eliminação do
direito de greve como meio de obediência à essencialida-
de desses serviços. Decisões extremas podem significar a
negação da própria atividade, como decorrência da au-
sência de motivação e de outros aspectos relativos à falta
de observância de direitos que não se limitam a pautas sa-
lariais, mas que também envolvem questões de segurança
144 DWORKIN, Ronald. The model of rules I. In: Ronald Dworkin, Taking Rights seri-
ously. Cambridge (Massaschussests): Harvard University Press, 1977.
129
Herm. Constitucionais 1.indd 129 26/01/17 12:17
e condições mínimas para o exercício das atividades pelos
trabalhadores.
Decisões negativas acabam desafiando a inteligência
do Constituinte, que estende o direito de greve indiscri-
minadamente a todos os servidores públicos civis, obser-
vados os contornos aplicáveis às atividades essenciais. A
máxima eficácia expansiva em matéria de direitos fun-
damentais indica que não cabe restrição pelo interprete
quando o texto constitucional poderia, mas optou por
não limitá-lo.
Impedir o exercício do direito de greve em atividades
como as de policiais civis e do setor de saúde pode fulmi-
nar normas constitucionais originárias. Apesar de defen-
der que não existem normas constitucionais inconstitu-
cionais, o STF termina por afastar a norma que garante
o direito de greve aos servidores públicos não militares e
retirar o caráter eminentemente expansivo.
Sequer a aplicação do teste de proporcionalidade
permitiria chegar à conclusão no sentido de eliminar o
direito de greve, como se verá adiante.
Aplicação do teste de proporcionalidade
Pela máxima eficácia dos direitos fundamentais, urge
identificar a interpretação que admita a sobrevivência no
aparente conflito. Apenas o caso concreto pode culmi-
nar com uma regra definitiva que, no exercício do sope-
samento (proporcionalidade em sentido estrito), possa
afastar o cabimento do direito de greve, em conformida-
de com os contornos fáticos levados ao conhecimento da
autoridade julgadora (dever jurídico definitivo). É a máxi-
130
Herm. Constitucionais 1.indd 130 26/01/17 12:17
ma amplitude que se pretende para os direitos enquanto
deveres jurídicos prima facie.
Propugna-se a aplicação máxima dos princípios em
conflito colidentes, não o afastamento de algum deles.
Diferentemente das regras, as normas de caráter abstrato
– como os princípios – não admitem a supressão prévia e
genérica. A defesa do núcleo fundamental deve nortear a
atuação do legislador, do aplicador e do intérprete.
Diversamente das regras, que possuem aplicação na
modalidade tudo ou nada145, os princípios designam con-
dições ideais. Conforme a proposta de Alexy146, princípios
são mandados de otimização normas que ordenam que
algo seja realizado na maior medida possível, podem ser
cumpridos em diferentes graus, dentro das possibilidades
jurídicas e reais existentes, sem que isso afete a validade.
Desse modo, procuram realizar fins e só ganham corpo
diante de casos concretos, porquanto incapazes de deter-
minar condutas abstratamente. Regras, por sua vez, são
normas de aplicação cogente e imediata, procuram regu-
lar uma conduta específica e não admitem a subsistência
de determinações contraditórias, pois as ações são proi-
bidas, permitidas ou livres147.
Enquanto duas regras contrapostas não podem con-
viver no mesmo ordenamento, o mesmo não ocorre com
os princípios. Havendo colisão entre princípios, utiliza-se
o teste de proporcionalidade. Essa técnica demanda a de-
145 Idem, p. 24.
146 ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Ernesto Garçón Valdés
(trad.). Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2002.
147 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. SANTOS, Maria Celeste C. J.
(trad.), CICCO, Cláudio de. (rev. téc.). 6. ed. Brasília: Editora da Universidade de
Brasília, 1995.
131
Herm. Constitucionais 1.indd 131 26/01/17 12:17
tecção dos princípios conflitantes a serem considerados
na solução do caso e o exame dos fatos, das circunstân-
cias e da interação com os elementos normativos, para
que se preserve o máximo de cada princípio em conflito.
Como a Constituição não alberga irrestritamente o
direito de greve e a realização das atividades essenciais,
necessário indagar se existem fundamentos constitucio-
nais para impor a completa proibição de os servidores
públicos civis deflagrarem o movimento paredista. Não
há dúvida quanto a possuírem natureza de princípio em
vez de regras. O próprio texto constitucional indica a ne-
cessidade de delineamento específico do direito de greve
nessas condições – e não a total vedação. Admitem mú-
tua restrição na definição do exato delineamento do nú-
cleo essencial, depois do concreto esforço comparativo
(teoria externa).
Compreende-se a proporcionalidade como uma téc-
nica a ser adotada para permitir o menor grau de subje-
tividade nas decisões, mediante a exposição clara e fun-
damentada do iter procedimental utilizado para definir
concretamente a aplicação em menor ou maio grau dos
mandamentos envolvidos. Promove-se a clareza na iden-
tificação do suporte fático concreto e viabiliza-se, quando
presente as mesmas condições, o controle intersubjetivo
do processo decisório148 na aplicação da norma.
Evita-se o simples jogo de palavras, para se questio-
nar o julgador quanto à técnica utilizada no caminho per-
corrido entre a análise e a decisão do caso. Apenas pela
via do teste de proporcionalidade o resultado do método
148 ÁVILA, Humberto. A distinção entre princípios e regras e a redefinição do dever de
proporcionalidade. Revista Diálogo Jurídico. Ano 1, v. 1, n. 4. Salvador: jul. 2001.
132
Herm. Constitucionais 1.indd 132 26/01/17 12:17
ponderativo estabelece uma relação de precedência con-
dicionada entre os princípios em jogo149.
Norma constitucional alguma pode ser interpretada
isoladamente. A Constituição conjuga interesses diver-
gentes, a serem concretizados na maior extensão e inten-
sidade possíveis, sem afastamento apriorístico. Somente
se admite a redução do escopo diante de um contexto fá-
tico definido e mediante a aplicação da técnica decisória
que preserve o núcleo essencial de cada direto150.
Em abstrato, restam inconciliáveis os princípios em
evidência. A decisão do caso poderá reduzir a amplitude
de um ou de ambos os deveres prima facie em confronto.
Logo, necessária a opção metodológica pelo teste de pro-
porcionalidade e o exame da adequação, da necessidade e
da proporcionalidade em sentido estrito.
Enquanto a análise da adequação exige que a medida
interventiva adotadas mostre-se apta a atingir o objeti-
vo pretendido, a necessidade significa que nenhum meio
menos gravoso ao direito revelar-se-ia igualmente eficaz
à consecução do fim almejado. A proporcionalidade em
sentido estrito propicia um juízo de ponderação, para via-
bilizar o equilíbrio entre a medida interventiva e o direito
tutelado.
Um princípio será aplicado acaso adequado para
atingir a finalidade perseguida (adequação), e os meios
empregados para a realização do princípio sejam os me-
nos gravosos (necessidade). Se os princípios continua-
rem aplicáveis ao caso, ocorrerá a limitação do âmbito de
atuação de um em relação ao outro. Nesse momento, de-
149 ALEXY, Robert. Op. Cit.
150 PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Interpretação constitucional e direitos fundamen-
tais. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 297-382.
133
Herm. Constitucionais 1.indd 133 26/01/17 12:17
manda-se a ponderação de princípios (proporcionalidade
em sentido estrito). Esse exercício precisa de um padrão
intersubjetivamente compartilhado (ADPF 54/DF), para
evitar que a escolha não passe de uma preferência pessoal
do responsável pela solução do caso. Busca-se a criação
de uma ordem concreta de valores. Apenas se admite a
ponderação dos argumentos que estimulem a racionali-
dade – e não da autoridade – da decisão.
Encontram-se dispostos os princípios do direito fun-
damental à greve e da prestação das atividades essenciais.
Pretende-se definir se o direito de greve dos servidores
públicos civis pode ser exercido no cenário brasileiro, ou
se merece a vedação, nos moldes da Medida Cautelar na
Reclamação 24.597/SP e da Reclamação 6.568/SP.
A adequação está presente apenas em um dos lados.
As decisões do STF poderiam ser adequadas e hábeis à
realização dos comandos normativos caso indicassem
percentual determinado ou atividades específicas indis-
pensáveis, dentro do conjunto de atribuições a cargo das
categorias envolvidas. A ordem de manutenção de todas
as atividades corresponde a um meio adequado à satisfa-
ção do direito à prestação das atividades essenciais. To-
davia, essa medida não se mostra adequada à preservação
do direito de greve.
No que concerne à necessidade, em casos extremos e
como último recurso, só é possível proteger plenamente
os servidores públicos civis contra as inadequadas con-
dições de labor mediante a possibilidade de deflagração
do movimento paredista, dentro dos termos e do percen-
tual acordados com o ente público ou determinados pela
autoridade judicial competente. Por outro lado, não há
meio menos gravoso à prestação das atividades essenciais
134
Herm. Constitucionais 1.indd 134 26/01/17 12:17
à comunidade que permitir a indicação de percentual
mínimo adequado. Ocorre que a decisão limitadora do
direito de greve impede o acesso dos componentes da ca-
tegoria à medida de pressão extrema e privilegia de modo
absoluto o dever de prestar as atividades.
Não há condições para a máxima aplicação simultâ-
nea dos direitos. Imperioso seguir à proporcionalidade
em sentido estrito e avaliar até que ponto um princípio
pode ser afastado em benefício do outro. A maior satisfa-
ção de um deve ser vantajoso o suficiente para justificar o
menor grau de realização do contraposto.
O grau de restrição admitido no espectro do direito
de greve não pode ser total, para não se suprimir e des-
considerar seu caráter fundamental. De igual modo, a in-
teira liberdade de exercício do direito de greve em detri-
mento da prestação das atividades a cargo dos servidores
públicos civis da segurança e da saúde significa entender
esse direito como absoluto, característica não reconheci-
da. Assim, a determinação das atividades específicas e dos
percentuais de prestação mínima de serviços, correspon-
de a uma restrição ao direito de greve e uma limitação na
prestação de serviços que não agride o núcleo de quais-
quer deles e preserva a simultânea aplicação de ambos na
regra definitiva resultante da ponderação.
Portanto, a medida que preserva a máxima amplitu-
de e eficácia dos direitos em princípio colidentes é a que
permite o exercício do movimento paredista em atenção
às atividades indispensáveis, dentro das exercidas pelos
servidores da categoria (como o flagrante delito, para os
policiais civis, e o atendimento de urgência em UTI, para
os trabalhadores da saúde pública), ou de percentuais de
prestação mínima nas atividades que comportem redução.
135
Herm. Constitucionais 1.indd 135 26/01/17 12:17
A solução proposta atende na maior medida possível
cada um dos comandos postos em confronto, reconhe-
cendo-os como direitos fundamentais e relativizando-os
de forma a preservá-los ao máximo, na medida das possi-
bilidades concretas postas à análise do intérprete. Assim,
a estipulação dos contornos reais serve à preservação dos
princípios consagrados constitucionalmente.
O mesmo raciocínio pode ser aplicado quanto da re-
gulamentação do direito de greve dos servidores públi-
cos civis. Além do próprio legislador, o STF ou qualquer
outro juízo que for levado a aplicá-la pode valer-se dessa
dinâmica para chegar a idêntico resultado prático. Esta-
belecido o suporte fático concreto, a existência de idên-
ticas condições deve conduzir a uma resposta unívoca ou
similar. Daí a importância do teste de proporcionalidade.
Sobre a noção de caso concreto151, veja-se:
Em face de algumas possíveis incompreensões, é
importante esclarecer o que significa caso concre-
to. [...] Uma tal decisão legislativa, se, por um lado,
é mais abstrata que uma decisão judicial, não dei-
xa de ser também sua dimensão concreta, já que
o legislador não se preocupa, nesses casos, com a
importância geral e abstrata de dois direitos fun-
damentais, mas sua importância relativa, em uma
situação hipotética. Exemplo dessa acepção seria,
entre outros, a atividade legislativa que cria um tipo
penal de calúnia (CP, art. 138). O “concreto”, nesse
ponto, não é um caso específico que acontece na
realidade, mas a situação hipotética, descrita e “re-
151 SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos Fundamentais: conteúdo essencial, restrições e
eficácia. 2. ed. 3. tir. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 140.
136
Herm. Constitucionais 1.indd 136 26/01/17 12:17
solvida” pelo legislador em um certo sentido – a
favor da honra, em detrimento da liberdade de ex-
pressão –, que pressupõe uma decisão acerca de um
direito e de suas restrições. (grifei).
Desse modo, não somente uma situação específica e
que envolva sujeitos definidos pode ser considerada caso
concreto. Também os atos legislativos e os judiciais em
geral podem ser submetidos ao procedimento do teste
de proporcionalidade da medida interventiva frente ao
âmbito de proteção do princípio. Ainda que se prefira
utilizar a concordância prática (teoria interna) e se opte
por afastar o exercício do sopesamento (teoria externa),
chega-se ao mesmo caminho da não eliminação.
Portanto, a proibição do direito de greve no serviço
público para além da vedação constitucional corresponde a
uma interpretação conforme a Constituição que, na verda-
de, ofende a proibição do efeito cliquet (efeito de regresso)
e atenta contra a interpretação mais favorável ao homem,
a máxima eficácia expansiva dos direitos fundamentais, a
concordância prática e a manutenção dos princípios co-
lidentes na formação de uma regra de aplicação (sopesa-
mento), como no caso do teste de proporcionalidade.
Conclusão
O desempenho das atividades públicas essenciais
demanda a obediência ao princípio da continuidade dos
serviços. De igual modo, os servidores públicos são titula-
res de direitos sociais fundamentais, conquistas histórias
reconhecidas pelo texto constitucional e pelas normas
137
Herm. Constitucionais 1.indd 137 26/01/17 12:17
internacionais integrantes do ordenamento pátrio, como
é o caso do direito de greve.
A análise jurídica dos casos sob a ótica da Hermenêu-
tica Constitucional e do teste de proporcionalidade con-
sidera os princípios em evidência, contrapostos em busca
do alcance e concretização de direitos fundamentais. Não
se tratam de regras a serem solucionadas pelo raciocínio
do tudo ou nada. Antes correspondem a mandamentos
de otimização, que devem ser realizados na maior medi-
da, diante dos contornos da realidade concreta.
Há virtude na submissão das decisões judiciais ao
controle intersubjetivo, quando há disputa entre prin-
cípios. Intenta-se reduzir a inerente margem de subjeti-
vidade. Seguir uma ordem lógica e coerente no proces-
so decisório pode viabilizar a segurança jurídica como
instrumento de pacificação social. Para o alcance desse
fim, a previsibilidade da postura judicial diante de casos
análogos é primordial. Tentou-se realizar um esboço de
como o teste de proporcionalidade pode contribuir para
a solução dos casos em exame.
Como resultado, sugere-se a revisão dos entendi-
mentos fixados nos processos analisados e a fixação da
seguinte tese: “O exercício do direito fundamental de
greve é constitucionalmente garantido aos servidores
públicos civis. Cabe aplicar a regulamentação prevista na
Lei 7.783/89, enquanto não sobrevier a lei específica re-
querida pela Constituição. As atividades essenciais e os
serviços indispensáveis, bem como os percentuais míni-
mos de execução das atribuições que permitam redução
serão definidos por comum acordo ou por manifestação
judicial específica e em conformidade com as situações
fáticas. A determinação judicial de que a totalidade dos
138
Herm. Constitucionais 1.indd 138 26/01/17 12:17
servidores mantenham a prestação de serviços, sem con-
siderar essas peculiaridades, significa indevida limitação
ao direito fundamental de greve”.
Referências
ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales.
Ernesto Garçón Valdés (trad.). Madrid: Centro de Estu-
dios Políticos y Constitucionales, 2002.
ÁVILA, Humberto. A distinção entre princípios e regras e
a redefinição do dever de proporcionalidade. Revista Diá-
logo Jurídico. Ano 1, v. 1, n. 4. Salvador: jul. 2001.
BACHOF, Otto. Normas Constitucionais Inconstitucio-
nais? Trad. José Manuel Cardoso da Costa. Coimbra: Li-
vraria Almedina, 1994.
BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico.
SANTOS, Maria Celeste C. J. (trad.), CICCO, Cláudio de.
(rev. téc.). 6. ed. Brasília: Editora da Universidade de Bra-
sília, 1995.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República
Federativa do Brasil. Brasília: Senado, 1988. Disponível
em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/cons-
tituicao.htm>. Acesso em: 14 nov. 2016.
DWORKIN, Ronald. The model of rules I. In: Ronald
Dworkin, Taking Rights seriously. Cambridge (Massas-
chussests): Harvard University Press, 1977.
139
Herm. Constitucionais 1.indd 139 26/01/17 12:17
GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método. Traços fun-
damentais de uma hermenêutica filosófica. Trad. Flávio
Paulo Meurer. 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998.
HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional, A socie-
dade aberta dos intérpretes da Constituição: Contribui-
ção para a Interpretação Pluralista e ‘Procedimental’ da
Constituição. Trad.: Gilmar Ferreira MENDES. Ed. Ser-
gio Antonio Fabris, Porto Alegre: 1997.
HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre factici-
dade e validade. Tradução de Flávio B. Siebeneichler. Rio
de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, v. 1. 354 p. Título origi-
nal: Faktizität und Geltung: Beiträge zur Diskurstheorie
des Rechits und des demokratische Rechitstaats, 1992.
HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Tra-
dução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre : S.A. Fa-
bris, 1991.
PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Interpretação constitu-
cional e direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Renovar,
2006.
SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos Fundamentais: con-
teúdo essencial, restrições e eficácia. 2. ed. 3. tir. São Pau-
lo: Malheiros Editores, 2014.
140
Herm. Constitucionais 1.indd 140 26/01/17 12:17
Impactos socioeconômicos das decisões judiciais
Guilherme de Andrade Antoniazzi152
Introdução
A Constituição Federal assegura a todos as pessoas
sejam nacionais ou estrangeiros o livre acesso ao Poder
Judiciário buscando a satisfação, proteção ou reparação
de direitos na qual o Estado tem o dever de prestar a ati-
vidade jurisdicional.
Não pode o juiz na figura do Estado negar a pres-
tação jurisdicional alegando a não existência de normas
que possam regular o caso em concreto sob análise153 e
também no caso de a Lei não abranger todos os casos pre-
vistos, não fica autorizado a ocorrência de uma irraciona-
lidade ou arbitrariedades das decisões judiciais.
Não é de hoje a discussão sobre o impacto econômi-
co e social das decisões judiciais atinge o cotidiano da po-
pulação. As decisões judiciais seguras tem como objetivo
de distribuir a justiça e estabilidade das relações sociais,
prosseguidas de forma coerente. A busca de segurança
jurídica, a fim de reduzir a incerteza causada pelas ações
judiciais, que podem levar a decisões altamente políticas
e ideológicas ou excessivamente imbuídas de subjetivis-
mo, onde sempre foi uma preocupação constante para a
teoria da lei.
152 Mestrando em Direito Ambiental da Universidade do Estado do Amazonas – UEA.
153 Artigo 140 do Novo Código de Processo Civil, Lei 13.105/15.
141
Herm. Constitucionais 1.indd 141 26/01/17 12:17
A sociedade vive em constantes transformações seja
ela no campo social ou econômico, que demanda a neces-
sidade de um juiz com uma visão cada vez mais compro-
metida com o bem-estar social.
O juiz atualmente deve estar atento para a repercus-
são social e econômica de suas decisões em virtude dos
seus reflexos gerados quando proferidas, com a possibli-
dade de gerar consequências danosas ao sistema do país.
Em determinadas situações a solução de um caso concre-
to pelo juiz apesar de estar baseado na lei, a decisão pode
gerar grandes prejuízos para a sociedade como um todo.
O juiz deve ter uma visão geral da decisão com o
objetivo de avaliar os impactos que ela poderá gerar na
sociedade, não ficando adstrito em analisar de forma su-
perficial o caso em concreto a norma jurídica.
O surgimento de novas teorias hermenêuticas, subs-
tituindo o positivismo, mesmo evocada pela necessidade
de encontrar outras fontes legais em adição ao texto le-
gal e, assim impregnar as decisões em um teor mais ele-
vado da moral que permite um maior grau de equidade
também sendo impulsionado pela necessidade de evitar
decisões por causa de discrição dada pelo juiz, que o posi-
tivismo era o conteúdo desse recurso para resolver casos
demasiadamente complexos.
O magistrado deve analisar o conteúdo da norma ao
que ela traz na sua essência, devendo utilizar de princípios
e valores consagrados no ordenamento jurídico como o
da dignidade da pessoa humana, eticidade, solidariedade,
boa-fé objetiva, função social, segurança jurídica etc.
Para isso o juiz deve fundamentar as suas decisões de
forma concisa trazendo justificativas (a fundamentação
142
Herm. Constitucionais 1.indd 142 26/01/17 12:17
da fundamentação), como condição de dar legitimidade
a decisão.154
O juiz durante a fundamentação da decisão pode
analisar as suas consequências e utilizar-se dos instru-
mentos previstos para amenizar os impactos na socieda-
de e economia visando o bem-estar social.
O presente trabalho vem abordar os meios em que
o juiz deve se basear para formar a sua convicção, fazen-
do uma análise dos elementos de prova, do método do
consequencialismo em seguida a necessidade de funda-
mentar a decisão de forma justificar a sua interpretação
e o caminho utilizado nesse raciocínio até a formação da
convicção e também é abordado os meios para amenizar
os impactos que uma decisão possa ocasionar por meio
da modulação dos efeitos e por fim os principais aspectos
sociais e econômicos.
O Objetivo deste trabalho é demonstrar que a falta
da fundamentação e análise adequada das decisões judi-
ciais pode gerar grandes impactos na sociedade trazendo
problemas econômicos e insegurança jurídica nas rela-
ções entre as partes em âmbito privado ou público.
A metodologia deste trabalho, está baseada em pes-
quisa teórica por meio de doutrinas, legislação e traba-
lhos já existentes sobre o assunto.
154 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica, Estado e Política: uma visão do papel da
Constituição em países periféricos. In CADEMARTORI, Daniela Mesquita Leutchuk
e GARCIA, Marcos Leite (Organizadores). Reflexões sobre Política e Direito – Home-
nagem aos Professores Osvaldo Ferreira de Melo e Cesar Luiz Pasold. Florianópo-
lis: Conceito Editorial, 2008, p. 141.
143
Herm. Constitucionais 1.indd 143 26/01/17 12:17
Instrumentos para a formação da convicção e análise
do juiz
A constante evolução da sociedade que vem se de-
monstrando dinâmica e as inconstantes relações políti-
cas e econômicas que estão presentes no país, o direito
deve se adequar, trazendo meios para que o juiz tenha
mais condições de desempenhar o seu mister.
O magistrado deve buscar instrumentos para uma
melhor solução dos casos submetidos a seu exame, para
que possa formar a sua consciência com responsabilidade
social.
O Novo Código de Processo Civil de 2015, trouxe
no artigo 138, uma novidade na parte de intervenção de
terceiros no processo a figura do “amicus curiae”, que não
havia anteriormente regulamentação no Código de Processo
Civil de 1973, embora já existisse anteriormente a sua pre-
visão em outras leis como no artigo 7º, § 2º, Lei 9868/99,
(ADI), artigo 6º, § 1º, Lei 9882/99 (ADPF), artigo 14, § 7º Lei
10259/2001 (Juizados Especiais Federais), artigo 3º, § 2º, Lei
11.417/2006 (Súmula Vinculante).
O amicus curiae, seria um terceiro interessando que é
admitido no processo com a finalidade de fornecer ao juiz
subsídios instrutórios por meio de provas ou alegações ju-
rídicas, para a solução da causa que é revestida de especial
relevância ou complexidade, sem passar a titularizar posi-
ções subjetivas relativas as partes, auxiliando o magistrado
no sentido de trazer mais elementos para decidir.155
155 TALAMINI, Eduardo. Amicus Curiae no Código de Processo Civil de 2015. Dispo-
nível em: http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI234923,71043-Amicus+-
curiae+no+CPC15 (Acesso em: 12/11/2016), 2016.
144
Herm. Constitucionais 1.indd 144 26/01/17 12:17
A relevância da intervenção do amicus curiae no pro-
cesso é “especialmente relevante naqueles processos em
que são apreciadas demandas massificadas, repetitivas,
ou em qualquer outro caso de que possa provir uma deci-
são que tenha eficácia de precedente vinculante”.156
Para a solução do litígio deve o magistrado buscar
opiniões de pessoas, ou entidades que são ou podem ser
envolvidas na solução do caso submetido para a forma-
ção do seu convencimento com responsabilidade social.
Lara Faria Borges157, destaca uma ressalva sobre o
amicus curiae, segundo a qual “os pareceres e visões apre-
sentados pelo amicus curiae não vinculam necessaria-
mente o magistrado, mas ao menos levam-no a refletir e
pensar sobre pontos e interesses que não são necessaria-
mente os das partes envolvidas no processo”.
Alexandre Freitas Câmara158 destaca sobre a inter-
venção do “amicus curiae”.
a intervenção do amicus curiae seja mais um dentre
os diversos instrumentos regulados pelo novo CPC
para a democratização do processo judicial. Afinal,
não se pode mais conviver com um processo civil
156 CAMARA Alexandre Freitas. A intervenção do amicus curiae no Novo CPC. Dispo-
nível em: http://genjuridico.com.br/2015/10/23/a-intervencao-do-amicus-curiae-
-no-novo-cpc/ (Acesso em: 12/11/2016), 2015.
157 BORGES, Lara Parreira de Faria. Amicus curiae e o projeto do Novo Código de
Processo Civil - Instrumento de aprimoramento da democracia no que tange às
decisões judiciais. Disponível em: <http://www.temasatuaisprocessocivil.com.
br/edicoes-anteriores/51-v1-n-4-outubro-de-2011-/154-amicus-curiae-e-o-pro-
jeto-do-novo-codigo-de-processo-civil-instrumento-de-aprimoramento-da-de-
mocracia-no-que-tange-as-decioes-judiciais> Acesso em: 11/11/2016) 2015, p. 13.
158 CAMARA Alexandre Freitas. A intervenção do amicus curiae no Novo CPC. Dispo-
nível em: http://genjuridico.com.br/2015/10/23/a-intervencao-do-amicus-curiae-
-no-novo-cpc/ (Acesso em: 12/11/2016), 2015.
145
Herm. Constitucionais 1.indd 145 26/01/17 12:17
autoritário, conduzido pelo magistrado como se só
a este interessasse seu resultado. É preciso que juiz e
partes, de forma cooperativa, comparticipativa, tra-
balhem para construir, juntos, o resultado final do
processo, o qual deve ser capaz de atuar o ordena-
mento jurídico, revelando-se assim um mecanismo
de realização e preservação dos direitos assegurados
pela Constituição da República.
Para o exercício de suas funções o juiz necessita do
auxílio constante ou eventual de outras pessoas que, tal
como ele, devem atuar com diligência e imparcialidade,
conforme prevê o artigo 149 do Novo Código de Processo
Civil.
As matérias a serem apreciadas pelo juiz, quando
exigir conhecimentos técnicos e científicos em determi-
nadas aéreas poderá utilizar-se dos peritos ou também
por órgãos técnicos ou científicos, artigo 156 “caput” e §
4º do Novo Código de Processo Civil.
O artigo 369 do Novo Código de Processo Civil, dis-
põe que as partes integrantes do processo podem se uti-
lizar de “todos os meios legais, bem como os moralmente
legítimos, para provar a verdade dos fatos em que se fun-
da o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convic-
ção do juiz”.159
No sistema jurídico do Brasil, o juiz pode apreciar
livremente as provas apresentadas pelas partes, porém,
deve justificar suas decisões, ou seja, deve mencionar em
que se baseou sua sentença para a formação do seu con-
vencimento conforme dispõe o artigo 371 do Novo Códi-
go de Processo Civil.
159 Artigo 369 do Novo Código de Processo Civil, Lei 13.105/15.
146
Herm. Constitucionais 1.indd 146 26/01/17 12:17
Com base nessas premissas o magistrado irá apreciar
todos meios legítimos de prova que estão nos autos, pro-
duzido pelas partes, para a formação do seu convencimen-
to, devendo em uma concepção mais moderna utilizar-se
de uma interpretação baseada no consequencialismo.
O consequencialismo seria um método de interpre-
tação que o juiz utiliza por meio de um raciocínio lógico
diante de várias possibilidades existentes para a tomada
de decisão que produzirão efeitos sociais e econômicos
na medida da sua abrangência. O consequencialismo
impõe ao magistrado considerar as consequências sociais
e econômicas da opção a ser escolhida quando proferir
a decisão, fazendo-se uma adequação jurídica as conse-
quências a ela associadas.
Segundo José Machado Pirozi,160 o consequencialismo:
é aquele estilo de julgamento do juiz que reflete so-
bre as consequências metajurídicas, indo além do
processo e adentrando no impacto social e econô-
mico de suas decisões. Não é que o juiz possa julgar
fora da lei, mas dentro de uma margem de abertura
que a própria lei confere. Ao juiz torna-se permitido
graduar as determinações, considerando as peculia-
ridades do caso concreto e os efeitos sociais e econô-
micos da sentença.
O juiz irá refletir sobre as consequências metaju-
rídicas, indo além do que está na Lei e adentrando em
160 PIROZI, Maurício José Machado. Consequencialismo judicial - Uma realidade
ante o impacto socioeconômico das sentenças. Belo Horizonte, 2008. Disponí-
vel em: <http://www.ejef.tjmg.jus.br/home/files/publicacoes/artigos/consequen-
cialismo_judicial.pdf> Acesso em 12/11/2016, p. 02.
147
Herm. Constitucionais 1.indd 147 26/01/17 12:17
questões relativas aos impactos sociais e econômicos da
decisão. O magistrado irá fazer um julgamento dentro da
lei em uma margem que lhe dê essa abertura para avalia-
ção graduando determinações considerando as particula-
ridades que o caso concreto traz no tocante aos impactos
sociais e econômicos, decidindo atendendo aos fins so-
ciais e as exigências do bem comum no tocante a aplica-
ção da lei.161
O juiz deve interpretar a constituição e as leis sem
estar alheio ao sentimento social.162
Não se pode confundir o consequencialismo com o
ativismo judicial. Devido a instabilidades legislativas que
ocorre no nosso ordenamento, houve um aumento da
prática do ativismo judicial, que transforma o juiz em um
verdadeiro legislador concreto, devido ao legislador par-
lamentar não se atentou durante o processo legislativo
de prever em abstrato todos os fatos sociais que merecem
regulação jurídica, de tal sorte o juiz se torna um criador
de normas.
Assim é de extrema importância uma interpretação
feita pelo juiz utilizando-se dos meios que dispõe a lei,
analisando todos os meios de provas com base no méto-
do do consequencialismo verificando eventuais externa-
lidades danosas ao meio social e econômico que a decisão
pode gerar.
161 Artigo 5º da Lei de Introdução do Código Civil, Decreto Lei 4.657/42.
162 BARROSO, Luís Roberto. Temas de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar
2ª ed., 2002, p. 69.
148
Herm. Constitucionais 1.indd 148 26/01/17 12:17
Obrigatoriedade da Motivação das decisões judiciais
O artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, esta-
belece que toda a decisão judicial deve ser fundamentada
sob pena de nulidade:
Art.93, IX: todos os julgamentos dos órgãos do Poder
Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as
decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar
a presença, em determinados atos, às próprias partes
e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos
quais a preservação do direito à intimidade do inte-
ressado no sigilo não prejudique o interesse público
à informação.
Toda a decisão judicial deve ser fundamentada dan-
do às partes envolvidas a oportunidade de entender os
motivos daquela decisão e pode se for o caso impugna-la
por meio de recurso. Se isso não for respeitado, a parte
poderá oferecer embargos declaratórios para que o juiz se
manifeste sobre sua omissão. Deve, pois, ser fundamen-
tada a decisão judicial, que é gênero, do qual são espécies
a sentença, o acórdão e as decisões interlocutórias, estas
mesmo que de maneira concisa.163
A motivação das decisões significa que o magistrado
deve demonstrar às partes e aos demais interessados no
processo como se convenceu, para chegar àquela conclu-
são. O juiz ao apreciar a prova conforme o artigo 371 do
Novo Código de Processo Civil, deve de maneira clara e ob-
jetiva trazer os motivos e justificativas do porquê decidiu
163 FILHO, Misael Montenegro. Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do
Processo e Processo de Conhecimento. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 64.
149
Herm. Constitucionais 1.indd 149 26/01/17 12:17
em favor de uma das partes e contrário à outra, não bas-
tando mencionar, que uma parte tem a razão e a outra não.
Os juízes têm obrigação de justificar as suas decisões,
pois elas afetam direitos fundamentais e sociais, além do
que em um Estado Democrático de Direito a adequada
justificação da decisão é reconhecido como um direito
fundamental, devendo-se ultrapassar o “modo positivista
de fundamentar”. 164
Ensinam Fredie Didier Júnior, Paula Sarno Braga e
Rafael Oliveira:165
A exigência da motivação das decisões judiciais tem
dupla função. Primeiramente, fala-se numa função
endoprocessual, segundo a qual a fundamentação
permite, que as partes, conhecendo as razões que
formaram o convencimento do magistrado, possam
saber se foi feita uma análise apurada da causa, a fim
de controlar a decisão por meio dos recursos cabíveis,
bem como para que os juízes de hierarquia superior
tenham subsídios para reformar ou manter essa deci-
são. (...) Fala-se ainda numa função exoprocessual ou
extraprocessual, pela qual a fundamentação viabiliza
o controle da decisão do magistrado pela via difusa
da democracia participativa, exercida pelo povo em
cujo o nome a sentença é pronunciada. Não se pode
esquecer que o magistrado exerce parcela de poder
164 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica, Estado e Política: uma visão do papel da
Constituição em países periféricos. In CADEMARTORI, Daniela Mesquita Leutchuk
e GARCIA, Marcos Leite (Organizadores). Reflexões sobre Política e Direito – Home-
nagem aos Professores Osvaldo Ferreira de Melo e Cesar Luiz Pasold. Florianópo-
lis: Conceito Editorial, 2008, p. 141.
165 DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito
Processual Civil. 5.ed. Salvador: Podivm, v.2, 2010, p. 290.
150
Herm. Constitucionais 1.indd 150 26/01/17 12:17
que lhe é atribuído (o poder jurisdicional), mas que
pertence, por força do parágrafo único do artigo 1º da
Constituição Federal, ao povo.
A jurisdição em um universo de direito pós positi-
vista assume uma especial relevância de controlar a inde-
terminabilidade das normas que não conseguem abarcar
todas as hipóteses de aplicação, ficando a hermenêutica
com pretensões de ir além dos discursos prévios de fun-
damentação trazidos pelas teorias discursivas como solu-
ção para o problema da discricionariedade e arbitrarieda-
de do juiz.166
A hermenêutica tem por finalidade romper as inter-
pretações arbitrárias e discricionárias por parte dos ma-
gistrados, mas isso não quer dizer que o juiz estará impe-
dido de interpretar, até porque como já visto, não há cisão
entre interpretação e aplicação. “O acontecer da interpre-
tação ocorre a partir de uma fusão de horizontes (horizon-
tenverschmelzung), porque compreender é sempre o pro-
cesso de fusão dos supostos horizontes para si mesmos”.167
A interpretação deixa de ser um processo reprodu-
tivo (Auslegung), para ser considerada como um processo
produtivo (Sinngebung).168
O dever previsto no artigo 489 e seus parágrafos do
Novo Código de Processo Civil, está em sintonia com a
166 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica, Estado e Política: uma visão do papel da
Constituição em países periféricos. In CADEMARTORI, Daniela Mesquita Leutchuk
e GARCIA, Marcos Leite (Organizadores). Reflexões sobre Política e Direito – Home-
nagem aos Professores Osvaldo Ferreira de Melo e Cesar Luiz Pasold. Florianópo-
lis: Conceito Editorial, 2008, p. 145.
167 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias
discursivas. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p.467.
168 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias
discursivas. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 218.
151
Herm. Constitucionais 1.indd 151 26/01/17 12:17
exigência da regra prevista para a fundamentação das de-
cisões judiciais prevista no artigo 93, inciso IX da Consti-
tuição Federal e não deve ser visto como apenas um pa-
râmetro para o juiz apresentar os motivos que levaram a
formação do seu convencimento, deve haver uma expli-
cação das razões com uma fundamentação de sua inter-
pretação seria a mais adequada para o caso sob análise.
O juiz para que profira uma decisão considerada jus-
ta deve respeitar todas as garantias constitucionais fun-
damentando de modo bem efetivo o seu convencimen-
to sobre o caso utilizando-se da hermenêutica jurídica
profunda visando alcançar todos os direitos mesmo que
não estejam previstos objetivamente na lei, utilizando-se
de construção com base em princípios, precedentes e no
método do consequencialismo.
Modulação de efeitos das decisões judiciais
No Brasil, há previsão de modulação dos efeitos em
decisões provenientes de Controle de constitucionalida-
de concentrado de normas em (ADIN) ou (ADPF), artigo
27 da lei 9868/99 e no artigo 11 da lei 9882/99:
Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou
ato normativo, e tendo em vista razões de segurança
jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o
Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois ter-
ços de seus membros, restringir os efeitos daquela
declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a par-
tir de seu trânsito em julgado ou de outro momento
que venha a ser fixado.
152
Herm. Constitucionais 1.indd 152 26/01/17 12:17
Art. 11. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou
ato normativo, no processo de argüição de descum-
primento de preceito fundamental, e tendo em vista
razões de segurança jurídica ou de excepcional inte-
resse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por
maioria de dois terços de seus membros, restringir
os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só
tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou
de outro momento que venha a ser fixado.
O Supremo Tribunal Federal tem utilizado dessas
previsões legais para aplicar por meio de analogia, a mo-
dulação de efeitos em casos excepcionais em controle de
constitucionalidade difuso, dando-lhes eficácia prospec-
tiva, com base na ideia de segurança jurídica e estabilida-
de nas relações.169 170 171
A previsão da lei do “quórum” qualificado, para a mo-
dulação de efeitos, vem acompanhado da ocorrência de
razões ligadas a segurança jurídica ou excepcional interes-
se social, requisitos esses que são considerados conceitos
jurídicos indeterminados não existindo limites ou parâ-
metros rígidos ou ainda predefinidos, que devem ser ana-
lisados pelo magistrado no momento que julgar o caso.172
169 STF, RE 266994, Rel. Min. Maurício Correa, Tribunal Pleno, julgado em 31/3/2004.
170 STF, RE 377457, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 19/12/2008.
171 STF, RE 637485, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 1/8/2012,
DJe 21/5/2013.
172 Na ADI 3819, o Supremo Tribunal Federal STF julgou inconstitucional a transposi-
ção de cargos sem prévio concurso público (artigo 37, II da Constituição Federal)
de servidores para a recém-criada carreira de defensor público estadual de Minas
Gerais, onde foram concedidos efeitos prospectivos de seis meses a fim de que,
com base no princípio da continuidade do serviço público, o Estado tivesse tempo
hábil para reorganização das atividades.
153
Herm. Constitucionais 1.indd 153 26/01/17 12:17
O professor Ives Gandra da Silva Martins,173 ensina
que:
No Brasil, uma vez declarada, via controle concen-
trado, a inconstitucionalidade, esse reconhecimen-
to atinge a norma desde sua origem e, por força do
princípio da segurança jurídica, a decisão tem efeito
vinculante erga omnes. Porém, diante da impossibili-
dade material de reconduzir as situações definitiva-
mente constituídas, sob a égide da norma inválida,
à situação pretérita, eliminando todos os efeitos do
ato legislativo inválido, pode o tribunal reconhecer à
decisão de mérito, eficácia ex nunc.
No controle difuso, em regra os efeitos sejam con-
siderados “inter partes”, ou seja, valendo apenas para as
partes do processo e “ex tunc”, considerando-se a lei nula
desde a sua origem, com base no princípio da nulidade.
Existe posição do Supremo Tribunal Federal em ra-
zão de relevante interesse social e razões de segurança ju-
rídica, adotar a modulação de efeitos no controle difuso
de constitucionalidade, onde por um juízo de pondera-
ção dos efeitos “ex tunc” que seriam mais prejudiciais a
sociedade do que a própria manutenção da inconstitu-
cionalidade.174
O Recurso Extraordinário para ser conhecido, deve
versar sobre um tema relevante ou aspecto jurídico, polí-
tico, social e econômico e para que se tenha caracterizada
a repercussão geral, é necessário que o objeto de discus-
173 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Controle Concentrado de Constitucionalidade – Co-
mentários à Lei n. 9.868 de 10-11-1999, São Paulo: Saraiva, 2001, p.104.
174 STF Informativo nº 463.
154
Herm. Constitucionais 1.indd 154 26/01/17 12:17
são transcenda a esfera de interesses das partes integran-
tes do processo e sirva como uma forma de interesse a
outros litígios em trâmite ou possíveis de serem impetra-
dos perante o judiciário.
Quando verificada a possiblidade de ser conhecido
a repercussão geral em um Recurso Extraordinário, o
julgamento poderá trazer consequências jurídicas para
toda a sociedade e não somente entre as partes litigan-
tes, mas atingindo direitos coletivos, individuais e indi-
viduais homogêneos.
O Novo Código de Processo Civil trouxe a partir do
artigo 926, um sistema de regras que se destina a fixar
o modo de aplicação ao julgador visando o atendimen-
to dos precedentes judiciais. O Código com isso faz uma
associação com os princípios da legalidade, duração ra-
zoável do processo, segurança jurídica, da proteção da
confiança e da isonomia.
O motivo da uniformização da jurisprudência a ser
aplicada pelos julgadores, seria dar ao jurisdicionado uma
maior previsibilidade nos processos judiciais, reduzindo
a insegurança existente quando decisões díspares em ca-
sos semelhantes indique a aplicação da mesma solução.
O artigo 927, § 3º do Novo Código de Processo Civil,
permite a modulação de efeitos da decisão, “Na hipótese
de alteração de jurisprudência dominante do Supremo
Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela
oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver
modulação dos efeitos da alteração no interesse social e
no da segurança jurídica”.
Portanto a modulação dos efeitos das decisões ju-
diciais, para que produzam efeitos prospectivos ou “erga
omnes”, podem ser feitas visando um interesse social e
155
Herm. Constitucionais 1.indd 155 26/01/17 12:17
razões de segurança jurídica, devendo o julgador obser-
var uma interpretação baseada no consequencialismo, vi-
sando verificar eventuais efeitos sociais, econômicos que
a decisão possa ocasionar.
Aspectos socioeconômicos coletivo e individual
As discussões sobre os impactos das decisões judi-
ciais na sociedade e economia sempre contrapõem o di-
reito individual e o direito coletivo.
No estágio atual de desenvolvimento social, a discus-
são sobre os efeitos das decisões sobre a economia terá
ainda mais disposição, tendo a busca de segurança jurídi-
ca, a fim de reduzir a incerteza na relação contratual, no
qual tornou-se uma grande preocupação de economistas
e representantes de negócios.
Na verdade, é um fato científico de que a atividade
legal afeta diretamente a economia, no sentido de uma
maior equidade e previsibilidade e, portanto, a confiança
no sistema, sendo maior o desenvolvimento econômico e
social. Transações e assuntos financeiros são regidas por
contratos, que servem como a fórmula para a repartição
do risco entre os agentes econômicos. A interferência ju-
risdicional incorreta ou excessiva nesses relacionamen-
tos, eventualmente, elimina esta função de contratos, o
que aumenta os riscos e custos da atividade econômica.
Como a essência do contrato é a suposição e pro-
messa de obrigações mútuas para ativar o potencial do
comércio, onde uma ruptura com o acordo original, mes-
mo que parcial da intervenção judicial remove a previsi-
bilidade de que um dos contratantes tiveram de ser en-
156
Herm. Constitucionais 1.indd 156 26/01/17 12:17
volvidas inicialmente no negócio. Esta possibilidade tem
repercussões sobre o desenvolvimento econômico, uma
vez que aumenta o risco da atividade de um dos contra-
tantes e afeta o princípio contratual do “pacta sunt ser-
vanda” e da segurança jurídica.
Nesse sentido, J. J. Gomes Canotilho:175
Os princípios da protecção da confiança e da segu-
rança jurídica podem formular-se assim: o cidadão
deve poder confiar em que aos seus actos ou às de-
cisões públicas incidentes sobre os seus direitos, po-
sições jurídicas e relações, praticados ou tomadas de
acordo com as normas jurídicas vigentes, se ligam os
efeitos jurídicos duradouros, previstos ou calculados
com base nessas mesmas normas. Estes princípios
apontam basicamente para: (1) a proibição de leis re-
troactivas; (2) a inalterabilidade do caso julgado; (3) a
tendencial irrevogabilidade de actos administrativos
constitutivos de direitos.
O maior grau de previsibilidade e estabilidade nas
relações contratuais, no sentido de que as partes cum-
pram as suas promessas de maneira voluntária ou força-
da, mas também será proporcionalmente maior quanto
ao número de investimentos e atividades a serem exe-
cutadas. Se, no entanto, o grau de interferência judicial,
pode mudar os termos do contrato, desengatando uma
das partes da disposição inicialmente prevista, no qual é
exagerada ou é uma escolha pessoal dos juízes, sendo um
elementos ideológicos de avaliação subjetiva e fundados
175 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional, Coimbra: Almedina, 1993, p.
373.
157
Herm. Constitucionais 1.indd 157 26/01/17 12:17
na interpretação das normas em vigor, onde tal situação
de forma eficaz aumenta os custos associados com um
determinado setor da economia, prejudicando o desen-
volvimento econômico.
A falta de garantias ou previsibilidade no que respei-
ta à aplicação efetiva das obrigações contratuais estabe-
lecidas entre as partes, podem prejudicar ainda mais em
investimentos de longo prazo. A atividade em determi-
nados setores da economia, exige conhecimentos pro-
fundos, sendo um investimento maciço e com um plane-
jamento de longo prazo, na busca de desenvolvimento e
geração de emprego e renda.
O problema com a imprevisibilidade das decisões ju-
diciais é mais pronunciada no Brasil, onde a constância
de decisões contraditórias parecem abalar a confiança no
sistema político e judicial. O ativismo judicial, gravado
em decisões do Supremo Tribunal Federal, e também em
outros tribunais, parece hoje ser uma das marcas do siste-
ma judicial brasileiro e vem ganhando campo a cada ano.
Nos últimos anos, uma crise persistente de repre-
sentação, legitimidade e funcionalidade do legislativo
tem contribuído para a expansão do sistema judicial nes-
se sentido, em nome da Constituição, com decisões que
proporcionam omissões e, por vezes inovação no ordena-
mento jurídico, como norma.
Se o ativismo judicial tem um lado positivo, uma vez
que a atitude proativa de juízes para determinar os di-
reitos que são somente latentes ou nem sempre formam
de maneira clara na Constituição e na lei, resultando na
implementação de políticas públicas e início de promes-
sas não cumpridas da modernidade, no qual não pode-
-se deixar de perceber o risco que a atitude judicial, pelo
158
Herm. Constitucionais 1.indd 158 26/01/17 12:17
menos, se as expectativas sobre a titularidade de direitos,
como partes de um processo que pode ter ou não em de-
terminados casos.
Além disso, ainda se tem o problema da judicializa-
ção das relações sociais excessivas, sendo um fenômeno
que revela a transferência de poderes políticos e de toma-
da de decisão para o Judiciário, para resolver problemas
antes afetado apenas outros casos de força ou grupos so-
cialmente organizados. Além de emitir a posição ativista
que o Judiciário brasileiro assumiu, em alguns casos, há
uma tendência na sociedade brasileira a tomar qualquer
tipo de conflito que deve ser resolvido pelos juízes e pelos
órgãos que exercem a sua jurisdição.
Esta característica do momento social e político bra-
sileiro atual tem várias causas, onde algumas revelam
uma tendência global, mas em outros, especificamente
relacionado com o modelo institucional brasileiro, no
qual os amplos direitos da constitucionalização, tem o
aumento da demanda por justiça por parte dos cidadãos e
crescimento institucional do Judiciário que tem causado
essa intensa judicialização das relações políticas e sociais.
Desde a promulgação da Constituição Federal de
1988 consagrada por ser garantista e dirigente, as pessoas
redescobriram a cidadania perdida e tornaram-se cons-
cientes em relação aos seus direitos, o que também im-
pulsionaram significativamente o aumento do número
de ações judiciais abarrotando o sistema com milhares
de ações, deixando a prestação jurisdicional ao cidadão
mais lenta.
O Poder Judiciário surge no século XXI, como sendo
o grande poder da República em destaque ocorrendo a
apreciação de casos complexos no campo político, social
159
Herm. Constitucionais 1.indd 159 26/01/17 12:17
e econômico, proferindo decisões que influem muito na
vida da população.
Em algumas situações em que a própria lei, por meio
de regras ou conceitos jurídicos indeterminados, auto-
riza o juiz a considerar alguma classe de consequências
como critério relevante à aplicação da norma.176
Por fim, as decisões jurídicas são tomadas não apenas
analisando os elementos normativos em si, mas as conse-
quências metajurídicas projetadas para o futuro são leva-
das em consideração e isso gera grandes desafios para a
hermenêutica jurídica ao interpretar a norma e apurar as
suas prováveis consequências, valorando-as e ao mesmo
tempo garantindo a previsibilidade, segurança jurídica e
o bem-estar social.
Conclusão
As liberdades, garantias da magistratura e a demo-
cracia recuperada, o Judiciário teve a função de desem-
penhar o seu papel institucional, com a desenvoltura e
independência, ocupando o espaço político que se reser-
vava ao lado do executivo e legislativo. Isso obviamente,
mudou a relação entre a sociedade e o Poder Judiciário,
que é visto como a drenagem mais confiável e natural de
anseios para a eficácia dos direitos.
O juiz não tem o papel de somente restringir-se a
uma adequação do caso concreto à norma. A verificação
176 No caso do artigo 421 do Código Civil que traz a expressão “função social do con-
trato”, é um conceito jurídico indeterminado onde o juiz pode fazer uma análise
limitando a liberdade de contratar, por verificar que o seu exercício livre possa
gerar danos sob o ponto de vista econômico ou social.
160
Herm. Constitucionais 1.indd 160 26/01/17 12:17
dos impactos econômicos da decisão judicial está se coa-
duna com o pós-positivismo e com as teorias hermenêu-
ticas que buscam superar a grande discricionariedade ju-
dicial arbitrária sem fundamentação.
O magistrado quando se depara com um caso com-
plexo, deve fazer juntar várias diretrizes de valores unifi-
cando o sistema de normas para proferir uma decisão que
se evite a ocorrência de “efeitos sistêmicos” na economia
e sociedade e essa linha está em consonância com as teo-
rias hermenêuticas pós-positivistas.
O juiz atual está cada vez mais sendo considerado
um agente político, que por meio de interpretações vem
disciplinando os efeitos das leis para serem aplicadas de
uma forma mais adequada ao meio social e econômico.
Para isso não basta o magistrado utilizar-se apenas de
seus conhecimentos jurídicos e sim buscar uma análise
técnica ou científica, quando necessário e até ouvir e ve-
rificar provas de terceiros interessados. O direito trouxe
essa evolução que deve ser utilizada pelos julgadores para
se obter uma melhor colheita de elementos para a for-
mação da sua convicção e posteriormente fundamentar a
decisão em razão do consequencialismo jurídico.
O consequencialismo corrente de intepretação que
possui um leque de opções e argumentos ao qual possibi-
lita o juiz razões para a tomada de uma decisão específica
a partir de uma avaliação social e econômica dos possí-
veis efeitos desta decisão, deve ser cada vez mais utilizado
pelos magistrados quando proferirem as suas decisões.
161
Herm. Constitucionais 1.indd 161 26/01/17 12:17
Referências
BARROSO, Luís Roberto. Temas de Direito Constitucio-
nal. Rio de Janeiro: Renovar 2ª ed., 2002.
BORGES, Lara Parreira de Faria. Amicus curiae e o pro-
jeto do Novo Código de Processo Civil - Instrumento de
aprimoramento da democracia no que tange às decisões
judiciais. Disponível em: <http://www.temasatuaispro-
cessocivil.com.br/edicoes-anteriores/51-v1-n-4-outubro-
-de-2011-/154-amicus-curiae-e-o-projeto-do-novo-co-
digo-de-processo-civil-instrumento-de-aprimoramen-
to-da-democracia-no-que-tange-as-decioes-judiciais>
Acesso em: 11/11/2016) 2015.
BRASIL, Constituição Federal de 1988. Brasília: Senado
Federal, 2016.
BRASIL, Lei nº 13.105/15, Código de Processo Civil. Brasí-
lia: Senado Federal, 2016.
BRASIL, Lei 10.406/02, Código Civil. Brasília: Senado Fe-
deral, 2016.
BRASIL, Lei nº 9868/99, O processo e julgamento da ação
direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de
constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal
Brasília: Senado Federal,2016.
BRASIL, Lei nº 9882/99, o processo e julgamento da ar-
guição de descumprimento de preceito fundamental.
Brasília: Senado Federal, 2016.
162
Herm. Constitucionais 1.indd 162 26/01/17 12:17
BRASIL, Decreto Lei 4657/42. Lei de Introdução às nor-
mas do Direito Brasileiro. Brasília: Senado Federal, 2016.
CAMARA Alexandre Freitas. A intervenção do amicus
curiae no Novo CPC. Disponível em: http://genjuridico.
com.br/2015/10/23/a-intervencao-do-amicus-curiae-no-
-novo-cpc/ (Acesso em: 12/11/2016), 2015.
CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional,
Coimbra: Almedina, 1993.
DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEI-
RA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil. 5. ed. Sal-
vador: Podivm, v.2, 2010.
FILHO, Misael Montenegro. Curso de Direito Proces-
sual Civil. Teoria Geral do Processo e Processo de Co-
nhecimento. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2006.
MARTINS, Ives Gandra da Silva. Controle Concentrado de
Constitucionalidade – Comentários à Lei n. 9.868 de 10-11-
1999, São Paulo: Saraiva, 2001.
PIROZI, Maurício José Machado. Consequencialismo
judicial – Uma realidade ante o impacto socioeconô-
mico das sentenças. Belo Horizonte, 2008. Disponível:<
http://www.ejef.tjmg.jus.br/home/files/publicacoes/
artigos/consequencialismo_judicial.pdf> Acesso em
12/11/2016.
STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica, Estado e Política:
uma visão do papel da Constituição em países periféri-
163
Herm. Constitucionais 1.indd 163 26/01/17 12:17
cos. In CADEMARTORI, Daniela Mesquita Leutchuk e
GARCIA, Marcos Leite (Organizadores). Reflexões sobre
Política e Direito – Homenagem aos Professores Osvaldo
Ferreira de Melo e Cesar Luiz Pasold. Florianópolis: Con-
ceito Editorial, 2008.
STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: constituição,
hermenêutica e teorias discursivas. 4 ed. São Paulo: Sa-
raiva, 2011.
TALAMINI, Eduardo. Amicus Curiae no Código de Pro-
cesso Civil de 2015. Disponível em: http://www.migalhas.
com.br/dePeso/16,MI234923,71043-Amicus+curiae+no+-
CPC15 (Acesso em: 12/11/2016), 2016.
164
Herm. Constitucionais 1.indd 164 26/01/17 12:17
A (inter)definibilidade entre o proibido e o permitido
Marie Joan Nascimento Ferreira177
Introdução
Viver em harmonia é permitir ou proibir, ninguém
pode passar os seus limites e muito menos os limites do
outro. O homem precisa que os limites sejam fixados,
porque os seus sempre serão aqueles que ele entender em
benefício próprio e, assim, passando dos limites do outro.
A sua ação é positiva se permitida, negativa se for proi-
bida; mas positiva, sem saber que é negativa; e também,
negativa, por entendimento próprio quando a mesma era
positiva.
Nos primórdios, a força era a lei, o mais forte man-
dava no mais fraco. Com o desenvolvimento da raciona-
lidade, o homem transformou-se, surgiu regras e a força
deixou de existir como lei. As regras se estabeleceram de
forma verbal, de geração em geração, mas permaneceram
de uma simples família a um povo organizado, mantendo
essa harmonização.
Com a necessidade de perpetuar essas normas, po-
de-se assim dizer, foram materializadas, ou seja, escritas.
Mesmo com toda organização realizada para que as
normas fossem devidamente cumpridas e que não hou-
vesse dúvida, nem tudo estava devidamente contem-
plado. Cada caso era um caso, e apesar do homem ser o
177 Mestranda em Direito Ambiental da Universidade do Estado do Amazonas. Analis-
ta Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 11a. Região.
165
Herm. Constitucionais 1.indd 165 26/01/17 12:17
responsável pelas suas próprias leis, não era possível ima-
ginar todos os conflitos existentes no mundo.
Com o advento desses conflitos, a tentativa de so-
lucioná-los trouxe vários métodos ou mesmo interpre-
tações. Cada um com o seu entendimento, vale ressaltar
que a história apenas relata a partir do século XII com o
positivismo e o que se sabe é através de fatos históricos
e análises que refletem aquele momento, pode-se assim
dizer, a História do Direito.
Cria-se, então, sistemas que organizavam as leis,
mas deixavam falhas pois nem tudo era abrangido pelo
sistema. O que foi denominado, primeiramente, “vácuo”
e mais tarde, “lacuna”. Diante de várias interpretações
tentando solucionar conflitos, surge a tese do dogma da
plenitude hermética do ordenamento jurídico e da nor-
ma que fecha o sistema que traduz-se em “tudo o que não
está proibido, está permitido”.
Maria Helena Diniz retrata este princípio como “ver-
dade necessária” e a interdefinibilidade entre os termos
“proibido” e “permitido”, trazendo várias críticas e assen-
timentos para tanto.
Esta interdefinibilidade apontada, realmente existe,
entre o “proibido” e o “permitido”?
Deve-se, por oportuno, analisar historicamente se o
“proibido” e o “permitido” existia e como surgiu, traçan-
do uma análise de como era resolvido os conflitos antes
do positivismo jurídico, até os dias de hoje.
Por derradeiro, considerar a relevância da definição
de cada termo e sua ligação literal ou gramatical, ou ain-
da, juridicamente; contanto que demonstre a existência
desta interdefinibilidade.
166
Herm. Constitucionais 1.indd 166 26/01/17 12:17
Assim, o objetivo deste artigo visa concentrar os seus
conceitos nas manifestações da autora Maria Helena Di-
niz, esclarecendo se existe a (inter) definibilidade entre o
“proibido” e o “permitido”.
Breve relato histórico
A origem do direito positivo expõe a necessidade do
homem viver em sociedade harmonicamente, como rela-
ta Medeiros178:
A sociedade é composta por uma pluralidade de pes-
soas buscando finalidades comuns através de meca-
nismos adequados. Portanto, a sociedade é um agru-
pamento humano permanente, vinculado por laços
de solidariedade que surgem espontaneamente, pois
o homem é um animal político que precisa viver em
sociedade para alcançar seus objetivos, dando ori-
gem ao direito positivo que surge como instrumento
de harmonização entre o querer individual e a von-
tade coletiva.
Em tempos mais remotos, as leis não eram escritas,
mas viviam na sabedoria de cada povo, o que era certo
ou errado, passando uns para os outros. Não existia uma
lei única entre todas as nações, o que poderia ser con-
siderado uma ação positiva nesta nação, na outra, seria
uma ação negativa. Até hoje, certos costumes aplicados
178 Cristiano Carrilho Silveira de Medeiros, Manual de História dos Sistemas Jurídicos,
1ed., Elsevier, 2009, p. 1.
167
Herm. Constitucionais 1.indd 167 26/01/17 12:17
nas leis de vários países são positivos para uns e negativos
para outros.
Todavia, aquilo que não constava nas leis não escri-
tas era resolvido através da época em que ocorria o caso,
por exemplo, no sistema irracional, utilizava-se conclu-
sões divinas criadas no momento da necessidade.
Para melhor compreensão histórica, Gilissen179 des-
creve quatro fases, ao relatar as transformações dos siste-
mas jurídicos do racional ao irracional: a fase do sistema
irracional; o período do direito consuetudinário; a fase
dos tempos modernos e o período da preponderância da
legislação.
Durante o sistema irracional, dividiu-se em duas
fases: primeiramente o julgamento divino, como provas
irracionais providas da intervenção divina; na segunda
fase, elementos sobrenaturais, praticados pelos juízes da
cortes feudais que geralmente eram os próprios senho-
res feudais, como ordálias, marcação com ferro em brasa,
banho com água fervente, etc., assim descreve Carrilho180
determinado episódio:
Em 1252, com a Bula do Papa Inocêncio IV, permi-
tiu-se o uso da tortura para obter-se a confissão do
suspeito de bruxaria e heresia. O emprego da tortura
como meio de obter a confissão, ou informação de
uma pessoa acusada, ou ainda de uma testemunha
recalcitrante, ressurgiu na Europa do século XIII não
como uma inovação, mas como uma restauração,
179 John Gilissen ,1957, apud Maria Helena Diniz, Lacunas no Direito, 4 ed., Saraiva,
1997, p.7.
180 Medeiros, ob. cit., p. 136.
168
Herm. Constitucionais 1.indd 168 26/01/17 12:17
dado o fato de ter sido amplamente aplicado na An-
tiguidade e início da Idade Média.
O período do direito consuetudinário, surge a racio-
nalidade, ou mesmo o início do período racional, em que
Gilissen181 escreve:
O reforço do poder de certos reis e senhores faz de-
saparecer a anarquia do regime feudal, baseado na
força, na violência e na submissão do homem pelo
homem. Os que exercem o poder tendem a manter
a ordem e a paz pelo desenvolvimento da sua polícia
e da sua justiça. Assim se formam os embriões dos
Estados modernos, tanto nas mãos de um rei que
consegue submeter um vasto território à sua autori-
dade (França, Inglaterra, Espanha), como nas de um
grande senhor que consegue manter a quase-inde-
pendência do seu senhorio (ex. conde da Flandres,
duque de Brabante, príncipe-bispo de Liège, conde
Toulouse, duque da Baviera etc.).
Maria Helena Diniz182 cita o procedimento “recurso à
chef de sens”, cuja finalidade era solucionar questões com-
plexas que não faziam parte dos costumes. Ao contrário,
nos dias de hoje, o recurso tem outros intuitos, como
bem descreve:
Não se tratava, como é óbvio, de um recurso, no sen-
tido moderno do termo, pois a jurisdição subalterna
recorria à superior antes de ter proferido uma sen-
181 John Gilissen, Introdução Histórica ao Direito, Fundação Calouste Gulberkian,
1995, p. 205.
182 Diniz, ob. cit., p. 10.
169
Herm. Constitucionais 1.indd 169 26/01/17 12:17
tença, ou ainda, porque, por ignorância da norma
aplicável, não tinha condições de sentenciar.
A fase dos tempos modernos baseia-se nas fontes es-
critas e não-escritas, pode-se dizer até a fase da transição
para o direito escrito, também denominado direito co-
mum. Medeiros183 descreve esta fase:
A consolidação do direito como criação espontânea do
espírito do povo encontra suas raízes no costume, ten-
do em vista que as normas postas pelos legisladores
e juristas são frequentemente reconhecidas naquilo
que estaria latente no conjunto da sociedade. (...)
Desconsiderando-se a edição de leis decorrentes da
vontade ditatorial, no processo histórico da criação
do direito positivo nas sociedades livres, sua forma-
ção se inicia considerando os fatos e os valores (julga-
mentos positivos ou negativos das condutas) para a
gênese do direito, a conduta humana e os fatos sociais
seriam valorados pela sociedade como aceitáveis ou
não, sendo posteriormente “objetivados” por meio
de normas escritas ou costumeiras. Nenhuma socie-
dade pode sobreviver sem um código moral funda-
do em valores compreendidos, aceitos e respeitados
pela maioria de seus membros.
Por fim, o período de preponderância da lei, surge a
partir do séc. XVIII até os tempos atuais, juntamente com
a Revolução Francesa, em que predomina a presença do
183 Medeiros, ob. cit., p. 4 e 5.
170
Herm. Constitucionais 1.indd 170 26/01/17 12:17
ser humano como responsável pela própria positivação
do direito, como analisa Tércio Ferraz Jr184:
Desde o Renascimento, ocorre, porém, um proces-
so de dessacralização do direito, que passa a ser vis-
to como uma reconstrução, pela razão, das regras
da convivência. Essa razão, sistemática, é pouco a
pouco assimilada ao fenômeno do estado moderno,
aparecendo o direito como um regulador racional,
supranacional, capaz de operar, apesar das diver-
gências nacionais e religiosas, em todas as circuns-
tâncias. A crise dessa racionalidade, no entanto, irá
conduzir-nos, como dizíamos, a um impasse que se
observará, no início do século XIX, pelo aparecimen-
to de formulações românticas sobre o direito, visto
como fenômeno histórico, sujeito às contingências
de cada povo.
Com o advento de ordenamentos jurídicos mais
complexos e diferentes, pode-se assim dizer, surge no
séc. XIX, a “teoria da plenitude necessária da legislação
escrita”185. Rousseau186 esclarece a necessidade da lei es-
crita para o homem:
O que é bom e conforme à ordem o é pela natureza
das coisas e independentemente das convenções hu-
manas. Toda a justiça procede de Deus, só Ele é sua
fonte, porém se soubéssemos recebê-las de tão alto,
184 Ferraz Jr., Introdução do Estudo do Direito, Atlas, 2016, p. 47.
185 Diniz, ob. cit., p. 6.
186 Jean-Jacques Rousseau, Do Contrato Social, Nova Fronteira, 2016, p. 49.
171
Herm. Constitucionais 1.indd 171 26/01/17 12:17
não necessitaríamos governos nem leis. Sem dúvida,
é uma justiça universal emanada unicamente da ra-
zão, mas para ser admitida entre nós deve a mesma
ser recíproca. Considerando humanamente as coisas
desprovidas de confirmação natural, as leis da justiça
são vãs entre os homens. Não produzem senão o bem
do malvado e o mal do justo, quando este as observa
como todos sem que ninguém as observe para com
ele. São, pois, necessárias convenções e leis para unir
os direitos aos deveres e dirigir a justiça ao seu fim.
No estado natural, em que tudo é comum, nada devo
aos que nada prometi, e não reconheço como dos ou-
tros senão o que me é inútil (...).
O relato histórico acima procura demonstrar a ori-
gem da dicotomia do “proibido” e “permitido”, surgindo,
assim, conflitos, pois nem tudo está presumido na lei,
mesmo quando não era escrita, pois a vida é dinâmica e a
cada dia mais dúvidas vão se apresentado. Surgindo, as-
sim, vários questionamentos, se existem ou não lacunas,
ou se pode fazer ou não fazer aquilo, isto é, está permi-
tido ou proibido. Ou ainda, se aquilo que não está na lei,
não existe, não pode ser considerado pelo ordenamento
jurídico.
Diante disso, a doutrina jurídica, num primeiro mo-
mento, denomina estes questionamentos como “vácuos”,
e mais tarde “lacunas”, pois as dúvidas se multiplicavam e
não sabia qual caminho seguir. Trazendo, assim, interro-
gações que, até hoje, são estudadas para melhor aplicá-las
da melhor forma possível e novos pensamentos foram
surgindo.
172
Herm. Constitucionais 1.indd 172 26/01/17 12:17
Definição
Deve-se analisar certas premissas, se existe colisão
entre as normas, para concluir a completude ou incom-
pletude do ordenamento jurídico, ou seja, se o sistema
jurídico compreende ou não todas as dúvidas jurídicas.
Existem duas correntes antitéticas: a inexistência de la-
cunas, onde o sistema jurídico forma um todo orgânico,
sempre bastante para disciplinar todos os comportamen-
tos humanos; e a existência de vácuos ou lacunas nos
ordenamentos, pois por mais que sejam perfeitos não
podem prever todas as situações de fato. Haja vista, que
todos os dias se transformam ou surgem inteiramente
novas, acompanhando ou não o ritmo instável da vida.
Assim, as premissas existentes para analisar as la-
cunas do direito, consubstancia na ligação entre lacuna
e sistema, bem como o problema da exigência da com-
pletude do sistema como um ideal racional. Esta se sub-
divide em: teorias negadoras da existência das lacunas e
fundamentação do postulado da plenitude e a análise do
dogma da plenitude hermética do ordenamento jurídico
e da norma que fecha o sistema.
A análise do dogma da plenitude hermética do orde-
namento jurídico e da norma que fecha o sistema tradu-
z-se em “tudo o que não está proibido, está permitido”.
Fundamenta-se na expansão lógica, ou seja, o que é proi-
bido, não está permitido e o que está permitido, não está
proibido; bem como na existência de uma norma tácita
complementar, se a matéria questionada está permitida
ou proibida na lei, caso contrário, não é jurídica.
Diante das premissas apresentadas, pode-se dizer
que existe esta interdefinibilidade entre proibido e per-
173
Herm. Constitucionais 1.indd 173 26/01/17 12:17
mitido, ou apenas define-se o proibido e o permitido.
Como chegar a essa verdade necessária?
O direito positivo procura agregar os valores da so-
ciedade para que as ações sejam comuns e beneficie a to-
dos, e não apenas uma parcela da população, como pres-
creve Medeiros187:
A finalidade prática do Direito Positivo e da Ciência
Jurídica consiste em estabelecer as normas destina-
das a regular as relações sociais. O Direito Positivo
persegue a finalidade de fixar e de fazer respeitar a
ordem social em sua coletividade politicamente or-
ganizada. O escopo último da norma jurídica, enten-
dida como criação determinada por sua finalidade
prática, é sua aplicação a casos concretos; esta pecu-
liaridade do Direito repercute-se necessariamente
na ciência jurídica.
Daí a necessidade de compreendermos a ciência
jurídica, e consequentemente, as leis e os sistemas jurí-
dicos, para procurar o equilíbrio dos mesmos perante a
sociedade.
Como já indicado anteriormente, Maria Helena Di-
niz ao analisar o dogma da plenitude hermética do orde-
namento jurídico e da norma que fecha o sistema busca
definir a verdade necessária “tudo o que não está proibi-
do, está permitido” e vice-versa, bem como se a definição
de cada um realmente interage entre si.
Para conhecer e esmiuçar a interdefinibilidade das
palavras ‘permitido’ e ‘proibido’ deve-se conhecer a ori-
187 Medeiros, ob. cit., p. 4.
174
Herm. Constitucionais 1.indd 174 26/01/17 12:17
gem das palavras e o seu emprego para chegar ao elemen-
to comum e, assim, encontrar esta relação entre os dois
termos referidos.
A palavra ‘proibir’ provém do latim prohibére, com-
posta pelo prefixo ‘pro’ que significa ‘em frente’, ‘longe’; e
do verbo habere, que signigica ‘ter’, ‘manter’, ou seja, proi-
bir é manter algo longe, fora do alcance dos outros. Da
mesma forma, a palavra ‘permitir’, do latim permissio, de
permittere, ‘deixa seguir, deixa passar’, provém das pala-
vras per, ‘através’ e mittere, ‘enviar, deixa ir’188.
Analisando a origem das palavras ‘permitido’ e ‘proi-
bido’, não existe nenhuma ligação entre elas, muito me-
nos a mesma definição. Outrossim, literalmente, Buar-
que de Holanda189 traduz:
per.mi.tir v.t.d. 1.Dar liberdade, poder ou licença
para. 2. Deixar que aconteça/ aceitar, admitir, tole-
rar. 3. Dar margem, origem, ou azo. T.d.i. 4. Permitir
(l). 5. Tornar possível. P. 6. Tomar a liberdade ou a
iniciativa de.
pro:i.bir v.t.d. 1. Não permitir; impedir que se faça. 2.
Tornar ilegal; interditar. T.d.i.3. Não permitir (algu-
ma coisa) a alguém. 4. Tornar (algo) ilegal ou restrin-
gir o uso de; vedar.
Definir proibido ou permitido como sinônimos da
língua portuguesa, não esclarece os problemas inerentes
aos “vácuos” do direito, ou melhor, às lacunas do direito.
Apenas demonstra que a sua interdefinibilidade ocorre
188 Dicionário Etmológico, disponível em: www.dicionarioetmologico.com.br, 2016.
189 Aurélio Buarque de Holanda, Miniaurélio: o minidicionário da língua portuguesa,
Positivo, 2008, p. 625 e 658.
175
Herm. Constitucionais 1.indd 175 26/01/17 12:17
no Direito em si, o que deixa mais lacunosa a sua defini-
ção, apesar do termo “proibir” utilizar na sua designação
o termo “permitir” na negativa, mas a recíproca não é
verdadeira.
Ao acrescentar a palavra ‘não’ em ambas as palavras
ou em apenas uma delas, encontraremos outros signifi-
cados que corroboram com a sua interdefinibilidade, ou
ainda, se afastam por completo.
A (inter)definibilidade e seus argumentos
O que é proibido ou permitido devia vir do homem,
não precisaria de guia, mas infelizmente os caminhos
nem sempre são claros e a escolha dúbia. Rousseau190 re-
trata bem a necessidade da lei para definir o que é permi-
tido ou proibido:
(...) O povo, por sua vez, quer sempre o bem, mas
nem sempre o reconhece. A vontade geral é reta, po-
rém o juízo que guia nem sempre é claro, e algumas
vezes, como lhes devem aparecer: ensinar-lhe o bom
caminho que procura, preservá-lo da sedução das
vontades particulares, relacionar ante os seus olhos
os lugares e os tempos, contrabalançar o atrativo das
vantagens presentes e sensíveis com o perigo dos
males ocultos e longínquos. Os particulares desejam
o bem que desprezam, o povo quer aquele que não
vê. Todos necessitam igualmente de guias. Necessá-
rio é obrigar a uns a conformar sua vontade com a
190 Rousseau, ob. cit., p.51.
176
Herm. Constitucionais 1.indd 176 26/01/17 12:17
razão. Necessário é, também, ensinar ao povo a co-
nhecer o que deseja(...).
Maria Helena Diniz demonstra a teoria da comple-
tude, elencando vários argumentos de outros autores,
quanto ao sistema normativo completo e fechado, regido
pelo princípio “tudo o não está proibido, está permitido”.
O que revolve, ainda mais, se há ou não interdefinibilida-
de entre o proibido e o permitido. Ferraz Jr.191 Acrescenta:
A teoria jurídica diz-nos, nesse sentido, de uma regra,
segundo a qual todo ordenamento qualifica como in-
diferente tudo que não é obrigatório ou proibido, ou
seja, o que não está juridicamente proibido é juridi-
camente permitido (...). Apesar disso, o sistema não é
completo, porque a ordem normativa também é um
critério de avaliação deôntica de comportamentos
possíveis, sendo assim suscetível de transformações.
Revela, então a referida autora, que “tudo está per-
mitido ou proibido”192 e, por isso, indica esta cumplicida-
de entre dois antônimos, pode-se assim dizer, no que se
refere a Língua Portuguesa; e no Direito, uma “verdade
necessária”. Porém, sinônimo, quando negativos entre si,
nas duas formas citadas. Como assim descreve:
Se o “permitido” e o “proibido” são interdefiníveis,
isto é, se “permitido” significa o mesmo que “não
proibido” e “proibido” quer dizer “não permitido”, o
referido princípio expressa uma verdade necessária,
191 Ferraz Jr., ob. cit., p. 181.
192 Diniz, ob. cit., p. 56.
177
Herm. Constitucionais 1.indd 177 26/01/17 12:17
estaria normando e todo sistema seria fechado, por-
tanto carente de lacunas, uma vez que todas as con-
dutas seriam, deonticamente, qualificadas.193
Como já definido, ‘permitido’ seria a ação positiva de
consentir algo, ou melhor, dar liberdade para fazer algo.
Todavia, Maria Helena Diniz, retrata dois significados di-
versos para “permitido”:
A expressão “permitido” pode ter dois significados
diversos. Pode ser equivalente a “não proibido”, im-
plicando a inexistência no sistema de uma norma
que proíbe a conduta em questão. O outro sentido
é o de uma autorização positiva, requerendo a exis-
tência de uma norma que permite a ação em tela.194
Permite-se exemplificar, através do Direito Penal, o
“permitido” e o “proibido”, no crime de suicídio. Dentro
do ordenamento jurídico brasileiro não é proibido ao ho-
mem se suicidar, mas também não existe a permissão para
tanto. No entanto, aquele que incita o suicídio é proibido
fazê-lo pela lei. Então, se suicidar é permitido, não é proi-
bido. Da mesma forma, se ele não é proibido, então é per-
mitido; ou se ele é permitido, então não é proibido. O que
traria ao pensamento a permissão para se suicidar, ou não?
A fim de ilustrar, Maria Helena Diniz195 cita Kel-
sen exemplificando a ambiguidade do “permitido” e do
“proibido”:
193 Diniz, ob. cit., p. 56 e 57.
194 Idem, ob. cit., p. 57.
195 Idem, ob. cit., p. 57 e 58.
178
Herm. Constitucionais 1.indd 178 26/01/17 12:17
Kelsen, como demonstramos em páginas anteriores,
afirma que a conduta de um indivíduo juridicamente
não proibida, por isso permitida, só pode estar ga-
rantida pela ordem jurídica se os demais indivíduos
estão obrigados a respeitar essa conduta, ou seja, a
não a impedir. Porém, é perfeitamente possível que
uma conduta não proibida (e, neste sentido, permiti-
da) se oponha à conduta de outro indivíduo que tam-
bém não está proibida, sendo, portanto, permitida.
Por exemplo: “pode não ser proibido que o proprie-
tário de uma casa faça uma abertura na parede no
limite de sua propriedade e aí instale um ventilador.
Mas também pode, ao mesmo tempo, não ser proibi-
do que o proprietário do terreno adjacente construa
neste uma casa em que uma das paredes fique colada
à parede da casa do vizinho provida da abertura de
ventilação, por forma a malograr-se o uso do venti-
lador. Nesse caso é permitido a um impedir o que ao
outro é permitido fazer, a saber, introduzir ar num
aposento de sua casa por meio de um ventilador. Se
não é proibida (e, neste sentido, é permitida) a con-
duta de um indivíduo que é contrária à conduta de
um outro indivíduo também não proibida (e, neste
sentido, permitida), é possível um conflito em face
do qual a ordem jurídica não toma qualquer posição
... A ordem jurídica não pode, de forma alguma, pro-
curar impedir todos os conflitos possíveis”. Temos aí
um conflito de interesses não solucionado pela or-
dem jurídica.
179
Herm. Constitucionais 1.indd 179 26/01/17 12:17
Para outros autores, não existe interfinibilidade,
como aponta Maria Helena Diniz196 que “Von Wright
afasta a interdefinibilidade do “permitido” e “proibido”,
considerando a permissão como sendo um caráter deôn-
tico autônomo”, ou seja, quando apresenta um valor de
obrigação ou permissão. Mas, ao mesmo tempo, se torna
dúbio a sua afirmação, ou como a própria autora deduz
“uma vacilação”, pois “aceita a interdefinibilidade, mas
distingue seis conceitos de “permitido” e seis correspon-
dentes de “proibido”, entendendo que seria possível a
existência de sistemas abertos, quando os conceitos de
“permitido” e de “proibido” não se corresponderem”.
Ao contrário, Amedeo Conte197 revela que a conduta
deve ser provada empiricamente, pois uma conduta in-
qualificada também permite uma ação ou omissão. Volta-
-se, ao ponto principal, conflitos já qualificados são con-
vertidos em lei e os que não aparecerem qualificados, não
existem porque não fazem parte do ordenamento jurídico.
A interdefinibilidade do “permitido” e do “proibido”
no ramo privado não traduz-se na mesma forma no pú-
blico, pois é controvertida, visto que Kelsen nega diferen-
ça mas Del Vecchio afirma, como descreve Maria Helena
Diniz198:
Deveras, por uma questão de técnica legislativa, a re-
gulamentação proibitiva, no direito privado, é sem-
pre positiva, ao passo que, no direito público, é sem-
pre negativa. A presunção é a de que, em princípio, as
196 Idem, ob. cit., p.56.
197 Conte Apud Diniz, ob. cit., p.58.
198 Diniz, ob. cit., p. 59.
180
Herm. Constitucionais 1.indd 180 26/01/17 12:17
condutas dos particulares devem ser permitidas; daí
a regulamentação proibitiva positiva, de forma que
tudo o que não conflite como positivamente proibi-
do (é negativamente) permitido. No direito público
prevalece a idéia de que o Estado não deve interferir
na área negativa de sua intervenção. Todavia, para
que o Estado possa agir é necessária a regulamenta-
ção permissiva positiva, que lhe confere competência
vinculada ou discricionária.
Para pontuar, Maria Helena Diniz199 revela o enten-
dimento de Lourival Vilanova:
É de se ver que, para o mencionado autor, o princí-
pio “o que não está proibido está permitido” não é,
em Kelsen, um simples enunciado descritivo, nem
uma proposição formal-lógica, necessariamente,
verdadeira, por estabelecer equivalência analítica
entre os modos deônticos “não proibido=permitido”,
mas uma norma geral negativa que proporciona fe-
chamento ou completude do sistema jurídico. A ela
recorre o aplicador do direito quando, ante condu-
tas conflitantes, argumenta que, se o caso não está
proibido por nenhuma norma positiva, está juridica-
mente permitido. Assim sendo, essa norma é parte
integrante do sistema jurídico.
Como último pensamento ilustrativo para concluir,
Lênio Streck200:
199 Idem, ob. cit., p. 63.
200 Lênio Streck, Verdade e Consenso, Saraiva, 2014, p. 36 e 37.
181
Herm. Constitucionais 1.indd 181 26/01/17 12:17
(...) Kelsen, portanto, privilegiou, em seus esforços teó-
ricos, as dimensões semânticas e sintáticas dos enuncia-
dos jurídicos, deixando a pragmática para um segun-
do plano: o da discricionariedade do intérprete. Este
ponto é fundamental para podermos compreender
o positivismo que se desenvolveu no século XX e o
modo como encaminho minhas críticas nessa área
da teoria do direito. Sendo mais claro: falo desse po-
sitivismo normativista, não de um exegetismo que,
como pôde ser demonstrado, já havia dado sinais de
exaustão no início do século passado. Numa palavra:
Kelsen já havia superado o positivismo exegético,
mas abandonou, diante da sua inexorabilidade, o
principal problema do direito: a interpretação con-
creta, no nível da “aplicação”. E nisso reside a “mal-
dição” de sua tese. Não foi bem entendido quando
ainda hoje se pensa que, para ele, o juiz deve fazer
uma interpretação “pura da lei”!
Neste ponto, impõe-se uma reflexão: o que se quer
mencionar quando se afirma que o juiz não pode
mais, no contexto do direito “atual”, apegar-se à “li-
teralidade da lei”? Afinal, o que é “literalidade da lei”?
Ora, desde o início do século XX, a filosofia da lin-
guagem e o neopositivismo lógico do Círculo de Vie-
na (que está na origem de teóricos do direito como
Hans Kelsen) já haviam apontado para o problema da
polissemia das palavras. Isso nos leva a outra ques-
tão: a literalidade é algo que está à disposição do in-
térprete? Se as palavras são polissêmicas; se não há a
possibilidade de cobrir completamente o sentido das
afirmações contidas em um texto, quando é que se
pode dizer que estamos diante de uma interpretação
literal? A literalidade, portanto, é muito mais uma
182
Herm. Constitucionais 1.indd 182 26/01/17 12:17
questão de compreensão e da inserção do intérprete
no mundo do que uma característica, por assim di-
zer, natural dos textos jurídicos.
Diante do exposto, refletir o que é “proibido” ou
“permitido” leva, no primeiro momento, à literalidade das
palavras. No entanto, diante dos argumentos apresenta-
dos ao caso concreto, ou melhor, ao conflito existente,
traz-se à baila a falta de interpretação e o preciosismo da
literalidade da lei. O que de fato deve ser evitado, pois os
julgadores devem procurar aplicar a lei com os devidos
argumentos. Diante disso, a interdefinibilidade ou a defi-
nibilidade ocorre e o conflito deve ser resolvido.
Conclusão
A interdefinibilidade do “proibido” e do “permitido”
ocorre todos os dias, nos conflitos mais simples aos mais
complexos. Se o “proibido” ou o “permitido” for analisado
de forma literal, ocorrerá a definibilidade de cada caso,
visto que causa esse afastamento dos argumentos e da
própria interpretação da lei.
Esclarecer a interdefinibilidade do “permitido” e do
“proibido” revolve a finalidade metodológica de cada sis-
tema. No primeiro momento, os termos se relacionam
de forma objetiva, posto que a norma gira em torno de
todos, ou seja, do homem médio. Quando o conflito par-
te para conflitos específicos, de forma subjetiva, passa a
separar a definição de cada termo e em muitos casos não
existe esta interdefinibilidade.
“Proibido”, assim dito, transpassa uma ação de impe-
dido ou desautorizado, refletindo um antônimo da ação
183
Herm. Constitucionais 1.indd 183 26/01/17 12:17
de “permitido”, mas na literalidade e na metodologia ju-
rídica retrata o “não permitido”. Ao revés, o significado de
“permitido” não indica o termo “não proibido”, é autôno-
ma em si, não tem nenhuma ligação.
A origem das palavras, dos referidos termos “proibi-
do” e “permitido”, não discorre nenhuma definibilidade
ou interdefinibilidade. No entanto, dependendo da me-
todologia jurídica aplicada o “proibido” reflete as condu-
tas negativas e o “permitido”, as condutas positivas. Ade-
mais, ao colocar a palavra “não”, as condutas negativas
tornam-se positivas e as condutas positivas tornam-se
negativas, o que gera a interdefinibilidade.
Cabe salientar a importância das condutas “positi-
vas” e “negativas e suas interpretações que viram e ainda
assim, serão poucas. Porém, o direito continuará vivo e
renovando-se a cada dia.
Por tudo já exposto, a interdefinibilidade do “proibi-
do” e do “permitido” existe, mesmo como sinônimos ou
antônimos, o importante é a sua aplicabilidade e que os
conflitos sejam resolvidos da melhor forma possível, justa
e una.
Referências
DINIZ, Maria Helena. As Lacunas no Direito. 4 ed. São
Paulo: Saraiva, 1997.
FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do
Direito. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2016.
184
Herm. Constitucionais 1.indd 184 26/01/17 12:17
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Miniaurélio: o
minidicionário da língua portuguesa dicionário. 7 ed. Rio
de Janeiro: Positivo, 2008.
GILISSEN, John. Introdução Histórica ao Direito. Tradu-
ção: Antonio Manuel Hespanha e Manuel Macaísta Ma-
lheiros. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1995.
MEDEIROS, Cristiano Carrilho Silveira de. Manual de
História dos Sistemas Jurídicos. 1ed. Rio de Janeiro: El-
sevier: 2009.
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato Social. Tradu-
ção: Antonio P. Machado. Estudo crítico: Afonso Bertag-
noli. Ed. Especial. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2016.
STRECK, Lênio. Verdade e Consenso. 5 ed. rev.atual. São
Paulo: Saraiva, 2014.
______. Dicionário Etimológico. Disponível em: http://
www.dicionario etmologico.com.br. Acessado em 10 de
novembro de 2016.
185
Herm. Constitucionais 1.indd 185 26/01/17 12:17
186
Herm. Constitucionais 1.indd 186 26/01/17 12:17
O Estado brasileiro e o desenvolvimento sustentável:
das diretrizes legais aos (des)caminhos da gestão urbana
Talita Benaion Bezerra201
Introdução
O modelo socioeconômico hegemônico na socieda-
de global, pautado no consumismo e no lucro, em que
a velocidade do consumo não acompanha processo de
regeneração dos recursos naturais, ocasionou a atual cri-
se ambiental. Tal crise é resultado, portanto, das ações
antrópicas desvinculadas dos cuidados necessários com
o meio ambiente, sem a devida preocupação com a salva-
guarda de tais bens as gerações atuais e vindouras.
Com suas facetas socioeconômicas, por atingir todas
as camadas sociais em todos os lugares do planeta e amea-
çar, assim, a própria sobrevivência da espécie humana, a
crise ambiental é visivelmente um dos problemas globais
contemporâneos mais cogentes, com seus reflexos sociais
e ambientais.
Assim, urgem mudanças estruturais, especialmente
de cunho político, para se tentar ao menos amenizar tal
problemática ambiental. Neste diapasão, é imprescin-
dível que se repense o desenvolvimento sustentável e o
importante papel da sustentabilidade ecológica como um
adequado instrumento para a consecução deste fim.
Desta sorte, o presente trabalho buscou refletir a re-
lação do Estado com o desenvolvimento sustentável no
201 Mestranda em Direito Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas.
187
Herm. Constitucionais 1.indd 187 26/01/17 12:17
Brasil, tendo em vista as diretrizes legais, políticas públi-
cas e os desdobramentos na gestão urbana, com seus di-
lemas, incongruências e rumos paradoxais.
Por uma perspectiva de sustentabilidade ecológica:
origens e apontamentos teórico-conceituais
O desenvolvimento da sociedade capitalista se deu
com a intensa exploração dos recursos naturais de forma
desmedida, contudo, no transcorrer do tempo, começou-
-se a perceber que tais recursos eram finitos e precisam
ser bem geridos, sendo necessária a mudança das práticas
de consumo exacerbado para assegurar a própria sobre-
vivência humana. Desta feita, determinados grupos co-
meçaram a promover diversos estudos, pesquisas e ações
com o propósito de andar na contramão do atual modelo
de produção e consumo.
Discussões em torno da questão ambiental e de sua
estreita relação com o desenvolvimento econômico re-
montam desde a década de 50. Há diversos trabalhos da
época acerca as relações entre meio ambiente e cresci-
mento ou meio ambiente e economia202. Merece destaque
o pioneiro Clube de Roma (1968), bem como a primeira
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambien-
te e Desenvolvimento, em Estocolmo (1972), na qual foi
originada a ideia do ecodesenvolvimento, precursora na
202 GODARD, O. A gestão integrada dos recursos naturais e do meio ambiente: concei-
tos, instituições e desafios de legitimação. In: Paulo Freire Vieira e Jacques Weber
(Org.) tradução: Anne Sophie de Pontbriand Vieira, Christilla de Lassus.- Gestão
de recursos naturais renováveis e desenvolvimento: novos desafios para a pesqui-
sa ambiental. São Paulo: Cortez, 1997.
188
Herm. Constitucionais 1.indd 188 26/01/17 12:17
posterior formulação do conceito de desenvolvimento
sustentável.
Tal conceito, por sua vez, foi introduzido e intensa-
mente difundido a partir de 1987 no relatório Brundtland,
também conhecido como “Nosso Futuro Comum”, resul-
tado de estudos realizados pela Comissão Mundial sobre
o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, criada em 1983
pela Assembleia Geral das Nações Unidas. A definição
do desenvolvimento sustentável descrita pelo relatório
tornou-se fonte de diversos debates, como sendo o de-
senvolvimento que satisfaz as necessidades do presente
sem comprometer a capacidade e o direito das gerações
futuras de também fazê-lo203.
Posteriormente houve a realização da Conferência
das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvol-
vimento no Estado do Rio de Janeiro - Brasil, conheci-
da como Rio-92, em que o conceito do desenvolvimento
sustentável foi incorporado como princípio orientador
das ações acertadas pela então elaborada Agenda 21, re-
presentando um compromisso das nações de agir em
cooperação e harmonia na busca do desenvolvimento
sustentável. Contudo, observou-se que tal definição es-
tava ainda estritamente relacionada a questões econômi-
cas, não querendo comprometer a ordem mercadológica
vigente de desenvolvimento.
Importante destacar que tal Declaração do Rio prevê
em seus princípios, dentre outros, a compreensão da pro-
teção do meio ambiente como parte integrante do desen-
volvimento, e não de forma isolada, e a necessidade de os
203 LENZI, C. L. Sociologia Ambiental: risco e sustentabilidade na modernidade. São
Paulo: Anpocs/Edusc, 2006.
189
Herm. Constitucionais 1.indd 189 26/01/17 12:17
Estados reduzirem e eliminarem os sistemas de produção
e consumo insustentáveis.
Apesar das muitas frustrações quanto às perspectivas
satisfatórias da Rio-92, é notório o avanço do reconheci-
mento do desenvolvimento sustentável enquanto uma
possível e aceitável solução para os problemas ambientais
e sociais enfrentados pelo mundo204.
Tanto é que, em 2002, na Conferência na África do
Sul, por meio da Declaração de Política da Cúpula Mun-
dial sobre o Desenvolvimento Sustentável em Joanesbur-
go, África do Sul, tal princípio estabelece-se construído
sobre três pilares e/ou dimensões interdependentes: eco-
nômica, social e ambiental.
A dimensão econômica compreende a ecoeficiência,
com uma contínua inovação tecnológica para se possa
sair do ciclo fóssil de energia (carvão, petróleo e gás) e as-
sim ampliar a desmaterialização da economia. A ambien-
tal, por sua vez, preza que a produção e consumo sejam
feitos de tal forma que possam garantir que os ecossis-
temas possam manter sua autorreparação ou capacidade
de resiliência. Por fim, a dimensão social supõe que em
uma sociedade sustentável todos os cidadãos tenham o
mínimo necessário para uma vida digna e que ninguém
absorva bens, recursos naturais e energéticos que sejam
prejudiciais a outros, com a implementação de verdadei-
ra justiça social.
Contudo, os doutrinadores divergem muitos acerca
da abrangência conceitual do desenvolvimento sustentá-
vel e se seu significado é de fato adequado a contribuir
204 CAMARGO, A. Governança para o século 21. In: TRIGUEIRO, A. Meio Ambiente no
século 21: 21 especialistas falam da questão ambiental nas suas áreas de conhe-
cimento. Rio de Janeiro: Sextante, 2003.
190
Herm. Constitucionais 1.indd 190 26/01/17 12:17
com a conservação ambiental para as presentes e futuras
gerações. Isto porque tal conceito é tão vasto e utilizado de
forma genérica que sua imprecisão o torna sem a devida
operacionalidade e aberto ao conflito de interpretações205.
Neste sentido, Elucida Vilela206:
O conceito de desenvolvimento sustentável traz
consigo uma contradição, pois carrega a idéia (sic)
tradicional de desenvolvimento – que admite o au-
mento de poluições – e a idéia (sic) de ambiente – que
exige limitação das poluições.
Destarte, enquanto o termo desenvolvimento sus-
tentável expressa uma imagem desenvolvimentista e de
certa forma dicotômica com a questão ambiental, o termo
sustentabilidade foi adotado pelo movimento ecológico,
relacionando-se à manutenção dos recursos naturais. As-
sim, a sustentabilidade ecológica tem por base a neces-
sidade da existência de condições ecológicas suficientes
para dar apoio à vida humana em um padrão característi-
co de bem estar, abrangendo a garantia das futuras gera-
ções, diferenciando-se, deste modo, do desenvolvimento
sustentável207.
Infere-se, portanto, que o termo sustentabilidade, ao
excluir a palavra “desenvolvimento”, pode ser mais ade-
quado para transmitir uma real adequação do homem
205 DOVERS, S. R.; HANDMER, J. W. Uncertainty, sustainability and change. Global En-
vironmental Change, v.2, n.4, p.262-276, 1992.
206 VILELA, R. A. G.; IGUTI, A. M.; FIGUEIREDO, P. J.; FARIA, M. A. S. Saúde Ambiental e
o Desenvolvimento (In) Sustentável, p. 70, 2002.
207 LÉLÉ, S. M. Sustainable development: A critical review. World Development, v.19,
n.6, p.607-621, 1991.
191
Herm. Constitucionais 1.indd 191 26/01/17 12:17
com o meio ambiente, baseada na reversão dos danos
ambientais.
Salienta Freitas et al.208:
Verifica-se que a sustentabilidade ambiental requer
a construção de um novo modo de produção supe-
rior ao capitalismo. Averígua-se que o atual conceito
de desenvolvimento sustentável tende a neutralizar
a imagem nefasta do capital perante a degradação
ambiental por ele provocada, dada a forte alienação
entre homem e natureza.
Nota-se, então, que a lógica do desenvolvimento no
sistema capitalista vigente contradiz a lógica da susten-
tabilidade, posto que é linear, ilimitado e supõe que os
recursos da natureza são inesgotáveis. A sustentabilida-
de, por sua vez, é cíclica e nos alerta de que vivemos em
um planeta super-habitado, com recursos limitados, sen-
do apenas alguns deles renováveis. Assim, com essa de-
vida ressignificação do termo, é possível associá-lo a um
modelo diferenciado de produção, mais ético, ecológico
e pautado no sobrepujamento das carências humanas209.
Desta feita, o desenvolvimento econômico não pode
mais ser tratado como sinônimo de mero crescimento e o
mesmo possui limites, já que a natureza se desenvolve, os
ecossistemas evoluem, mas atingem seu ápice. Para que
208 FREITAS, R. de C. M.; NÉLSIS, C. M.; NUNES, L. S. A crítica marxista ao desenvolvi-
mento (in)sustentável, p. 47, 2012.
209 BOFF, L. Desenvolvimento ou sociedade sustentável. Correio Popular, nov. 2013.
Disponível em: <http://correio.rac.com.br/_conteudo/2013/11/blogs/leonardo_
boff/116956-desenvolvimento-ou-sociedade-sustentavel.html>. Acesso em: 10
de novembro de 2016
192
Herm. Constitucionais 1.indd 192 26/01/17 12:17
uma sociedade seja sustentável, é cogente haver a integra-
ção do desenvolvimento com a conservação ambiental210.
Assim, a mudança do paradigma não só conceitual,
mas, sobretudo, ideológico da sustentabilidade ecológica,
é cogente para a efetiva aplicação de normas que sope-
sem valores econômicos e ambientais, dentro do equilí-
brio necessário para a garantia da sadia qualidade de vida
intergeracional.
O Estado e o desenvolvimento sustentável: legislação,
regulação e fiscalização no Brasil
No Brasil, o conceito de desenvolvimento sustentá-
vel foi incorporado à ciência do Direito Ambiental como
um princípio, tendo sua previsão na Lei 6.938/81 – Políti-
ca Nacional de Meio Ambiente (PNMA)211, a qual dispõe,
em seu artigo 2º e 4º, respectivamente, seu escopo de pre-
servação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental
propícia à vida, visando assegurar condições ao desen-
volvimento socioeconômico e que a PNMA objetivará a
compatibilização do desenvolvimento econômico-social
com a preservação da qualidade do meio ambiente e do
equilíbrio ecológico.
210 CAVALCANTI, C. Condicionantes biofísicos da economia e suas implicações quan-
to à noção do desenvolvimento sustentável. In: ROMEIRO, A. R. et al. Economia
do meio ambiente: teoria, políticas e a gestão de espaços regionais. Campinas:
UNICAMP, 1996.
211 BRASIL. LEI Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981. Dispõe sobre a Política Nacional
do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras
providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.
htm>. Acesso em: 14 de nov. de 2016.
193
Herm. Constitucionais 1.indd 193 26/01/17 12:17
No mesmo sentido, a Carta Magna em 1988212 recep-
cionou o conceito de desenvolvimento sustentável dado
pela Política Nacional de Meio Ambiente, por meio o ar-
tigo 3º da Constituição Federal, o qual através do inciso II
assegura que o Estado deve garantir o desenvolvimento,
em análise conjunta com os artigos 170, inciso VI e 225.
Assim, ao garantir o desenvolvimento, deve o Estado
promover a combinação de desenvolvimento econômico
com as condições básicas de vida, dentre as quais a ali-
mentação, a saúde e preservação ambiental. Deve haver,
portanto, a funcionalidade tanto da ordem econômica e
financeira, quanto do meio ambiente, reportando-se que
o desenvolvimento econômico e social deve ser estimula-
do desde que ressalvada a devida preservação e defesa do
meio ambiente ecologicamente equilibrado para as pre-
sentes e futuras gerações.
Insta consignar que o supracitado inciso VI, do artigo
170 teve sua redação ampliada pela Emenda Constitucio-
nal n.º 42/2003, estabelecendo como princípio da ordem
econômica a possibilidade de tratamento diferenciado
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços,
e de seus processos de elaboração e prestação. Disto in-
fere-se que a prática de atividade econômica depende do
uso da natureza, uma vez que a contínua degradação am-
biental implica na diminuição da capacidade econômica
do país213. Neste sentido, a defesa do meio ambiente foi
elevada à categoria de princípio da ordem econômica, ex-
212 BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. Disponí-
vel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>.
Acesso em: 14 de nov. de 2016.
213 FIORILLO, C. A. P. Curso de direito ambiental brasileiro. São Paulo: Saraiva, 3ª ed.
ampl., p. 26, 2002.
194
Herm. Constitucionais 1.indd 194 26/01/17 12:17
pressando, portanto, a sinergia que deve haver na aplica-
ção do desenvolvimento econômico e ambiental.
O preceito legal formulado no país de desenvolvi-
mento sustentável abarca as três dimensões doutrinárias
supracitadas já estabelecidas, com o tripé econômico, so-
cial e ambiental, de forma equivalente. Desta forma, prin-
cípio do desenvolvimento sustentável tem por conteúdo
a manutenção das bases vitais da produção e reprodução
do homem e de suas atividades, assegurando uma rela-
ção harmônica entre os homens e destes com o ambiente
em que vivem, a fim de que as futuras gerações tenham
oportunidade de fruir igualmente dos recursos que hoje
dispomos214.
O desenvolvimento sustentável estabelecido na
Constituição Federal em suas diversas dimensões é um
direito humano fundamental, cabendo ao Poder Público
sua normatização, regulamentação, fiscalização e promo-
ção. Neste diapasão, há um dever de atuação positiva Es-
tatal para a consecução deste direito.
Tal função regulatória do Estado tem previsão legal
no artigo 174 da Carta Magna, ao prever que o mesmo
deve exercer, na forma da lei, as funções de fiscalização,
incentivo e planejamento da atividade econômica. Em
seu parágrafo 1º, estabelece o princípio do planejamento
do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incor-
porará e compatibilizará os planos nacionais e regionais
de desenvolvimento, a ser estabelecido por lei, mostran-
do-se, portanto, uma exigência de uma política governa-
mental racional.
214 FIORILLO, C. A. P.; DIAFÉRIA, A. Biodiversidade e patrimônio genético no direito
ambiental brasileiro. São Paulo. Editora Max Limonad. 1999.
195
Herm. Constitucionais 1.indd 195 26/01/17 12:17
O Estado como interventor no desenvolvimento
econômico tem o papel de regular e controlar a atividade
econômica, de modo a reduzir a degradação ambiental, já
que a mera busca pelo lucro da sociedade capitalista não
pode minar os interesses da coletividade. Assim, o Estado
regulador deve agir em busca de um equilíbrio entre o
econômico e o ambiental.
Na seara notadamente ambiental, o parágrafo 1º do
artigo 225 estabelece as incumbências do Poder Público
para a efetividade do desenvolvimento sustentável, den-
tre as quais se destacam o papel fiscalizador ao exigir
estudo prévio de impacto ambiental para instalação de
obra ou atividade potencialmente causadora de signifi-
cativa degradação ambiental, o controle da produção,
comercialização e fiscalização, e o emprego de técnicas,
métodos e substâncias que comportem risco para a vida,
a qualidade de vida e o meio ambiente.
Neste sentido, o poder regulatório e fiscalizador do
Estado na seara ambiental visam regular as atividades
exercidas por um determinado segmento e assegurar
que estas sejam desenvolvidas em conformidade com as
normas específicas estabelecidas. O Estado, assim, tem
o papel basilar na fiscalização, controle e a aplicação de
sanções de cunho ambiental.
Outrossim, a fim de assegurar que o Estado, com
seus poderes regulatório e fiscalizador, possa executar
efetivamente a Política Ambiental, a Lei 6.938/81 - PNMA
previu os instrumentos de intervenção ambiental, con-
trole ambiental e controle repressivo.
Os primeiros concernem em mecanismos normati-
vos por meio dos quais o Poder Público intervém no meio
ambiente para condicionar a atividade particular ou pú-
196
Herm. Constitucionais 1.indd 196 26/01/17 12:17
blica à finalidade da PNMA. Como exemplo destaca-se a
criação de Espaços Territoriais Especialmente Protegidos,
como Áreas de Preservação Permanente, Reservas Legais
e Unidades de Conservação. Os instrumentos de controle
ambiental, por sua vez, consistem nos atos medidas des-
tinados à observância das normas ambientais, podendo
ser controle prévio realizado pelo Estudo e Avaliação de
Impacto Ambiental, e Licenciamento Prévio de obras e
atividades efetiva ou potencialmente poluidoras; contro-
le concomitante, por meio das inspeções, fiscalização e
produção do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA); e
controle sucessivo, por meio de vistorias e exames para
aferir se a atividade se ateve às leis ambientais. Por fim, os
instrumentos repressivos objetivam corrigir as ilegalidades
ambientais, por meio da aplicação de sanções tanto admi-
nistrativas, quanto civis e/ou penais, conforme o caso215.
Neste sentido, em que pese a relevância da criação
das Unidades de Conservação para a sociobiodiversidade,
a quantidade de áreas atualmente cobertas por UC´s no
país não representam de fato uma real garantia nem da
conservação da biodiversidade e nem da manutenção de
povos tradicionais com o estímulo a práticas socioeconô-
micas sustentáveis. Martins et al.216 expressa um exem-
plo claro disto ao constatar que:
[...] entre os anos de 1995 e 2013, o governo federal e
os governos estaduais de Rondônia, Mato Grosso e
215 SILVA, J. A. Direito Ambiental Constitucional. São Paulo: Malheiros. 10ª ed. 2013.
216 MARTINS, H. et al. Desmatamento em Áreas Protegidas reduzidas na Amazônia.
Belém-PA: Imazon, p. 02, 2014, 17 p. Disponível em: <https://www.researchgate.
net/publication/261647857_Desmatamento_em_Areas_Protegidas_Reduzidas_
na_Amazonia>. Acesso em: 14 de novembro 2016.
197
Herm. Constitucionais 1.indd 197 26/01/17 12:17
Pará retiraram a proteção de 2,5 milhões de hectares
em 38 Áreas Protegidas (AP) – Unidades de Conser-
vação (UC) e Terras Indígenas (TI) – na Amazônia
Legal. As principais justificativas para isso foram
ocupações, em 74% dos casos, e instalação de pro-
jetos hidrelétricos, em 42%. Em dez áreas avaliadas,
cinco anos após a redução da proteção legal o desma-
tamento aumentou em média 50% em comparação
com os cinco anos anteriores à perda de proteção.
Destarte, configura-se neste panorama um Esta-
do paradoxal, pois ao mesmo tempo em que contém os
principais canais institucionais de defesa da qualidade do
meio ambiente, possui também os principais agentes de
degradação. Nesse paradoxo se concentra um dos maio-
res desafios da proteção ambiental, qual seja: a resistência
às forças desenvolvimentistas que imperam sobre o Esta-
do, sob o desígnio do mercado global217.
Destaca-se também a previsão constitucional da fun-
ção social da propriedade rural, devendo atender, dentre
outros requisitos, a utilização adequada dos recursos na-
turais disponíveis e a preservação do meio ambiente, con-
forme artigo 186, inciso II. Assim, tem importância ímpar
à conservação ambiental a regulamentação de modo sis-
temático da proteção ambiental nas propriedades rurais
em todo Brasil, sem obstaculizar sua produtividade, em
grande parte dos casos.
Contudo, é notório o descumprimento desses ins-
trumentos legais de proteção ambiental ao longo dos
anos no Brasil em todos os níveis, seja por pequenos,
quanto por médios e/ou grandes proprietários rurais, re-
217 MORAES, A. C. R. Meio Ambiente e Ciências Humanas. 4ª ed. São Paulo: Annablu-
me, 2005, 161 p.
198
Herm. Constitucionais 1.indd 198 26/01/17 12:17
sultando em um grave problema ambiental que afeta a
todos. Ademais, importante ressaltar que a causa de tal
problemática é oriunda, na maioria dos casos, pela falta
de consciência dos degradadores, escorados pela falta de
fiscalização, de educação ambiental e a ampla impunida-
de por parte dos órgãos competentes218.
Noutro giro, no âmbito da função não apenas re-
gulatória e fiscalizadora do Estado, mas de promoção da
qualidade ambiental, é expresso o dever do Poder Público
na implementação de Políticas Públicas que assegurem o
desenvolvimento sustentável.
A Carta Magna, em seu artigo 225, parágrafo 1º, inci-
so VI, expressa o dever do Poder Público na promoção da
educação ambiental em todos os níveis de ensino, bem
como a conscientização pública para a conservação do
meio ambiente, com a implementação de políticas públi-
cas que incorporem a dimensão ambiental.
Neste sentido, a Lei nº 9.795/99219, que instituiu a Po-
lítica Nacional de Educação Ambiental (PNED) estabele-
ce em seu Art. 5º, inciso I, o objetivo fundamental da edu-
cação ambiental a garantia do desenvolvimento de uma
compreensão integrada do meio ambiente em suas múl-
tiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecoló-
gicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos,
científicos, culturais e éticos.
218 THÉVENIN, J. M. R.; PIROLI, E. L. Áreas Protegidas e Populações Tradicionais: con-
tradições e desafios para a proteção da natureza na Amazônia. In: Anais do II Sim-
pósio Estadual de Políticas e Pesquisas Socioambientais - SIEPPS. Manaus, 2016.
219 BRASIL. LEI N° 9.795, DE 27 DE ABRIL DE 1999. Dispõe sobre a educação ambien-
tal, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9795.htm>. Acesso
em: 15 de novembro de 2016.
199
Herm. Constitucionais 1.indd 199 26/01/17 12:17
Tal Pned prevê que esta educação deve como estar
presente e ser aperfeiçoada nos currículos e instituições
de ensino público e privada, em todos os níveis, englo-
bando educação básica, superior, especial, profissional e
pra jovens e adultos, desenvolvendo-se de maneira inter-
disciplinar, permeando as relações e atividades escolares
e trabalhando a reflexão sobre a forma de pensar a sus-
tentabilidade.
Assim, mostra-se imperiosa a função da educação
ambiental, tanto formal quanto informal, como mola
propulsora para a transformação das consciências e dos
comportamentos das pessoas e que, com esta mudança
de paradigma social será possível modificar a ordem eco-
nômica, política, cultural e ambiental, sendo um proces-
so estratégico na formação de novos valores, habilidades
e capacidades que orientem a transição na direção da sus-
tentabilidade220.
Entretanto, nota-se que na esfera formal os educa-
dores ainda não conseguem intervir de modo acentuado
na educação ambiental, uma vez que não levam em conta
as múltiplas facetas da nossa relação com o ambiente221.
Nesta seara, observa-se a ausência de estímulo à pesquisa
científica e prática, bem como a carência de integração
interdisciplinar e o devido preparo dos docentes.
No que concerne a não formal, que é desenvolvida
fora da escola, abrangendo comunidade, governo e em-
presas, são visíveis a insuficiência dos recursos financei-
220 SCHEEFFER, F. Desenvolvimento sustentável e modernidade: Uma incompatibili-
dade anunciada. 2008.
221 Sauvé, L. Educação Ambiental: possibilidades e limitações. Educação e Pesquisa,
São Paulo, v. 31, n. 2, p. 317-322, maio/ago. 2005. Disponível em: <www.scielo.br/
pdf/ep/v31n2/a12v31n2.pdf>. Acesso em: 16 de nov. de 2016.
200
Herm. Constitucionais 1.indd 200 26/01/17 12:17
ros, a falta capacitação dos agentes, além da existência de
poucos programas educacionais. Ou seja, em ambas as
esferas, ainda carece a eficaz atuação do Estado para arcar
com o investimento necessário para a devida promoção
da educação ambiental.
Os (des)caminhos do desenvolvimento sustentável
urbano brasileiro
Conforme já destacado, tanto no plano internacio-
nal, por meio dos acordos estabelecidos em tratados,
quanto na esfera constitucional e infraconstitucional, o
Estado brasileiro tem a obrigação na promoção do desen-
volvimento sustentável.
Contudo, ainda que o Estado tenha por importante
função exercer seu poder normativo, regulatório, fisca-
lizador e promotor de políticas públicas de educação e
conscientização ambiental à sociedade civil, sua atuação
na esfera ambiental não se restringe a isso.
Desta feita, o artigo 21, inciso XX, combinado com o
artigo 182, da Constituição Federal, declaram o dever da
União em instituir as diretrizes de desenvolvimento ur-
bano e do Município em executá-las, abrangendo habita-
ção, saneamento básico e transporte urbano, objetivando
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais das
cidades e garantir o bem estar de seus habitantes. Neste
sentido, ressalta-se a exigência do Plano Diretor, previsto
no parágrafo 1º, do artigo 182, para as cidades com mais
de 20 (vinte) mil habitantes, como instrumento básico
para esta política, essencial para a consecução da pers-
pectiva sustentável.
201
Herm. Constitucionais 1.indd 201 26/01/17 12:17
A fim de regulamentar os artigos 182 e 183 da Cons-
tituição Federal Em 2001 foi criada a Lei 10.257222, deno-
minada Estatuto das Cidades, prevendo em seu artigo
2º, inciso I, a garantia do direito a cidades sustentáveis,
entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao
saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao trans-
porte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para
as presentes e futuras gerações.
Contudo, observa-se que o planejamento urbano das
maiorias das cidades brasileiras ainda se inutiliza de ins-
trumentos de gestão ambiental, com poucos Planos Dire-
tores abrangendo as diretrizes compatíveis com a ocupa-
ção sustentável do solo urbano.
Ademais, nos municípios em que já existem Plano
Diretor Urbano e Ambiental, como no caso a cidade de
Manaus – Amazonas, instituído por meio da Lei Comple-
mentar Nº 002/2014223, na prática ainda são pouco execu-
tado, não havendo o devido respeito com relação às re-
gras de zoneamento territorial, em que se priorize de fato
a manutenção dos espaços especialmente protegidos, a
resolução de conflitos e a mitigação de processos de de-
gradação ambiental decorrentes de usos incompatíveis e
das deficiências de saneamento, conforme prevê o artigo
6º da supracitada Lei.
222 BRASIL. LEI Nº 10.257, DE 10 DE JULHO DE 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183
da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá ou-
tras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
LEIS_2001/L10257.htm> Acesso em: 15 de nov. de 2016.
223 MANAUS. Lei Complementar Nº 002, de 16 de janeiro de 2014. Dispõe sobre o Pla-
no Diretor Urbano e Ambiental do Município de Manaus e dá outras providências.
Disponível em: <dom.manaus.am.gov.br/pdf/2014/janeiro/DOM%203332%20
16.01...pdf/at.../file> Acesso em: 16 de nov. de 2016.
202
Herm. Constitucionais 1.indd 202 26/01/17 12:17
De maneira geral, ainda existem atualmente nas ci-
dades brasileiras graves imbróglios de ocupações irregula-
res em áreas de mananciais, dificuldades de planejamen-
to da malha de transporte público, diversas construções
comerciais operando sem alvará, bairros com carência de
iluminação pública e coleta de lixo, dentre outras proble-
máticas, faltando além da devida fiscalização pelo Poder
Público, o cumprimento das referidas medidas legais por
sua própria esfera.
Desta forma, observa-se uma ínfima atuação Estatal
para a implementação desta garantia legal. Um exemplo
claro disto é o índice fornecido pelo Instituto Trata Bra-
sil224 em relação à coleta dos esgotos, sendo que no ano
de 2013, 48,6% da população recebia este serviço, tota-
lizando quase 100 milhões de brasileiros fora da conta.
Quanto aos esgotos tratados, a situação se agravou ainda
mais, pois, segundo os dados oficiais, são apenas 39% dos
esgotos, isto é, mais de 5 mil piscinas olímpicas de esgo-
tos não tratados foram jogadas por dia na natureza em
2013. No âmbito regional, o Norte possui a pior situação
entre todas as regiões no quesito saneamento básico, em
que cerca de 82% de todo o esgoto gerado não é tratado
nas capitais. Em termos absolutos, as capitais da região
lançaram em 2013 aproximadamente 211 milhões metros
cúbicos de esgotos na natureza.
Em relação ao lixo coletado e a destinação deste,
a situação é tão alarmante quanto. Segundo dados do
IBGE225, no país são produzidos diariamente mais de 228
224 INTITUTO TRATA BRASIL, 2015. Ranking do Saneamento 2015. Disponível em:
<http://www.tratabrasil.org.br/ranking-do-saneamento-2015>. Acesso em: 15 de
nov. de 2016.
225 IBGE, 2000. Pesquisa Nacional de Saneamento Básico. Disponível em: <http://
203
Herm. Constitucionais 1.indd 203 26/01/17 12:17
mil toneladas, sendo que destes apenas um pouco mais
de 8 mil toneladas são destinadas à processos de recicla-
gem. Na região Norte o índice é de mais de 11 mil tonela-
das ao dia, tendo apenas 5 toneladas destinadas à estação
de compostagem.
Assim, nota-se a falta do efetivo cumprimento da
União, Estados e Municípios na adoção de ações admi-
nistrativas voltadas à proteção do meio ambiente e com-
bate à poluição, conforme o artigo 23 da Carta Magna,
inciso VI, prevê.
Há, portanto, um contrassenso, em que o Estado
muitas vezes preconiza – quando isto acontece – a nor-
matização, regulação, fiscalização e repressão da ativi-
dade do particular lesiva ao meio ambiente, assim como
incentiva a consciência ambiental da sociedade civil, mas
não atua de forma profícua a promover efetivamente a
sustentabilidade urbana dentro dos deveres que lhe com-
petem internamente.
Ademais, nota-se que para a efetiva implementação
das ações abrangidas pela sustentabilidade, é imprescin-
dível o interesse político do Estado, tendo em vista que
envolve diretamente a mudança dos padrões mercadoló-
gicos. É o que Nascimento denomina de “dimensão do
poder”, e afirma226:
A consequência do esquecimento da dimensão da
política é uma despolitização do Desenvolvimento
Sustentável, como se contradições e conflitos de in-
www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pnsb/lixo_cole-
tado/lixo_coletado110.shtm>. Acesso em: 14 de nov. de 2016.
226 NASCIMENTO, E. P. do; COSTA, H. A. Trajetória da sustentabilidade: do ambiental
ao social, do social ao econômico. Estudos avançados 26 (74), p. 56, 2012.
204
Herm. Constitucionais 1.indd 204 26/01/17 12:17
teresse não existissem mais. Como se a política não
fosse necessária no processo de mudanças. Como se
as formas de exploração violenta não fossem mais
importantes, e a equidade social fosse construída por
um simples diálogo entre organizações governamen-
tais e multilaterais, com assessoria da sociedade civil
e participação ativa do empresariado.
Aplicar efetivamente a sustentabilidade ecológica,
que tem sua vertente social e econômica, abrangendo,
assim, toda a estrutura do sistema, é uma tarefa difícil e
complexa que exige, sobretudo, um querer político e uma
verdadeira mudança de paradigmas sociais, indo além de
transformações pontuais.
Tais mudanças devem abarcar o devido controle dos
processos culturais, econômicos e sociais vitais, para que
assim a sustentabilidade atue efetivamente na elimina-
ção do desperdício, com a existência de uma economia
racional pautada no controle interno227. Notam-se, as-
sim, diversas contradições e desafios por parte do Ente
Público para a efetivação da sustentabilidade ambiental.
Neste sentido, imperioso destacar o paradoxo da própria
questão conceitual abarcada por toda legislação brasilei-
ra, na esfera constitucional e infraconstitucional do ter-
mo “desenvolvimento sustentável” e não “sustentabilida-
de”, posto que possui toda uma vinculação com a questão
ideológica capitalista.
Conforme supra-abordado, o termo desenvolvimen-
to sustentável não sugere um rompimento com as mu-
danças dos atuais padrões de mercado, pautados no pro-
cesso linear do consumismo e do lucro, incompatíveis em
227 FREITAS, R. de C. M.; NÉLSIS, C. M.; NUNES, L. S. A crítica marxista ao desenvolvi-
mento (in)sustentável. 2012.
205
Herm. Constitucionais 1.indd 205 26/01/17 12:17
sua essência com a garantia da conservação ambiental,
que reflete a sustentabilidade em um modo diferenciado
de produção, abrangendo valores mais éticos, ecológicos
e do bem estar social para as presentes e futuras gerações.
Neste ínterim, na medida em que o Estado Brasilei-
ro conduz suas leis e políticas públicas a partir da ideia
de desenvolvimento sustentável e não de sustentabilida-
de ecológica obstaculiza sua práxis, refletindo também
como um dos pontos principais na ineficiência do alcan-
ce dos objetivos prescritos, que têm por base real a sus-
tentabilidade.
Conclusões
O dilema terminológico do desenvolvimento sus-
tentável, com o viés do crescimento econômico e ao mes-
mo tempo a garantia da conservação ambiental é parado-
xal. É necessário, por conseguinte, repensar este modelo
mercadológico do sistema capitalista, tendo por base es-
sencial um sistema efetivamente ético, sustentável e de
promoção da justiça social, por meio da sustentabilidade
ecológica.
Neste sentido, tal sustentabilidade tem se mostra-
do como um bom instrumento para o enfrentamento da
crise ambiental. Contudo, em que pese suas dimensões
ecológica, social e econômica, é cogente a ação política
para dar efetividade a este princípio, ultrapassando o pla-
no teórico de sua existência.
Assim, para reverter tal problemática, é imprescindí-
vel a atuação do Estado enquanto regulador do mercado
e da degradação ambiental, devendo primar pela conci-
206
Herm. Constitucionais 1.indd 206 26/01/17 12:17
liação entre o real desenvolvimento – no sentido mais
amplo do termo para a sociedade – e a conservação do
patrimônio natural, seja por meio da efetiva aplicação
das leis ambientais, da realização de políticas públicas e
de ações eficazes pautadas na conservação ambiental que
abarquem tanto a conscientização social da população
em geral quanto a esfera interna da gestão pública.
Portanto, mostra-se imprescindível o interesse polí-
tico do Estado por meio de uma estratégia de real susten-
tabilidade ecológica, de forma a estimular e implementar
atividades produtivas adequadas a um aproveitamento
racional dos recursos naturais, com a devida redução dos
custos ecológicos, bem como cumprir com eficiência seu
papel regulador, fiscalizador e promotor da política am-
biental.
Ressalte-se também o papel da educação como a
base para a consecução deste fim. Com a alfabetização
ecológica é possível tornar cidadãos mais críticos e cons-
cientes, que poderão ser os futuros líderes a terem força
política para reverter este quadro, ressignificando o con-
ceito de desenvolvimento e utilizando-o com a promoção
de mais igualdade social, política, econômica e ambien-
tal, para que possamos nos tornar, enfim, uma sociedade
sustentável.
Referências
BOFF, L. Desenvolvimento ou sociedade sustentável.
Correio Popular, nov. 2013. Disponível em: <http://cor-
reio.rac.com.br/_conteudo/2013/11/blogs/leonardo_bof-
207
Herm. Constitucionais 1.indd 207 26/01/17 12:17
f/116956-desenvolvimento-ou-sociedade-sustentavel.
html>. Acesso em: 10 de novembro de 2016
CAMARGO, A. Governança para o século 21. In: TRI-
GUEIRO, A. Meio Ambiente no século 21: 21 especialistas
falam da questão ambiental nas suas áreas de conheci-
mento. Rio de Janeiro: Sextante, 2003.
CAVALCANTI, C. Condicionantes biofísicos da econo-
mia e suas implicações quanto à noção do desenvolvi-
mento sustentável. In: ROMEIRO, A. R. et al. Economia
do meio ambiente: teoria, políticas e a gestão de espaços
regionais. Campinas: UNICAMP, 1996.
DOVERS, S. R.; HANDMER, J. W. Uncertainty, sustaina-
bility and change. Global Environmental Change, v.2, n.4,
p.262-276, 1992.
FIORILLO, C. A. P. Curso de direito ambiental brasileiro.
São Paulo: Saraiva, 3ª ed. ampl., p. 26, 2002.
FIORILLO, C. A. P.; DIAFÉRIA, A. Biodiversidade e patri-
mônio genético no direito ambiental brasileiro. São Pau-
lo. Editora Max Limonad. 1999.
FREITAS, R. de C. M.; NÉLSIS, C. M.; NUNES, L. S. A crí-
tica marxista ao desenvolvimento (in)sustentável. 2012.
GODARD, O. A gestão integrada dos recursos naturais
e do meio ambiente: conceitos, instituições e desafios
de legitimação. In: Paulo Freire Vieira e Jacques Weber
(Org.) tradução: Anne Sophie de Pontbriand Vieira, Ch-
ristilla de Lassus.- Gestão de recursos naturais renováveis
208
Herm. Constitucionais 1.indd 208 26/01/17 12:17
e desenvolvimento: novos desafios para a pesquisa am-
biental. São Paulo: Cortez, 1997.
IBGE, 2000. Pesquisa Nacional de Saneamento Básico.
Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatisti-
ca/populacao/condicaodevida/pnsb/lixo_coletado/lixo_
coletado110.shtm>. Acesso em: 14 de novembro de 2016.
INSTITUTO TRATA BRASIL, 2015. Ranking do Sanea-
mento 2015. Disponível em: <http://www.tratabrasil.org.
br/ranking-do-saneamento-2015>. Acesso em: 15 de no-
vembro de 2016.
LÉLÉ, S. M. Sustainable development: A critical review.
World Development, v.19, n.6, p.607-621, 1991.
LENZI, C. L. Sociologia Ambiental: risco e sustentabili-
dade na modernidade. São Paulo: Anpocs/Edusc, 2006.
MANAUS. Lei Complementar Nº 002, de 16 de janeiro de
2014. Dispõe sobre o Plano Diretor Urbano e Ambiental
do Município de Manaus e dá outras providências. Dis-
ponível em: <dom.manaus.am.gov.br/pdf/2014/janeiro/
DOM%203332%2016.01...pdf/at.../file> Acesso em: 16 de
nov. de 2016.
MARTINS, H. et al. Desmatamento em Áreas Protegidas
reduzidas na Amazônia. Belém-PA: Imazon, 2014, 17 p.
Disponível em: <https://www.researchgate.net/publica-
tion/261647857_Desmatamento_em_Areas_Protegidas_
Reduzidas_na_Amazonia>. Acesso em: 14 de novembro
2016.
209
Herm. Constitucionais 1.indd 209 26/01/17 12:17
MORAES, A. C. R. Meio Ambiente e Ciências Humanas.
4ª ed. São Paulo: Annablume, 2005, 161 p.
NASCIMENTO, E. P. do; COSTA, H. A. Trajetória da sus-
tentabilidade: do ambiental ao social, do social ao econô-
mico. Estudos avançados 26 (74), p. 56, 2012.
SAUVÉ, L. Educação Ambiental: possibilidades e limita-
ções. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 31, n. 2, p. 317-322,
maio/ago. 2005. Disponível em: <www.scielo.br/pdf/ep/
v31n2/a12v31n2.pdf>. Acesso em: 16/11/2016.
SCHEEFFER, F. Desenvolvimento sustentável e moder-
nidade: Uma incompatibilidade anunciada. 2008.
SILVA, J. A. Direito Ambiental Constitucional. São Paulo:
Malheiros. 10ª edição. 2013.
THÉVENIN, J. M. R.; PIROLI, E. L. Áreas Protegidas e
Populações Tradicionais: contradições e desafios para a
proteção da natureza na Amazônia. In: Anais do II Sim-
pósio Estadual de Políticas e Pesquisas Socioambientais
- SIEPPS. Manaus, 2016
VILELA, R. A. G.; IGUTI, A. M.; FIGUEIREDO, P. J.; FA-
RIA, M. A. S. Saúde Ambiental e o Desenvolvimento (In)
Sustentável, p. 70, 2002.
210
Herm. Constitucionais 1.indd 210 26/01/17 12:17
A utilização da hermenêutica em matéria ambiental
Tâmara Mendes Gonçalves de Sousa228
Introdução
A hermenêutica é um campo do saber que busca o
sentido e o alcance do texto legal, estudando e sistemati-
zando os processos utilizados para tanto.
A utilização da hermenêutica se mostra necessária
ante o fato de que o legislador, por não ter como prever
todas as situações da vida cotidiana, bem como as mu-
danças decorrentes do passar do tempo, elabora o texto
legal em termos gerais, o que leva à necessidade de atua-
ção do hermeneuta a fim de adequá-lo ao caso concreto.
Vale destacar, todavia, que em que pese a hermenêu-
tica seja utilizada por diversos ramos do direito, é impres-
cindível levar em consideração as peculiaridades de cada
um deles, como, em nosso caso, o direito ambiental.
Dessa forma, iremos inicialmente abordar a herme-
nêutica jurídica como um todo, tratando dos princípios
por ela utilizados, da forma como se dá o preenchimento
de lacunas e a solução de antinomias.
No tópico seguinte, veremos especificamente a utili-
zação da hermenêutica em matéria ambiental através dos
princípios fundantes e estruturantes do Estado de Direi-
to Ambiental, bem como de outros princípios fundamen-
tais para a atuação do intérprete.
228 Mestranda no programa de pós-graduação em direito ambiental pela Universida-
de do Estado do Amazonas. Professora do Centro Universitário de Ensino Supe-
rior do Amazonas.
211
Herm. Constitucionais 1.indd 211 26/01/17 12:17
Por fim, será feito um estudo de caso, onde será ana-
lisada a decisão que declarou inconstitucional a Lei n.º
15.229 de 08 de janeiro de 2013, que regulamenta a vaque-
jada como atividade desportiva e cultural no Estado do
Ceará por entender que esta atividade, em que pese seja
manifestação cultural local, viola o artigo 215, §1.º, VII da
CF, infligindo sofrimento aos animais.
Hermenêutica jurídica
Richard Palmer afirma que a hermenêutica tem sido
entendida, de acordo com o momento histórico, de di-
versas formas distintas, tais como:
a) uma teoria da exegese bíblica; b) uma metodologia
filosófica geral; c) uma ciência de toda a compreen-
são linguística; d) uma base metodológica da geistes-
wisswnschaften; e) fenomenologia da existência e da
compreensão existencial; f) sistemas de interpreta-
ção, simultaneamente recolectivos e inconoclásticos,
utilizados pelo homem para alcançar o significado
subjacente aos mitos e símbolos229.
Neste trabalho, todavia, faremos referência à herme-
nêutica como um campo do saber que, segundo Carlos
Maximiliano:
tem por objeto o estudo e a sistematização dos pro-
cessos aplicáveis para determinar o sentido e o alcan-
229 PALMER, Richard E. Hermenêutica. Lisboa: Edições 70, 1999, p. 43-44.
212
Herm. Constitucionais 1.indd 212 26/01/17 12:17
ce das expressões do Direito. (...) É tarefa primordial
do executor a pesquisa da relação entre o texto abs-
trato e o caso concreto, entre a norma jurídica e o
fato social, isto é, aplicar o Direito230..
Vale ainda estabelecer a distinção entre hermenêuti-
ca e interpretação, posto que não são sinônimas. Carlos
Maximiliano231 afirma que interpretação é a aplicação da
hermenêutica. Esta descobre e fixa os princípios que re-
gem a segunda. A Hermenêutica é a teoria científica da
arte de interpretar.
No mesmo sentido ensina Wallace Magri232:
No direito, chamamos hermenêutica o campo do
conhecimento que se preocupa em descrever as di-
versas formas (Escolas) de interpretação da norma
jurídica, cada uma delas relacionada a um particular
modo de se tomar contato com o discurso legal.
Já a interpretação significa depreender do texto seu
sentido e alcance por meio de utilização de determi-
nada técnica. Dependendo da Escola Hermenêutica
que segue o intérprete, diversa será a determinação
do limite e alcance da norma.
Portanto, parece nítida a distinção entre os dois ter-
mos que, embora possuam significações próximas
não se confundem, uma vez que o primeiro (herme-
230 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 20ª Edição. Rio de Ja-
neiro: Forense, 2011. p. 01.
231 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 20ª Edição. Rio de Ja-
neiro: Forense, 2011. p. 01.
232 MAGRI, Wallace Ricardo. Hermenêutica Jurídica: proposta semiótica.2012. Tese
(Doutorado em Letras) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciência - Universidade
de São Paulo, São Paulo. p. 75.
213
Herm. Constitucionais 1.indd 213 26/01/17 12:17
nêutica) é o termo hiperônimo que abarca o sentido
do segundo (interpretação).
Resta assim evidenciada a distinção entre os dois ter-
mos, bem como que a hermenêutica é mais ampla e, por
tal razão, engloba o sentido da interpretação.
Hermenêutica e princípios do direito
Neste cenário, onde se busca extrair o sentido e o
alcance do direito, os princípios têm um papel prepon-
derante, visto que auxiliam o hermeneuta estabelecer
quais as condições ou bases de validade para a aplicação
de determinada norma. Os princípios, nas palavras de
Ricardo Soares233, no plano gnosiológico, “figuram como
os pressupostos necessários de um sistema particular de
conhecimento, vale dizer, condição ou base de validade
das demais asserções que integram um dado campo do
saber”.
Assim, compreende-se que os princípios são, na ver-
dade, uma diretriz que orienta o agir humano em con-
formidade com determinados valores jurídicos, não se
reportando, segundo Guerra Filho234, “a um fato específi-
co que se possa precisar com facilidade a ocorrência, ex-
traindo a consequência prevista normativamente”.
Canotilho ensina que os princípios são importantes
dentro do sistema jurídico, posto que, ao mesmo tempo
que fornecem suportes rigorosos para solucionar certas
233 SOARES, Ricardo Maurício Freire. Hermenêutica e interpretação jurídica. 2ª Edição
atualizada, revista e ampliada. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 77.
234 GUERRA FILHO. Willis S. Autopoiese do direito na sociedade pós-moderna. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 1997. p. 17.
214
Herm. Constitucionais 1.indd 214 26/01/17 12:17
questões, também permitem ao sistema respirar, legiti-
mar, enraizar e caminhar:
A respiração obtém-se através da textura aberta dos
princípios; a legitimidade entrevê-se na ideia de os
princípios consagrarem valores (liberdade, democra-
cia, dignidade) fundamentadores da ordem jurídica;
o enraizamento perscruta-se na referência sociológi-
ca dos princípios a valores, programas, funções e pes-
soas; a capacidade de caminhar obtém-se através de
instrumentos processuais e procedimentais adequa-
dos, possibilitadores da concretização, densificação e
realização prática (política, administrativa, judicial)
das mensagens normativas da constituição235.
Acaso baseado exclusivamente em regras, nosso sis-
tema seria limitado sob o ponto de vista da racionalidade
prática, o que levaria à necessidade de uma disciplina le-
gislativa exaustiva a fim de atender à todas as demandas
sociais. Não haveria assim espaço para o desenvolvimen-
to ou complementação do sistema que constantemente
necessitaria ser alimentado por novas regras.
Por outro lado, importantíssimo destacar que o mo-
delo baseado exclusivamente em princípios, em razão da
imprecisão destes, bem como de sua inexatidão e coexis-
tência de princípio conflitantes, levariam a um sistema
falho onde a segurança jurídica não seria resguardada.
Dessa forma, percebe-se que o sistema necessita
desta complementação entre princípio e regras, de forma
235 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e teoria da constitui-
ção. 6ª Edição. Coimbra: Livraria Almedina, 1993. p. 170.
215
Herm. Constitucionais 1.indd 215 26/01/17 12:17
a garantir a renovação e complementação destas, sem,
contudo, olvidar da imprescindível segurança jurídica.
Hermenêutica e as lacunas do direito
Lacunas do direito (ou jurídicas) nada mais são do
que vazios ou imperfeições que comprometem a comple-
tude do ordenamento jurídico. Nesse sentido, a herme-
nêutica se presta a viabilizar sua integração mediante o
preenchimento destas lacunas.
As lacunas têm sua ocorrência identificada no sistema
jurídico aberto ou incompleto e, por consequência, lacu-
noso. Há doutrinadores, porém, segundo Ricardo Soares236,
que situam o problema referente às lacunas no campo da
jurisdição, considerando a atuação do legislador:
(...) o magistrado não poderá eximir-se de julgar, ale-
gando a falta ou a obscuridade da lei. Ao decidir um
caso concreto. O juiz estaria criando uma norma in-
dividualizada para o conflito de interesses e, portan-
to, oferecendo a resposta normativa capaz de assegu-
rar a completude do ordenamento jurídico.
Dessa forma, não haveria lacuna no ordenamento
jurídico, visto que o magistrado sanaria eventuais ques-
tões surgidas no caso concreto.
236 SOARES, Ricardo Maurício Freire. Hermenêutica e interpretação jurídica. 2ª Edição
atualizada, revista e ampliada. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 111.
216
Herm. Constitucionais 1.indd 216 26/01/17 12:17
Considerando o sistema aberto, podemos citar a
ocorrência das seguintes lacunas jurídicas, conforme en-
sina Ricardo Soares237:
a) lacuna normativa: ocorre quando inexiste norma que
regulamente expressamente um dado campo de interação
social;
b) lacuna fática: ocorre quando as normas jurídicas dei-
xam de ser cumpridas pelos agentes da realidade social;
c) lacuna valorativa: ocorre quando a norma vigente não
é valorada como justa, estando em desacordo com os va-
lores socialmente aceitos.
Em que pese a existência destas lacunas, o próprio
ordenamento jurídico oferece mecanismos para o seu
preenchimento através dos instrumentos de integração
do direito como a analogia, os costumes, os princípios ge-
rais e direito e a equidade.
Hermenêutica e as antinomias jurídicas
Conforme já afirmado anteriormente, a hermenêuti-
ca busca a integração do sistema jurídico, conferindo-lhe
coerência. Para que isso seja possível, entretanto, é fun-
damental que seus elementos não se contradigam:
237 SOARES, Ricardo Maurício Freire. Hermenêutica e interpretação jurídica. 2ª Edição
atualizada, revista e ampliada. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 112.
217
Herm. Constitucionais 1.indd 217 26/01/17 12:17
Supõe-se que o legislador, e também o escritor do di-
reito, exprimam o seu pensamento com o necessário
método, cautela, segurança; de sorte que haja uni-
dade de pensamento, coerência de ideias; todas as
expressões se combinem e harmonizem. Militam as
probabilidades lógicas no sentido de não existirem,
sobre o mesmo objeto, disposições contraditórias ou
entre si incompatíveis, em repositório, lei, tratado,
ou sistema jurídico238.
As antinomias jurídicas vão de encontro a esta ideia
de integralidade do sistema, posto que ocorrem quan-
do diferentes normas jurídicas permitem e proíbem um
comportamento ao mesmo tempo ou prescrevem co-
mandos contraditórias.
Carlos Maximiliano afirma que as contradições abso-
lutas não se presumem239. O aplicador deve sempre pro-
curar conciliar as disposições existentes e suspostamente
colidentes sobre o mesmo objeto, deduzindo o alcance e
sentido de cada uma:
Sempre que descobre uma contradição, deve o her-
meneuta desconfiar de si; presumir que não com-
preendeu bem o sentido de cada um dos trechos ao
parecer inconciliáveis, sobretudo se ambos se acham
no mesmo repositório. Incumbe-lhe preliminarmen-
te fazer tentativa para harmonizar os textos240.
238 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 20ª Edição. Rio de Ja-
neiro: Forense, 2011. p. 110.
239 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 20ª Edição. Rio de Ja-
neiro: Forense, 2011. p. 292.
240 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 20ª Edição. Rio de Ja-
neiro: Forense, 2011. p. 110.
218
Herm. Constitucionais 1.indd 218 26/01/17 12:17
Maximiliano ainda enumera alguns preceitos for-
mulados pela doutrina a fim de orientar o intérprete. São
eles:
a) a norma jurídica deve ser aplicada à ordem de coisas
para a qual foi feita.
b) a regra específica tem supremacia em relação à geral.
c) deve-se verificar se os dois trechos não se referem a hi-
póteses distintas, espécies diversas.
d) o interprete deve apurar se as regras supostamente co-
lidentes não tratam de regra geral e exceção, respectiva-
mente.
e) procurar encarar as expressões como partes de um
todo, destinadas a se complementarem.
f) se uma disposição é secundária ou acessória e incompa-
tível com a principal, prevalece a última.
g) deve dar preferência ao texto mais claro, lógico, veros-
símil, de maior utilidade prática e em harmonia com a lei
em conjunto, os usos, o sistema do Direito vigente e as
condições normais da coexistência humana.
h) no caso de antinomia entre constituições, prevalece a
Federal sobre a Estadual, e esta com relação ao Estatuto
orgânico do município; no caso de leis, a básica prevalece
sobre a ânua e a ordinária, que, por sua vez, são superiores
219
Herm. Constitucionais 1.indd 219 26/01/17 12:17
a regulamentos, instruções e avisos; o direito escrito pre-
valece ao consuetudinário.
i) se nenhum dos preceitos resolver a antinomia, desta
resultará a eliminação recíproca de ambos os textos in-
compatíveis.
Hermenêutica ambiental
Até aqui pudemos entender o que é a hermenêutica
e como ela pode ser utilizada para solucionar, sobretudo
através dos princípios, alguns dos problemas de nosso or-
denamento jurídico, tais como as lacunas e as antinomias.
Vale destacar, todavia, que em razão das particulari-
dades do direito ambiental, como a existência de concei-
tos vagos, amplos e indeterminados, e da discricionarie-
dade administrativa do executivo241, faz-se imprescindível
o estudo de uma hermenêutica com técnicas interpreta-
tivas mais adequadas.
Germana Belchior242 sugere a utilização de prin-
cípios estruturantes e fundantes do Estado de Direito
Ambiental para solucionar de forma justa e constitu-
cionalmente adequada a utilização da hermenêutica em
matéria ambiental.
Vale mencionar, todavia, que no Estado de Direito
Ambiental mencionado pela referida autora:
241 BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Hermenêutica jurídica ambiental. São Paulo:
Saraiva, 2011. p. 195.
242 BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Hermenêutica jurídica ambiental. São Paulo:
Saraiva, 2011. p. 196.
220
Herm. Constitucionais 1.indd 220 26/01/17 12:17
Pretende-se rediscutir os elementos constitutivos
(soberania, território, povo e finalidade) da teoria ge-
ral do estado para adequá-los aos Estado de Direito
Ambiental, haja vista que o Estado e o Direito preci-
sam assumir um papel de estimular ou impedir atitu-
des nocivas, na missão de combater a crise ambiental
e lutar pela sobrevivência da humanidade.
Dessa forma, o Estado de Direito Ambiental é o Es-
tado Democrático de Direito, que leva em consideração,
todavia, a importância do direito ambiental na sobrevi-
vência da humanidade.
Princípios fundantes
O intérprete deve ser guiado, incialmente, pelos
princípios fundantes da legitimidade, tendo como obje-
tivo maior a justiça, da juridicidade, ao manifestar o valor
segurança jurídica e da solidariedade, ao conter o valor da
sustentabilidade243. Esses princípios devem fazer parte da
pré-compreensão do intérprete ambiental.
A aplicação do princípio da legitimidade se dará em
decorrência do raciocínio jurídico por indução; O princí-
pio da juridicidade será aplicado pelo intérprete por meio
do raciocínio jurídico dedutivo, a fim de garantir a segu-
rança jurídica; O da solidariedade servirá de orientação
ao intérprete por meio de um raciocínio por dialética.
Esses princípios fornecem ao intérprete um guia ini-
cial, com base em metas e postulados em conformidade
com o Estado de Direito Ambiental.
243 BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Hermenêutica jurídica ambiental. São Paulo:
Saraiva, 2011. p. 197.
221
Herm. Constitucionais 1.indd 221 26/01/17 12:17
Princípios estruturantes
O Estado de Direito Ambiental objetiva a construção
de uma sociedade política onde se reunirão esforços para
estimular a coletividade a preservar o que existe e recu-
perar o que deixou de existir, protegendo e defendendo
o meio ambiente244. Para tanto, devem ser empregados
os princípios estruturantes da precaução, prevenção,
responsabilização, poluidor-pagador, participação, cida-
dania, democracia, informação, educação e participação
ambiental, princípio da proibição do retrocesso ecológi-
co, do mínimo existencial ecológico245. Juntos estes prin-
cípios formularão o núcleo essencial do direito do am-
biente, o que guiará a intérprete em sua atuação.
a) princípio da precaução: busca evitar o dano ambien-
tal. Nesse sentido, Leite afirma que “(...) devem-se consi-
derar não só os riscos ambientais iminentes, mas também
os perigos futuros provenientes de atividades humanas e
que, eventualmente, possam vir a comprometer uma rela-
ção intergeracional e de sustentabilidade ambiental”246.
244 MARQUES, Angélica. A Cidadania Ambiental e a Construção do Estado de Direito
do meio ambiente In: Estado de Direito Ambiental. Tendências: aspectos constitu-
cionais e diagnoticos. FERREIRA, HEline Sivini. et al. Estado de Direito Ambiental:
Tendências. 2 ed. Rio de Janeito: Forense Universitaria, 2004. p. 180.
245 BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Hermenêutica jurídica ambiental. São Paulo:
Saraiva, 2011. p. 199.
246 LEITE, José Rubens Morato. Estado de direito ambiental: uma difícil tarefa. In:
___. Inovações em direito ambiental. Florianópolis: Fundação José Arthur Boi-
teux, 2000. p. 47.
222
Herm. Constitucionais 1.indd 222 26/01/17 12:17
b) princípio da prevenção: visa a proteção do meio am-
biente, previamente aos processos de degradação am-
biental, através da adoção de políticas de gerenciamento.
Belchior afirma a prevenção é passível de aplicação
quando se sabe quais as consequências antes do início
ou prosseguimento de determinada atividade. Aplica-se,
ao contrário do princípio da precaução, quando existe a
comprovação científica do nexo causal247.
c) princípio da responsabilização: a ideia contida neste
princípio é, basicamente, a de quem causa dano ao meio
ambiente deve por ele responder.
d) princípio do poluidor-pagador: é a dimensão econô-
mica do princípio anterior, responsabilizando aquele que
assumiu o risco da atividade econômica e causou danos
ao meio ambiente.
e) participação, cidadania, democracia, informação,
educação e participação ambiental: segundo o princí-
pio 10 da Declaração do Rio de 1992:
A melhor maneira de tratar as questões ambientais
é assegurar a participação, no nível apropriado, de
todos os cidadãos interessados. No nível nacional,
cada indivíduo terá acesso adequado às informações
relativas ao meio ambiente de que disponham as
autoridades públicas, inclusive informações acerca
de materiais e atividades perigosas em suas comuni-
dades, bem como a oportunidade de participar dos
processos decisórios. Os Estados irão facilitar e esti-
247 BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Hermenêutica jurídica ambiental. São Paulo:
Saraiva, 2011. p. 209.
223
Herm. Constitucionais 1.indd 223 26/01/17 12:17
mular a conscientização e a participação popular,
colocando as informações à disposição de todos.
Será proporcionado o acesso efetivo a mecanismos
judiciais e administrativos, inclusive no que se refere
à compensação e reparação de danos248. (grifo nosso).
Fica clara a interligação destes princípios, visto que,
conjuntamente, buscam garantir e até mesmo estimular
o envolvimento da sociedade com as questões ambientais.
f) princípio da proibição do retrocesso ecológico: as
conquistas jurídico-sociais decorrentes da evolução dos
direitos fundamentais se tornam uma espécie de patri-
mônio existencial do homem e, por tal razão, não se ad-
mite o retorno a uma situação pior. Nas palavras de Bel-
chior, o objetivo é vincular o legislador infraconstitucional
para que não haja um retrocesso naquilo que concerne
aos direitos fundamentais declarados e assegurados pela
Constituição249.
g) princípio do mínimo existencial: busca garantir o
mínimo de condições necessárias a uma vida digna que,
além dos direitos já identificados pela doutrina, deve
compreender também o da qualidade ambiental.
Além dos princípios fundantes e estruturantes do
Estado de Direito Ambiental, outros se mostram funda-
mentais para orientar a atuação do interprete, conforme
se verá a seguir.
248 BRASIL. Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Disponível
em: <www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf>. Acesso em: 20 nov 2016.
249 BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Hermenêutica jurídica ambiental. São Paulo:
Saraiva, 2011. p. 222.
224
Herm. Constitucionais 1.indd 224 26/01/17 12:17
Princípio da razoabilidade
O princípio da razoabilidade confere bom senso ao
aplicador nas escolhas por ele realizadas. Belchior destaca
que:
Quando se invoca o teste de razoabilidade, percebe-
-se que o objetivo é identificar decisões que nenhuma
autoridade razoável poderia ter tomado, tendo por
base os standards do senso comum de uma comuni-
dade. Por conta disso, o julgador (ou intérprete em
geral) não pode tomar uma decisão apenas com base
no seu senso individual, mas, ao revés, deve-se guiar
pelo consenso da comunidade na qual está inserido.
Este é um princípio, portanto, que o interprete deve
seguir afim de garantir que sua atuação se dê de acordo
com o senso comum acerca do que é razoável e não de
seu próprio entendimento.
Interpretação constitucional ambiental e os princípios
aplicáveis
Neste tópico veremos alguns princípios utilizados
especificamente para interpretar as normas constitucio-
nais, mais precisamente em matéria ambiental.
a) unidade da constituição: a constituição é um sistema
integrado e, por esta razão, as normas devem ser interpre-
tadas de forma a estabelecer uma harmonia com o todo.
225
Herm. Constitucionais 1.indd 225 26/01/17 12:17
b) princípio do efeito integrador: diante de dilemas ju-
rídico-constitucionais, o intérprete deve sempre buscar a
decisão que favoreça a integração ecológica, social e polí-
tica, de acordo com o Estado de Direito Ambiental250.
c) princípio da máxima efetividade: à Constituição deve
ser conferida a máxima eficácia possível. Segundo Bel-
chior, uma norma de direito fundamental, como no caso
do meio ambiente sadio, é autoaplicável, nos termos do
artigo 5.º, §1.º, da CF/88, cabendo ao judiciário sua efeti-
vação in casu251.
d) princípio da força normativa da Constituição: a
Constituição não é uma carta de intenções e, por isso,
deve ser aplicada.
e) princípio da conformidade funcional: deve obedecer
à repartição dos poderes estabelecidas pela constituição.
A atuação desses poderes deve ser dar, entretanto, de for-
ma harmônica.
Princípios do sopesamento e da ponderação
Estes princípios servem ao intérprete para harmo-
nizar os interesses envolvidos sempre que houver coli-
são entre o direito ao meio ambiente com outro direito
fundamental.
250 BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Hermenêutica jurídica ambiental. São Paulo:
Saraiva, 2011. p. 234.
251 BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Hermenêutica jurídica ambiental. São Paulo:
Saraiva, 2011. p. 235.
226
Herm. Constitucionais 1.indd 226 26/01/17 12:17
Importante destacar que não há hierarquia entre os
direitos fundamentais. A ordenação se dará no caso con-
creto, diante do peso dos valores e bens envolvidos den-
tro de cada direito fundamental.
Uma peculiaridade interessante é que o direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme
disposto no artigo 225 da Constituição Federal, possui
uma influência significativa quando em conflito com ou-
tro direito fundamental, posto que não há vida, tampou-
co outros direitos, sem o meio ambiente.
Esta questão será melhor evidenciada no estudo de
caso feito a seguir.
Estudo de caso: a inconstitucionalidade da Lei
15.299/2013
A Lei 15.299/2013 regulamenta vaquejada como ativi-
dade desportiva e cultural no Estado do Ceará.
A vaquejada, segundo o artigo 2.º da referida lei, é
definida como todo evento de natureza competitiva, no
qual uma dupla de vaqueiros a cavalo persegue animal
bovino, objetivando dominá-lo252.
O Supremo Tribunal Federal, porém, em outubro de
2016, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade (ADI) 4983, ajuizada pelo procurador-geral da
República, sob o argumento de que haveria, segundo o
252 BRASIL. Lei n.º 15.229 de 08 de janeiro de 2013. Regulamenta a vaquejada como
atividade desportiva e cultural no Estado do Ceará. Disponível em: < http://www.
al.ce.gov.br/legislativo/legislacao5/leis2013/ 15299.htm>. Acesso em: 20 nov
2016.
227
Herm. Constitucionais 1.indd 227 26/01/17 12:17
ministro Marco Aurélio, “crueldade intrínseca” aplicada
aos animais.
O posicionamento, porém, não foi unânime, posto
que os ministros Edson Fachin, Teori Zavascki, Luiz Fux,
Dias Toffoli e Gilmar Mendes, entenderam ser a vaqueja-
da uma manifestação festiva e cultural que também me-
rece a proteção constitucional.
Haveria neste caso, portanto, uma antinomia, entre
as normas previstas nos artigos 215, § 1.º e 225, §1.º, VII da
Constituição Federal. A primeira protege a manifestação
cultural, ao passo que a última veda práticas que subme-
tam os animais à crueldade:
Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício
dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura
nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a di-
fusão das manifestações culturais.
§ 1º O Estado protegerá as manifestações das cultu-
ras populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de
outros grupos participantes do processo civilizatório
nacional.
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecolo-
gicamente equilibrado, bem de uso comum do povo
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo
e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, in-
cumbe ao Poder Público:
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da
lei, as práticas que coloquem em risco sua função
ecológica, provoquem a extinção de espécies ou sub-
metam os animais a crueldade.
228
Herm. Constitucionais 1.indd 228 26/01/17 12:17
Com base no conflito entre os referidos direitos fun-
damentais, o Supremo Tribunal Federal foi instado a se
manifestar, afim de dizer qual destes deveria prevalecer.
O ministro relator Marco Aurélio defendeu em seu
voto a ideia de que:
Os precedentes apontam a óptica adotada pelo Tri-
bunal considerado o conflito entre normas de direi-
tos fundamentais – mesmo presente manifestação
cultural, verificada situação a implicar inequívoca
crueldade contra animais, há de se interpretar, no
âmbito da ponderação de direitos, normas e fatos de
forma mais favorável à proteção ao meio ambiente,
demostrando-se preocupação maior com a manu-
tenção, em prol dos cidadãos de hoje e de amanhã,
das condições ecologicamente equilibradas para uma
vida mais saudável e segura.
Cabe indagar se esse padrão decisório configura o
rumo interpretativo adequado a nortear a solução
da controvérsia constante deste processo. A resposta
é desenganadamente afirmativa, ante o inequívoco
envolvimento de práticas cruéis contra bovinos du-
rante a vaquejada253.
Os precedentes aos quais faz referência o ministro
Marco Aurélio são os julgamentos da “farra do boi” e “bri-
ga de galo”. Neles, assim como na ADI 4983, a interpreta-
ção do aplicador do direito foi no sentido de privilegiar
a proteção ao meio ambiente, mais especificamente no
253 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 4983. Relator Ministro Marcos Aurélio. Dispo-
nível em: < http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=4027060&-
tipo=TP&descricao=ADI%2F4983>. Acesso em 20 nov 2016.
229
Herm. Constitucionais 1.indd 229 26/01/17 12:17
que tange à proibição de práticas cruéis contra os ani-
mais, quando em conflito com o direito à manifestação
cultural.
Conclusão
A hermenêutica é um instrumento indispensável ao
aplicador do direito, visto que possibilita, por meio de
técnicas e princípios, vistos ao longo deste trabalho, o al-
cance do texto legal.
Viu-se, dessa forma, que a hermenêutica utilizada
para buscar o sentido e alcance das normas ambientais
possui algumas peculiaridades em razão de seus concei-
tos vagos, amplos e indeterminados.
Fora abordado também o Estado de Direito Am-
biental, que consiste no Estado Democrático de Direito
mais consciente da importância do meio ambiente para
a sobrevivência da humanidade. Diante disto, foram ex-
postos princípios fundantes e estruturantes deste Estado,
bem como outros princípios, que podem e devem ser uti-
lizados pelo aplicador ou intérprete das leis.
A fim de evidenciar esta questão, foram ainda tra-
zido trechos dos votos dos ministros na Ação Direita de
Inconstitucionalidade 4893, que julgou inconstitucional
a Lei n.º 15.229 de 08 de janeiro de 2013, que regulamenta
a vaquejada como atividade desportiva e cultural no Esta-
do do Ceará. Para tanto, os ministros valeram-se da pon-
deração, entendendo ao final que, assim como decidido
em situações semelhantes, o conflito entre normas cons-
titucionais se resolve em favor do meio ambiente quando
a prática condenar os animais a condições degradantes.
230
Herm. Constitucionais 1.indd 230 26/01/17 12:17
Vale destacar, todavia, que mesmo utilizando todos
os princípios e técnicas aqui mencionados, é inevitável
que ocorram subjetividades e arbitrariedades, razão pela
qual o interprete deve sempre fundamentar suas decisões
em argumentos justificados, claros e de acordo com a or-
dem constitucional ambiental.
Referências
BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Hermenêutica ju-
rídica ambiental. São Paulo: Saraiva, 2011.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil.
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em:
20 nov 2016.
BRASIL. Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e De-
senvolvimento. Disponível em: <www.onu.org.br/rio20/
img/2012/01/rio92.pdf>. Acesso em: 20 nov 2016.
BRASIL. Lei n.º 15.229 de 08 de janeiro de 2013. Regula-
menta a vaquejada como atividade desportiva e cultural
no Estado do Ceará. Disponível em: < http://www.al.ce.
gov.br/legislativo/legislacao5/leis2013/15299.htm>. Aces-
so em: 20 nov 2016.
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitu-
cional e teoria da constituição. 6ª Edição. Coimbra: Li-
vraria Almedina, 1993.
231
Herm. Constitucionais 1.indd 231 26/01/17 12:17
GUERRA FILHO. Willis S. Autopoiese do direito na so-
ciedade pós-moderna. Porto Alegre: Livraria do Advoga-
do, 1997.
LEITE, Jose´Rubens Morato. Estado de direito ambien-
tal: uma difícil tarefa. In: ___. Inovações em direito am-
biental. Florianópolis: Fundação José Arthur Boiteux,
2000.
MAGRI, Wallace Ricardo. Hermenêutica Jurídica: pro-
posta semiótica. 2012. Tese (Doutorado em Letras) – Fa-
culdade de Filosofia, Letras e Ciência - Universidade de
São Paulo, São Paulo. p. 75.
MARQUES, Angélica. A Cidadania Ambiental e a Cons-
trução do Estado de Direito do meio ambiente In: Estado
de Direito Ambiental. Tendências: aspectos constitucio-
nais e diagnoticos. FERREIRA, HEline Sivini. et al. Estado
de Direito Ambiental: Tendências. 2 ed. Rio de Janeito:
Forense Universitaria, 2004.
MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do di-
reito. 20ª Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2011.
PALMER, Richard E. Hermenêutica. Lisboa: Edições 70,
1999.
SOARES, Ricardo Maurício Freire. Hermenêutica e inter-
pretação jurídica. 2ª Edição atualizada, revista e amplia-
da. São Paulo: Saraiva, 2015.
232
Herm. Constitucionais 1.indd 232 26/01/17 12:17
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 4983. Relator
Ministro Marcos Aurélio. Disponível em: < http://www.
stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=4027060
&tipo=TP&descricao=ADI%2F4983>. Acesso em 20 nov
2016.
233
Herm. Constitucionais 1.indd 233 26/01/17 12:17
234
Herm. Constitucionais 1.indd 234 26/01/17 12:17
Fundamentação analítica no Novo Código de Pro-
cesso Civil Brasileiro: análise do Imperativo Legal às
Decisões Judiciais nos termos do Art. 489, § 1º da Lei nº
13.105 de 16 de março de 2015
Thaisa Carvalho Batista254
Introdução
O advento do Novo Código de Processo Civil Brasilei-
ro – Lei nº 13.105/2015 – trouxe consigo significativo ins-
trumento ao ordenamento jurídico pátrio referente à fun-
damentação das decisões proferidas no âmbito processual.
Tal determinação diz respeito ao que se convencionou
chamar de fundamentação analítica das decisões judiciais.
Fundamentar analiticamente uma decisão judicial,
significa – em outras palavras – proceder à análise do
caso concreto segundo suas peculiaridades fáticas e jurí-
dicas, sem empirismo ou generalismo que fujam à causa
de pedir.
O referido instituto – disposto no art. 489, §1º da Lei
nº 13.105/2015 - além de definir expressamente o que se
considera, à luz do Novo Código, uma decisão judicial não
fundamentada, expressa o fito do legislador em garantir
um iter processual que efetivamente possua mecanismos
de blindagem à arbitrariedade e discricionariedade pre-
sentes, por vezes, nas decisões judiciais e que, acima de
tudo, seja democrático e lastreado pela cooperação entre
as partes litigantes.
254 Mestranda em Direito Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas.
Advogada.
235
Herm. Constitucionais 1.indd 235 26/01/17 12:17
Desse modo, o enfoque do presente ensaio é justa-
mente a proposta de uma análise dos requisitos essen-
ciais para que uma decisão judicial seja considerada ra-
cional e legítima a partir desta nova significação que as
decisões judiciais tomam em decorrência do imperativo
legal do Art. 489, §1º do NCPC.
Nesse sentido, a problemática é a intensificação
dos debates em torno do aludido art. 489, §1º da Lei nº
13.105/2015, uma vez que, a par da grande repercussão
dessa acentuada discussão, o conteúdo ainda é sobrema-
neira complexo, instigante e, por certo, gerará relevante
mudança na conduta e prática forenses.
Oportunamente, registra-se que o trabalho se deu
em razão da acuidade do tema. Trata-se de matéria atual
e de suma importância para o enriquecimento das dis-
cussões acerca do imperativo legal da fundamentação
analítica das decisões judiciais no Novo Código de Pro-
cesso Civil. Além disso, enfatizar a inserção do disposi-
tivo no ordenamento enquanto garantia constitucional
expressada pelo legislador constituinte.
Os objetivos concretos do estudo são: Analisar a fun-
damentação das decisões judiciais à luz do Art. 489, §1º
do Código de Processo Civil de 2015. Apresentar o enten-
dimento do que seria o ato de não fundamentar racio-
nal e legitimamente uma decisão judicial nos termos do
já mencionado artigo e, por fim, enfatizar a inserção do
dispositivo no ordenamento jurídico enquanto garantia
constitucional explicitada pelo legislador constituinte.
No primeiro tópico enfatiza-se a essencial relação
entre fundamentação analítica e salvaguarda consti-
tucional, assim como a necessidade de se resguardar o
equilíbrio desse importante vínculo. Demonstra-se ain-
236
Herm. Constitucionais 1.indd 236 26/01/17 12:17
da, a imperiosa necessidade de que a fundamentação, a
interpretação e a aplicação das decisões judiciais adqui-
ram roupagem constitucional como expressão de justiça,
democracia e segurança jurídica, de modo a reverberar a
todas as searas conectivas do direito material e proces-
sual a perfectibilidade de um sistema jurídico embasado
no modelo constitucional.
No segundo tópico está a análise do rol Art. 489, §1º
da Lei nº 13.105/2015. Demonstram-se as situações legais
em que o legislador entendeu como não fundamenta-
da uma decisão judicial e verifica-se não se trata de uma
lista exaustiva, uma vez que só será identificado através
da apreciação do caso concreto, se que o dever de moti-
var - enquanto garantia constitucional – foi atendido ou
violado.
Por fim, ressalta-se que não há, em absoluto, a pre-
tensão de esgotar as possibilidades do tema – até porque
se trata de conteúdo novo no ordenamento jurídico pá-
trio - este ensaio, ao levantar uma breve análise do insti-
tuto, poderá oferecer a gênese de um fio condutor jurí-
dico a futuros estudos minuciosos de pesquisadores que
pretendam o aprofundamento da matéria.
Fundamentação analítica e salvaguarda consitucional:
uma essencial relação
A exigência da fundamentação racional nos conteú-
dos decisórios judiciais há muito se faz presente no orde-
namento jurídico brasileiro. Isso se justifica pela intenção
do legislador constituinte em garantir aos litigantes e à so-
237
Herm. Constitucionais 1.indd 237 26/01/17 12:17
ciedade a existência de um processo de solução de confli-
tos democrático, compreensível, aceitável e transparente.
Para tanto, seria imprescindível assegurar a ampla
defesa das partes, a possibilidade do exercício do contra-
ditório e, sobretudo a fiscalização e publicidade das ra-
zões decisórias do magistrado.
A salvaguarda constitucional que expressou tal ga-
rantia ocorreu no ano de 1988, com a publicação da Carta
Constitucional vigente até hoje, nos termos de seu Art.
93, inciso IX, que assim dispõe:
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo
Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magis-
tratura, observados os seguintes princípios:
(omissis)
IX – todos os julgamentos dos órgãos do Poder Ju-
diciário serão públicos, e fundamentadas todas as
decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei, se o
interesse público o exigir, limitar a presença, em de-
terminados atos, às próprias partes e a seus advoga-
dos, ou somente a estes;255
Como se nota, a publicidade dos atos decisórios ju-
diciais, bem como sua respectiva fundamentação são ver-
dadeiras expressões do estado democrático constitucio-
nal de direito em matéria processual desde o advento da
Constituição da República que norteiam o iter processual
civil até os dias de hoje.
255 Constituição da República Federativa do Brasil - http://www2.camara.leg.br/le-
gin/fed/consti/1988/constituicao-1988-5-outubro-1988-322142-publicacaoorigi-
nal-1-pl.html (Acesso em 16 de novembro de 2016).
238
Herm. Constitucionais 1.indd 238 26/01/17 12:17
Ainda, – e oportunamente - é importante destacar
outro contexto que a acepção da fundamentação analíti-
ca abarca em matéria constitucional, qual seja, o fiscaliza-
tório. E em uma sociedade hipercomplexa, imprescindível
se mostra a proteção máxima de uma das premissas basi-
lares de um estado democrático, a separação dos poderes.
Nesse contexto, a exigência da fundamentação ana-
lítica, aliada à publicidade dos referidos atos, adquire a
roupagem de mecanismo fiscalizador das decisões judi-
ciais, uma vez que oportuniza o controle de seu conteúdo
pelas partes e pelos agentes públicos e impede que o ma-
gistrado assuma “postura supralegal”, considerando que,
diante de uma liberdade incondicionada, possa restar de-
sobrigado do imperativo de fundamentar.
A referida postura, caso ocorresse, teria como con-
sequência a ameaça iminente à separação dos poderes,
premissa basilar da Constituição Federal e de todo o or-
denamento jurídico brasileiro.
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada me-
diante proposta:
(omissis)
§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de
emenda tendente a abolir:
(omissis)
III – a separação dos Poderes;256
Um Judiciário ilimitado implica em colisão e insta-
bilidade institucional de todo um Estado e a exigência da
256 Constituição da República Federativa do Brasil - http://www2.camara.leg.br/le-
gin/fed/consti/1988/constituicao-1988-5-outubro-1988-322142-publicacaoorigi-
nal-1-pl.html (Acesso em 16 de novembro de 2016).
239
Herm. Constitucionais 1.indd 239 26/01/17 12:17
fundamentação analítica, racional e legítima das decisões
judiciais se traduz na verdadeira insignia processual da
justiça, do devido processo legal e da segurança jurídica,
não só para os litigantes in casu, mas também para toda a
sociedade brasileira.
Como preceitua Humberto Teodoro Júnior257:
Há muito se percebe que a exigência de fundamen-
tação das decisões judiciais é uma garantia contra o
arbítrio e a discricionariedade; no entanto, a consi-
deração recorrente de que se trata de obrigação óbvia
faz crer que qualquer motivo apresentado pelo juiz
seria suficiente para o cumprimento da norma pre-
vista no art. 93, IX, da CR/88.
E segue, na mesma linha, Maurício Ramires258:
Ocorre que é preciso diferenciar a fundamentação
válida de suas simulações. Fundamentar validamen-
te não é explicar a decisão. A explicação só confere à
decisão uma falsa aparência de validade. O juiz expli-
ca, e não fundamenta quando diz que assim decide
por ter indicado o texto normativo que lhe pareceu
adequado, sem justificar a escolha, não vai além do
que faria se não explicitasse de forma alguma o mo-
tivo da decisão. Diz Lenio Streck que jamais uma de-
cisão pode ser do tipo “defiro com base na lei x ou
257 JÚNIOR, Humberto Teodoro. NUNES, Dierle, BAHIA, Alexandre. PEDRON, Flávio.
Novo CPC – Fundamentos e sistematização. – Rio de Janeiro: Forense, página
262, 2015.
258 RAMIRES, Maurício. Crítica à aplicação dos precedentes no direito brasileiro – Por-
to Alegre: Livraria do Advogado, páginas 41-42, 2010.
240
Herm. Constitucionais 1.indd 240 26/01/17 12:17
súmula y”. Essa escolha “livre” de sentido não fun-
damenta o julgado, a não ser para alguém ainda tão
imerso no paradigma racionalista que acredite que
alei tenha um sentido unívoco e pressuposto. Ao juiz
contemporâneo não pode basta, ao dar cabo a uma
discussão, a mera declaração do vencedor, repetin-
do as razões deste como quem enuncia uma equação
matemática. Ao contrario, é preciso que o julgador,
no mesmo passo em que diz por que acolheu as ra-
zoes do vencedor, afirme pelas quais rejeitara a inter-
pretação dada pela parte sucumbente.
Nessa perspectiva, é imperioso que a fundamenta-
ção, interpretação e aplicação das decisões judiciais ad-
quira roupagem constitucional como extensão do pró-
prio dispositivo (art. 93, inciso IX da CR/88), de modo a
reverberar a perfectibilidade do sistema jurídico embasa-
do em um modelo constitucional a todas as searas conec-
tivas do direito material e processual.
Dessa forma, mais que apreender a valiosa signifi-
cação que o instituto da fundamentação analítica ganha
com o Novo Código de Processo Civil, é de suma relevân-
cia que haja o aprofundamento do estudo e o respectivo
aprimoramento de sua aplicação como o reflexo de efe-
tividade que a garantia da norma constitucional ensejou
no sistema.
E esse é o mérito que o Novo Código de Processo
Civil traz à ordem jurídica com o art. 489, §1º.
241
Herm. Constitucionais 1.indd 241 26/01/17 12:17
Análise do Art. 489, § 1º da Lei nº 13.105 de 16 de
março de 2015
Como alhures mencionado, o imperativo da funda-
mentação das decisões judiciais não surgiu aleatoriamen-
te no sistema jurídico.
Historicamente, anota-se que mesmo sem a obriga-
toriedade taxativa de fundamentar, os juízes da era ro-
mana o faziam com o intuito de expressar seu chamado
sentire – sentir. Isso porque, ao exprimir as razões de seu
posicionamento, os julgadores exerciam, além do ato de-
cisório, verdadeira atividade interpretativa, tanto da ca-
suística que lhes era apresentada, quando da norma a ser
a aplicada.
Dessa forma, já era possível verificar que toda e qual-
quer decisão, ao ser fundamentada, se daria pelo exercício
de um caráter discricionário do julgador, muito embora
dentro dos contornos da aplicação e produção jurídicas.
Acerca da atividade interpretativa, no mesmo senti-
do, preleciona Humberto Teodoro Júnior:259
Nesses termos, interpretar é decidir sobre o sentido
dos textos normativos partindo-se do pressuposto
segundo o qual o legislativo não é capaz de prever
todas as hipóteses de aplicação; reconhece-se um
poder discricionário aos aplicadores para decidir
diante de situações de relativa indeterminação: a) a
interpretação é uma atividade cognitivo-volitiva; b) a
interpretação é uma atividade necessária à aplicação;
259 JÚNIOR, Humberto Teodoro. NUNES, Dierle, BAHIA, Alexandre. PEDRON, Flávio.
Novo CPC – Fundamentos e sistematização. – Rio de Janeiro: Forense, página 270,
2015.
242
Herm. Constitucionais 1.indd 242 26/01/17 12:17
c) a aplicação é uma atividade decisória, de produ-
ção normativa, e de caráter discricionário (apenas em
parte vinculada). Tal posição será radicalizada por
outras posturas judiciarias, mais ligadas ao chamado
realismo jurídico, que acabam, enfim por reduzir o
ato decisório a um ato totalmente subjetivo.
Considerando os supramencionados apontamen-
tos, – e demais partidários da mesma linha – o legisla-
dor constituinte originário dispôs sobre a já mencionada
garantia constitucional da fundamentação (art. 93, inciso
IX da CR/88) e em igual raciocínio caminha o legislador
infraconstitucional, ao dispor sobre a matéria na nova lei
processual civil.
A nova lei, explanou de maneira inovadora o tema da
fundamentação analítica, determinando expressamente
quais casos não será considerada fundamentada uma de-
cisão judicial.
Desse modo, no ordenamento jurídico brasileiro, o
imperativo da fundamentação analítica vem como ex-
pressão da garantia constitucional de vários preceitos
(devido processo legal, segurança jurídica, fundamenta-
ção, justiça, acesso à justiça, contraditório, ampla defesa
e outros) e está, hoje, positivado no art. 489, §1º do Novo
Código de Processo Civil. In verbis:
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(omissis)
§1º Não se considera fundamentada qualquer deci-
são judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acór-
dão, que:
243
Herm. Constitucionais 1.indd 243 26/01/17 12:17
I – se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfra-
se de ato normativo, sem explicar sua relação com a
causa ou a questão decidida;
II – empregar conceitos jurídicos indeterminados,
sem explicar o motivo concreto de sua incidência no
caso;
III – invocar motivos que se prestariam a justificar
qualquer outra decisão;
IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos
no processo capazes de, em tese, infirmar a conclu-
são adotada pelo julgador;
V – se limitar a invocar precedente ou enunciado de
súmula, sem identificar seus fundamentos determi-
nantes nem demonstrar que o caso sob julgamento
se ajusta àqueles fundamentos;
VI – deixar de seguir enunciado de súmula, jurispru-
dência ou precedente invocado pela parte, sem de-
monstrar a existência de distinção no caso em julga-
mento ou a superação do entendimento.260
Oportuno registar, que o dispositivo legal, ao asseve-
rar os casos em que se considera, a priori, não fundamen-
tada uma decisão judicial o faz em um rol exemplificativo.
Isso porque, uma vez que a fundamentação decorre do en-
frentamento do caso concreto, não há que se falar em de-
limitar em abstrato (na letra da lei) quais situações se está,
ou não diante de uma decisão judicial não fundamentada.
Por essa razão, andou bem o legislador ao indicar
situações que implicariam não fundamentação. Ele
260 Novo Código de Processo Civil – Lei n. 13.105/2015 - http://www.jusbrasil.com.
br/topicos/28892006/paragrafo-1-artigo-489-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-
-de-2015 (Acesso em 16 de novembro de 2016).
244
Herm. Constitucionais 1.indd 244 26/01/17 12:17
não limita o conteúdo semântico da fundamentação,
mas aponta para aquilo que não seria, para o legis-
lador pátrio, uma decisão não fundamentada. Mais.
Toma por critério uma regra de interpretação cons-
titucional importante, já que, como relatado, mate-
rializa e potencializa ao máximo o preceito constitu-
cional. Não deixa de ser uma delimitação semântica.
Porém, a delimitação tem por função conferir maior
efetividade.
Deve-se destacar que ainda que a estipulação delimi-
tadora em nenhum momento tem a pretensão de ser
exaustiva, já que indica casuisticamente o que é uma
decisão não fundamentada. Não exaure as possibili-
dades, porquanto a fundamentação ou a sua negativa
só serão vistas no caso concreto. Noutras palavras,
no caso concreto o aplicador poderá encontrar ou-
tras situações que não realizam o preceito constitu-
cional e, por isso, nulas.261
Desse modo, não resta dúvidas à vontade do legisla-
dor em atribuir maior efetividade às garantias constitu-
cionais e consequente dispositivo legal no momento em
que limita-se à estabelecer rol exemplificativo das situa-
ções em que se considera não fundamentada uma deci-
são judicial.
E é justamente por esse motivo que deve ser dada
especial atenção às referidas hipóteses. Procede-se, nes-
se momento à sucintos e despretensiosos apontamentos
acerca de cada uma delas.
261 JÚNIOR, Fredie Didier – coordenador geral. Novo CPC doutrina selecionada:
Processo de conhecimento e disposições finais e transitórias. – Salvador:
Juspodivm, página 366, 2015.
245
Herm. Constitucionais 1.indd 245 26/01/17 12:17
A primeira hipótese está elencada no inciso I, do §1º
do Art. 489 do NCPC ao dispor que não se considera fun-
damentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão que se limitar à indicação, à reprodu-
ção ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua rela-
ção com a causa ou a questão decidida.262
O supramencionado comando determina que o ma-
gistrado não pode apenas limitar-se a indicar o preceito
normativo aplicável ao caso em exame, mas indicar o ato
normativo e ainda relacioná-lo à situação enfrentada. Em
outras palavras, deve o magistrado descrever o por que da
norma eleita ser aplicável àquele caso concreto.
Trata-se de fundamentar de forma pormenorizada –
ainda que concisa - a subsunção do fato à norma eleita,
frise-se, para o caso concreto em exame.
A segunda hipótese está listada no inciso II, do §1º
do Art. 489 do NCPC ao dispor que não se considera fun-
damentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão que empregar conceitos jurídicos inde-
terminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidên-
cia no caso. 263
Ao se falar em preceito jurídico indeterminado, tem-
-se, à título de exemplo os casos envolvendo conceitos
como boa-fé e moral. É necessário que o magistrado con-
cretize tais conceitos abstratos no caso concreto, explici-
tando os motivos de sua incidência e aplicação, sob pena
de ser considerada não fundamentada a decisão judicial.
262 Novo Código de Processo Civil – Lei n. 13.105/2015: http://www.jusbrasil.com.
br/topicos/28892006/paragrafo-1-artigo-489-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-
-de-2015 (Acesso em 16 de novembro de 2016).
263 Novo Código de Processo Civil – Lei n. 13.105/2015: http://www.jusbrasil.com.
br/topicos/28892006/paragrafo-1-artigo-489-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-
-de-2015 (Acesso em 16 de novembro de 2016).
246
Herm. Constitucionais 1.indd 246 26/01/17 12:17
Relevante anotação faz MARINONI264 aos cataloga-
dos incisos I e II do §1º do Art. 489 da Lei nº 13.105/2015:
A necessidade de individualização das normas apli-
cáveis repele a possibilidade de o juiz se limitar à in-
dicação, à reprodução ou à paráfrase (aqui entendida
como simples reelaboração do texto legal com ou-
tras palavras) de ato normativo (art. 489, §1º, I). Isso
porque para a individualização das normas aplicaveis
é preciso em primeiro lugar explicar as razões pelas
quais as normas aplicadas servem para solução do
caso concreto: isto é, é preciso mostrar por quais mo-
tivos as normas devem ser aplicadas. Se isso é verdade,
é claro que a simples transcrição do texto legal – sem
qualquer menção ao caso concreto – não serve para
individualização do direito que deve ser aplicado.
A mesma observação serve para os casos em que o
debate do caso concreto envolve a concretização de
termos vagos (art. 489, §1º, II, presentes, por exem-
plo, nos conceitos jurídicos indeterminados e nas
cláusulas gerais). Se não se outorga sentido ao termo
vago e não se mostra a razão pela qual esse pertine ao
caso concreto, a indeterminação normativa do texto
impede que se tenha por individuallizada a norma
que será aplicada para solução da questão debatida
entre as partes.
A terceira hipótese está enumerada no inciso III, do
§1º do Art. 489 do NCPC ao dispor que não se considera
264 MARINONI, Luiz Guilherme. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos me-
diante procedimento comum, volume II – São Paulo, Editora Revista dos Tribu-
nais, páginas 443/444, 2015.
247
Herm. Constitucionais 1.indd 247 26/01/17 12:17
fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocu-
tória, sentença ou acórdão que invocar motivos que se pres-
tariam a justificar qualquer outra decisão. 265
O dispositivo se refere à chamada fundamentação
genérica, ou seja, uma falsa fundamentação que “não diz
nada”, que não enfrenta o caso concreto.
A decisão que “invocar motivos que se prestariam a
justificar qualquer outra decisão” (inciso III), mas sem
qualquer relação com o caso em análise, será não mo-
tivada, regulamentação essa que só é necessária em
virtude da existência, hoje, de decisões judiciais apeli-
dadas de “Frankenstein”, nas quais argumentos utili-
zados em várias outras decisões proferidas pelo mes-
mo juízo são agrupados para solucionar uma causa,
e muitas vezes não têm qualquer relação com ela.266
Sendo assim, será considerada a decisão judicial que
se limitar à fundamentar genericamente o caso em exa-
me, nos termos do inciso III, do §1º do Art. 489 do NCPC.
A quarta hipótese consta do inciso IV, do §1º do Art.
489 do NCPC ao determinar que não se considera funda-
mentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão que não enfrentar todos os argumentos
265 Novo Código de Processo Civil – Lei n. 13.105/2015: http://www.jusbrasil.com.
br/topicos/28892006/paragrafo-1-artigo-489-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-
-de-2015 (Acesso em 16 de novembro de 2016).
266 JÚNIOR, José Herval Sampaio - O dever de fundamentação-resposta do juiz no
novo CPC: Corolário do contraditório substancial - direito da parte dever do Juiz.
https://joseherval.jusbrasil.com.br/artigos/160040580/o-dever-de-fundamenta-
cao-resposta-do-juiz-no-novo-cpc (Acesso em 16 de novembro de 2016).
248
Herm. Constitucionais 1.indd 248 26/01/17 12:17
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a con-
clusão adotada pelo julgador .267
Nota-se que a imposição é no sentido de o magistra-
do enfrentar e responder efetivamente o contraditório das
partes litigantes. Contudo, nas palavras de MARINONI268:
É importante perceber, porém, que o Art. 489, §1º,
inciso IV, não visa a fazer com que o juiz rebate todo
e qualquer argumento invocado pelas partes no pro-
cesso. O Poder Judiciário tem o dever de dialogar
com a parte a respeito dos argumentos capazes de
determinar por si só a procedência ou improcedên-
cia de um pedido – ou de determinar por si só o co-
nhecimento, não conhecimento, provimento ou des-
provimento de um recurso. Isso quer dizer que todos
os demais argumentos só precisam ser considerados
pelo juiz com o fim de demonstração de que não são
capazes de determinar conclusão diversa daquela
adotada pelo julgador.
Assim, a decisão judicial, para ser considerada fun-
damentada, racional e legítima, deve enfrentar todos os
argumentos trazidos pelas partes, frise-se, aqueles capa-
zes de infirmar a conclusão do julgador como verdadeira
experiência de louvar o exercício do contraditório no de-
correr do iter processual.
267 Novo Código de Processo Civil – Lei n. 13.105/2015: http://www.jusbrasil.com.
br/topicos/28892006/paragrafo-1-artigo-489-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-
-de-2015 (Acesso em 16 de novembro de 2016).
268 MARINONI, Luiz Guilherme. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos me-
diante procedimento comum, volume II – São Paulo, Editora Revista dos Tribu-
nais, página 446, 2015.
249
Herm. Constitucionais 1.indd 249 26/01/17 12:17
A quinta hipótese está positivada no inciso V, do §1º
do art. 489 do NCPC ao esclarecer o seguinte:
Art. 489 (omissis)
§1º (omissis)
V – não se considera fundamentada qualquer decisão
judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão
que se limitar a invocar precedente ou enunciado de
súmula, sem identificar seus fundamentos determi-
nantes nem demonstrar que o caso sob julgamento
se ajusta àqueles fundamentos.269
Em relação aos precedentes e enunciados das sú-
mulas não resta dúvidas que o fundamento acontecerá
quando bem demonstrado que ela se amolda ao caso con-
creto em exame. Portanto, é imprescindível que haja o
cotejamento do enunciado ou da súmula com o caso a
ser julgado, o que, em nada impede, que assim como nos
caos já mencionados ocorra de forma sucinta, desde que
identificado e demonstrado o ajuste dos fundamentos à
casuística enfrentada.
A sexta e última hipótese elencada pelo legislador
encontra-se no inciso VI, do §1º do art. 489 do NCPC ao
esclarecer que
Art. 489 (omissis)
§1º (omissis)
VI – não se considera fundamentada qualquer de-
cisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou
269 Novo Código de Processo Civil – Lei n. 13.105/2015: http://www.jusbrasil.com.
br/topicos/28892006/paragrafo-1-artigo-489-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-
-de-2015 (Acesso em 16 de novembro de 2016).
250
Herm. Constitucionais 1.indd 250 26/01/17 12:17
acórdão que deixar de seguir enunciado de súmula,
jurisprudência ou precedente invocado pela parte,
sem demonstrar a existência de distinção no caso em
julgamento ou a superação do entendimento. 270
No caso do inciso VI, a ressalva é no sentido da não
aplicação de enunciado de súmula, jurisprudência ou
precedente. Deve o magistrado indicar as razões que o le-
varam à não aplicação dos referidos institutos, demons-
trando que ou o preceito da súmula ou do precedente
está superado, ou que não se amolda ao caso em exame.
O inciso VI, por seu turno, exige o mesmo tipo de
procedimento intelectual e ônus argumentativo para
a diferenciação do precedente. (...) Os incisos V e VI
exigem unicamente, portanto, que esse procedimen-
to cumpra o dever de motivação das decisões judi-
ciais e obedeça a todas as constrições que esta impõe
sobre a argumentação jurídica. O inciso VI adota
ainda, expressamente o princípio da inércia na apli-
cação de precedentes, que havia sido defendido por
Perelman e Alexy em suas teorias da argumentação
jurídica. (...) O princípio da inércia exige que o afasta-
mento do precedente encontre justificação racional:
“quem quer que deseje se afastar de um precedente
detém o ônus da argumentação”.271
270 Novo Código de Processo Civil – Lei n. 13.105/2015: http://www.jusbrasil.com.
br/topicos/28892006/paragrafo-1-artigo-489-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-
-de-2015 (Acesso em 16 de novembro de 2016).
271 JÚNIOR, Humberto Teodoro. NUNES, Dierle, BAHIA, Alexandre. PEDRON, Flávio.
Novo CPC – Fundamentos e sistematização. – Rio de Janeiro: Forense, páginas
279/280, 2015.
251
Herm. Constitucionais 1.indd 251 26/01/17 12:17
Assim, em outras palavras, a orientação é no sentido
de justificar o porquê do afastamento do preceito de sú-
mula ou precedente e, consequentemente não aplicá-lo à
situação enfrentada.
Conclusão
A fundamentação analítica das decisões judiciais é,
sem sombra de dúvida, imprescindível instrumento de
efetividade de inúmeras garantias constitucionais prele-
cionadas pelo constituinte originário - devido processo
legal, segurança jurídica, fundamentação, justiça, acesso
à justiça, contraditório, ampla defesa, entre outros.
Hoje, é possível dizer, que o legislador infraconstitu-
cional praticamente regulamentou o aclamado art. 93, in-
ciso IX da CR/88 ao dispor sobre a matéria da fundamen-
tação na nova lei processual civil por meio do art. 489, §1º
da Lei nº 13.105/2015.
Ao deixar claro o que se considera uma decisão judi-
cial não fundamentada, o Novo Código Processual Civil
assegurou por certo maior efetividade à garantia consti-
tucional alhures mencionada e, ainda traçou o caminho
para o que seria, de fato, uma decisão judicial fundamen-
tada, racional e legítima.
O fato é que o dispositivo, em outro sentido, ao tra-
tar da fundamentação analítica, também traz a roupagem
de mecanismo fiscalizador das decisões judiciais ao insti-
tuto, uma vez que oportuniza o controle de seu conteúdo
pelas partes e pelos agentes públicos e impede que o ma-
gistrado assuma “postura supralegal”, considerando que,
diante de uma liberdade incondicionada, possa restar de-
252
Herm. Constitucionais 1.indd 252 26/01/17 12:17
sobrigado do imperativo de fundamentar. Há, portanto,
relevante guarda à segurança jurídica dos atos judiciais.
Ainda merece destaque o fato de que a verificação da
existência ou não de fundamentação só se dará da análi-
se do caso concreto, da qual fornecerá subsídios para in-
dicar a existência ou a falha na referida fundamentação
da decisão judicial. Aqui, fala-se no real enfrentamento
da demanda.
Insta ressaltar, que a finalidade deste estudo não
foi apresentar concepções definitivas, tampouco formar
novos paradigmas, mas de propor uma análise do que
se considera uma decisão racional e legítima a partir do
complexo imperativo legal estipulado pelo CPC de 2015.
E é justamente por esse motivo - por se tratar de
tema novo no cenário jurídico - que o presente ensaio in-
tentou, em despretensiosas linhas, aproximar o leitor à
temática e contribuir com os intensos debates que hoje
permeiam a matéria.
Por fim, é presente o intuito de fomentar o interesse
dos processualistas e aplicadores do direito, assim como
de instigar a reflexão dos sujeitos envolvidos no processo,
bem como de todos aqueles que se consideram estudio-
sos da matéria.
Referências
JÚNIOR, Humberto Teodoro. NUNES, Dierle, BAHIA,
Alexandre. PEDRON, Flávio. Novo CPC – Fundamentos
e sistematização. – Rio de Janeiro: Forense, 2015.
253
Herm. Constitucionais 1.indd 253 26/01/17 12:17
RAMIRES, Maurício. Crítica à aplicação dos precedentes
no direito brasileiro – Porto Alegre: Livraria do Advoga-
do, 2010.
Novo Código de Processo Civil – Lei n. 13.105/2015 -
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28892006/paragra-
fo-1-artigo-489-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
(Acesso em 16 de novembro de 2016).
JÚNIOR, Fredie Didier – coordenador geral. Novo CPC
doutrina selecionada: Processo de conhecimento e dispo-
sições finais e transitórias. – Salvador: Juspodivm, 2015.
MARINONI, Luiz Guilherme. Novo curso de processo ci-
vil: tutela dos direitos mediante procedimento comum,
volume II – São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015.
JÚNIOR, José Herval Sampaio - O dever de fundamenta-
ção-resposta do juiz no novo CPC: Corolário do contradi-
tório substancial - direito da parte dever do Juiz. https://
joseherval.jusbrasil.com.br/artigos/160040580/o-de-
ver-de-fundamentacao-resposta-do-juiz-no-novo-cpc
(Acesso em 16 de novembro de 2016).
254
Herm. Constitucionais 1.indd 254 26/01/17 12:17
255
Herm. Constitucionais 1.indd 255 26/01/17 12:17
Este livro foi impresso em dezembro de
2016. O projeto gráfico – miolo e capa –
foi feito pela Editora Valer.
Herm. Constitucionais 1.indd 256 26/01/17 12:17
Você também pode gostar
- POSNER, R. - Direito Pragmatismo e DemocraciaDocumento155 páginasPOSNER, R. - Direito Pragmatismo e DemocraciaDinizLivros100% (6)
- A Interpretação Sistemática Do Direito - Juarez FreitasDocumento156 páginasA Interpretação Sistemática Do Direito - Juarez Freitasjuliocelestino100% (5)
- A Eficácia Dos Direitos Fundamentais - Ingo W. SarletDocumento65 páginasA Eficácia Dos Direitos Fundamentais - Ingo W. Sarletlaudiceia demetrio100% (2)
- 5-Book Manuscript-22-1-10-20200416Documento382 páginas5-Book Manuscript-22-1-10-20200416Mário100% (4)
- Fichamento - Teoria Dos Direitos Fundamentos - Robert AlexyDocumento12 páginasFichamento - Teoria Dos Direitos Fundamentos - Robert Alexymsilva_82250867% (3)
- Teorias Contemporâneas do Direito: análise crítica das principais teorias jurídicas da atualidadeNo EverandTeorias Contemporâneas do Direito: análise crítica das principais teorias jurídicas da atualidadeAinda não há avaliações
- Tratado Sobre o Princípio Da Segurança Jurídica No Direito AdministrativoDocumento821 páginasTratado Sobre o Princípio Da Segurança Jurídica No Direito AdministrativoPaula Paz100% (2)
- Canotilho - Estado de Direito - LIVRODocumento26 páginasCanotilho - Estado de Direito - LIVROpedroalemao783% (6)
- 6 Galdino Teoria Dos Custos Dos Direitos PDFDocumento402 páginas6 Galdino Teoria Dos Custos Dos Direitos PDFElaina ForteAinda não há avaliações
- Metamorfoses do Direito Global: sobre a interação entre Direito, tempo e tecnologiaNo EverandMetamorfoses do Direito Global: sobre a interação entre Direito, tempo e tecnologiaAinda não há avaliações
- A Constitucionalização Do Direito Os Direitos Fundamentais Nas Relações Entre Particulares (Virgílio Afonso Da Silva)Documento98 páginasA Constitucionalização Do Direito Os Direitos Fundamentais Nas Relações Entre Particulares (Virgílio Afonso Da Silva)Gabriel Evangelista dos Santos100% (1)
- NEVES, Castanheira. Metodologia Jurídica PDFDocumento31 páginasNEVES, Castanheira. Metodologia Jurídica PDFTalita Carvalho100% (3)
- Celso Antônio Bandeira de Mello - Conteúdo Jurídico Do Princípio Da Igualdade - 3º EdiçãoDocumento42 páginasCelso Antônio Bandeira de Mello - Conteúdo Jurídico Do Princípio Da Igualdade - 3º EdiçãoAndré Canatto100% (2)
- Savigny, Friedrich Karl Von. Metodologia Jurídica PDFDocumento108 páginasSavigny, Friedrich Karl Von. Metodologia Jurídica PDFFrancisco Araújo100% (2)
- Claus Wilhelm Canaris - Pensamento Sistemático e Conceito de Sistema Na Ciência Do DireitoDocumento75 páginasClaus Wilhelm Canaris - Pensamento Sistemático e Conceito de Sistema Na Ciência Do DireitoFillipe Cardoso Passos64% (11)
- Posições jurídicas dos sujeitos parciais no processo civil: análise sob a ótica da correlatividadeNo EverandPosições jurídicas dos sujeitos parciais no processo civil: análise sob a ótica da correlatividadeAinda não há avaliações
- Uma teoria dos Direitos Fundamentais: 7ª ediçãoNo EverandUma teoria dos Direitos Fundamentais: 7ª ediçãoAinda não há avaliações
- Ávila, Humberto - A Doutrina e o Direito TributárioDocumento13 páginasÁvila, Humberto - A Doutrina e o Direito TributárioWilly WonkaAinda não há avaliações
- Texto Sobre Constituicao DIRIGENTE - RESUMO de 2 LaudasDocumento13 páginasTexto Sobre Constituicao DIRIGENTE - RESUMO de 2 LaudasevandropreissAinda não há avaliações
- A ForçaNormativa KonradHesseDocumento18 páginasA ForçaNormativa KonradHessePaula Zimbrão Pereira67% (3)
- C. NEVES Teoria Do Direito IDocumento125 páginasC. NEVES Teoria Do Direito IArthur Levy Brandão Kullok100% (1)
- A Constituição Dirigente InvertidaDocumento13 páginasA Constituição Dirigente InvertidaAlex VictorAinda não há avaliações
- Castanheira Neves - Entre o Legislador A Sociedade e o JuizDocumento24 páginasCastanheira Neves - Entre o Legislador A Sociedade e o JuizoalephzeroAinda não há avaliações
- Castnaheira Neves - O Direito Como ValidadeDocumento39 páginasCastnaheira Neves - O Direito Como Validadeatls23Ainda não há avaliações
- Interpretando Conceitos Interpretativosa Reconstrução Do Pensamento de Ronalddworkin A Partir de Justice For HedgehogsDocumento11 páginasInterpretando Conceitos Interpretativosa Reconstrução Do Pensamento de Ronalddworkin A Partir de Justice For HedgehogsfelipemzzzAinda não há avaliações
- MJ Castanheira NevesDocumento94 páginasMJ Castanheira NevesPaulo Barbosa Alves100% (2)
- Francesco Carnelutti - Metodologia Do DireitoDocumento70 páginasFrancesco Carnelutti - Metodologia Do Direitomaria trindade100% (2)
- PEREZ, Marcos Augusto. O Mundo Que Hely Não Viu - O Direito Administrativo Na Atualidade - Estudos em Homenagem A Hely Lopes MeirellesDocumento21 páginasPEREZ, Marcos Augusto. O Mundo Que Hely Não Viu - O Direito Administrativo Na Atualidade - Estudos em Homenagem A Hely Lopes MeirellesKatieAinda não há avaliações
- STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica, Analítica e Argumentação - Distintas Visões Sobre A Discricionariedade JudicialDocumento17 páginasSTRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica, Analítica e Argumentação - Distintas Visões Sobre A Discricionariedade JudicialIsadoraAinda não há avaliações
- Carlos Ari Sundfeld - Princípio É PreguiçaDocumento16 páginasCarlos Ari Sundfeld - Princípio É PreguiçaKevin100% (1)
- ALEXY, Robert - Conceito e Validade Do Direito. 2009 DIREITO CONSTITUCIONAL TEORIA GERAL (Catalogado) PDFDocumento178 páginasALEXY, Robert - Conceito e Validade Do Direito. 2009 DIREITO CONSTITUCIONAL TEORIA GERAL (Catalogado) PDFAna Beatriz Martins Dos Santos100% (5)
- Teoria Do DireitoDocumento260 páginasTeoria Do DireitoGustavo Oliveira Batista100% (1)
- Jorge Reis Novais - Teoria Do Estado 4 PDFDocumento126 páginasJorge Reis Novais - Teoria Do Estado 4 PDFPedro Elias100% (2)
- Paulo Bonavides - Teoria ConstDocumento141 páginasPaulo Bonavides - Teoria ConstZack_Zodiaco_8687100% (3)
- Acesso À Justiça - DigitalDocumento339 páginasAcesso À Justiça - DigitalMarcos Sousa França100% (1)
- Haberle, Peter - Hermeneutica ConstitucionalDocumento27 páginasHaberle, Peter - Hermeneutica ConstitucionalAdenilton Ferreira100% (4)
- LARENZ, Karl - Metodologia Da Ciência Do DireitoDocumento374 páginasLARENZ, Karl - Metodologia Da Ciência Do DireitoTiago Santos100% (13)
- Streck 1999 A Viragem Linguistica Da Filosofia e o Rompimento Com A Metafisica Ou de P 137 154Documento20 páginasStreck 1999 A Viragem Linguistica Da Filosofia e o Rompimento Com A Metafisica Ou de P 137 154Jiovane Peixoto100% (2)
- KELSEN, Hans. Teoria Pura Do DireitoDocumento7 páginasKELSEN, Hans. Teoria Pura Do Direitoisabelamaiareboucas100% (1)
- O Direito Constitucional Passa o Direito Administrativo PermaneceDocumento9 páginasO Direito Constitucional Passa o Direito Administrativo PermaneceGabrielLandiFazzioAinda não há avaliações
- Critica Da Ponderacao Macedo 2016Documento292 páginasCritica Da Ponderacao Macedo 2016Elvis100% (2)
- Teoria Geral Do Processo - DINAMARCO (2018) 3a EdiçãoDocumento130 páginasTeoria Geral Do Processo - DINAMARCO (2018) 3a EdiçãohelenatrindAinda não há avaliações
- Peter Harbele Estado Constitucional CooperativoDocumento97 páginasPeter Harbele Estado Constitucional Cooperativoclaramachado100% (1)
- O Valor Juridico Do Acto InconstitucionalDocumento349 páginasO Valor Juridico Do Acto Inconstitucionalneusa rafaelAinda não há avaliações
- História Do Direito - Antônio Carlos WolkmerDocumento93 páginasHistória Do Direito - Antônio Carlos Wolkmerticie100% (1)
- Humberto Ávila - Teoria Dos Princípios - Da Definição À Aplicação Dos Princípios Jurídicos - 2011Documento104 páginasHumberto Ávila - Teoria Dos Princípios - Da Definição À Aplicação Dos Princípios Jurídicos - 2011David Diógenes100% (3)
- Sentenças intermediárias no controle de constitucionalidade: análise das omissões relativas, a partir do estudo tipológico das omissões inconstitucionais e das sentenças intermediárias ou manipulativas no controle de constitucionalidadeNo EverandSentenças intermediárias no controle de constitucionalidade: análise das omissões relativas, a partir do estudo tipológico das omissões inconstitucionais e das sentenças intermediárias ou manipulativas no controle de constitucionalidadeAinda não há avaliações
- Teoria da Mutação Constitucional e a Jurisprudência do Supremo Tribunal FederalNo EverandTeoria da Mutação Constitucional e a Jurisprudência do Supremo Tribunal FederalAinda não há avaliações
- A legitimidade na ponderação dos direitos fundamentaisNo EverandA legitimidade na ponderação dos direitos fundamentaisAinda não há avaliações
- As Decisões Contrárias às Leis na Teoria Robert AlexyNo EverandAs Decisões Contrárias às Leis na Teoria Robert AlexyAinda não há avaliações
- Questões Contemporâneas da Execução FiscalNo EverandQuestões Contemporâneas da Execução FiscalAinda não há avaliações
- Estado de Direito, Separação de Poderes e Controle de Constitucionalidade da Norma: pelo administrador destinatárioNo EverandEstado de Direito, Separação de Poderes e Controle de Constitucionalidade da Norma: pelo administrador destinatárioAinda não há avaliações
- Mutação Constitucional: História e crítica do conceitoNo EverandMutação Constitucional: História e crítica do conceitoAinda não há avaliações
- A inversão do ônus da prova no direito do consumidor: caracterização do Requisito da HipossuficiênciaNo EverandA inversão do ônus da prova no direito do consumidor: caracterização do Requisito da HipossuficiênciaAinda não há avaliações
- Dicionário Senso Incomum: mapeando as perplexidades do DireitoNo EverandDicionário Senso Incomum: mapeando as perplexidades do DireitoAinda não há avaliações
- Direito Civil. Direito das Obrigações: enriquecimento Sem Causa e Lucro da IntervençãoNo EverandDireito Civil. Direito das Obrigações: enriquecimento Sem Causa e Lucro da IntervençãoAinda não há avaliações
- Direitos Fundamentais: Introdução Geral - 2ª ed.No EverandDireitos Fundamentais: Introdução Geral - 2ª ed.Ainda não há avaliações
- Hermenêutica jurídica: entre a interpretação de textos e a avaliação de práticas sociaisNo EverandHermenêutica jurídica: entre a interpretação de textos e a avaliação de práticas sociaisAinda não há avaliações
- A desconsideração da personalidade jurídica e os sócios não gestores da sociedade limitada: atualizado de acordo com a Lei da Liberdade Econômica e Lei do Ambiente de NegóciosNo EverandA desconsideração da personalidade jurídica e os sócios não gestores da sociedade limitada: atualizado de acordo com a Lei da Liberdade Econômica e Lei do Ambiente de NegóciosAinda não há avaliações
- Princípios Fundamentais de Direito Civil: uso inadequado da terminologiaNo EverandPrincípios Fundamentais de Direito Civil: uso inadequado da terminologiaAinda não há avaliações
- Por Uma História Da Juventude BrasileiraDocumento4 páginasPor Uma História Da Juventude BrasileiraCarlos da Costa de JesusAinda não há avaliações
- Civil - Oab 137 Completo PrimaDocumento41 páginasCivil - Oab 137 Completo Primadr.peronAinda não há avaliações
- Regime Fiscal Aplicavel Ao Sector Imobiliario em Mocambique PDFDocumento3 páginasRegime Fiscal Aplicavel Ao Sector Imobiliario em Mocambique PDFAyton4everAinda não há avaliações
- BECKETT, Samuel. O DespovoadorDocumento17 páginasBECKETT, Samuel. O DespovoadorlaioncastroAinda não há avaliações
- Desnecessidade, Inutilidade e Inadequação Do PL 533/19Documento9 páginasDesnecessidade, Inutilidade e Inadequação Do PL 533/19Caio RomaniAinda não há avaliações
- Atv de TGP 1910Documento3 páginasAtv de TGP 1910Gabriela FredericoAinda não há avaliações
- INTEGRAL Cadernetas Dos ANOS FINAIS 2022 INTEGRAL 70 Copias Capa Azul Ok PDFDocumento312 páginasINTEGRAL Cadernetas Dos ANOS FINAIS 2022 INTEGRAL 70 Copias Capa Azul Ok PDFJadson MatosAinda não há avaliações
- Tcnicoa-Comercial ReferencialEFADocumento64 páginasTcnicoa-Comercial ReferencialEFAAurora NarcisoAinda não há avaliações
- Acordao A7Documento13 páginasAcordao A7Frederico FaroAinda não há avaliações
- Relatório - Tribunal Do JúriDocumento2 páginasRelatório - Tribunal Do JúriAnthony OliveiraAinda não há avaliações
- PR-CORP-EHS-0001-V0 Investigação e Reporte de Eventos EHS 11052018Documento28 páginasPR-CORP-EHS-0001-V0 Investigação e Reporte de Eventos EHS 11052018Karina AngelicaAinda não há avaliações
- Contrato Locação Bem Móvel - Carretinha - Eleição 2022Documento2 páginasContrato Locação Bem Móvel - Carretinha - Eleição 2022Alex De SousaAinda não há avaliações
- Edital 022 Modelo de Formatação de Carta de IntençõesDocumento3 páginasEdital 022 Modelo de Formatação de Carta de IntençõesCarlos HelmarAinda não há avaliações
- Dodf 080 30-04-2019 Integra PDFDocumento121 páginasDodf 080 30-04-2019 Integra PDFbcdpaulaAinda não há avaliações
- Homologação de Acordo ModeloDocumento3 páginasHomologação de Acordo ModeloEDUARDOAinda não há avaliações
- MABESSA, João-Concurso PúblicoDocumento27 páginasMABESSA, João-Concurso PúblicoJoao MabessaAinda não há avaliações
- Slides - MOGI DAS CRUZES-SP - Lei Complementar Nº 82-11Documento92 páginasSlides - MOGI DAS CRUZES-SP - Lei Complementar Nº 82-11Anna Jullya fernandesAinda não há avaliações
- Sociedades de Fomento Mercantil (Factoring) e Sociedades Administradoras de Cartões de Crédito.Documento15 páginasSociedades de Fomento Mercantil (Factoring) e Sociedades Administradoras de Cartões de Crédito.Pimpao da Sala0% (1)
- Adi 6133 - Org. Do Estado e Dos PoderesDocumento4 páginasAdi 6133 - Org. Do Estado e Dos PoderesLucas SilvaAinda não há avaliações
- Diário Oficial Do DFDocumento32 páginasDiário Oficial Do DFMetropolesAinda não há avaliações
- PLANO ESTADUAL de IMPLEMENTAÇÃO DAS DIRETRIZES CURRICULARES DA ERERDocumento88 páginasPLANO ESTADUAL de IMPLEMENTAÇÃO DAS DIRETRIZES CURRICULARES DA ERERPatrícia PereiraAinda não há avaliações
- Decreto 1.171-94Documento77 páginasDecreto 1.171-94RafaelAinda não há avaliações
- Contrato de Compra e Venda Volvo e Ford KaDocumento3 páginasContrato de Compra e Venda Volvo e Ford KaJullis PaulinoAinda não há avaliações
- Fraude Avestruz MasterDocumento21 páginasFraude Avestruz MastermarciabranialessaAinda não há avaliações
- Arquitetura KamaiuráDocumento15 páginasArquitetura KamaiuráNAYARA CAMARGOAinda não há avaliações
- SATANOMICON I. Um Grito No Estige 1. Intróito ... - Comunidades PDFDocumento220 páginasSATANOMICON I. Um Grito No Estige 1. Intróito ... - Comunidades PDFThiagoTamosauskasAinda não há avaliações
- Sniper-Peticao Família Alimentos Contra PaiDocumento2 páginasSniper-Peticao Família Alimentos Contra PaifabiolopesdsouzaAinda não há avaliações
- Teste - Unidade 4Documento6 páginasTeste - Unidade 4S17Ainda não há avaliações
- Questionário II - Execuções PenaisDocumento6 páginasQuestionário II - Execuções PenaisAnagélica BritoAinda não há avaliações