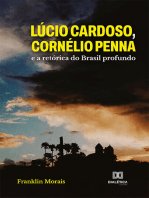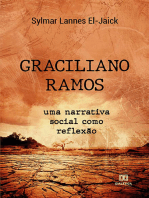Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
FREDERICO, Celso. Marxismo e Literatura, Breve Roteiro
FREDERICO, Celso. Marxismo e Literatura, Breve Roteiro
Enviado por
pgcDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
FREDERICO, Celso. Marxismo e Literatura, Breve Roteiro
FREDERICO, Celso. Marxismo e Literatura, Breve Roteiro
Enviado por
pgcDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Marxismo e literatura: breve roteiro
Marxism and literature: a brief guide
Celso Frederico *
Resumo: O pensamento marxista gerou diferentes enfoques para estudar a literatu-
ra, a partir da interpretação oficial comunista do fenômeno artístico, o “realismo
socialista”, tal como definido a partir da década de 30. Entre essas diversas inter-
pretações, estão as desenvolvidas por pensadores e artistas como Brecht, Caldwell,
Bakhtin, Gramsci, Benjamin, Adorno e Lukács, todas com um ponto comum: a procu-
ra das relações que devem existir entre a literatura e a vida social. O objetivo deste
artigo é estabelecer uma breve síntese do pensamento marxista sobre a arte ao longo
do século XX.
Abstract: The Marxist thought has engendered different approaches to the study of lite-
rature, from the official Communist interpretation of the artistic phenomenon, the so-
-called “socialist realism”, on. Among these various interpretations are those developed
by thinkers and artists such as Brecht, Caldwell, Bakhtin, Gramsci, Benjamin, Adorno and
Lukács, all of them presenting a common thread: the search of the relationship that
should exist between literature and social life. The purpose of this article is to provide a
brief overview of Marxist thought on art throughout the past 20th century.
Palavras-chave: Marxismo e fenômeno artístico, literatura e vida social, marxismo e
literatura
Keywords: Marxism and the artistic phenomenon, literature and social life, Marxism
and Literature
* Escola de Comunicação e Arte (ECA), USP.
Via Atlantica 23.indd 51 27/01/2014 08:52:55
A
52 VIA ATLÂNTICA, SÃO PAULO, N. 23, 51-62, JUN/2013
publicação tardia de importantes obras e cartas em que Marx e Engels re-
fletem sobre o fenômeno artístico fez com que os primeiros marxistas não
compreendessem o significado da arte e seu papel estratégico no interior da
teoria por elas formulada. Quando vários daqueles textos começaram a ser
publicados, a partir da década de 30, já havia uma interpretação oficial do
fenômeno artístico: a “estética marxista-leninista” e seu subproduto, o “rea-
lismo socialista”.
Essa forma canhestra de realismo procurava diferenciar-se do velho re-
alismo, aquele que apresentava uma visão negativa e crítica da vida social
burguesa a partir de personagens dilacerados – os “heróis problemáticos”. A
nova sociedade exigia, ao contrário, uma identificação, uma adesão, expressa
através do “herói positivo” e seu entusiasmo na construção do novo mundo.
A literatura, assim, tornou-se mera propaganda.
A arte soviética, tão rica e diversificada, esterilizou-se. O realismo socia-
lista, difundido em todo o mundo pelos partidos comunistas, produziu uma
literatura maniqueísta e caricatural. Reflexos fizeram-se sentir no Brasil, em
algumas obras de Jorge Amado, Alina Paim e Dalcídio Jurandir, entre outros.
Pensando por conta própria
A “estética oficial” propagada pelo movimento comunista internacional
não foi seguida por todos.
Bertolt Brecht, por exemplo, criou em seu teatro revolucionário uma forma
nova de realismo que recusava a catarse em nome do distanciamento e da refle-
xão. Nada, portanto, de identificação entre o público e os personagens. Desse
modo, Brecht mantinha-se distante tanto do realismo tradicional quanto do
“socialista”, pois a representação teatral não reflete a realidade, não se confunde
com ela, e sim permanece distante para, desse modo, poder criticá-la.
Cristhopher Caudwell, por sua vez, no livro Ilusão e realidade, rompeu com
o próprio realismo ao estudar um tema até então inédito entre os teóricos
marxistas: a lírica. A poesia, segundo ele, não reflete a realidade, mas a subje-
tividade isolada do poeta, pois brota dos mecanismos mais obscuros do psi-
quismo. Para interpretá-la, Caudwell procurou de forma pioneira aproximar
Freud de Marx, muito antes de Erich Fromm e Herbert Marcuse.
Via Atlantica 23.indd 52 27/01/2014 08:52:55
VIA ATLÂNTICA, SÃO PAULO, N. 23, 51-62, JUN/2013 53
Além desses autores, há outros três que nos interessam: o russo Mikhail
Bakhtin, o italiano Antonio Gramsci e o alemão Walter Benjamin.
I) Mikhail Bakhtin conseguiu sobreviver aos expurgos stalinistas e tornar-
-se conhecido no Ocidente a partir dos anos 70. Seu livro, Marxismo e filosofia
da linguagem, continua exercendo influência nos estudos de lingüística.
Bakhtin procurou assinalar a distância do marxismo em relação tanto ao
“subjetivismo idealista”, que insere a língua no psiquismo individual, quanto,
principalmente, ao estruturalismo de Saussure, o “objetivismo abstrato”, que
concebe a língua como uma estrutura fixa, anterior e alheia aos indivíduos
concretos que falam. Contra esta última, Bakhtin propõe a inversão, a passa-
gem do privilégio concedido à langue ao estudo da parole: o uso que os falantes
fazem da linguagem. Assim, a língua é vista como uma atividade social, ideo-
lógica – “a arena onde se desenvolve a luta de classes” - cujo elemento chave
é a enunciação, a interação social dos falantes. Ela não é, portanto, um sistema
estável e homogêneo, mas uma atividade social, dialógica.
A crítica ao estruturalismo vale também para as idéias que Stalin iria defen-
der, em 1950, no texto Sobre o marxismo na linguística. Interessado em afirmar
“a existência de um língua nacional única” na URSS, Stalin critica a tese se-
gundo a qual a língua pertence à esfera da superestrutura, ligando-se, assim
diretamente às classes sociais: cada uma delas desenvolveria a sua própria
linguagem. O desejo de impor uma língua a todo o povo da União Soviética
e subordinar a ela os dialetos (e qualquer movimento separatista...), fez com
que ele compreendesse a língua uma estrutura estável, alheia aos embates
sociais, pois possuiria um “caráter harmonioso e racional”.
A interpretação bakhtiniana – que não atribui à língua o pretendido “cará-
ter harmonioso” - guarda íntimo parentesco com suas incursões na teoria e
crítica literárias.
Altamirano e Sarlo dividem a teoria literária do nosso autor em dois momen-
tos distintos. O “primeiro Bakhtin”, no texto O método formal, de 1928, trouxe
uma inovação no campo marxista ao enfocar as relações da literatura com a vida
social. Não se trata mais de sua compreensão como um produto, isto é, como
resultado das determinações sociais (classe social etc.) que tem no escritor o seu
porta-voz. A literatura é vista por ele como produção, como forma ideológica: “O
reflexo literário não é um reflexo da realidade social, mas sim do mundo dos discursos que, por
Via Atlantica 23.indd 53 27/01/2014 08:52:55
54 VIA ATLÂNTICA, SÃO PAULO, N. 23, 51-62, JUN/2013
sua vez, refletiria o real. A relação entre a literatura e as práticas sociais tem como mediador
as ideologias” (ALTAMIRANO e SARLO, 1993, p. 40).
Já o “segundo Bakhtin”, que se inicia com o texto O discurso no romance,
de 1934-5, coloca em primeiro plano a representação literária da linguagem.
Ocorre, assim, um “deslocamento da ênfase da literatura como representação discursiva
do social à literatura como representação dos discursos sociais.” (ALTAMIRANO e
SARLO, 1993, p. 41).
Como “espaço de intersecção dos discursos sociais”, o romance de Dos-
toiévski encontra a sua característica básica, que o distingue da épica. Se nesta,
temos o discurso único que se impõe no relato; em Dostoiévski, ao contrário,
temos uma hibridização, uma “fusão de linguagens”, uma pluralidade de dis-
cursos – ou, para usarmos a expressão consagrada, uma polifonia. Trata-se de
uma arte “dialógica”: o autor coloca-se como um organizador que dá voz aos
seus múltiplos personagens, rompendo assim com o texto “monológico” em
que o autor ou se sobrepõe ao personagem ou faz dele o seu único porta-voz.
A pluralidade das vozes, tal como ocorria na música de seu amigo Chostakó-
vitch, faz o romance adquirir uma complexidade polifônica.
Igualmente original é o estudo dedicado a Rabelais, em que Bakhtin enfoca
a arte popular e seu espírito anárquico e crítico valorizando, assim, o riso, a
carnavalização, a paródia, a blasfêmia etc. Trata-se de uma novidade na tradi-
ção hegeliano-marxista, lembrando que para Hegel (na esteira de Aristóteles)
a comédia não deveria ser considerada arte, “pois não educa”. Não por acaso,
os teóricos marxistas mantiveram-se alheios à comédia. Bakhtin, em 1940,
exaltava o “romance grotesco”, no mesmo momento em que a ortodoxia sta-
linista impunha o “realismo socialista” e seus edificantes e bem comportados
“heróis positivos”.
Com Bakhtin, o marxismo passou a valorizar a cultura popular e não só as
obras eruditas. Esse olhar para os de baixo e a valorização do potencial crítico
da cultura popular era compartilhado no período por outro autor: Antonio
Gramsci.
II) Preso nos cárceres fascistas, Gramsci desenvolveu a famosa concepção
da arte nacional-popular. A crítica ao cosmopolitismo desenraizado difundido
pela igreja católica, às concepções estetizantes de alguns historiadores da arte
e às teorias que identificavam arte e linguagem, levou Gramsci a incluir o
estudo da literatura no interior da cultura. Assim, em vez de lutar por uma
Via Atlantica 23.indd 54 27/01/2014 08:52:55
VIA ATLÂNTICA, SÃO PAULO, N. 23, 51-62, JUN/2013 55
nova arte, ele propôs a formulação de uma nova cultura capaz de reconciliar
os artistas como o povo. Gramsci não se limitou, como Bakhtin, a apontar
os aspectos críticos da cultura popular, mas como bom leninista, pretendeu
elevar o nível de consciência do povo para, desse modo, superar os limites
da cultura popular – uma cultura que reflete não só elementos críticos, mas
também as limitações de uma população que não teve acesso à educação e à
boa literatura.
A reconciliação proposta entre arte, nação e povo pressupõe uma vasta re-
novação cultural. O pensamento de Gramsci, portanto, voltou-se prioritaria-
mente para a criação de uma política cultural. A literatura e as questões estéticas
são vistas a partir dessa preocupação educacional, desse desejo de elevar a
consciência das massas. Nessa perspectiva, o que interessa verdadeiramente é
o valor cultural e não apenas o valor estético da obra literária.
Ao propor a distinção entre valor cultural/valor estético, Gramsci acenou
para um campo de pesquisa absolutamente original dentro do marxismo: o es-
tudo das pequenas obras literárias, aquelas que se afastam do cânon estabelecido
pelos especialistas. Estudando a literatura italiana, Gramsci observou que as
obras primas são raras e que, ao lado delas, existem centenas de pequenas obras.
As grandes obras não nascem do nada: elas pressupõem um caldo de cultura
formado pelas obras miúdas que constituem o solo comum da literatura.
Essa literatura miúda, para Gramsci, pode ter pouco valor estético, mas
pode ter um valor cultural imenso, quando expressa o modo de vida de se-
tores significativos da sociedade. Por isso, Gramsci propõe, não uma teoria
estética, mas uma sociologia da atividade literária.
Tal proposta abriu o caminho para pesquisas das manifestações artísticas
populares e teve reflexos diretos no “materialismo cultural” dos críticos in-
gleses como Williams, Hoggart e Thompson. Recentemente, a guinada cul-
tural inaugurada por Gramsci foi radicalizada e despolitizada nos chamados
“estudos culturais”, centrados nas irredutíveis “diferenças” das “minorias”.
As “políticas da identidade” consagraram-se academicamente, reivindicando
a especificidade da literatura de gênero, étnica e queer, criando, assim, uma
fragmentação dos estudos literários. A fixação obsessiva no particular gerou
um relativismo exacerbado, um vale tudo, que, ao se insurgir contra o cânon,
terminou por negar o universal – a possibilidade de uma literatura que fale a
todos os homens.
Via Atlantica 23.indd 55 27/01/2014 08:52:55
56 VIA ATLÂNTICA, SÃO PAULO, N. 23, 51-62, JUN/2013
III) Os textos de Walter Benjamin, após o seu suicídio em 1940, ficaram
espalhados em diversos países e boa parte deles só começou a ser publicada
a partir dos anos 60. Desde então, aquele obscuro pensador tornou-se subita-
mente moda acadêmica e a disputa pelo “verdadeiro” significado de sua obra
só vem aumentando. Razões para isso não faltam: trata-se de um pensador
extremamente original e desconcertante, que absorveu influências díspares:
há um Benjamin amigo de Brecht, que sempre se declarou comunista; há
também o pensador judeu, amigo do teólogo Scholem, que empregou nos
estudos literários a hermenêutica usada nos textos sagrados; há, ainda, um
Benjamin que frequentava os círculos artísticos vanguardistas e que tinha em
grande apreço o surrealismo.
Um ponto de partida que nos ajuda a entender o pensamento de Benjamin
é a constatação – que partilhava com Brecht – da crise da experiência e, com
ela, a crise da narração, esteio do romance clássico. A consciência dessa crise,
própria da modernidade, produziu o romance moderno (Proust, Kafka), que,
à semelhança da antiga arte de narrar dos contadores de história, se caracte-
riza pela fragmentação, pelo não acabamento, privilegiando o caráter aberto,
recusando-se à totalização.
Benjamin inaugura, assim, dentro do marxismo uma corrente que, privi-
legiando a fragmentação, acaba por recusar o primado da totalidade, central
na tradição dialética. Daí o emprego reiterado de palavras como fragmento e
ruínas. Inicialmente, em O drama barroco alemão, Benjamin empregou a palavra
mosaico para indicar a montagem de partes que livremente constituem um
todo, sem necessariamente estarem subordinadas a ele. Depois, inspirando-se
em Mallarmé, preferiu o termo constelação, para nomear uma forma de com-
posição que compara as idéias com as estrelas. Ao contrário da totalidade, que
supõe uma estrutura fechada, rigidamente hierarquizada, a constelação acena
para uma imagem serial.
Segundo Benjamin, a fragmentação da totalidade pode ser divisada já no
século XVII, momento em que floresce o drama barroco que elegeu como
tema a decomposição, a ruína e a morte. Para tratar dessa forma artística,
Benjamin desenvolveu sua teoria da alegoria, aplicada também para dar conta
da arte no mundo igualmente fragmentado da modernidade. Assim fazendo,
Benjamin rompeu com o realismo e sua pretensão de figurar artisticamente a
totalidade. Em seu lugar, privilegia a montagem, inspirada no teatro épico de
Via Atlantica 23.indd 56 27/01/2014 08:52:55
VIA ATLÂNTICA, SÃO PAULO, N. 23, 51-62, JUN/2013 57
Brecht, que será empregada em sua grande obra sobre o mundo moderno:
Passagens.
Forma e conteúdo
As várias incursões estéticas dos teóricos marxistas a partir da década de 30
têm como referência as idéias de Lukács. Curiosamente, muitos deles apóiam-
-se nos seus textos pré-marxistas, em especial A teoria do romance, para critica-
rem o realismo.
Aquele livro assinala a passagem da influência kantiana, presente em A alma
e as formas, para a incorporação de algumas idéias hegelianas. De Hegel, Lukács
incorporou a teoria dos gêneros literários que coexistia, paradoxalmente, com
a influência mais decisiva de Kierkegaard – autor preso à insuperável oposição
entre a interioridade da alma e o mundo exterior. É justamente essa pretendida opo-
sição que orienta o pensamento de Lukács e de seus seguidores.
Para ressaltar a especificidade do romance, Lukács o contrapõe à epopéia
clássica, momento idílico em que teria existido uma totalidade espontânea, um
mundo em que o herói se sentia em casa. Haveria, então, uma total harmonia en-
tre a interioridade do herói e o mundo exterior. Expressão literária de um mundo
homogêneo, a epopéia expressa a imanência do sentido da vida. A forma artística
reproduz o sentido e a harmonia que envolve o herói e o mundo exterior.
O romance burguês, ao contrário, é a expressão de uma totalidade cindida.
Nela, o herói encontra-se sozinho em seu confronto com a exterioridade - o
mundo degradado e hostil. Diante dessa oposição insuperável, o romance
realizaria uma reconciliação fictícia entre a interioridade e a exterioridade, ao
acenar para uma “realidade visionária do mundo que nos é adequado”. Como
projeção imaginária, utópica, o romance recusa a mimese, a semelhança com
a alteridade alienada do mundo exterior. O romance, portanto, não é um re-
flexo, uma cópia do mundo alienado, mas um dever-ser, uma utopia impotente
para modificar a realidade. A totalidade cindida, contudo, é reagrupada pelo
romance, ou melhor, pela sua forma – o impulso totalizante que reagrupa
numa estrutura significante os elementos desconexos da exterioridade.
Essa posição pessimista, que mantém o homem em constante afastamento
perante um mundo que lhe é hostil, e o caráter utópico de uma concepção li-
Via Atlantica 23.indd 57 27/01/2014 08:52:55
58 VIA ATLÂNTICA, SÃO PAULO, N. 23, 51-62, JUN/2013
terária que privilegia a forma, tiveram uma enorme repercussão. Dois autores
desenvolveram suas idéias a partir daí: Adorno e Goldmann.
Podemos, sem mais, considerar Adorno um autor marxista? É difícil en-
quadrá-lo nesse rótulo, pois ele sempre se mostrou hostil à militância política
e sua vasta obra incorpora e modifica influências teóricas díspares. Temas
como fetichismo e reificação são centrais em sua obra e a famosa crítica
da indústria cultural é incompreensível sem a referência à lei do valor – em
especial, o predomínio crescente do valor de troca sobre o valor de uso. No
mundo alienado da modernidade, a oposição entre o indivíduo e vida social
que lhe é hostil, exaspera-se.
Para entender o papel da literatura nesse contexto, Adorno se contrapôs às
tendências vanguardistas, que pregavam a dissolução da arte na vida cotidia-
na, e também aos defensores do realismo. Contra eles, defenderá ardorosa-
mente a necessidade de renovação formal do romance.
Há um texto esclarecedor: “Posições do narrador no romance contem-
porâneo”. Nele, Adorno afirma que o realismo, hoje, apenas descreveria a
aparência, a “fachada” da realidade, tal o grau de mercantilização e manipu-
lação a que os indivíduos são submetidos. Tanto o narrador, glorificado por
Benjamin, como o romancista realista, estudado por Lukács, eram indivíduos
que tinham “algo especial” a dizer. Hoje, isso não é mais possível. O roman-
ce encontra-se, pois, diante de um paradoxo: “não se pode mais narrar, embora
a forma do romance exija a narração” (ADORNO, 2003, p. 55). A saída desse
paradoxo é a descoberta de uma nova forma romanesca para se atingir a es-
sência da realidade. Mas, para isso, é preciso abandonar a “linguagem discursiva”
e adotar uma “segunda linguagem, destilada de várias maneiras do refugo da primeira”.
Esta segunda linguagem está presente na música dodecafônica e na literatura
modernista de Kafka, Joyce, Musil e nos demais escritores que se revoltaram
contra a “mentira da representação”. Para ser fiel ao realismo, num mundo fan-
tasmagórico, ensandecido e mercantilizado, a literatura precisa passar por “um
momento anti-realista”.
Daí a defesa de uma nova forma para o romance. Ou, nas palavras de Ador-
no: o novo romance precisa “concentrar-se naquilo que o relato não dá conta”. A li-
teratura só irá sobreviver se ela conhecer uma revolução formal, se abandonar
a “linguagem discursiva”. O social na literatura, segundo Adorno, encontra-se
condensado na forma e não no conteúdo, como pretende a arte engajada de
Via Atlantica 23.indd 58 27/01/2014 08:52:55
VIA ATLÂNTICA, SÃO PAULO, N. 23, 51-62, JUN/2013 59
Brecht e Sartre. A verdadeira literatura não é reflexo e sim negação. Ela é uma
“mônada sem janelas para o mundo”, que cria uma imagem negativa que se
opõe à alienação vigente e à projeção utópica acenando para uma promessa
de felicidade.
Lucien Goldmann também foi diretamente influenciado pelas obras pré-
-marxistas de Lukács às quais acrescenta História e consciência de classe para, com
ela, buscar a relação entre produção literária e classes sociais. Sobre esse arca-
bouço teórico, Goldmann incorporou criticamente teses estruturalistas que, a
partir dos anos 50, opunham-se à filosofia existencialista.
Com esses referenciais, desenvolveu o “estruturalismo-genético”, o método
que lhe parecia apropriado para enfocar a literatura. Procurava, com ele, distan-
ciar-se tanto das visões existencialistas (que privilegiavam o sujeito individual
no estudo da criação literária), como do estruturalismo (que ontologizava a lin-
guagem e desconhecia a historicidade e o caráter significativo das estruturas: estas
são resultantes da ação consciente dos homens, ação governada por valores).
Para Goldmann, a criação literária é realizada por um sujeito transindividual:
ela expressa a situação social das diversas classes e grupos existentes na so-
ciedade, sendo o autor aquele que exprime com o máximo de consciência os
horizontes daqueles agrupamentos. Assim fazendo, Goldmann apropriava-se
da tese lukacsiana de História e consciência de classe, segundo a qual existiriam
possibilidades e limites de conhecimento para as diversas classes sociais, apli-
cando-a à criação artística.
Por outro lado, a influência estruturalista levou-o a procurar uma homologia
entre os grupos sociais – dos quais o autor é a expressão mais avançada – e a
obra. A mediação entre ambas é a visão do mundo (a consciência possível) – essa
estrutura mental de caráter coletivo. O estudo da literatura realiza-se através
de uma análise compreensiva e explicativa. O crítico começa pela análise imanen-
te do texto (compreensão) para, em seguida, inseri-lo no interior das visões
do mundo das diversas classes e grupos sociais (explicação).
Com esse procedimento, Goldmann buscava a identificação entre a forma
do romance e a estrutura significativa. Estamos, portanto, longe das teorias do
reflexo e do primado do conteúdo: o específico da literatura é a forma.
Lukács, a partir dos anos 30, voltou ao estudo da literatura e às questões
estéticas, agora, porém, num registro marxista. A antiga e insuperável opo-
sição entre a interioridade e exterioridade, o indivíduo e o mundo exterior,
Via Atlantica 23.indd 59 27/01/2014 08:52:55
60 VIA ATLÂNTICA, SÃO PAULO, N. 23, 51-62, JUN/2013
é substituída por uma visão que privilegia o homem como um ser social vi-
vendo as contradições de uma sociedade dividida em classes. Trata-se, agora,
de enfocar “a luta dos indivíduos entre si”. Sobe para o primeiro plano não a
contraposição abstrata da subjetividade exilada, mas a “centralidade da ação”
como critério literário para desvelar a relação objetiva do homem com a vida
social. Os destinos individuais dos personagens refletem as tensões e contra-
dições presentes na sociedade.
Nas diversas polêmicas em que se envolveu, Lukács procurou defender o
realismo na literatura como o método adequado para se retratar a realidade e
também como o critério para julgar as obras literárias. Realismo, para ele, é ba-
sicamente uma atitude perante a realidade a ser retratada (que vem dos gregos
até o presente), e não uma determinada escola literária.
O ponto de partida de Lukács é a concepção hegeliana de obra de arte
como unidade sensível de essência e aparência, conteúdo e forma. O determi-
nante é sempre o conteúdo – seja ele “manifestação sensível do Espírito”,
como em Hegel, ou, como traduz Lukács, “memória da humanidade” expres-
sa num momento particular de sua história.
Em nome da necessária unidade da obra artística, Lukács criticou os escri-
tores que acentuavam de modo unilateral seja a forma, seja o conteúdo.
O primeiro caso é exemplificado pelo naturalismo, expressão literária do
materialismo vulgar, que se limita à descrição da aparência imediata da reali-
dade e, por extensão, as vanguardas, que refletem o pensamento irracionalista,
ao descrever os aspectos visíveis da alienação como se fossem o destino natu-
ral da condição humana, e não o resultado de uma determinada ordem social.
O segundo caso manifesta-se, por exemplo, no expressionismo, expressão
literária do idealismo, que para revelar a essência oculta produz uma defor-
mação intencional da forma.
Ainda de Hegel, Lukács retoma a idéia do romance como um curso, como
relato dos fatos do passado – ou, para usarmos a definição clássica, a epopéia
do mundo burguês. Essa definição leva Lukács a entender o realismo como um
procedimento estético que se apoia no método narrativo (e não no descritivis-
mo, que iguala homens e coisas) e no recurso à tipicidade (a criação de persona-
gens típicos e de situações típicas, e não o apego à indiferenciada mediania).
A defesa apaixonada o realismo rendeu muitas críticas a Lukács. Uma de-
las apontava, com razão, o caráter normativo de sua concepção estética. Por
Via Atlantica 23.indd 60 27/01/2014 08:52:55
VIA ATLÂNTICA, SÃO PAULO, N. 23, 51-62, JUN/2013 61
mais que afirmasse o realismo como uma atitude perante o real, que, portanto,
deveria permanentemente modificar-se para poder acompanhar o desenvol-
vimento da sociedade, Lukács apegou-se ao modelo do romance praticado
no século XIX – impressão reforçada pela sua dificuldade de compreender as
novas formas romanescas surgidas no século XX. Haveria, assim, um enfo-
que predominantemente epistemológico – apoiado na relação forma/conteúdo
- que elegeu aquela concepção de realismo como modelo.
Depois, em sua monumental Estética, Lukács passou progressivamente a
privilegiar uma concepção ontológica, aberta às modificações históricas. Seus
juízos estéticos tornaram-se nuançados e o lugar ocupado pelo reflexo na figu-
ração realista cedeu espaço para a mimese, a forma particular e mediatizada do
reflexo, própria da literatura, e distanciada da teoria do conhecimento.
Como se pode constatar no breve roteiro apresentado, o marxismo gerou
diferentes enfoques para estudar a literatura. Esta foi entendida como reflexo
adequado do real ou sua insistente negação; parte integrante da cultura ou
fusão de linguagens; atividade útil ou mimese; expressão das visões de mun-
do ou alegoria etc. Nas diversas interpretações, entretanto, havia um ponto
comum: a procura das relações que devem existir entre a literatura e a vida
social – relação muitas vezes ignorada pelos distraídos habitantes da Repúbli-
ca das Letras.
Referências bibliográficas
ADORNO, Theodor. “Posição do narrador no romance contemporâneo”, in Notas de
literatura. Trad. Jorge de Almeida. S. Paulo: Duas Cidades, 2003.
ALTAMIRANO, Carlos e SARLO, Beatriz. Literatura/Sociedade. Buenos Aires: Edicial
S. A., 1993.
BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. Trads. Michel Lahud e Yara Fra-
teschi Vieira. S. Paulo: Hucitec, 1979.
BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas I.. Trad. Sergio Paulo Rouanet. S. Paulo: Brasil-
iense, 1985.
BENJAMIN, Walter. Origem do drama barroco alemão. Trad. Sergio Paulo Rouanet. S.
Paulo: Brasiliense, 1984.
BRECHT, Bertolt. El compromisso en literatura y arte. Trad.J. Fontcurberta. Barcelona:
Península, 1984.
Via Atlantica 23.indd 61 27/01/2014 08:52:56
62 VIA ATLÂNTICA, SÃO PAULO, N. 23, 51-62, JUN/2013
CAUDWELL, Christopher. Ilusión y realidad. Trad. Eduardo Sanchez. Buenos Aires:
Paidós: 1972.
GOLDMANN, Lucien. Sociologia do romance. Trad. Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Paz
e Terra, 1967.
GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere. Vol. 6. Trads. Carlos Nelson Coutinho, Marco
Aurélio Nogueira e Luiz Sérgio Henriques. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
2002.
LUKÁCS, Georg. A teoria do romance. Trad. José Marcos Mariani de Macedo. S. Paulo:
Duas Cidades, 2000.
LUKÁCS, Georg. Problemas del realismo, Trad.Carlos Gerhard. México: Fondo de Cul-
tura Económica, 1966.
Via Atlantica 23.indd 62 27/01/2014 08:52:56
Você também pode gostar
- Durval Muniz Albuquerque Júnior - O Tecelão Dos Tempos (Novos Ensaios de Teoria Da História) - Intermeios (2019)Documento284 páginasDurval Muniz Albuquerque Júnior - O Tecelão Dos Tempos (Novos Ensaios de Teoria Da História) - Intermeios (2019)Larisse EliasAinda não há avaliações
- Formacao Supressiva PastaDocumento282 páginasFormacao Supressiva PastaFilipe de FreitasAinda não há avaliações
- Os Marxistas e A Arte by Leandro KonderDocumento236 páginasOs Marxistas e A Arte by Leandro KonderManuellaAinda não há avaliações
- Realismo Critico HojeDocumento102 páginasRealismo Critico Hojeegruiz2238Ainda não há avaliações
- A Crítica Do Marxismo em José Guilherme MerquiorDocumento24 páginasA Crítica Do Marxismo em José Guilherme MerquiorJesús Hernández JaimesAinda não há avaliações
- AQUINO, João Emiliano Fortaleza de - Reificação e Linguagem em Guy DebordDocumento201 páginasAQUINO, João Emiliano Fortaleza de - Reificação e Linguagem em Guy Debordcoripheu100% (1)
- Sociologia Da LiteraturaDocumento6 páginasSociologia Da LiteraturaKauê OliveiraAinda não há avaliações
- 0.trabalho Sobre Funções Da LiteraturaDocumento2 páginas0.trabalho Sobre Funções Da LiteraturaVerônica ReisAinda não há avaliações
- Gabriela Soares Da Silva - O Idealismo Na Literatura Russa e Seus ContrapontosDocumento9 páginasGabriela Soares Da Silva - O Idealismo Na Literatura Russa e Seus ContrapontosCleilson BrazAinda não há avaliações
- FREDERICO, C. Movimentos Artísticos e Política Cultural.Documento14 páginasFREDERICO, C. Movimentos Artísticos e Política Cultural.FernandaAinda não há avaliações
- Artigo I - Movimentos ArtísticosDocumento14 páginasArtigo I - Movimentos ArtísticosLuci Amorim SantosAinda não há avaliações
- Notas Sobre Literatura Cultura e CienciaDocumento3 páginasNotas Sobre Literatura Cultura e CienciaRoberio GomesAinda não há avaliações
- Aula Sobre Polêmica Do RealismoDocumento7 páginasAula Sobre Polêmica Do RealismoBreno GóesAinda não há avaliações
- As Tendências Sociais Da ArteDocumento2 páginasAs Tendências Sociais Da ArteThyago Marão VillelaAinda não há avaliações
- Os Marxistas e A ArteDocumento7 páginasOs Marxistas e A ArteHitallo VianaAinda não há avaliações
- Panfleto (Lukacs)Documento17 páginasPanfleto (Lukacs)fromgalizaAinda não há avaliações
- Oliveira Mesa 34Documento12 páginasOliveira Mesa 34Fer VolpinAinda não há avaliações
- Lukacs e A LiteraturaDocumento5 páginasLukacs e A LiteraturaBRENO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOSAinda não há avaliações
- Volume 1 - Número 1 - Janeiro - Dezembro 2018Documento39 páginasVolume 1 - Número 1 - Janeiro - Dezembro 2018Lidiane OliveiraAinda não há avaliações
- Métodos e Estudos Da Literatura Inglesa IIDocumento12 páginasMétodos e Estudos Da Literatura Inglesa IIanaffmachadoAinda não há avaliações
- EAGLETON, T. Marxismo e Crítica LiteráriaDocumento5 páginasEAGLETON, T. Marxismo e Crítica LiteráriaNicole DiasAinda não há avaliações
- Literatura e Engajamento Nas Margens Enoch Carneiro Um Estudo de CasoDocumento11 páginasLiteratura e Engajamento Nas Margens Enoch Carneiro Um Estudo de CasoMarcos AraújoAinda não há avaliações
- 18-08-22-XA6QSYH3-ENTREGAR AtualDocumento23 páginas18-08-22-XA6QSYH3-ENTREGAR AtualAliancaBh InternoAinda não há avaliações
- LOPES, Paula Cristina. Literatura e Linguagem LiteráriaDocumento12 páginasLOPES, Paula Cristina. Literatura e Linguagem LiteráriaNell FerreiraAinda não há avaliações
- 78-Texto Do Artigo-240-1-10-20201103Documento20 páginas78-Texto Do Artigo-240-1-10-20201103Izabela Caroline Schaus AbreuAinda não há avaliações
- Lukács Apontamentos Críticos Acerca Do RacismoDocumento19 páginasLukács Apontamentos Críticos Acerca Do RacismoMarcio FariasAinda não há avaliações
- Nasce A Literatura Gay No Brasil - 1 PDFDocumento9 páginasNasce A Literatura Gay No Brasil - 1 PDFIago MouraAinda não há avaliações
- O Sentido Político Do Realismo de Machado de Assis Na Crítica Literária Dos Anos 1970: Os Ensaios de Carlos Nelson CoutinhoDocumento16 páginasO Sentido Político Do Realismo de Machado de Assis Na Crítica Literária Dos Anos 1970: Os Ensaios de Carlos Nelson CoutinhofromgalizaAinda não há avaliações
- BakhtinDocumento16 páginasBakhtinEduardo BrasilAinda não há avaliações
- Romantismo e Messianismo Ensaios Sobre Lukacs e WaDocumento6 páginasRomantismo e Messianismo Ensaios Sobre Lukacs e WaRizoma QGAinda não há avaliações
- Literatura ModernaDocumento6 páginasLiteratura ModernaDelvas GLAinda não há avaliações
- 2016 BarbaraLourencaoGaspar TCCDocumento26 páginas2016 BarbaraLourencaoGaspar TCCCristina RamosAinda não há avaliações
- CORDEIRO, Rogério. Altos e Baixos Da Crítica Literária Dialética (2021)Documento19 páginasCORDEIRO, Rogério. Altos e Baixos Da Crítica Literária Dialética (2021)Jéssica FrazãoAinda não há avaliações
- Origens Da Sociologia Da LiteraturaDocumento6 páginasOrigens Da Sociologia Da Literaturarobsonxrios3939Ainda não há avaliações
- Espaço Biográfico Na Biobibliografia de Bakthin: Quatro Espirais de Um Pensamento Sinuoso.Documento9 páginasEspaço Biográfico Na Biobibliografia de Bakthin: Quatro Espirais de Um Pensamento Sinuoso.almpereiraAinda não há avaliações
- Fichamento - Mikhail Bakhtin. Epos e RomanceDocumento17 páginasFichamento - Mikhail Bakhtin. Epos e RomanceElizabeth Cavalcante de LimaAinda não há avaliações
- Como e Por Que Ler A Poesia Brasileira Do Século XXDocumento9 páginasComo e Por Que Ler A Poesia Brasileira Do Século XXCarol LimaAinda não há avaliações
- As Mutações Da Literatura No Século XXI (Leyla Perrone)Documento7 páginasAs Mutações Da Literatura No Século XXI (Leyla Perrone)GuilhermeFreitas100% (1)
- Gramsci e LukacsDocumento16 páginasGramsci e Lukacsjordimaiso123Ainda não há avaliações
- As Raízes Marxistas de Mikhail Bakhtin - Maria José Rizzi HenriquesDocumento6 páginasAs Raízes Marxistas de Mikhail Bakhtin - Maria José Rizzi HenriquesAlan LunaAinda não há avaliações
- Do Ser Pelo Metodo Ao Metodo Pelo SerDocumento23 páginasDo Ser Pelo Metodo Ao Metodo Pelo SerCarla CristinaAinda não há avaliações
- Literatura SocialDocumento12 páginasLiteratura Socialsarafm6952Ainda não há avaliações
- 2007 Importante Entre A Poesia e A Crítica Jakobson Comunicação e MetalinguagemDocumento15 páginas2007 Importante Entre A Poesia e A Crítica Jakobson Comunicação e MetalinguagemSolange NepomucenoAinda não há avaliações
- Murilo MendesDocumento13 páginasMurilo MendesJônatas CastroAinda não há avaliações
- Entre Lukc3adcs e Bakhtin Por Um Conceito de Forma e Contec2a6do No Romance Joc3bao Carlos FelixDocumento12 páginasEntre Lukc3adcs e Bakhtin Por Um Conceito de Forma e Contec2a6do No Romance Joc3bao Carlos FelixAndreia_pbAinda não há avaliações
- Realismo MarxismoDocumento22 páginasRealismo MarxismoLeonardo VivaldoAinda não há avaliações
- 4 Antologia PoéticaDocumento10 páginas4 Antologia PoéticajucalimaAinda não há avaliações
- BARBOSA, Socorro. Modernos e Modernistas de Uma Mocidade Morta No EsquecimentoDocumento16 páginasBARBOSA, Socorro. Modernos e Modernistas de Uma Mocidade Morta No EsquecimentoWeslei Estradiote RodriguesAinda não há avaliações
- GAGLIARDI, Caio. O Problema Da Autoria Na Teoria Literária.. Apagamentos, Retomadas e RevisõesDocumento15 páginasGAGLIARDI, Caio. O Problema Da Autoria Na Teoria Literária.. Apagamentos, Retomadas e RevisõesAnonymous QMFYEGcfZ7Ainda não há avaliações
- Seminário Roberto SchwarzDocumento7 páginasSeminário Roberto SchwarzAline AmorimAinda não há avaliações
- BAKHTIN Epos e RomanceDocumento5 páginasBAKHTIN Epos e RomanceMirian Avelino100% (1)
- Máscaras da Morte e do Eterno: As Indagações Metafísicas de Mario QuintanaNo EverandMáscaras da Morte e do Eterno: As Indagações Metafísicas de Mario QuintanaAinda não há avaliações
- BAKHTIN, M. - Marxismo e Filosofia Da LinguagemDocumento193 páginasBAKHTIN, M. - Marxismo e Filosofia Da LinguagemStéphanieLyanieAinda não há avaliações
- SOAUPIv 1Documento10 páginasSOAUPIv 1trbpamelaAinda não há avaliações
- 568 1862 1 PBDocumento12 páginas568 1862 1 PBPatrick Silva CavalcanteAinda não há avaliações
- Debate Sobre o ExpressionismoDocumento13 páginasDebate Sobre o ExpressionismoLucones OnesAinda não há avaliações
- Estetica LuckasDocumento10 páginasEstetica LuckasDe la RosaAinda não há avaliações
- A Literatura Como Provocação JAUSSDocumento12 páginasA Literatura Como Provocação JAUSSJorge dos Santos Valpaços100% (1)
- Afinal, o Que É LiteraturaDocumento14 páginasAfinal, o Que É LiteraturaCrendios Father0% (1)
- Mario Cesar Lugarinho - Nasce A Literatura Gay No BrasilDocumento11 páginasMario Cesar Lugarinho - Nasce A Literatura Gay No BrasilSandro AragãoAinda não há avaliações
- Resumos Problemas Criticos Lit. BrasileiraDocumento13 páginasResumos Problemas Criticos Lit. BrasileiraInês BorgesAinda não há avaliações
- Formalismo Russo WPDocumento6 páginasFormalismo Russo WPHayatAinda não há avaliações
- Lúcio Cardoso, Cornélio Penna e a retórica do Brasil profundoNo EverandLúcio Cardoso, Cornélio Penna e a retórica do Brasil profundoAinda não há avaliações
- Graciliano Ramos: uma narrativa social como reflexãoNo EverandGraciliano Ramos: uma narrativa social como reflexãoAinda não há avaliações
- Marxismo&Ciências Humanas-2011Documento205 páginasMarxismo&Ciências Humanas-2011Sérgio Braga100% (5)
- Currículo Do Sistema de Currículos Lattes (Fernando Lacerda Júnior)Documento26 páginasCurrículo Do Sistema de Currículos Lattes (Fernando Lacerda Júnior)Larissa GomesAinda não há avaliações
- A Criação Do Mundo de Miguel TorgaDocumento9 páginasA Criação Do Mundo de Miguel Torgaeduardo_mendonca7608100% (1)
- Maria Ines HamannDocumento10 páginasMaria Ines HamannClaudia ReginaAinda não há avaliações
- GregórioDocumento11 páginasGregórioMarcia PinheiroAinda não há avaliações
- Romance Historico e Jose de AlencarDocumento491 páginasRomance Historico e Jose de Alencarsabrina araujoAinda não há avaliações
- Romantismo e Messianismo Ensaios Sobre Lukacs e WaDocumento6 páginasRomantismo e Messianismo Ensaios Sobre Lukacs e WaRizoma QGAinda não há avaliações
- Escola de Frankfurt - SatanismoDocumento33 páginasEscola de Frankfurt - SatanismoCleber Dias0% (1)
- A Peculiaridade Do Estética e A Emancipação HumanaDocumento18 páginasA Peculiaridade Do Estética e A Emancipação HumanaJoão Alfaya Dos SantosAinda não há avaliações
- O Canto Da SereiaDocumento40 páginasO Canto Da Sereiabeatriz ramosAinda não há avaliações
- Para Compreender A Ontologia de LukacsDocumento146 páginasPara Compreender A Ontologia de LukacsHenrique Eduardo Guarani-kaiowáAinda não há avaliações
- Lukacs - Ontologia e Alienacao - Livro Norma PDFDocumento176 páginasLukacs - Ontologia e Alienacao - Livro Norma PDFLeticia TavaresAinda não há avaliações
- Vidas RebeldesDocumento211 páginasVidas RebeldesSilvia PimentelAinda não há avaliações
- 2009.doc - Raquel ImanishiDocumento132 páginas2009.doc - Raquel ImanishiNayara BritoAinda não há avaliações
- A teoria crítica de Axel Honneth Reconhecimento, liberdade e justiça (Rúrion Melo) (Z-Library)Documento340 páginasA teoria crítica de Axel Honneth Reconhecimento, liberdade e justiça (Rúrion Melo) (Z-Library)bibliotecagabriel2002d.cAinda não há avaliações
- Concepção de Trabalho HEGELDocumento18 páginasConcepção de Trabalho HEGELDalila OliveiraAinda não há avaliações
- A Sociologia Da Literatura de Georg LukacsDocumento10 páginasA Sociologia Da Literatura de Georg LukacsAriadna TsundokuAinda não há avaliações
- A Totalidade Como Categoria Central Na Dialética Marxista - Edmilson CarvalhoDocumento8 páginasA Totalidade Como Categoria Central Na Dialética Marxista - Edmilson CarvalhoSamanta MAinda não há avaliações
- Nutrição e SexualidadeDocumento12 páginasNutrição e Sexualidadeclessiomendes100% (1)
- A Jaula de Aco Prefacio Corrigido Michael LowyDocumento9 páginasA Jaula de Aco Prefacio Corrigido Michael LowyCláudio SmalleyAinda não há avaliações
- Ideologia e Utopia de Karl MannheimDocumento88 páginasIdeologia e Utopia de Karl MannheimHectorAinda não há avaliações
- Artigo - O Inominável de Beckett (VISO)Documento30 páginasArtigo - O Inominável de Beckett (VISO)lucianogattiAinda não há avaliações
- 1928 - Teses de Blum (Extrato) A Ditadura Democrática PDFDocumento10 páginas1928 - Teses de Blum (Extrato) A Ditadura Democrática PDFufrr2comando2de2grevAinda não há avaliações
- As Aventuras de Karl Marx Contra o Barão de MünchhausenDocumento12 páginasAs Aventuras de Karl Marx Contra o Barão de MünchhausenMateus CostaAinda não há avaliações
- M CineclubeDocumento216 páginasM CineclubeGiovanni AlvesAinda não há avaliações
- José Dassunção Barros - História CulturalDocumento26 páginasJosé Dassunção Barros - História CulturalJeferson RamosAinda não há avaliações