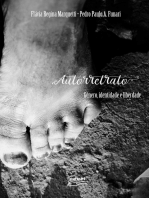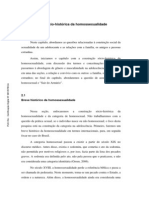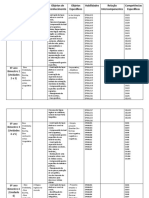Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Homossexualidades e A História
Homossexualidades e A História
Enviado por
Asafe FelipeTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Homossexualidades e A História
Homossexualidades e A História
Enviado por
Asafe FelipeDireitos autorais:
Formatos disponíveis
HOMOSSEXUALIDADES E A HISTÓRIA:
RECUPERANDO E ENTENDENDO O PASSADO
James N. Green
E-mail: james_green@brown.edu
Resumo: Este ensaio considera a trajetória da produção acadêmica sobre
a história da homossexualidade no Brasil, menciona vários desafios para
realizar pesquisas e aponta pistas para novas investigações.
Palavras-chave: história da homossexualidade; sodomia; lésbicas; movi-
mento LGBT.
Abstract: This essay considers the trajectory of academic production about
the history of homosexuality in Brazil, mentions several challenges for car-
rying out research, and points to new areas of investigation.
Keywords: history of homosexuality; sodomy; lesbians; LGBT movement.
Niterói, v.12, n.2, p. 65-76, 1. sem. 2012 65
Na última década, a produção acadêmica brasileira sobre a homosse-
xualidade masculina e feminina, sobre a homofobia nas escolas e sobre a
discriminação que enfrentam os travestis tem sido considerável em com-
paração com os trabalhos que saíram das universidades brasileiras no final
do século XX. Há uma diversidade de pesquisas nas disciplinas de antro-
pologia, comunicação, educação, estudos cinematográficos, estudos cul-
turais, literatura, psicologia, saúde pública, sociologia, para citar apenas as
áreas mais destacadas. Esses trabalhos oferecem um conhecimento sofis-
ticado e complexo sobre a sociedade brasileira contemporânea e sobre a
convivência e as tensões com a homossexualidade e a homoafetividade.
Infelizmente, a disciplina de história está bastante atrasada no desenvolvi-
mento de “estudos LGBT”. Existe um campo aberto para as novas gerações
de pesquisadores e jovens historiadores interessados em descobrir e reve-
lar os numerosos silêncios que existem na historiografia brasileira.
Apesar das limitadas produções atualmente existentes sobre a história
de homossexualidades no Brasil, é fundamental reconhecer os pioneiros
no processo de recuperação das histórias sobre a homoafetividade e as
relações homoeróticas, que floresceram ora em épocas mais remotas, ora
em épocas mais recentes. Influenciado pelo olhar antropológico, nos anos
1980 houve o primeiro boom de pesquisas sobre a história das homosse-
xualidades no Brasil, especialmente estudos sobre a época colonial e traba-
lhos sobre o século XX. A disciplina de história se manteve durante muito
tempo longe dessas pesquisas, dividida entre os praticantes tradicionais de
métodos e ideologias conservadores e os neomarxistas, ortodoxos ou não,
que se preocuparam em entender as estruturas econômicas e as formas
de exploração. As relações de classe explicavam tudo.1 Homossexualida-
de era “coisa de viados”, e não um assunto para historiadores sérios. Ainda
hoje, depois de mobilizações maciças nas ruas e conquistas democráticas,
dentro das universidades existe uma dupla moralidade. Dentro de depar-
tamentos de história, há uma resistência para levar a sério pesquisas sobre
a homossexualidade que não aquelas de uma época distante.
Usando as vastas fontes das visitações do Tribunal do Santo Ofício da
Inquisição no Brasil, Luiz Mott, Ligia Bellini e Ronaldo Vainfas ofereceram
as primeiras obras sobre a sodomia – o pecado nefasto –, que no período
colonial poderia levar o acusado a sua execução.
1
Nos anos 1990, houve outro boom na produção brasileira sobre sexualidade, agora influenciado pela ideia
de Michel Foucault. Contudo, o filósofo e historiador francês pouco influenciou as primeiras obras sobre a
homossexualidade escritas nos anos 1980.
66 Niterói, v.12, n.2, p. 65-76, 1. sem. 2012
Luiz Mott, professor de antropologia na Universidade Federal da
Bahia, durante mais de 30 anos, e ativista incansável no movimento LGBT,
encontrou, em meio as suas pesquisas nos arquivos da Torre de Tombo em
Lisboa, entre outros lugares, numerosos casos de homens – brancos e ne-
gros, escravos e libertos, jovens e velhos, ricos e pobres – que mantiveram
relações sexuais com outros homens. Mott mapeou uma geografia urbana
de homoerotismo em Lisboa e Salvador, onde pessoas de todas as classes
sociais, cores e inclinações sexuais se encontraram para aventuras sexuais
passageiras e/ou relações duradoras.2
Ligia Bellini (1989), orientada por Mott, utilizou oito casos da Inquisi-
ção para entender como esta instituição tratou as mulheres acusadas de
cometer a sodomia “imperfeita”, pois não existia penetração na relação
sexual entre elas, elemento fundamental no mundo falocêntrico. Parece
que as nefandices confessadas por mulheres, em geral, receberam menos
atenção da Santa Inquisição, talvez por causa de um olhar misógino dos
homens da Igreja, que não poderiam imaginar uma sexualidade efetiva ou
afetiva entre mulheres.
O historiador Ronaldo Vainfas (2010) contextualizou os casos de per-
seguição de sodomitas em um estudo mais amplo sobre transgressões e
comportamentos sexuais na colônia, entre os séculos XVI e XVIII. Recen-
temente, uma coletânea de artigos sobre a homossexualidade masculina
no mundo luso-brasileiro ofereceu mais casos sobre as práticas sexuais em
Portugal e no Brasil, especialmente quando a Terra de Santa Cruz fazia par-
te do império português (JONHSON; DUTRA, 2006).3
Esses trabalhos sérios, baseados em pesquisas meticulosas realizadas
em arquivos localizados no Brasil e Portugal, legitimaram dentro do mun-
do acadêmico o estudo de sexualidades transgressoras na época colonial.
Os documentos da Inquisição ofereceram uma fonte rica para reconstruir a
vida social dos homens e das mulheres que violaram os mandamentos da
Igreja e os comportamentos de gênero do período. A falta de outra docu-
mentação, porém, limita o nosso conhecimento dos padrões cotidianos de
sexualidades, especialmente práticas proibidas e condenadas.
Com a abolição do Santo Ofício da Inquisição e a Independência do
Brasil, a ausência de códigos criminais castigando a sodomia dificulta o tra-
balho do historiador que procura fontes a fim de entender as vidas dos ho-
2
Consulte os trabalhos de Mott (1980, 1988, 1989, 2003).
3
A grande maioria dos artigos nessa coletânea trata da época colonial.
Niterói, v.12, n.2, p. 65-76, 1. sem. 2012 67
mens e das mulheres que não se conformaram aos protótipos sexuais hege-
mônicos. No período imperial, apesar de ser considerado um ato obsceno,
o exercício de sexualidades não normativas não poderia ser controlado
pelo Estado, a não ser que fosse praticado em lugares públicos, ofendendo,
assim, “a moral e os bons costumes” da sociedade brasileira ou causando
“ultraje público ao pudor”. Existe evidência na documentação já descober-
ta para supor que a polícia patrulhava os espaços públicos para “limpar” as
cidades de homens efeminados e “escandalosos” ou das mulheres-homens
demasiado visíveis. As autoridades só poderiam acusar os transeuntes de
vadiagem se eles mostrassem um comportamento fora dos padrões de gê-
nero dominante. Isso protegia os homens de boa posição social. Para as
classes médias, um suborno poderia livrar um sujeito de uma passagem
pela delegacia. Para os pobres, prisão por vadiagem era comum.4 Ou seja,
nos arquivos estaduais e no Arquivo Nacional não existe uma maneira fácil
de encontrar a documentação para relatar a vida pessoal e social dos so-
domitas, frescas e fanchonos que se agruparam nas capitais das províncias
durante o Segundo Reinado.5 Documentação ainda mais esparsa é aquela
existente sobre as mulheres que se vestiam de homem para perambularem
nas ruas com um comportamento masculino e audaz. Qualquer pessoa ou
equipe de pessoas que queira investigar a homossexualidade no século
XIX tem um grande desafio para encontrar uma documentação suficiente-
mente detalhada que possa recuperar as experiências das mulheres e dos
homens que desafiaram as normas sociais e sexuais naquela época.6
Ainda existe uma falta notável de pesquisas sobre as manifestações
das homossexualidades no Império, mas nos anos 1980, vários antropó-
logos e um escritor iniciaram a recuperação precursora das histórias da
homossexualidade masculina no Brasil do século XX. Peter Fry, naquele
momento um professor de antropologia na Universidade Estadual de Cam-
pinas, começou as suas pesquisas com três preocupações intelectuais: os
discursos médico-legais prevalentes no início do século XX, que fortale-
ceram a construção de um sujeito “homossexual”; os espaços de sociabili-
dade e religiosidade para homens efeminados dentro de candomblé; e os
comportamentos de gênero prevalentes entre muitas pessoas que tiveram
relações homossexuais. Fry (1982a) utilizou o caso de Febrônio Índio do
Brasil, que foi condenado ao Manicômio Judiciário por ter assassinado três
4
Ver Capítulo 1, GREEN, Além do carnaval, p. 51-118.
5
Para Bahia, veja Dos Santos (1997) e Mott (1999). Para Rio de Janeiro, consulte Higgs (1999) e Figari (2007).
6
No seu esforço extraordinário, com suas pesquisas, durante mais de 30 anos, de colecionar material sobre
a homossexualidade masculina e feminina no Brasil, Luiz Mott, nos deixa muitas pistas para seguir. Sobre as
mulheres, por exemplo, ver Mott (1987).
68 Niterói, v.12, n.2, p. 65-76, 1. sem. 2012
garotos em 1927, para analisar como médicos, criminologistas e psiquia-
tras associavam a homossexualidade masculina com perversão, sadismo e
insanidade. Os ensaios de Fry (1982b, 1982c) sobre a presença de homos-
sexualidade no candomblé e as construções de padrões de gênero nas re-
lações sexuais entre muitos homens, nas quais os papéis “ativo-passivo” e
“macho-fêmea” predominavam, ofereceram uma historicidade à homoafe-
tividade e indicaram as diversidades de comportamento sexual, conforme
as distintas classes sociais e tipos de sociabilidade.
Peter Fry colaborou com Edward MacRae, na época estudante de mes-
trado em antropologia na Unicamp, na popularização da sua pesquisa em
um pequeno e importante ensaio, publicado na coleção “O que é...” da Edi-
tora Brasiliense.7 Fry e MacRae identificaram diversos médicos, criminolo-
gistas e outros especialistas cujos trabalhos no começo do século XX forja-
vam os discursos médico-legais sobre a homossexualidade. Estes discursos
e o moralismo religioso se mantiveram hegemônicos no Brasil até os anos
1970 e 1980, quando os movimentos LGBT internacional e brasileiro obri-
garam a uma reavaliação desses conceitos.
Outro jovem antropólogo, Nestor Perlongher, um argentino exilado
que tinha participado da Frente de Liberación Homosexual (FLH) da Argen-
tina, no começo dos anos 1970 – antes que a repressão da ditadura militar
naquele país dispersasse a organização –, fez um estudo original sobre a
prostituição masculina em São Paulo.8 Na tentativa de mapear a homosso-
ciabilidade no centro de São Paulo nos anos 1980, Perlongher encontrou
um artigo importante escrito por José Fábio Barbosa da Silva, um soció-
logo que tinha realizado a primeira pesquisa moderna, no final dos anos
1950, sobre a homossexualidade masculina no Brasil. O artigo de Barbosa
da Silva (1959) documentava as práticas de homossexuais em São Paulo
sem utilizar o moralismo e o desrespeito típicos dos profissionais que es-
tudavam o assunto. O trabalho sociológico desse autor deixou muita in-
formação sobre o comportamento de homens, na sua maioria da classe
média, e os seus lugares de sociabilidade no centro urbano.9 O próprio tra-
balho de Perlongher sobre a convivência de michês com homossexuais em
São Paulo nos anos 1980, como outros estudos antropológicos e sociológi-
cos realizados nos anos 1970 e 1980, serve como fonte densa para as pes-
quisas de historiadores. Outra pesquisa pioneira sobre homossexualidade
7
FRY; MACRAE, 1991.
8
PERLONGHER, 2008.
9
A pesquisa completa de Barbosa da Silva foi publicada junto com ensaios sobre a homossexualidade em
São Paulo por antropólogos e historiadores em 2005. Consulte Green e Trindad (2005).
Niterói, v.12, n.2, p. 65-76, 1. sem. 2012 69
masculina no Rio de Janeiro foi a dissertação de mestrado de Carmen Dora
Guimarães, defendida no Museu Nacional em 1977 e recentemente publi-
cada.10 Guimarães, como Barbosa da Silva, retratou a vida de homossexuais
da classe média, mas lançou seu olhar sobre um momento imediatamente
antes da epidemia de aids, captando a vivacidade da convivência entre os
homossexuais cariocas dessa época.11
Depois de colaborar com Peter Fry no livro Que é homossexualidade,
Edward MacRae seguiu sua trajetória acadêmica fazendo o seu doutorado
na USP e defendendo o primeiro trabalho antropológico sobre homosse-
xualidade naquela instituição. MacRae resolveu estudar o Somos: Grupo de
Afirmação Homossexual, a primeira organização política de gays e lésbicas
no Brasil. 12 Utilizando a compreensão do seu orientador, Peter Fry, sobre
a prevalência de papéis de gênero tradicionais embutida na sociabilidade
homossexual nos anos 1950 e 1960 e notando uma transformação nesse
comportamento nos anos 1960 e 1970, MacRae aplicou a metodologia de
observação-participante para estudar o grupo Somos. O resultado é uma
pesquisa cheia de percepções instigantes sobre este grupo precursor do
movimento LGBT, que serve como fonte importante para qualquer recupe-
ração dos primeiros momentos de ativismo no Brasil. Uma década depois,
Claudio Roberto da Silva (1998) fez um trabalho baseado em histórias orais
de líderes da primeira etapa do movimento no Brasil, que também serve
como uma fonte imprescindível para qualquer investigação sobre este tema.
Outro trabalho importante sobre esse período é um pequeno livro
assinado por Hiro Okita (2007) e produzido pela Facção Homossexual da
Convergência Socialista – atualmente o Partido Socialista dos Trabalhado-
res (Unificado) –, que fazia parte da ala esquerda do movimento no seu
período inicial. O livro traz o programa da facção que, na época, propunha
a formação de uma coordenação nacional do movimento, a mobilização
contra a discriminação dentro dos sindicatos e dos lugares de trabalho e
a celebração do 28 de junho como Dia Internacional da Luta Homossexu-
al. Também contém entrevistas com representantes de várias correntes
da esquerda sobre a homossexualidade, indicando a variedade de visões
sobre o assunto naquele momento. O escritor e ativista João Silvério Tre-
visan, fundador do movimento LGBT brasileiro, colaborou também com a
10
GUIMARÃES, 2004.
11
Outra pesquisa dessa época, que nunca foi publicada em livro, é um estudo sobre sexo nos cinemas do Rio
de Janeiro nos anos 1980, de Veriano Terto Junior (1989).
12
MACRAE, 1990.
70 Niterói, v.12, n.2, p. 65-76, 1. sem. 2012
sua obra Devasso no paraíso.13 Assim como Fry e MacRae, ele identificou
importantes fontes para escrever a história da homossexualidade no Brasil,
oferecendo sua leitura sobre a história do Grupo Somos e a primeira onda
de ativismo no país.
No final dos anos 1970, morando em São Paulo, pude participar da
fundação do Grupo Somos. Por causa de uma série de fatores (curiosos e
complicados) também dirigia a corrente de esquerda dentro do movimen-
to. Nós queríamos forjar alianças e colaborações com o PT, outros setores
da esquerda e movimentos sociais que surgiram no processo da transi-
ção da ditadura à democracia. Morei seis anos no Brasil e depois voltei
para os Estados Unidos, onde entrei no Programa de Pós-graduação em
História da América Latina na Universidade da Califórnia, em Los Angeles
(UCLA). Resolvi fazer a minha tese de doutorado sobre a história do mo-
vimento brasileiro, comparando-o ao FLH argentino. Eu tinha como mo-
delo o trabalho do historiador John D’Emilio (1983), que fez um estudo
sobre a formação nos Estados Unidos de uma identidade gay e o início do
ativismo entre a Segunda Guerra Mundial e a Rebelião de Stonewall de
1969. Apesar de ter um movimento LGBT forte nos Estados Unidos, com
muitos intelectuais e acadêmicos assumidos, a produção historiográfica
ainda não era muito avançada. Somente durante as celebrações do 25º
aniversário da Rebelião de Stonewall em Nova York, em junho de 1994,
foi lançado o livro de George Chauncey sobre a formação de uma cultura
urbana gay em Nova York no começo do século XX. Passou uma década
entre a publicação das obras de D’Emilio e Chauncey, de modo que nesse
intervalo houve pouca produção histórica sobre a homossexualidade nos
Estados Unidos. Com cópias dos dois livros na minha bagagem, tomei um
avião para o Brasil para começar a trabalhar.
Cheguei em São Paulo em um sábado, e na segunda-feira bem cedo
fui para o Arquivo Público do Estado de São Paulo, ansioso para iniciar a
minha pesquisa. Procurei um amigo, Lauro Ávila Pereira, que trabalhava no
arquivo, que me ofereceu um tour pelo prédio. Entre revistas e jornais anti-
gos, processos criminais do século XIX e outros documentos, ele me mos-
trou os prontuários do Sanatório Pinel de São Paulo, de 1930 a 1944. Pensei:
“Deve ter pelo menos um caso de uma pessoa internada pela família por
ser homossexual”. Pedi os prontuários e comecei a revisá-los um por um. O
caso nº 139 revelou a história de um frade alemão que foi transferido para
o Rio de Janeiro nos anos 1920 porque estava sendo acusado de ter tido re-
13
TREVISAN, 2000.
Niterói, v.12, n.2, p. 65-76, 1. sem. 2012 71
lações sexuais com meninos. Tal prática se repetia no Brasil. Ao que parece,
ele negociou um tempo no sanatório para evitar castigos mais severos. Este
caso ofereceu a esperança de outros e continuei revisando os prontuários.
Eventualmente, encontrei 11 casos que mencionavam a homossexualida-
de do paciente, entre mais de 3.800 outros, em 126 caixas. Apesar de ser
um trabalho laborioso, que levou mais de um mês para terminar, percebi
que tinha condições para modificar o meu projeto de pesquisa. Em vez de
escrever a história acerca do período inicial dos movimentos brasileiro e
argentino, encontrei em São Paulo e no Rio de Janeiro fontes para tentar
reconstruir a história da homossexualidade masculina do século XX em
pelo menos duas cidades. Utilizei os livros mencionados neste ensaio para
procurar pistas e fontes, com a ajuda adicional de um excelente guia biblio-
gráfico produzido por Luiz Mott em 1985.14
Durante os nove meses em que transitei entre os arquivos no Rio, em
São Paulo e em Campinas, aprendi a técnica de garimpar muito para conse-
guir pedacinhos de ouro nos lugares mais diversos e obscuros.15 Não existia
a possibilidade de ir ao Arquivo Nacional e pedir todos os documentos da
coleção sobre a homossexualidade, organizados, catalogados, indexados
e disponíveis para qualquer consulta. Não havia um índice dos jornais pu-
blicados nos anos 1920 ou 1930, que permitiria fácil acesso sobre casos de
“pederastia” ou de “mulheres-homens.” Ainda são praticamente inexistentes
as cartas disponíveis de pessoas famosas ou não que mantiveram relações
sexuais e românticas com pessoas do mesmo sexo. As memórias escritas
por e sobre personalidades, em geral, censuram detalhes sobre suas vidas
sexuais quando se trata de aventuras homoeróticas. Mas, com criatividade,
garra e uma atitude audaz é possível pesquisar e produzir mais sobre a ho-
moafetividade e a homossexualidade no Brasil.
Nesse sentido, gostaria de sugerir várias ideias e pistas para que a nova
geração de historiadores possa seguir:
1. Faltam trabalhos profundos sobre a história de homoerotismo em
outras cidades do Brasil, além do Rio de Janeiro e São Paulo. Luiz Mo-
rando, um dedicado pequisador, fez um excelente estudo sobre Belo
Horizonte a partir de um assassinato cometido no Parque Municipal
em 1946.16 Logrou retratar a sociabilidade de homossexuais e outros
14
MOTT, 1985. Madison: SALAM Secretariat, University of Wisconsin-Madison, 1987, p. 592-609. Anos depois
publiquei outra bibliografia anotada sobre a produção dos anos 1980 e 1990 com a colaboração de Marisa
Fernandes e Lance Arney (2003).
15
Reproduzi documentos da minha primeira pesquisa em Green e Pólito (2006).
16
MORANDO, 2008.
72 Niterói, v.12, n.2, p. 65-76, 1. sem. 2012
que frequentaram o seu universo no centro da capital de Minas Ge-
rais. Este trabalho serve como exemplo da criatividade necessária (e
possível) para escavar resíduos do passado em outras capitais do país.
2. Em termos gerais, o século XIX ainda é uma incógnita. Vários livros
escritos no final desse século fizeram referências às personalidades
e aos grupos semiclandestinos que funcionavam no Rio de Janei-
ro, no Segundo Reinado, mas não nos deixaram muitas pistas para
seguir. É necessário que pesquisadores universitários proponham
projetos grandes e audazes com financiamento adequado para que
equipes de bolsistas possam vasculhar centenas de jornais e peri-
ódicos e dezenas de milhares de processos criminais do século XIX
e do começo do século XX, para encontrar vestígios de manifes-
tações de homossexualidade nos documentos. É necessário divul-
gar e investir nesse grande projeto para que outros historiadores,
trabalhando sobre diferentes assuntos, possam repassar materiais,
documentos e pistas encontrados nas suas próprias pesquisas aos
organizadores desses projetos.
3. Existia uma sociabilidade muito importante e interessante entre ho-
mossexuais masculinos e femininos do mundo artístico nos anos
1940, 1950 e 1960, fato pouco documentado. Por exemplo, uma
biografia completa e complexa sobre Darcy Penteado, artista plás-
tico, escritor e membro do Conselho Editorial do jornal Lampião da
Esquina, poderia ser uma entrada nesse mundo homossexual da clas-
se média e alta paulistana, no qual circularam pessoas de todas as
classes sociais. Assim como em qualquer biografia sobre uma figu-
ra pública, provavelmente existirá certa relutância entre familiares e
amigos em revelar aspectos da “vida privada” da personalidade, con-
forme se revelou com as tentativas de se descobrir mais informações
sobre a vida pessoal de Mário de Andrade. Contudo, uma pesquisa
nesse sentido poderia render muito.
4. É preciso injetar a sexualidade na história política do país. Por exem-
plo, qual é a relação entre a homofobia e os discursos e as ações da
ditadura militar?17 Quais são os detalhes sobre a campanha (não exi-
tosa) para expulsão de homossexuais do Itamaraty durante o regime
cívico-militar? Quais são a história e as histórias sobre a homossexu-
alidade e a esquerda brasileira? Meu próximo livro, uma biografia de
Herbert Daniel, ex-guerrilheiro e porta-voz de pessoas com HIV-Aids,
é um esforço para tratar desse assunto. Precisamos de muitos histo-
17
O exemplo deste caminho é a tese de doutorado de COWAN, Benjamin. The Secret History of Subversion:
Sex, Modernity, and the Brazilian National Security State. Tese de doutorado. University of Califórnia, Los
Angeles, 2010.
Niterói, v.12, n.2, p. 65-76, 1. sem. 2012 73
riadores pesquisando sobre a política e a (homo)sexualidade, espe-
cialmente no século XX.
5. Como entendemos o movimento LGBT dentro de um contexto muito
maior sobre as transformações que ocorreram ao longo dos últimos
40 anos e as transições de ditadura para democracia? Qual é a rela-
ção entre nacional e internacional, entre nacional e local no processo
de crescimento do ativismo LGBT no Brasil?
6. Para concluir, novas pesquisas sobre a história das lésbicas no Brasil
são fundamentais. São quase inexistentes. Bons trabalhos vão exigir
uma criatividade extraordinária para encontrar a documentação su-
ficiente para recompor histórias de vida e informação sobre socia-
bilidades, linguagens, espaços e comportamentos de mulheres que
mantiveram relações sexuais e afetivas com outras mulheres. Falta
uma história ampla e completa sobre as mulheres no movimento
LGBT ou no movimento feminista, só para mencionar duas ausên-
cias na historiografia do Brasil contemporâneo. O trabalho de Nadia
Nogueira (2008) sobre Elizabeth Bishop e Lota de Macedo Soares é
exemplo no sentido como procurar assuntos que podem abrir maio-
res perspectivas sobre as vivências de lésbicas no Brasil.
Temos muito trabalho pela frente!
Referências
ARNEY, Lance; FERNANDES, Marisa; GREEN, James N. Homossexualidade no
Brasil: uma bibliografia anotada. In: GREEN, James N.; MALUF, Sônia Maluf.
Homossexualidade: sociedade, movimento e lutas. Cadernos Edgard Leuenroth,
Campinas: UNICAMP, n. 18, 19, p. 317-48, 2003.
BELLINI, Ligia. A coisa obscura: mulher, sodomia e inquisição no Brasil colonial.
São Paulo: Brasiliense, 1989.
CHAUNCEY, George. Gay New York: Gender, Urban Culture and the Making of
the Gay Male World, 1890-1940. New York: Basic Books, 1994.
D’EMILIO, John. Sexual Politics, Sexual Communities: The Making of a
Homosexual Minority in the United States, 1940-1970. Chicago: University of
Chicago Press, 1983.
DOS SANTOS, Jocélio Teles. Incorrigíveis, afeminados, desenfreados:
indumentária e travestismo na Bahia do século XIX. Revista de Antropologia,
São Paulo: USP, v. 40, n. 2, p. 145-182, 1997.
74 Niterói, v.12, n.2, p. 65-76, 1. sem. 2012
FIGARI, Carlos. @s “outr@s” Cariocas: interpelações, experiências e identidades
homoeróticas no Rio de Janeiro: séculos XVII ao XX. Belo Horizonte: EdUFMG;
Rio de Janeiro: IUPERJ, 2007.
FRY, Peter. Febrônio Índio do Brasil: onde cruzam a psiquiatria, a profecia, a
homossexualidade e a lei. In: EULÁLIO, Alexandre, et. al. Caminhos cruzados:
linguagem, antropologia e ciências naturais. São Paulo: Brasiliense, 1982a.
p. 65-80.
______. Homossexualidade masculina e cultos afro-brasileiros. In: FRY, Peter.
Para inglês ver: identidade e política na cultura brasileira. Rio de Janeiro: Zahar,
1982b. p. 54-86.
______. Da hierarquia à igualdade: a construção histórica da homossexualidade
no Brasil. In: FRY, Peter. Para inglês ver: identidade e política na cultura brasileira.
Rio de Janeiro, Zahar, 1982c. p. 87-115.
FRY, Peter; MACRAE, Edward. O que é homossexualidade. São Paulo: Brasiliense, 1991.
GREEN, James. Além do carnaval: a homosexualidade masculina no Brasil do
século XX. São Paulo: EdUNESP, 1999. p. 51-118.
GREEN, James N.; TRINDAD, Ronaldo. Homossexualismo em São Paulo e outros
escritos. São Paulo: EdUNESP, 2005.
GREEN, James N.; PÓLITO, Ronald. Frescos trópicos: fontes sobre a
homossexualidade masculina no Brasil (1870-1980). Rio de Janeiro: José
Olimpio, 2006.
GUIMARÃES, Carmen Dora. O homossexual visto por entendidos. Rio de Janeiro:
Garamond, 2004.
HIGGS, David. Rio de Janeiro. In: ______. Queer Sties: gay urban histories since
1600. New York: Routledge, 1999. p. 138-163.
JOHNSON, H. B.; DUTRA, Francis. Pelo vaso traseiro: sodomy and sodomites in
Luso-Brazilian history. Tucson (AZ): Fenestra Books, 2006.
MACRAE, Edward. A construção da igualdade: identidade sexual e política no
Brasil da “abertura”. Campinas: EdUnicamp, 1990.
MORANDO, Luiz. Paraíso das maravilhas: uma história do Crime do Parque.
Belo Horizonte: Argumentum, 2008.
MOTT, Luiz R. B. Pagode português: a subcultura gay em Portugal nos tempos
inquisitoriais. Ciência e Cultura, v. 40, n. 2, p. 120-139, 1980.
Niterói, v.12, n.2, p. 65-76, 1. sem. 2012 75
______. A homossexualidade no Brazil: bibliographia. In: HAZEN, Dan. C. Latin
American masses and minorities: their images and realities: papers of the 3rd
Annual Meeting of the Seminar on the Acquisition of Latin American Library
Materials. Princeton, New Jersey: Princeton University, June 19-23, 1985.
______. O lesbianismo no Brasil. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1987.
______. Escravidão, homossexualidade e demonologia. São Paulo: Icone, 1988.
______. O sexo proibido: virgens, gays e escravos nas garras da Inquisição.
Campinas (SP): Papirus, 1989.
______. Homossexuais da Bahia: dicionário biográfico, séculos XVI-XIX.
Salvador: Grupo Gay da Bahia, 1999.
______. Crypto-sodomites in colonial Brazil. In. SIGAL, Pete. Infamous desire:
male homosexuality in colonial Latin America. Chicago: University of Chicago
Press, 2003. p. 168-196.
NOGUEIRA, Nadia. Invenções em si em história de amor: Lota Macedo Soares e
Elizabeth Bishop. Rio de Janeiro: Apicuri, 2008.
OKITA, Hiro. Homossexualismo: da opressão à libertação. São Paulo:
Sundermann, 2007.
PERLONGHER, Néstor. O negócio do michê: prostituição viril em São Paulo. São
Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2008.
SILVA, José Fábio Barbosa da. Aspectos sociológicos do homossexualismo em
São Paulo. Sociologia, v. 2, n. 4, p. 350-60, out. 1959.
SILVA, Claudio Roberto da. Reinventando o sonho: história oral de vida política
e homossexualidade no Brasil contemporâneo. 1998. Tese (Mestrado) –
Universidade de São Paulo, 1998.
TERTO JUNIOR, Veriano de Souza. No escurinho do cinema: sociabilidade
orgiástica nas tardes cariocas. 1989. Dissertação (Mestrado em Psicologia) –
Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 1989.
TREVISAN, João Silvério. Devasso no paraíso: a homossexualidade no Brasil da
colônia à atualidade. Rio de Janeiro: Record, 2000.
VAINFAS, Ronaldo. Trópico dos pecados: moral, sexualidade e Inquisição no
Brasil. [3. ed.]. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010.
76 Niterói, v.12, n.2, p. 65-76, 1. sem. 2012
Você também pode gostar
- Mauss, Marcel - As Técnicas Do CorpoDocumento9 páginasMauss, Marcel - As Técnicas Do CorpoÉdi OliveiraAinda não há avaliações
- Frescos TrópicosDocumento50 páginasFrescos TrópicosMarcelo Oliveira100% (2)
- Plural de CidadeDocumento326 páginasPlural de CidadeÉrica PeçanhaAinda não há avaliações
- Avaliação Online Homem e SociedadeDocumento4 páginasAvaliação Online Homem e SociedadeDaniella SilvaAinda não há avaliações
- Sexuality and Socialism c1 c6 Traduzido PDFDocumento35 páginasSexuality and Socialism c1 c6 Traduzido PDFSilva HalfeldAinda não há avaliações
- Prova de Inglês 8 AnoDocumento9 páginasProva de Inglês 8 AnoRodrigo Almeida100% (1)
- Atividade de InglesDocumento9 páginasAtividade de InglesFrancimar Oliveira100% (2)
- Homossexualidade No Brasil Bibliografia AnotadaDocumento33 páginasHomossexualidade No Brasil Bibliografia AnotadaBruno SantanaAinda não há avaliações
- Novas fronteiras das histórias LGBTI+ no BrasilNo EverandNovas fronteiras das histórias LGBTI+ no BrasilPaulo Souto MaiorAinda não há avaliações
- Uma História Da SexualidadeDocumento482 páginasUma História Da SexualidadeFlávio Da Silva BorgesAinda não há avaliações
- Resenha HomossexualidadesDocumento7 páginasResenha HomossexualidadesArimatea JuniorAinda não há avaliações
- 2517 6771 1 PB PDFDocumento33 páginas2517 6771 1 PB PDFMarcusAinda não há avaliações
- 522 1111 1 PBDocumento27 páginas522 1111 1 PBPaulo Cézar Das Mercês SantosAinda não há avaliações
- 1 PBDocumento3 páginas1 PBGuilherme CardosoAinda não há avaliações
- CARNEIRO, Maria Luiza Tucci - Tratados Da Intolerância No BrasilDocumento21 páginasCARNEIRO, Maria Luiza Tucci - Tratados Da Intolerância No BrasilMarlzonniAinda não há avaliações
- FLA0351 Sexualidade e Ciências Sociais - Programação2018Documento2 páginasFLA0351 Sexualidade e Ciências Sociais - Programação2018feepivaAinda não há avaliações
- Levi heitor,+Sílvia+Hunold+LaraDocumento10 páginasLevi heitor,+Sílvia+Hunold+LarabrunozorekAinda não há avaliações
- LesOnline 2016 BDocumento19 páginasLesOnline 2016 BLuana StephanieAinda não há avaliações
- 3845-Texto Do Artigo-14958-1-10-20160130Documento12 páginas3845-Texto Do Artigo-14958-1-10-20160130Marcelo CunhaAinda não há avaliações
- História e Escravidão - Cultura e Religiosidade Negras No Brasil - Um Levantamento BibliográficoDocumento67 páginasHistória e Escravidão - Cultura e Religiosidade Negras No Brasil - Um Levantamento BibliográficoGustavoPiraAinda não há avaliações
- História e Sexualidade No BrasilDocumento108 páginasHistória e Sexualidade No BrasilLuciAraújoBeauvoirAinda não há avaliações
- Catalogo Orgulho e Resistências: LGBT Na Ditadura (2021)Documento50 páginasCatalogo Orgulho e Resistências: LGBT Na Ditadura (2021)Fernanda GomesAinda não há avaliações
- Ditadura e Homossexualidades No BrasilDocumento5 páginasDitadura e Homossexualidades No BrasilReginaldo Sousa ChavesAinda não há avaliações
- Mulheres e Relações de Gênero Na Capitania de PernambucoDocumento8 páginasMulheres e Relações de Gênero Na Capitania de PernambucoMonica DiasAinda não há avaliações
- Eduardo - Relatório Final Do Programa de Iniciação Científica 2022 - 2023 (Alteração Val)Documento13 páginasEduardo - Relatório Final Do Programa de Iniciação Científica 2022 - 2023 (Alteração Val)eduardo.ado.teixeiraAinda não há avaliações
- Resumos - Tópico Da PósDocumento14 páginasResumos - Tópico Da PósGiovana CastroAinda não há avaliações
- Breve Histórico Das Transmasculinidades No Brasil No Século XX e Início Do Século XXI - Palhano Tenório - 2022 (Artigo) PDFDocumento17 páginasBreve Histórico Das Transmasculinidades No Brasil No Século XX e Início Do Século XXI - Palhano Tenório - 2022 (Artigo) PDFAriane MoreiraAinda não há avaliações
- História e Cultura Afro-BrasileiraDocumento6 páginasHistória e Cultura Afro-BrasileiraMarta OliveiraAinda não há avaliações
- Resistência, Visibilidade e A Luta Pela Democracia: O Boletim ChanacomChana e o Movimento de Lésbicas Na Década de 198Documento16 páginasResistência, Visibilidade e A Luta Pela Democracia: O Boletim ChanacomChana e o Movimento de Lésbicas Na Década de 198Fanny Spina FrançaAinda não há avaliações
- Ditadura e Homossexualidades No BrasilDocumento5 páginasDitadura e Homossexualidades No BrasilJainara OliveiraAinda não há avaliações
- O Conhecimento Da Historia, o Direito A Memoria e Os Arquivos JudiciaisDocumento11 páginasO Conhecimento Da Historia, o Direito A Memoria e Os Arquivos JudiciaisStrelinha BraAinda não há avaliações
- História Da Homossexualidade No BrasilDocumento21 páginasHistória Da Homossexualidade No BrasilGiovane GusmãoAinda não há avaliações
- MORAES WICHERS & BOITA - 2020 - Patrimônio Cultural LGBTDocumento5 páginasMORAES WICHERS & BOITA - 2020 - Patrimônio Cultural LGBTCamila MoraesAinda não há avaliações
- Cópia de Dicionário de Gênero - FeminismoDocumento5 páginasCópia de Dicionário de Gênero - FeminismoCintia FsAinda não há avaliações
- Dosreiss,+02+apresentação Do-Dossiê - Festas - Zélia e DaniloDocumento4 páginasDosreiss,+02+apresentação Do-Dossiê - Festas - Zélia e DaniloLucas SantosAinda não há avaliações
- Sociologia PDFDocumento9 páginasSociologia PDFVicAinda não há avaliações
- Programa Final. Antropologia Do Genero e Da Sexualidade PDFDocumento8 páginasPrograma Final. Antropologia Do Genero e Da Sexualidade PDFfeepivaAinda não há avaliações
- MISKOLCI, Richard. O Vértice Do TriânguloDocumento21 páginasMISKOLCI, Richard. O Vértice Do TriângulodesestranhandoAinda não há avaliações
- 1 SMDocumento3 páginas1 SMBruno GarciaAinda não há avaliações
- Negócios de Família, Gerência de Viúvas: senhoras administradoras de bens e de pessoas no século XVIII em Minas GeraisNo EverandNegócios de Família, Gerência de Viúvas: senhoras administradoras de bens e de pessoas no século XVIII em Minas GeraisAinda não há avaliações
- Gênero e Direito - Silvia PimentelDocumento44 páginasGênero e Direito - Silvia PimentelRonaldo JuniorAinda não há avaliações
- Luiz - Mott - Etno Historia Da Homossexualidade No BrasilDocumento15 páginasLuiz - Mott - Etno Historia Da Homossexualidade No BrasilAlcineia RodriguesAinda não há avaliações
- Amor, Sexo e Casamento No JudaísmoDocumento212 páginasAmor, Sexo e Casamento No JudaísmoErick Costa de FariasAinda não há avaliações
- Autorretrato: gênero, identidade e liberdadeNo EverandAutorretrato: gênero, identidade e liberdadeAinda não há avaliações
- O Papel Das Relações Étnico Raciais No Estudo Da AntropologiaDocumento9 páginasO Papel Das Relações Étnico Raciais No Estudo Da Antropologialeandro.conceicaoAinda não há avaliações
- "Frescos" e "Bagaxas" Apontamentos Acerca Do Discurso Médico Sobre ADocumento11 páginas"Frescos" e "Bagaxas" Apontamentos Acerca Do Discurso Médico Sobre ABruno SilvaAinda não há avaliações
- Grossi Miriam Identidade de Genero e SexualidadeDocumento14 páginasGrossi Miriam Identidade de Genero e SexualidadeLuana MendonçaAinda não há avaliações
- 11 RUBIN-Pensando Sobre Sexo - Texto TraduzidoDocumento94 páginas11 RUBIN-Pensando Sobre Sexo - Texto TraduzidoElizabeth TeodoroAinda não há avaliações
- BARBOSA, Ivan e LIMA, Vilma (2017) Metáforas Da Perplexidade Parasitismo e Miscigenação No Contexto Da Recepção Da Sociologia No Brasil.Documento16 páginasBARBOSA, Ivan e LIMA, Vilma (2017) Metáforas Da Perplexidade Parasitismo e Miscigenação No Contexto Da Recepção Da Sociologia No Brasil.agnesalmeida18Ainda não há avaliações
- Mlitancia LGBTDocumento10 páginasMlitancia LGBTLuís Fernando VaninAinda não há avaliações
- A Construção Sócio-Histórica Da Homossexualidade - Versão Divisão de Bibliotecas e Documentação PUC-RioDocumento24 páginasA Construção Sócio-Histórica Da Homossexualidade - Versão Divisão de Bibliotecas e Documentação PUC-RioKevin Eddie SkinflickerAinda não há avaliações
- Gênero, Mulheres e SociedadeDocumento4 páginasGênero, Mulheres e Sociedadeyumeko chanAinda não há avaliações
- Mais Amor e Mais Tesão: História Da Homossexualidade No BrasilDocumento18 páginasMais Amor e Mais Tesão: História Da Homossexualidade No BrasilJuan Filipe StaculAinda não há avaliações
- Wa0015.Documento16 páginasWa0015.Rodrigo AndradeAinda não há avaliações
- Programa Antropologia IIDocumento4 páginasPrograma Antropologia IIRicardo MenezesAinda não há avaliações
- O Lampião Da Esquina PDFDocumento15 páginasO Lampião Da Esquina PDFPatrícia Marcondes de BarrosAinda não há avaliações
- Pensando o Sexo - Gayle Rubin / AnotaçõesDocumento23 páginasPensando o Sexo - Gayle Rubin / AnotaçõesMari AugAinda não há avaliações
- Historia de Uma Edição - 39808-Texto Do Artigo-133927-1!10!20191210Documento8 páginasHistoria de Uma Edição - 39808-Texto Do Artigo-133927-1!10!20191210Aka ManAinda não há avaliações
- Antropologia-E-Sexualidade Miguel Vale de AlmeidaDocumento21 páginasAntropologia-E-Sexualidade Miguel Vale de Almeidatorugobarreto5794Ainda não há avaliações
- Identidade de Gênero - Um Caminho Entre A Visibilidade e A InvisibilidadeDocumento16 páginasIdentidade de Gênero - Um Caminho Entre A Visibilidade e A InvisibilidadeSheila NhalissaAinda não há avaliações
- O Entre LugarDocumento16 páginasO Entre LugarPolo Ceará RnfidAinda não há avaliações
- Fichamento - Por Uma História Da MulherDocumento5 páginasFichamento - Por Uma História Da MulherNatáliaCarvalhoAinda não há avaliações
- Invenções e descobertas que mudaram a vida dos LGBT+ e de como a sociedade os viaNo EverandInvenções e descobertas que mudaram a vida dos LGBT+ e de como a sociedade os viaAinda não há avaliações
- IntroduçãoDocumento3 páginasIntroduçãoFrancimar OliveiraAinda não há avaliações
- DCRC InglêsDocumento14 páginasDCRC InglêsFrancimar OliveiraAinda não há avaliações
- Literatura Inglesa Ensino MédioDocumento9 páginasLiteratura Inglesa Ensino MédioFrancimar OliveiraAinda não há avaliações
- Plano de Aula - Fevereiro Tarde IIDocumento13 páginasPlano de Aula - Fevereiro Tarde IIFrancimar OliveiraAinda não há avaliações
- Prefixes and Suffixes 1 AnoDocumento3 páginasPrefixes and Suffixes 1 AnoFrancimar Oliveira100% (1)
- O Mito Da Rebeldia Da Juventude - Maria Juraci Maia CavalcanteDocumento13 páginasO Mito Da Rebeldia Da Juventude - Maria Juraci Maia CavalcanteDavid CézarAinda não há avaliações
- Tim Ingold - Gente Como A Gente' - O Conceito de Homem Anatomicamente ModernoDocumento37 páginasTim Ingold - Gente Como A Gente' - O Conceito de Homem Anatomicamente ModernoLucas MarquesAinda não há avaliações
- O Olhar Envenenado Da Metafisica Vegetal PDFDocumento407 páginasO Olhar Envenenado Da Metafisica Vegetal PDFajazzmessengerAinda não há avaliações
- UAb - Antropologia Geral - Capitulo 1Documento25 páginasUAb - Antropologia Geral - Capitulo 1Hugo Rodrigues0% (1)
- Pesquisa Qualitativaem GeografiaDocumento11 páginasPesquisa Qualitativaem GeografiaJessica TrindadeAinda não há avaliações
- Descolonização LiteráriaDocumento442 páginasDescolonização LiteráriaSilvinho ParadisoAinda não há avaliações
- Planos de Aula Filosofia 3º Ano 2º Bimestre Amostra 2024Documento9 páginasPlanos de Aula Filosofia 3º Ano 2º Bimestre Amostra 2024Olimpio FerreiraAinda não há avaliações
- John Blacking Ou Uma Humanidade Sonora e Saudavelmente OrganizadaDocumento9 páginasJohn Blacking Ou Uma Humanidade Sonora e Saudavelmente OrganizadaPedro SchwingelAinda não há avaliações
- O Pensamento COmplexo em Edga MorinDocumento25 páginasO Pensamento COmplexo em Edga Morinleoniomatos100% (2)
- Introdução À AntropologiaDocumento21 páginasIntrodução À AntropologiaMarcos BealAinda não há avaliações
- Artigo Charles Wagley No SESPDocumento20 páginasArtigo Charles Wagley No SESPBarbara Duarte CassebAinda não há avaliações
- Roque Laraia - ÉTICA E ANTROPOLOGIA ALGUMAS QUESTÕESDocumento11 páginasRoque Laraia - ÉTICA E ANTROPOLOGIA ALGUMAS QUESTÕESCamila TribessAinda não há avaliações
- História Das Mulheres - Cultura e Poder Das MulheresDocumento24 páginasHistória Das Mulheres - Cultura e Poder Das MulheresJoão HenriqueAinda não há avaliações
- Como Fazer FichamentoDocumento9 páginasComo Fazer FichamentoMich Domingos de AndradeAinda não há avaliações
- Atividade de Fundamentos Histórico-Filosóficos Da EducaçãoDocumento2 páginasAtividade de Fundamentos Histórico-Filosóficos Da EducaçãoLarissa LorranyAinda não há avaliações
- Antropologia Identidade de GeneroDocumento15 páginasAntropologia Identidade de GeneroSalimo Joaquim SalimoAinda não há avaliações
- Roger Bastide A Doença Mental Como Campo de EstudoDocumento252 páginasRoger Bastide A Doença Mental Como Campo de EstudoPedro LuizAinda não há avaliações
- Bioética - História e Saúde PúblicaDocumento36 páginasBioética - História e Saúde Públicaluis felipe seroaAinda não há avaliações
- Teresa Caldeira - Cidade de MurosDocumento334 páginasTeresa Caldeira - Cidade de MurosluAinda não há avaliações
- BELTING, Hans - 2006 - Imagem Mídia e Corpo PDFDocumento13 páginasBELTING, Hans - 2006 - Imagem Mídia e Corpo PDFedgarcunhaAinda não há avaliações
- Fundamentos Sociológicos e AntropológicosDocumento8 páginasFundamentos Sociológicos e AntropológicosMercedesZambranoAinda não há avaliações
- AntropologiaDocumento4 páginasAntropologiaMiltonDeJesusAinda não há avaliações
- ArquivoDocumento16 páginasArquivoADILSON RODRIGUES DA SILVAAinda não há avaliações
- PINHEIRO, Niminon Suzel. Os Nomades - Etnohistória Kaingang e Seu Contexto - São Paulo, 1850-1912Documento146 páginasPINHEIRO, Niminon Suzel. Os Nomades - Etnohistória Kaingang e Seu Contexto - São Paulo, 1850-1912AdrianaAinda não há avaliações
- Síntese Conceitos Magnani - Versão CorrigidaDocumento3 páginasSíntese Conceitos Magnani - Versão Corrigidamalu_130% (1)
- A Constituição Do Campo de Análise e Pesquisa Da Antropologia JurídicaDocumento18 páginasA Constituição Do Campo de Análise e Pesquisa Da Antropologia JurídicaPedroCamposAinda não há avaliações
- Histórias Que A Mídia Conta (Tese Patrícia Melo)Documento334 páginasHistórias Que A Mídia Conta (Tese Patrícia Melo)LaisseArrudaAinda não há avaliações