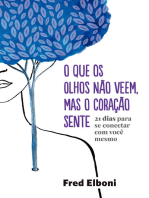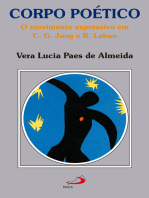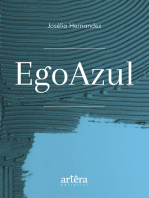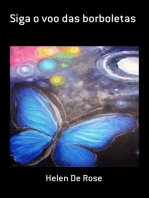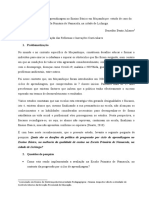Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Relato de Um Corpo em Quarentena
Enviado por
Lucas FurtadoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Relato de Um Corpo em Quarentena
Enviado por
Lucas FurtadoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Relato de um corpo em quarentena
Por: Lucas Furtado
Trabalho final da disciplina A escrita de si - caligrafias do corpo
Professora Dra.: Mirna Spritzer
Quando me matriculei na disciplina “A escrita de si – caligrafias do corpo”, não
fazia a menor ideia de o que ela era. Na verdade, quando fiz a matrícula e constatei que
os encontros aconteceriam em um palco, no qual faríamos exercícios teatrais relacionados
a algum tipo de escrita que, para mim, ainda não me era compreensível, me senti
empolgado e, ao mesmo tempo, assustado. Talvez, em função de uma formação erratica,
que me levou a diversos territórios diferentes entre si, a ideia de me aproximar do teatro
de uma maneira livre e, ao mesmo tempo, indefinida, tenha descortinado em mim aquilo
que sempre temi a respeito de minha própria formação: um não aprofundamento em
nenhum campo específico, mas diversos vislumbres de áreas afins.
O que teria eu para contribuir em uma aula de pós-graduação em Teatro?
Em um primeiro momento, a resposta mais óbvia – e o motivo principal pelo qual
escolhi fazer essa disciplina e não outra qualquer - diz respeito ao tema “escrita”. Desde
de minha graduação em Cinema, passando pelo meu mestrado em Letras e chegando no
doutorado em Comunicação, meu único interesse norteador sempre foi a busca pelo texto.
Porém, que texto? Quando recém ingressado na graduação e ainda ingênuo, meu único
desejo era o de me tornar escritor. Eu nada sabia a respeito de escrever, mas sabia que
queria escrever. Aos poucos, em contato com diferentes pessoas, diferentes lugares e
diferentes maneiras de se produzir, percebi que, dentre todos aqueles que me rodeavam,
eu com certeza não era o que mais tinha algo a dizer. Minhas vivências, minhas reflexões,
minha habilidade, sempre eram menos relevantes, menos profundas ou menos bem
desenvolvidas do que as dos outros. Fui incapaz de escrever, me senti preso. Descobri
também que o imperativo de me tornar escritor datava de muito antes da entrada em uma
graduação. Por algum motivo antigo, que ainda sou incapaz de compreender, havia uma
cobrança que talvez fosse minha, talvez fosse de outros, talvez nem sequer existisse na
realidade, de que aquela fosse minha trajetória. No entanto, eu sabia que queria escrever.
Resolvi ir para a Letras, berço das palavras, local onde eu descobriria que escrever era
ainda mais difícil do que eu imaginava, mas onde também encontrei outras formas de se
pensar sobre a escrita, sobre o ato de escrever e sobre o ato de se escrever. Foi a primeira
vez que me deparei com a obra de Michel Foucault, mas a qual ainda se mostrava
inacessível, incompreensível, árida. Escrevi uma dissertação às duras penas e foi em seu
processo que iniciei um movimento de libertação do texto. Percebi que, conforme
escrevia, mais me libertava da escrita.
Tudo isso culminou em meu doutorado, momento no qual me encontro agora e
que, aos poucos, me vejo ainda mais livre da escrita. Minha pesquisa diz respeito a
investigação de obras que poderiam ser denominadas como “desnarrativizadas” ou “não-
textocentristas”. Ou seja, conforme me liberto da escrita, me aproximo de um texto menos
escrito, ainda mais livre. Chego, então, na disciplina intitulada “A escrita de si”, nome
também dado a um texto de Michel Foucault que, agora, se mostra não inacessível, não
incompreensível, mas necessário. Encontro aqui, no texto do autor, a ideia de que a escrita
de si não apenas reflete sobre o eu, não apenas fala sobre eu, mas constitui o eu. Não há
eu sem escrita e, conforme a escrita se faz, se faz também o eu. A partir de um texto, um
texto como esse que estou a escrever, me constituo enquanto sujeito, individuo próprio,
uma vez que me narro a mim mesmo.
Volto, então, às aulas. O palco, que antes se faria de presença física, se faz na
presença ausente. Uma pandemia nos prende, impede que a liberdade do texto tenha
continuidade, faz com que a escrita de si deixe de estar lá fora.
Recebo, então, um email da professora informando que não compareci à primeira
aula. Me vejo ainda mais ausente, mais preso. No mesmo email, um tema de casa. Uma
reflexão a partir da lista mais recente que fizemos. Nessa mesma época, estou voltando
para casa de minha mãe para lhe fazer companhia durante a quarentena. Mais uma
liberdade que me escapa, a vida de independência que conquistei se faz adiada. Mais uma
prisão se coloca sem escolha. Estamos – eu e minha mãe – presos um ao outro.
Sem saber das discussões ocorridas na primeira aula, me encontrava perdido no
que escrever. O que se esperava de mim? O texto que fiz, escrito também às duras penas,
não foi exposto em aula, embora a professora incentive os alunos a fazerem isso. Não fui
capaz.
Eis o texto:
O que levar
- Dois pijamas
- Computador
- 2 calças
- 2 blusões
- 2 camisetas
- Bermuda esportiva
- Carregador de celular
- A história de um novo sobrenome, Elena Ferrante
Retornar à casa não traz consigo a alegria de um retorno breve, em que o
acumulo de saudade corresponde a exata duração da permanência no local para o qual
se volta. Retornar, porém, não carrega o peso de uma tristeza decorrente de um fim, de
um rompimento, de uma separação que nos leva à porta do lar materno como que
alegando que algo no caminho não saiu como o planejado. Dessa vez, retornar é apenas
um fio que se estende, se tenciona, mas não se rompe. Retornar é esperar, é enclausurar-
se no que é físico, é esconder o corpo do mundo para que sua exposição a luz do dia não
seja também sua sentença. O corpo se adapta ao espaço, mas a mente, presa ao corpo,
se recusa a permanecer entre quatro paredes, atrás da porta trancada. Pela primeira
vez, a mente percebe que o corpo talvez seja incapaz de levá-la a todos os futuros que um
dia ela enxergou. Pela primeira vez, a mente percebe que também é corpo e que sua
finitude não é apenas tão breve como a do corpo, mas mais consciente, mais real. O
corpo responde ao que lhe infere a mente, mas a mente vislumbra um futuro para o corpo
que nem mesmo ele é capaz de saber que lá está. O corpo, quando definha, deixa de
existir no ponto mais longínquo que foi capaz de alcançar, no ápice de sua jornada, nos
calos do tempo, nas transformações da vida. Já a mente, quando se vai, termina
lembrando de tudo aquilo que um dia quis que corpo experimentasse, mas que não pode
fazer chegar até ele. Enfim, uma lista que, em suma, atende a todas as necessidades do
corpo, de mantê-lo aquecido, de mantê-lo em movimento, de mantê-lo, acima de tudo.
Porém, há também aquilo que mantem a mente que, embora, a cada novo dia perceba
que seu definhar é tão ou mais certo que o do corpo, insiste em procurar a luz de um dia
que ainda não amanheceu
Quando escrevi esse texto eu ainda não sabia, mas sua ideia principal, a que
problematiza as fronteiras entre corpo e mente, viriam a ser tópico de discussão das aulas
subsequentes. Poucos dias depois, nos foram apresentadas as reflexões de Artaud a
respeito do corpo sem órgãos e alguns textos que traziam diários de pessoas que
resolveram relatar suas experiências corporais como que emulando o que seria um corpo
disruptivo, um corpo que não possui em si uma estrutura clara. Importante salientar que,
o corpo sem órgãos ao qual se refere Artaud, não diz respeito a um corpo no qual os
órgãos são inexistentes, mas um corpo que transcende a ideia dos próprios órgãos. Não
um corpo que, na falta das peças que o alimentam a vida, sucumbe à morte. Um corpo
que vive acima de tudo, que existe para além de sua constituição física.
Percebi, ao escrever o texto a respeito de corpo e mente, que a presença do corpo
em nossas vidas havia aberto um novo paradigma no contexto de uma pandemia que nos
mantém isolados porque nosso próprio corpo se faz frágil, somado a isso, compreendi
também uma espécie de reação inconsciente de meu próprio corpo, nunca antes em minha
vida eu havia me dedicado com tanto esmero ao seu cuidado. Ao longo de minha
adolescência e inicio de vida adulta, minha vida se resumia ao cuidado da mente. Nunca
fui bom em praticar esportes. Sempre fui magro, o que atrasou, até certa idade, a
preocupação com uma desatenção às mudanças que a vida geram em nosso organismo. O
alimento que sempre dei ao meu corpo, foi um alimento pouco refletido, pouco cuidadoso.
No entanto, feliz coincidência, foi a de que poucos meses antes de iniciarmos nosso
isolamento, adquirimos uma esteira ergométrica, aparelho dedicado ao corpo. Passei
horas correndo sobre ela, correndo sem ir a lugar nenhum, no entanto sentindo em meu
corpo o movimento de não estar nunca no mesmo lugar. Foi então que, após entrar em
contato com as reflexões de Artaud a respeito do corpo sem órgãos, passei a observar com
maior atenção minha preocupação com meu corpo e decidi realizar um experimento.
Baixei um aplicativo de corridas, inseri minha localização no mapa e comecei a correr na
esteira. Em poucos minutos, o aplicativo já dizia que eu estava na rua debaixo. Dizia que
se eu virasse a esquina, encontraria uma lomba. Meus batimentos cardíacos aumentaram.
Era noite. Passei em frente ao mercadinho de meu bairro que há tempos não frequento.
Minhas pernas sentiam as falhas no asfalto, provavelmente provocadas por alguma
tempestade ocorrida décadas atrás. Em poucos minutos estava em uma longa avenida que
corta a cidade. Pela primeira vez lembrei de um medo que, desde que havia me isolado,
não recordava mais que me habitava. O medo da rua. Medo de ser atacado, medo de ser
roubado, medo de ser agredido, medo da fragilidade de expor meu corpo. No entanto,
segui em frente. Dobrei a esquerda do bar que frequentava com meus amigos. Também
fechado. Já não se podia dizer que um dia estivemos ali. Aquele mundo, antes tão banal
e provável, já não deixava vestígios. A presença de um corpo já não deixa vestígios. Aos
poucos, sentia que a cidade, em si, é que era um corpo sem órgãos. Não há estrutura, não
há linearidade, mas há vida. Havia vida. Percebi que o corpo que definha, é o corpo da
cidade. Os corpos, que antes davam vida à rua para manterem-se vivos, fazem com que o
corpo-cidade morra aos poucos no gargalo de suas ausências. A cidade sem vida me faz
querer voltar pra casa, mas sinto que não posso voltar pra casa, meu corpo alimenta o
corpo da cidade e, assim, ela se faz viva novamente, ela se faz corpo novamente. Foi então
que percebi. Não há vida com um só corpo. São os corpos em conjunto que fazem a vida.
São os corpos em conjunto que misturam seus órgãos, oferecem seus órgãos, abrem mão
de seus órgãos. A cidade morre, pois os corpos já não se encontram. O encontro dos
corpos é que faz um corpo sem órgãos.
Acordo de um movimento que só se fez fora do corpo. Não estive livre de meu
próprio corpo para que não precisasse teme-lo. Não estive livre de meu próprio corpo
para que pudesse deixa-lo. No entanto, lembro que ao me escrever, me liberto, que ao me
escrever, faço das minhas palavras meu corpo. Talvez, nessas palavras, faça um corpo
sem órgãos, mas com vida. No dia em que meu corpo já não tiver mais vida, já não tiver
mais órgãos, ele estará aqui. Ao escrever esse texto, abro mão de meus órgãos e crio um
corpo com vida. Se um dia alguém precisar de um novo corpo, ofereço aqui meu corpo
sem órgãos, mas com vida. Aqui está. Pode ficar com ele.
Você também pode gostar
- O jogo do psicofísico-poético: o trabalho criativo do ator à luz da teoria SartrianaNo EverandO jogo do psicofísico-poético: o trabalho criativo do ator à luz da teoria SartrianaAinda não há avaliações
- O corpo em Sade e Nietzsche: Ou quem sou eu agora?No EverandO corpo em Sade e Nietzsche: Ou quem sou eu agora?Ainda não há avaliações
- Conversas sobre (Auto)Cuidado e suas dimensões: ser, viver, aprender e a ética no existirNo EverandConversas sobre (Auto)Cuidado e suas dimensões: ser, viver, aprender e a ética no existirAinda não há avaliações
- O Espectro Transformador: vencendo desafios e despertando potenciais no autismoNo EverandO Espectro Transformador: vencendo desafios e despertando potenciais no autismoAinda não há avaliações
- Pedagogia da transgressão: Um caminho para o autoconhecimentoNo EverandPedagogia da transgressão: Um caminho para o autoconhecimentoAinda não há avaliações
- ExcritasDocumento2 páginasExcritasBruno RosaAinda não há avaliações
- Sociedade de autônomos: crítica ao individualismo contemporâneo a partir de Byung-Chul Han e Hannah ArendtNo EverandSociedade de autônomos: crítica ao individualismo contemporâneo a partir de Byung-Chul Han e Hannah ArendtAinda não há avaliações
- O mundo é uma cabeça: A mente, a matéria e a construção da realidadeNo EverandO mundo é uma cabeça: A mente, a matéria e a construção da realidadeNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (2)
- Entre o Ideal e o Real: Das Inquietudes HumanasNo EverandEntre o Ideal e o Real: Das Inquietudes HumanasAinda não há avaliações
- O que os olhos não veem, mas o coração sente: 21 dias para se conectar com você mesmoNo EverandO que os olhos não veem, mas o coração sente: 21 dias para se conectar com você mesmoNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (6)
- Corpo, transborda: Educação somática, consciência corporal e expressividadeNo EverandCorpo, transborda: Educação somática, consciência corporal e expressividadeNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Schopenhauer e Mudança de VidaDocumento6 páginasSchopenhauer e Mudança de VidaPollyanna Lavinia Lima RibeiroAinda não há avaliações
- Trabalho Final - Reflexões Acerca Da Matéria Práticas Performativas II (Ivan Teixeira)Documento8 páginasTrabalho Final - Reflexões Acerca Da Matéria Práticas Performativas II (Ivan Teixeira)Ivan TeixeiraAinda não há avaliações
- Poesia (e) filosofia: por poetas filósofos em atuação no BrasilNo EverandPoesia (e) filosofia: por poetas filósofos em atuação no BrasilNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- O eu parresiástico em romances de literatura brasileira contemporâneaNo EverandO eu parresiástico em romances de literatura brasileira contemporâneaAinda não há avaliações
- Corpo poético: O movimento expressivo em C. G. Jung e R. LabanNo EverandCorpo poético: O movimento expressivo em C. G. Jung e R. LabanNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Seus olhos não eram azuis: Poemas que contam HistóriasNo EverandSeus olhos não eram azuis: Poemas que contam HistóriasAinda não há avaliações
- Corpos que importam: os limites discursivos do "sexo"No EverandCorpos que importam: os limites discursivos do "sexo"Nota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Temas Que MorremDocumento6 páginasTemas Que Morremprofvera311Ainda não há avaliações
- Ateísmo & Liberdade: Uma Introdução ao Livre-PensamentoNo EverandAteísmo & Liberdade: Uma Introdução ao Livre-PensamentoNota: 3 de 5 estrelas3/5 (2)
- Como se encontrar na escrita: O caminho para despertar a escrita afetuosa em vocêNo EverandComo se encontrar na escrita: O caminho para despertar a escrita afetuosa em vocêNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- A Fragmentação Do EuDocumento5 páginasA Fragmentação Do EuLuisibel Oliveira100% (3)
- Trabalho de Fenomenologia - Análise de Obra Literária - Se Eu Fosse EuDocumento8 páginasTrabalho de Fenomenologia - Análise de Obra Literária - Se Eu Fosse EuJeferson ViniciusAinda não há avaliações
- Shirley Maclaine - Minhas VidasDocumento245 páginasShirley Maclaine - Minhas VidasdanpaclvAinda não há avaliações
- Shirley Maclaine - Minhas VidasDocumento247 páginasShirley Maclaine - Minhas Vidasbernadetefer8563100% (1)
- O Poder Do Pensamento - Annie BesantDocumento113 páginasO Poder Do Pensamento - Annie BesantWako FernandoAinda não há avaliações
- Poesia Com Elos - 2 EdiçãoDocumento25 páginasPoesia Com Elos - 2 EdiçãolucassantosbrAinda não há avaliações
- DesonraDocumento9 páginasDesonraLucas FurtadoAinda não há avaliações
- Estive em Lisboa e Me Esqueci de MimDocumento12 páginasEstive em Lisboa e Me Esqueci de MimLucas FurtadoAinda não há avaliações
- Valentine's Day Celebration With Polaroid Photo Instagram PostDocumento5 páginasValentine's Day Celebration With Polaroid Photo Instagram PostLucas FurtadoAinda não há avaliações
- Marinho, Cristiane. Constelações de Fragmentos Metodológicos e Históricos em BenjaminDocumento17 páginasMarinho, Cristiane. Constelações de Fragmentos Metodológicos e Históricos em BenjaminLucas FurtadoAinda não há avaliações
- As Babas Do DiaboDocumento9 páginasAs Babas Do DiaboLucas FurtadoAinda não há avaliações
- Matrizes Narrativas Cine BrasileiroDocumento17 páginasMatrizes Narrativas Cine BrasileiroLucas FurtadoAinda não há avaliações
- A Poetica Do Curta-Metragem BrasileiroDocumento32 páginasA Poetica Do Curta-Metragem BrasileiroLucas FurtadoAinda não há avaliações
- Adaptacao Literaria BrasileiraDocumento16 páginasAdaptacao Literaria BrasileiraLucas FurtadoAinda não há avaliações
- Imagem Também Se Lê FichamentoDocumento3 páginasImagem Também Se Lê FichamentoProfessor GHAinda não há avaliações
- Questionário LIBRASDocumento1 páginaQuestionário LIBRASCMDCA Sao BentoAinda não há avaliações
- Modulo 4 MatematicaDocumento110 páginasModulo 4 MatematicaZélio zeferino100% (5)
- DIARIO01 68717a7ea8Documento26 páginasDIARIO01 68717a7ea8Jeff SousaAinda não há avaliações
- Anexo II - Relato de AcidenteDocumento5 páginasAnexo II - Relato de AcidenteJadson CunhaAinda não há avaliações
- Novo Amanhecer-Novos CaminhosDocumento149 páginasNovo Amanhecer-Novos CaminhosEduardo B. AraujoAinda não há avaliações
- Proporção Aurea para OdontologiaDocumento5 páginasProporção Aurea para OdontologiaEder S RosaAinda não há avaliações
- Relatório BrafitecDocumento3 páginasRelatório BrafitecLucas FelintoAinda não há avaliações
- 14catalogacao ClassificacaoDocumento56 páginas14catalogacao ClassificacaoHectos AlbertoAinda não há avaliações
- TREVISAN, Ricardo. Cidades Novas. Brasília, Universidade Federal de Brasília, 2009. (Tese de Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) .Documento338 páginasTREVISAN, Ricardo. Cidades Novas. Brasília, Universidade Federal de Brasília, 2009. (Tese de Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) .CamilaNakamuraGoninoAinda não há avaliações
- Incorporações Imobiliárias e LoteamentoDocumento31 páginasIncorporações Imobiliárias e LoteamentoVandyLeiaAinda não há avaliações
- Apresentação TdahDocumento26 páginasApresentação TdahFernanda MatiasAinda não há avaliações
- Revista Izunome 31Documento20 páginasRevista Izunome 31Marcos MarcondesAinda não há avaliações
- Dificuldades para A Implantação de Práticas InterdisciplinaresDocumento16 páginasDificuldades para A Implantação de Práticas InterdisciplinaresaecarvalhoAinda não há avaliações
- 8 Jogos de Equação de 1º GrauDocumento15 páginas8 Jogos de Equação de 1º GrauAmanda CrisAinda não há avaliações
- CAMPOS Et Al. Planejamento e Gestão em Saúde. C. 1Documento370 páginasCAMPOS Et Al. Planejamento e Gestão em Saúde. C. 1Viviane Salazar100% (1)
- Etica 1 - CRC PDFDocumento92 páginasEtica 1 - CRC PDFMaria MadalenaAinda não há avaliações
- Plano de Aula - ModeloDocumento2 páginasPlano de Aula - ModeloGraciane Guimaraes100% (5)
- Dossiê Do ProfessorDocumento433 páginasDossiê Do ProfessorVanessa Família Feliz100% (5)
- Modelo Projeto Pesquisa Ufg Jatai 2016Documento24 páginasModelo Projeto Pesquisa Ufg Jatai 2016Wagner BeloAinda não há avaliações
- Exercicios de Matematica Ensino Medio Resolvidos - Pesquisa Google PDFDocumento2 páginasExercicios de Matematica Ensino Medio Resolvidos - Pesquisa Google PDFPauline VictorAinda não há avaliações
- Plano de Ensino 3º Ano 4º Bimestre CompletoDocumento14 páginasPlano de Ensino 3º Ano 4º Bimestre CompletoMara LimaAinda não há avaliações
- Ii Congresso Ibero-Americano de EducaçãoDocumento663 páginasIi Congresso Ibero-Americano de EducaçãoJoelAinda não há avaliações
- Ad1 Estagio 1 CederjDocumento2 páginasAd1 Estagio 1 CederjRenan CostaAinda não há avaliações
- Portfólio - Utilização Das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) No Ensino de BiologiaDocumento3 páginasPortfólio - Utilização Das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) No Ensino de BiologiaGuilhermeAinda não há avaliações
- Américo Pereira - Da Posteridade Do Pensamento de Louis LavelleDocumento50 páginasAmérico Pereira - Da Posteridade Do Pensamento de Louis LavelleJosé Shigueyoshi Kaku100% (1)
- 179206Documento84 páginas179206João RamosAinda não há avaliações
- Avaliação Por Ciclo de Aprendizagem No Ensino Básico em Moçambique Estudo de Caso Da Escola Primária de Namacula, Na Cidade de Lichinga.Documento7 páginasAvaliação Por Ciclo de Aprendizagem No Ensino Básico em Moçambique Estudo de Caso Da Escola Primária de Namacula, Na Cidade de Lichinga.arcade arjunAinda não há avaliações
- Aparição ResumoDocumento4 páginasAparição Resumohugomsilvam1367% (6)
- Caderno de Testes Matematica 2017 01 Folha Dirigida PDF 170626213337Documento40 páginasCaderno de Testes Matematica 2017 01 Folha Dirigida PDF 170626213337Kaline LucenaAinda não há avaliações










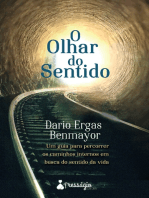



















![Carta ao [meu] pai](https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/637657293/149x198/fb3a2ed456/1694543733?v=1)