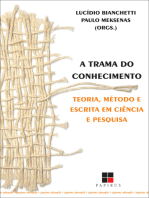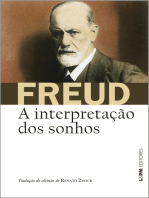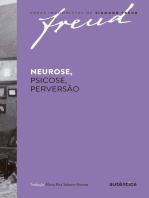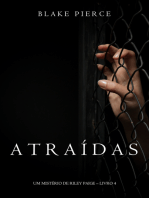Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Crise Da Consciência Histórica e A Europa
Enviado por
Luís Pereira0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
13 visualizações9 páginasTítulo original
A crise da consciência histórica e a Europa
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
13 visualizações9 páginasA Crise Da Consciência Histórica e A Europa
Enviado por
Luís PereiraDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 9
Lua Nova: Revista de Cultura e Política
Print version ISSN 0102-6445
Lua Nova no. 33 São Paulo Aug. 1994
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-64451994000200007
CIDADANIA
A crise da consciência histórica e a Europa *
The crisis of historical consciousness and Europe
Paul Ricoeur
Filósofo, da Universidade da Paris, tem extensa obra traduzida em português
RESUMO
A crise da consciência histórica pela qual passa a Europa é analisada por um
eminente filósofo europeu no intuito de propor uma terapia da memória coletiva e
individual e promover a integração entre as migrações culturais.
ABSTRACT
The crisis of historical conscience in Europe is examined by a leading european
philosopher in order do propose a therapy of the collective and individual memory
and to promote the integration of cultural migrations.
Antes de me dirigir de maneira específica à Europa e à consciência histórica da
Europa, gostaria de fixar o quadro conceituai de minhas reflexões. Para tanto,
adoto de bom grado o vocabulário proposto por R. Koselleck em suas obras — Kritik
und Krise e sobretudo die Vergangene Zukunfi — consagradas a uma semântica
filosófica aplicada precisamente à noção de tempo histórico e de consciência
histórica. Manterei das análises do professor da Universidade de Bielefeld e de
Chicago os três traços seguintes que ultrapassam o caso da Europa e, ao mesmo
tempo, permitem circunscrever a especificidade da consciência histórica européia.
O primeiro traço concerne à polaridade de base entre o que Koselleck chama de
"espaço de experiência" e "horizonte de expectativa". Por "espaço de experiência" é
necessário entender o conjunto das heranças do passado, do qual os traços
sedimentados constituem, de certo modo, o solo sobre o qual se apóia o que o
título de nosso simpósio designa por Kulturwandel (mudança civilizatória). Mas o
espaço de experiência só existe opostamente a um horizonte de expectativa, sobre
o qual se projetam as previsões e as antecipações, os temores e as esperanças, até
mesmo as utopias, que dão conteúdo ao futuro histórico. Acrescentemos de
imediato que o horizonte do futuro é irredutível ao espaço de experiência, e que a
dialética entre esses dois pólos é o que assegura a dinâmica da consciência
histórica.
Segundo traço: a troca entre o espaço de experiência e horizonte de
expectativa se produz no presente vivo de uma cultura. Esse presente não é
redutível a um ponto na linha do tempo, um simples corte entre um antes e um
depois. Definiríamos, assim, apenas um instante qualquer, não o presente vivo.
Este é o mediador da dialética entre o espaço de experiência e o horizonte de
expectativa. Ele é rico de passado recente e de futuro iminente. Ademais, não se
reduz à simples presença do meio, isto é, à percepção do mundo tal qual ele se
oferece ao nosso olhar. Ele comporta a forma ativa e prática daquilo que podemos
chamar iniciativa, se entendemos com isso a capacidade de intervir no curso das
coisas, o poder de produzir novos acontecimentos.
Enfim, gostaria de destacar um terceiro traço da consciência histórica, a saber,
o sentimento de uma orientação na passagem do tempo. Essa orientação toma seu
impulso primeiro no horizonte de expectativa, depois afeta correlativamente o
espaço de experiência, seja para empobrecê-lo, seja para enriquecê-lo; confere
enfim à experiência do presente o grau de sentido ou de não-sentido que dá
finalmente à consciência histórica seu valor qualitativo, irredutível à dimensão
simplesmente cronológica do tempo. Sentido, aqui, significa a uma só vez direção e
significação, como é o caso da expressão francesa sens.
É armado desses instrumentos conceituais que gostaria agora de caracterizar a
consciência histórica da Europa.
Acentuarei primeiramente a crise que afeta hoje esta consciência histórica e em
seguida arriscarei algumas observações consagradas à inversão da dissolução em
reconstrução.
Começando pelo espaço de experiência próprio à Europa, gostaria de destacar
os dois maiores caracteres que condicionam todas as formas possíveis de mudança
civilizatória que certamente não deixarão de ser examinados ao longo de nosso
simpósio. O que é necessário destacar de início é a complexidade da herança
deixada pelo passado. Esta é, de fato, o resultado do entrecruzamento de fortes
tradições extraordinariamente heterogêneas: aquelas de Israel antigo e do
cristianismo primitivo, entrelaçadas muito cedo às culturas grega e latina, a mistura
greco-judaica prosseguindo de crise em crise através da Idade Média, do
Renascimento, da Reforma, do Iluminismo, do romantismo filosófico, literário e
político, etc... Este primeiro traço relaciona-se imediatamente ao tema de nosso
simpósio: migração e mudança cultural, na medida em que essas misturas foram o
fruto de reais migrações no espaço e corresponderam, a cada passo, a mudanças
culturais consideráveis.
Logo de início ressaltemos que o tecido resultante do entrecruzamento de filhos
tão diversos é extraordinariamente frágil. Esta fragilidade é particularmente devida
a outro caráter maior da consciência histórica européia, a saber, a intersecção entre
as convicções ligadas à tradições fortemente rivais e o espírito da crítica. A esse
respeito, a cultura européia tomada em seu conjunto é provavelmente a única que
tenha assumido a tarefa considerável de conjugar de maneira tão constante
convicções e crítica. Assim, o cristianismo, diferentemente do Islã, sempre se
compôs com seu adversário racionalista e interiorizou a crítica em autocrítica. Em
certo sentido, a crise não é um acidente contingente, menos ainda uma doença
moderna: ela é constitutiva da consciência européia. A heterogeneidade das
tradições fundadoras e a discordância entre convicções e crítica me levaram a
pronunciar a palavra fragilidade. E nessa fragilidade do espaço de experiência da
Europa que eu gostaria de insistir antes de me voltar para aquela da consciência do
futuro. Com efeito, passa-se facilmente da fragilidade à patologia. Esta última se
apresenta como uma crise da memória e da tradição. Crise da memória: tocamos
aqui um paradoxo desconcertante; conforme as regiões, as nações ou os povos
sofrem ora de um excesso de memória, ora de uma falta de memória. No primeiro
caso, que a ex-Iugoslávia ilustra tragicamente, cada comunidade quer se lembrar
apenas das épocas de grandeza e de glória, e somente em contraste às
humilhações sofridas. No segundo caso, que é o da Europa ocidental pós-hitleriana
e provavelmente o da Europa oriental pós-staliniana, a recusa de transparência
equivale a uma vontade de esquecimento e conduz a uma fuga diante da
culpabilidade. O que é comum a estes dois fenômenos, aparentemente opostos, é
uma relação pervertida com a tradição. Destacada da dialética evocada acima entre
o espaço de experiência e o horizonte de expectativa, a tradição se reduz a um
depósito sedimentado e petrificado, que alguns exaltam e que outros se esforçam
por cobrir e enterrar.
Mas a crise da memória e da tradição jamais surge sem uma crise da projeção
em direção ao futuro; o horizonte de expectativa se esvazia de todo conteúdo, de
todo objetivo digno de ser perseguido; vemos, assim, se difundir por todos os lados
a desconfiança em relação a toda previsão a médio prazo e ainda mais
acentuadamente em relação a toda profecia a longo prazo; mas os fatos opostos se
deixam igualmente observar: na falta de um projeto acessível, nos refugiamos nas
utopias de sonho que arruinam toda vontade razoável e tenaz de reformas.
Essa dupla patologia, que atinge o futuro tanto quanto o passado, se reflete por
sua vez em um empobrecimento do presente, entendido, como sugerido acima, em
termos de capacidade de iniciativa, de intervenção no curso das coisas. É assim que
assistimos aqui e acolá a uma privatização dos desejos e dos projetos, a um culto
do consumismo míope; na origem deste movimento de retração discernimos sem
dificuldade um desengajamento em relação a toda responsabilidade cívica. Os
indivíduos se esquecem que a nação existe apenas em virtude de um querer viver
em conjunto, sustentado e ratificado por um contrato tácito entre os cidadãos de
um mesmo povo ou de uma mesma nação. O individualismo, que com freqüência
deploramos sem analisar, não é outra coisa senão o efeito do movimento de
abandono desse querer viver em conjunto, daquele contrato cívico que ratifica essa
vontade. Também aqui, a patologia do laço social somente torna visível sua
extrema fragilidade.
Concluirei esta reflexão sobre a crise da consciência histórica na Europa,
sublinhando o fenômeno fortemente acentuado por Koselleck, a saber, a perda de
todo sentido da história, de toda orientação no tempo histórico. Se alguns falam de
época pós-moderna, a expressão se justifica na medida em que podemos identificar
a modernidade com a idéia racional de progresso. No fundo, sofremos tanto de um
esvaecimento da idéia racionalista de progresso transmitida pelo Iluminismo quanto
da secularização que afeta a Europa cristã, até mesmo um distanciamento profundo
das fontes grega e judaica de nossa cultura pública e privada. Assim é que o
desabamento da idéia de progresso conduz, por oposição, a uma majoração do
sentimento do aleatório, ou o de um destino esmagador, quando não leva a ceder à
sedução exercida sobre nós pelas idéias de caos, de diferença, de errância. Este
último termo deveria alertar-nos aqui e agora, nós que falamos de migrações. Pois
as migrações que constituíram a Europa, às quais fiz uma primeira alusão, foram o
contrário de uma errância; ou melhor, são espécies de errância que foram
interceptadas e interrompidas por lentas e penosas experiências de aculturação dos
bárbaros dos quais descendemos todos em certo grau, em espaços culturais
estáveis do Império romano, da Europa cristã, do Renascimento e da Reforma, e
depois da Europa das Luzes. Estes são os componentes do que chamamos mais
acima de espaço de experiência. Antes de serem espaços de sedimentação, foram
espaços de integração, de estabilização. Por isso se coloca a questão de saber se —
para retomar uma fórmula de Habermas — o projeto do Iluminismo está hoje
esgotado, ou, retornando mais longe no passado, se a herança greco-romana e a
herança judaica-cristã são ainda suscetíveis de serem reativadas.
DA DISSOLUÇÃO À RECONSTRUÇÃO
Havíamos evocado acima o paradoxo que constitui a alternância entre o
excesso e a falta de memória. Para curar, e não somente compreender este
paradoxo, é importante se interrogar sobre a maneira pela qual se forma a
memória coletiva, tanto quanto a memória individual. A memória coletiva repousa
em grande parte sobre os relatos aceitos pela maioria relativos aos acontecimentos
fundadores, sobre os momentos de glória e sobre os sofrimentos dos povos. A
estrutura de tal memória é portanto essencialmente narrativa. É a esta estrutura
narrativa de nossas convicções que precisamos aplicar o espírito da crítica citado
entre as grandes conquistas da cultura européia. Eis como isso pode ser feito. É
preciso inicialmente aceitar a idéia de que sempre é possível relatar diferentemente
os mesmos acontecimentos. Este grande princípio hermenêutico nos foi ensinado
primeiramente pelos historiadores profissionais. Para estes, os testemunhos dos
contemporâneos a um acontecimento marcante, as recordações dos sobreviventes
de grandes provações, as tradições que atravessaram várias gerações devem
passar pelo crivo dos documentos escritos e pela prova de uma crítica textual. Essa
confrontação entre memória e história é neste sentido o teste critico maior ao qual
a memória coletiva deve ser submetida. A conseqüência mais importante desta
verificação é um desdobramento do que comumente nós chamamos memória. De
um lado temos o que Bergson chamava de memória-hábito ou, em outros termos,
o que Freud chamava de memória-repetição, à qual ele atribuía a resistência à
tomada de consciência do passado infantil e portanto à cura. E esta memória que
encerra os povos no ressentimento e no ódio. A outra memória é aquela que
Bergson de signava por memória-recordação e Freud por rememoração. É uma
memória ativa, discriminadora, interrogativa, meditante. A memória-repetição
resiste à crítica; a memória-recordação é fundamentalmente uma memória-crítica.
Compreendemos agora que certos povos sofram de excesso de memória e
outros de falta de memória. Pois o que uns cultivam com um prazer mórbido e o
que outros recusam com má consciência é a mesma memória-repetição. Uns
gostam de se perder nela, outros têm medo de por ela serem engolidos. Mas uns e
outros sofrem do mesmo déficit de memória crítica; em particular eles não aceitam
a prova da história documental com sua fase necessária de distanciamento e
objetivação. Mas esta é apenas uma primeira condição para a cura da memória.
Nos dissemos que a memória constitui-se de uma estrutura narrativa. Ora, os
relatos que uma pessoa ou que uma comunidade constróem a propósito delas
mesmas são entremesclados com os relatos que outros transmitem entre si, não
somente a respeito deles mesmos mas a respeito de nós mesmos. Nós somos os
personagens dos relatos que os outros contam. O relato de glória está entre os
relatos de humilhação de nossos vizinhos, de nossos adversários passados ou
presentes, e isso reciprocamente. Ora, esta mescla dos relatos reflete um
fenômeno mais profundo, a saber, a mescla das próprias memórias. É sobre este
fenômeno que Wilhelm Schapp insistiu em seu belo livro In Geschichten
Verstrickt ("Enredado em histórias"). Esta mescla pode efetivamente ser tratada
como um fenômeno simplesmente passivo, quiçá como simples obra do destino,
como sugere primeiramente a expressão mescla. Mas do mesmo modo em que é
preciso passar da memória-repetição à memória-recordação, à memória-crítica, é
preciso ousar passar da simples mescla a uma verdadeira troca ativa das
memórias. É a maneira mais eficaz de relatar de outra forma: passar pelo relato
dos outros para compreender a nós mesmos, ler nossa história com olhos de
historiadores pertencentes a outros povos que não o nosso, talvez até mesmo a
outras grandes culturas que não tenham participado do entrelaçamento evocado
antes entre as culturas fundadoras da Europa contemporânea, esta é a imensa
tarefa à qual deve se propor uma terapia da memória européia.
A troca das memórias da qual acabamos de falar consiste em uma verdadeira
migração, e uma migração cruzada: nós aprendemos a nos transportar nas
memórias dos outros e a habitar seus relatos; nós acolhemos como migrantes as
recordações que nutrem a consciência histórica de nossos hóspedes. É a partir
desta experiência espiritual de troca voluntária de memórias, no interior do espaço
europeu, que pode ser legitimamente colocada a questão de saber se esta troca
pode ser estendida além do espaço cultural nascido das grandes migrações do
passado, se quisermos chamar de migrações as tranferências que estão na origem
das grandes mudanças culturais do passado. A questão se coloca de maneira
bastante aguda em relação às culturas islâmicas, que, com exceção das frutíferas
trocas na Idade Média, não participaram das grandes aventuras espirituais que
fizeram a Europa moderna, a saber, mais uma vez, o Renascimento, a Reforma e o
Iluminismo. Sem emitir precipitadamente uma resposta a esta questão
embaraçante, é necessário talvez dizer, com Husserl e Jaspers, que a Europa não é
definida por fronteiras, mas por centros de irradiação dispostos em constelações de
limites incertos, e que é esta estrutura em rede que engendrou uma certa idéia
móvel da Europa. Perrmitam-me abrir aqui um parêntese a propósito da relação
entre memória e esquecimento. Da mesma maneira que há duas memórias, a
memória-repetição e a memória interrogativa e crítica, há dois tipos de
esquecimento. Aquele do qual falamos, do déficit de memória ativa, e que é um
esquecimento de fuga; mas há também um esquecimento voluntário, aparentado
ao perdão, e que pertence à terapêutica da vingança. Este esquecimento, cultivado
com precaução, põe fim à vingança sem abolir a responsabilidade moral, solidária
de uma culpabilidade sem fim. É bom para a saúde das sociedades que se
prescrevam os crimes que não podem ser assimilados a genocídios e crimes contra
a humanidade. Não é um paradoxo afirmar que este esquecimento é um corolário
da memória crítica que opusemos à memória-repetição. Fecho aqui este parêntese.
Mas antes de dizer uma palavra sobre a terapia aplicada ao sentido do futuro,
gostaria ainda de insistir no fenômeno que pusemos ao lado daquele da memória, a
saber, a tradição. Em certo sentido tradição e memória são fenômenos solidários;
mas a tradição parece ter mais afinidades com a memória-repetição do que com a
memória-recordação e a memória-crítica. Isso é verdade até certo ponto: a
tradição obtém seu caráter de transmissão de seu caráter de sedimento, o qual
remete ao fenômeno dos rastros. Mas como um rastro não é simplesmente deixado
como uma marca ou uma pegada de um ser vivo, como ele deve ser ativa e
criticamente percorrido e seguido, uma tradição deve ser tratada como uma
realidade viva. E isso da maneira seguinte. Antes de mais nada uma tradição só
permanece viva se ela é incessantemente reinterpretada. Essa observação se aplica
tanto às tradições cristãs como às heranças greco-romanas, medievais, e às
tradições legadas pelo Iluminismo. A própria crítica é uma tradição entre outras,
incorporada às convicções herdadas e que continuamente requer uma cultura
renovada. Além disso, à luz da crítica histórica, uma tradição se revela portadora de
promessas não cumpridas, talvez bloqueadas e recalcadas por novos atores da
história. Podemos dizer, sem paradoxo excessivo, que os homens de épocas
passadas eram portadores de expectativas, de sonho, de utopias que não foram
satisfeitas, e que é interessante liberá-las e incorporá-las às nossas próprias
expectativas, para lhes dar um conteúdo, e, se ouso dizer, um corpo. Em suma, é
preciso elevar-nos a uma concepção aberta da tradição. Mais exatamente, é preciso
reabrir o passado, e liberar sua carga de futuro. Não será esta uma forma de
migração no irrealizado do passado?
Essa última sugestão nos permite dizer uma palavra sobre a terapia do futuro.
Liberar as promessas não cumpridas do passado já é uma parte da terapia, na
medida em que o mal de que sofre a nossa capacidade de projeção no futuro é o de
uma falta de conteúdo. Nesse sentido, inovação e tradição são as duas faces do
mesmo fenômeno constitutivo da consciência histórica. Mas concordo que não basta
beber no passado e tratar as tradições como fontes vivas, ao invés de simples
repositórios, para nutrir nosso impulso em direção ao futuro. Aqui gostaria de
insistir em um aspecto do problema que toca a questão da migração enquanto
aspecto da mudança cultural. A invenção maior para a qual somos hoje convidados
concerne à integração de atitudes a respeito do futuro, que são continuamente
ameaçadas de dissociação: quer se trate de prospectiva técnica, de antecipação
econômica, de resolução de problemas morais inéditos postos pelas ameaças ao
ecossistema, pelas possibilidades de intervenção no patrimônio genético humano
ou pela abundância de signos em circulação que excedem nossa capacidade de
integração. Afirmo que o problema da integração toca no fenômeno da migração,
na medida em que as migrações consumadas no passado também consistiram em
uma integração progressiva de valores heterogêneos em um espaço cultural que se
enriqueceu com invasões que, em um primeiro momento, ameaçaram sua coesão.
Gostaria de acrescentar algo a esses dois componentes da terapia do passado da
qual falamos, a saber, a integração de promessas liberadas dos grilhões do passado
morto à nossa capacidade de projetar o futuro, e a integração em um mesmo
horizonte de expectativa de modalidades heterogêneas de antecipações. Este
terceiro componente é o mais difícil de ser apreciado em sue valor preciso; quero
falar da dimensão utópica. Podemos desconfiar das utopias devido ao seu rigor
doutrinal, seu desprezo em relação às primeiras medidas concretas a tomar na
direção de sua realização. Mas os povos não podem viver sem utopias assim como
os indivíduos sem sonhos. A propósito, a Europa sem fronteiras fixas é uma utopia,
pois é antes de mais nada uma Idéia, como queriam os já citados Husserl e
Jaspers. A própria expressão horizonte de expectativa evoca de certo modo a
utopia, na medida em que o horizonte jamais é alcançado. Mas o importante é que
nossas utopias sejam utopias responsáveis, que levem em conta do mesmo modo o
factível e o desejável, que saibam compor não somente com as resistências
lamentáveis do real mas também com as vias praticáveis abertas pela experiência
histórica. E o momento de relembrar, com Max Weber, que a ética da convicção
não deve ocultar a ética da responsabilidade. Integrar uma ética à outra permanece
sendo uma grande tarefa, talvez a maior utopia.
Permitam-me terminar, como prometido, com uma questão que toca o último
dos componentes da consciência histórica evocada na introdução a respeito de
Koselleck. A questão é esta: podemos viver sem um sentido da história? A questão
tornou-se perturbadora desde a perda na crença do progresso. Reencontramos a
questão colocada por Habermas de saber se o programa do Iluminismo está
esgotado. Eu esboçaria rapidamente duas respostas, que apenas tangenciam a
questão. Diria primeiramente que nós não temos necessidade de saber para onde
vai a história para compreender nosso dever a seu respeito. Tudo o que dissemos
da terapia da consciência histórica diz respeito à razão prática e não pressupõe
qualquer saber em relação à orientação final da história. Isso é característico da
idéia de uma Europa como espaço de integração das migrações passadas,
presentes e futuras, como da idéia de paz perpétua de Kant. A certeza do dever
não exige a garantia de um sentido que se imporia independentemente do que quer
que fizéssemos. O dever jamais é um saber. Segunda resposta: mesmo se
levarmos a sério, como o próprio Kant, a questão: o que nos é permitido esperar?,
a esperança que suscitam as promessas não cumpridas do passado, juntamente
com as projeções utópicas de nossa imaginação, serão sempre diferentes de
qualquer garantia que pretendamos ter de dominar o curso da história. Enquanto
permanecer como uma aposta desprovida de garantia, a esperança será, a sua
maneira, uma docta ignorantia.
* "La crise de la conscience historique et l'TSurope". Conferência realizada no
Simpósio Internacional Ética e o Futuro da Democracia, organizado pela Sociedade
Portuguesa de Filosofia, em 25-28 de maio de 1994, Lisboa. [ Links ] Tradução de
Carlos Thadeu C. de Oliveira.
All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative
Commons Attribution License
CEDEC
R. Airosa Galvão, 64 Água Branca
05002-070 São Paulo SP Brasil
Tel.: +55 11 3871-2966
Fax: +55 11 3871-2123
Você também pode gostar
- Introdução e Fim Da Metafísica No PositivismoDocumento42 páginasIntrodução e Fim Da Metafísica No PositivismoSirrop NDAinda não há avaliações
- A Visao de Deus - Nicolau de CusaDocumento270 páginasA Visao de Deus - Nicolau de CusaalexAinda não há avaliações
- Utopias e Distopias No Colapso Da ModernizaçãoDocumento17 páginasUtopias e Distopias No Colapso Da ModernizaçãoFernanda FariaAinda não há avaliações
- Futuro Ausente Chasin MarxDocumento43 páginasFuturo Ausente Chasin MarxpedroAinda não há avaliações
- A Querela Dos Antigos e Dos Modernos Cultura 1124 Vol 29Documento17 páginasA Querela Dos Antigos e Dos Modernos Cultura 1124 Vol 29grão-de-bicoAinda não há avaliações
- Paul Ricoeur o Perdao Pode CurarDocumento10 páginasPaul Ricoeur o Perdao Pode CurarSamuel DaveisAinda não há avaliações
- Blanc Mafalda Crise Do Sentido e Tarefa Do PensarDocumento28 páginasBlanc Mafalda Crise Do Sentido e Tarefa Do PensarGilberto Oliveira Jr.100% (2)
- Caminhos Do Fim Da HistoriaDocumento106 páginasCaminhos Do Fim Da Historiaalexandre_saAinda não há avaliações
- Hans Ulrich Gumbrecht - Modernização Dos Sentidos-Editora 34 (1998) PDFDocumento14 páginasHans Ulrich Gumbrecht - Modernização Dos Sentidos-Editora 34 (1998) PDFLuciene CruzAinda não há avaliações
- CUNHA, Eneida Leal. A EMERGENCIA DA CULTURA PDFDocumento11 páginasCUNHA, Eneida Leal. A EMERGENCIA DA CULTURA PDFsophiamidianAinda não há avaliações
- RESUMO GERAL KOSELLECK, Reinhart. Futuro Passado Contribuição À Semântica Dos Tempos Históricos.Documento2 páginasRESUMO GERAL KOSELLECK, Reinhart. Futuro Passado Contribuição À Semântica Dos Tempos Históricos.Carla GiacominiAinda não há avaliações
- ARAUJO, Valdei Lopes de (A Aula Como Desafio)Documento12 páginasARAUJO, Valdei Lopes de (A Aula Como Desafio)Vitor BatalhoneAinda não há avaliações
- Reinhart Koselleck - Futuro Passado - AnáliseDocumento8 páginasReinhart Koselleck - Futuro Passado - AnáliseivivacquaAinda não há avaliações
- Resumo A Crise Do Mundo ModernoDocumento9 páginasResumo A Crise Do Mundo ModernojuniorkarateAinda não há avaliações
- O Perdão Pode CurarDocumento5 páginasO Perdão Pode CurartaniacmacedoAinda não há avaliações
- Novos Olhares para Os Antigos PDFDocumento464 páginasNovos Olhares para Os Antigos PDFsilasrm100% (1)
- Luis Washington VitaDocumento38 páginasLuis Washington VitaeudumalAinda não há avaliações
- Esperança EscatológicaDocumento8 páginasEsperança EscatológicaNivaldo VargasAinda não há avaliações
- Apectos Da Heraça Clássica Na Cultura Portuguesa PDFDocumento98 páginasApectos Da Heraça Clássica Na Cultura Portuguesa PDFAnnie FigueiredoAinda não há avaliações
- Elementos de Filosofia MedievalDocumento155 páginasElementos de Filosofia MedievalRebecaMoraes100% (1)
- Alternativas Contemporaneas para PoliticDocumento10 páginasAlternativas Contemporaneas para PoliticbrunacordeiroAinda não há avaliações
- Jorge Santos PDFDocumento15 páginasJorge Santos PDFhyu7Ainda não há avaliações
- HARTOG, F. Experiências Do Tempo - Da História Universal À História Global PDFDocumento22 páginasHARTOG, F. Experiências Do Tempo - Da História Universal À História Global PDFEdna BenedictoAinda não há avaliações
- Globalização, Identidade e DiferençaDocumento18 páginasGlobalização, Identidade e DiferençaMarcos FreitasAinda não há avaliações
- NORA, Pierre - Entre Memória e História PDFDocumento22 páginasNORA, Pierre - Entre Memória e História PDFjamersonfarias100% (1)
- Resumo A Crise Do Mundo ModernoDocumento9 páginasResumo A Crise Do Mundo Modernovictor ufpelAinda não há avaliações
- ANDRÉ, João Maria. A Crise Das Humanidades e As Novas HumanidadesDocumento22 páginasANDRÉ, João Maria. A Crise Das Humanidades e As Novas HumanidadesDaniel CisneirosAinda não há avaliações
- Habermas Modernidade Um Discurso InacabadoDocumento11 páginasHabermas Modernidade Um Discurso Inacabadotaniagcortez4234100% (2)
- A Temporalidade Na Cultura Contemporânea - A TERRA É REDONDADocumento20 páginasA Temporalidade Na Cultura Contemporânea - A TERRA É REDONDALuís AndréAinda não há avaliações
- Cascatas de Modernidade PDFDocumento12 páginasCascatas de Modernidade PDFlbrunodf100% (2)
- As Vanguardas Portuguesas Do Século XXDocumento12 páginasAs Vanguardas Portuguesas Do Século XXMisty ColemanAinda não há avaliações
- Apontamentos HEP SaraMartinhiDocumento113 páginasApontamentos HEP SaraMartinhiInês Moreira RatoAinda não há avaliações
- LEAL-BORGES-LAGE - Experiências de Nostalgia PDFDocumento19 páginasLEAL-BORGES-LAGE - Experiências de Nostalgia PDFAna Paula DessupoioAinda não há avaliações
- As Flores Do MalDocumento12 páginasAs Flores Do MalReinaldo100% (2)
- Miklos PDFDocumento10 páginasMiklos PDFCiro FerreiraAinda não há avaliações
- Da Antiguidade Da Modernização Ou O Moderno Como Atributo: Gilvando Sá Leitão RiosDocumento9 páginasDa Antiguidade Da Modernização Ou O Moderno Como Atributo: Gilvando Sá Leitão RiosJtech RodriguesAinda não há avaliações
- A Nova Intransparência (Habermas)Documento12 páginasA Nova Intransparência (Habermas)André Carvalho de Moura100% (1)
- Para Abrir As Ciências Sociais - A Construção Histórica Das Ciências, Do Século XVIII Até 1945 - Capítulo 1Documento45 páginasPara Abrir As Ciências Sociais - A Construção Histórica Das Ciências, Do Século XVIII Até 1945 - Capítulo 1Lillian Lino0% (1)
- Medieval I (Aula 2)Documento3 páginasMedieval I (Aula 2)Maria Eduarda ReisAinda não há avaliações
- Revista de História Da Arte 12Documento336 páginasRevista de História Da Arte 12Luis RibeiroAinda não há avaliações
- CALAFATE P Comentário - Sobre Portugal Como ProblemaDocumento3 páginasCALAFATE P Comentário - Sobre Portugal Como ProblemaLuís BártoloAinda não há avaliações
- KoselleckDocumento17 páginasKoselleckGeovana SiqueiraAinda não há avaliações
- BUESCO, MLC - Aspectos Da Herança Clássica Na Cultura PortuguesaDocumento98 páginasBUESCO, MLC - Aspectos Da Herança Clássica Na Cultura Portuguesadvm1010Ainda não há avaliações
- A Querela Dos Antigos e Dos Modernos.Documento5 páginasA Querela Dos Antigos e Dos Modernos.Juan DiasAinda não há avaliações
- 3 - ABREU, Marcelo e RANGEL, MArcelo - Memória, Cultura Histórica e Ensino de História No Mundo Contemporâneo PDFDocumento18 páginas3 - ABREU, Marcelo e RANGEL, MArcelo - Memória, Cultura Histórica e Ensino de História No Mundo Contemporâneo PDFJade NoronhaAinda não há avaliações
- Karl Otto Apel Transformacao Linguistic A Da FilosofiaDocumento14 páginasKarl Otto Apel Transformacao Linguistic A Da FilosofiaJosé Maria Silva RosaAinda não há avaliações
- Santos, Boaventura - 69-84-t2Documento17 páginasSantos, Boaventura - 69-84-t2Larissa Costa MedeirosAinda não há avaliações
- Entre Memória e História - Pierre NoraDocumento15 páginasEntre Memória e História - Pierre NoracristianoppcAinda não há avaliações
- O Encontro de Velhas e Novas ReligiõesDocumento21 páginasO Encontro de Velhas e Novas ReligiõesRafael RochaAinda não há avaliações
- Texto 08 - o Social e o Político Na Transição PósDocumento18 páginasTexto 08 - o Social e o Político Na Transição Pósadriel.brAinda não há avaliações
- GROYS, Boris. Camaradas Do TempoDocumento9 páginasGROYS, Boris. Camaradas Do Tempobscecilia0% (1)
- 3.0 - Alfredo Bosi - O Tempo e Os TemposDocumento21 páginas3.0 - Alfredo Bosi - O Tempo e Os TemposLUIZ RICARDO RESENDE SILVAAinda não há avaliações
- The Contraction of The Present Hermann LübbeDocumento16 páginasThe Contraction of The Present Hermann LübbeAyvu Rev. PsicologiaAinda não há avaliações
- 20110826-Correia Comunicacao PoderDocumento364 páginas20110826-Correia Comunicacao PoderOsmar Alves BocciAinda não há avaliações
- Humanismo Pe - Vaz PDFDocumento12 páginasHumanismo Pe - Vaz PDFPaulo Henrique CavalcantiAinda não há avaliações
- Tese Marinella Morgana de Mendonça - Versão FinalDocumento331 páginasTese Marinella Morgana de Mendonça - Versão FinalJeann MarcusAinda não há avaliações
- CARPEAUX, Otto Maria - Poesia e Ideologia in Origens e Fins PDFDocumento8 páginasCARPEAUX, Otto Maria - Poesia e Ideologia in Origens e Fins PDFRomario SantosAinda não há avaliações
- Eiro Gomes Mafalda Duarte Joao Publicos Relacoes PublicasDocumento9 páginasEiro Gomes Mafalda Duarte Joao Publicos Relacoes PublicasEduardo SalgueiroAinda não há avaliações
- SDFGBNBV CXDocumento190 páginasSDFGBNBV CXRenata Camila DuarteAinda não há avaliações
- Etica Das Finanças-Robert SchilerDocumento28 páginasEtica Das Finanças-Robert SchilerJoe CarrotAinda não há avaliações
- Módulo 3 - O AvaliadorDocumento24 páginasMódulo 3 - O AvaliadorRafael SilvaAinda não há avaliações
- O Obstáculo Cognitivo Se Apresenta Como Experiência MetapsicológicaDocumento13 páginasO Obstáculo Cognitivo Se Apresenta Como Experiência MetapsicológicaKaique Piazon NascimentoAinda não há avaliações
- m1 Aula24 Buzzer PassivoDocumento15 páginasm1 Aula24 Buzzer Passivomindivya3Ainda não há avaliações
- Questões Norteadoras - DireçãoDocumento4 páginasQuestões Norteadoras - DireçãoEduh SanAinda não há avaliações
- Semperviri 2018 5° Versao PDFDocumento226 páginasSemperviri 2018 5° Versao PDFThiago Menezes AlvesAinda não há avaliações
- A Ética Do País Das FadasDocumento21 páginasA Ética Do País Das FadasfelipedenardiAinda não há avaliações
- O Projeto de Vida Na Educao ALOIR. VISTO MCdocDocumento12 páginasO Projeto de Vida Na Educao ALOIR. VISTO MCdocamdtzAinda não há avaliações
- Ética Do Obreiro ApostilaDocumento9 páginasÉtica Do Obreiro ApostilaAlessandro FirmoAinda não há avaliações
- A Revelação de Deus No SinaiDocumento14 páginasA Revelação de Deus No SinaicisjrAinda não há avaliações
- Portfolio Trilha Modos de Vida Cuidado e InvDocumento73 páginasPortfolio Trilha Modos de Vida Cuidado e InvSUZANA DE LOURDES SOUSA FREITAS100% (1)
- Todas As EmentasDocumento133 páginasTodas As EmentasAlmir Sarmento Silva NetoAinda não há avaliações
- CURRiCULO - DE.SERGIPE. - RegulamentadoDocumento666 páginasCURRiCULO - DE.SERGIPE. - RegulamentadoKardja VieiraAinda não há avaliações
- Tozoni-Reis 2004 Epistemologia Da Educao AmbientalDocumento43 páginasTozoni-Reis 2004 Epistemologia Da Educao AmbientalMaíra CostaAinda não há avaliações
- 5PSAN - Deontologia e Etica - AvaliacaoDocumento4 páginas5PSAN - Deontologia e Etica - Avaliacaogabriel perrotoAinda não há avaliações
- Etica e Cidadania PDF 1Documento306 páginasEtica e Cidadania PDF 1Pedro CouraAinda não há avaliações
- TOGNETTA Et Al - Bullying e Cyber-Quando Os Valores MoraisDocumento21 páginasTOGNETTA Et Al - Bullying e Cyber-Quando Os Valores MoraisCarolline Ribeiro LacerdaAinda não há avaliações
- 9a Por D7 AtividadesDocumento6 páginas9a Por D7 AtividadesEllienne SoaresAinda não há avaliações
- ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de - Controle Extralaboral Realizado Pelo Empregador Sobre A Vida Privada Do Empregado OKDocumento9 páginasALVARENGA, Rúbia Zanotelli de - Controle Extralaboral Realizado Pelo Empregador Sobre A Vida Privada Do Empregado OKromulo_simmerAinda não há avaliações
- QUESTIONARIODocumento6 páginasQUESTIONARIOLiziane Pistoia MunhozAinda não há avaliações
- A Alquimia Dos Metais PDFDocumento32 páginasA Alquimia Dos Metais PDFAlina PetrescuAinda não há avaliações
- Economia para LeigosDocumento15 páginasEconomia para LeigosSibele Leandra Penna SilvaAinda não há avaliações
- Código de Ética PORTUGALDocumento13 páginasCódigo de Ética PORTUGALTaysa CavalcanteAinda não há avaliações
- Tadução Do Livro 10 QuintilianoDocumento280 páginasTadução Do Livro 10 QuintilianoJutay RebouçasAinda não há avaliações
- Avaliação Ética Geral e ProfissionalDocumento3 páginasAvaliação Ética Geral e ProfissionalAdryelle BourbonAinda não há avaliações
- Guia para Eventos SustentáveisDocumento60 páginasGuia para Eventos SustentáveisJorge Filipe RochaAinda não há avaliações
- Neurociência aplicada a técnicas de estudos: Técnicas práticas para estudar de forma eficienteNo EverandNeurociência aplicada a técnicas de estudos: Técnicas práticas para estudar de forma eficienteNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (15)
- Perdas e ganhos: Exilados e expatriados na história do conhecimento na Europa e nas Américas, 1500-2000No EverandPerdas e ganhos: Exilados e expatriados na história do conhecimento na Europa e nas Américas, 1500-2000Ainda não há avaliações
- Faça o tempo trabalhar para você: e alcance resultados extraordináriosNo EverandFaça o tempo trabalhar para você: e alcance resultados extraordináriosNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- Gestão Do Tempo : 10 Passos Simples Para Aumentar A Produtividade: Gestão do TempoNo EverandGestão Do Tempo : 10 Passos Simples Para Aumentar A Produtividade: Gestão do TempoNota: 1 de 5 estrelas1/5 (1)
- Águas no deserto: Encontrando Refrigério para os sedentosNo EverandÁguas no deserto: Encontrando Refrigério para os sedentosNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- O infamiliar [Das Unheimliche] – Edição comemorativa bilíngue (1919-2019): Seguido de O Homem da Areia de E. T. A. HoffmannNo EverandO infamiliar [Das Unheimliche] – Edição comemorativa bilíngue (1919-2019): Seguido de O Homem da Areia de E. T. A. HoffmannNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- A Trama do conhecimento: Teoria, método e escrita em ciência e pesquisaNo EverandA Trama do conhecimento: Teoria, método e escrita em ciência e pesquisaAinda não há avaliações
- Representações Sociais das Práticas Artísticas na Formação e Atuação de Professores do CampoNo EverandRepresentações Sociais das Práticas Artísticas na Formação e Atuação de Professores do CampoAinda não há avaliações
- Teleios - O homem completo: O projeto de Deus para a vida masculinaNo EverandTeleios - O homem completo: O projeto de Deus para a vida masculinaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- Questione!: Por que saber perguntar é mais efetivo do que ter todas as respostas?No EverandQuestione!: Por que saber perguntar é mais efetivo do que ter todas as respostas?Ainda não há avaliações
- Atraídas (Um Mistério de Riley Paige – Livro#4)No EverandAtraídas (Um Mistério de Riley Paige – Livro#4)Nota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (3)






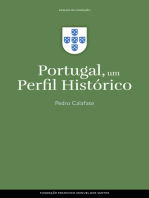









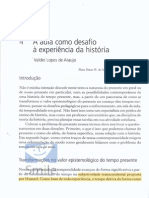











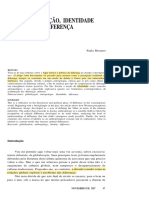
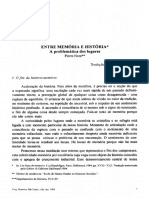







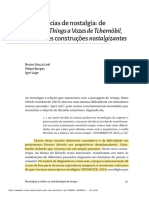




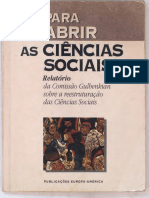





































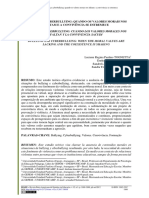











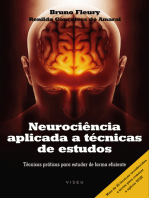


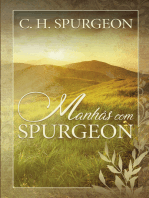





![O infamiliar [Das Unheimliche] – Edição comemorativa bilíngue (1919-2019): Seguido de O Homem da Areia de E. T. A. Hoffmann](https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/405797641/149x198/230712a5e4/1709663408?v=1)