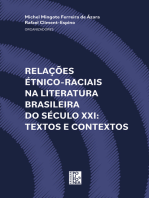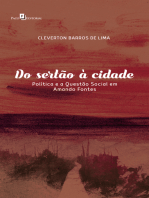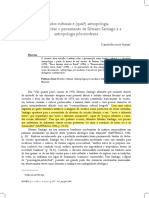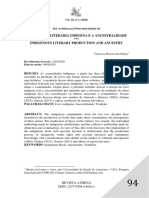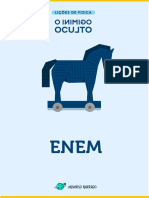Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
O Karaíba - Daniel Munduruku (RESENHA 1)
O Karaíba - Daniel Munduruku (RESENHA 1)
Enviado por
Murray Von HoppeDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
O Karaíba - Daniel Munduruku (RESENHA 1)
O Karaíba - Daniel Munduruku (RESENHA 1)
Enviado por
Murray Von HoppeDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Estratégias narrativas em O karaíba, de Daniel
Munduruku:
recusa da perspectiva histórica genocida
Narrative strategies in O karaíba, by daniel
Munduruku:
refusal of the genocide historical perspective
Suene Honorato
Universidade Federal do Ceará – UFC
241
RESUMO: O romance O karaíba, de Daniel Munduruku, é composto a partir de estratégias
consagradas na tradição narrativa ocidental. No entanto, a adequação a tais estratégias
impõe certos limites, essenciais para a compreensão dos sentidos do texto. De um lado, a
adequação permite que o romance indígena – em que se supõe uma dinâmica entre
sociedades dissimilares (a ocidental, centrada na escrita; a indígena, centrada na oralidade) –
suspenda a radicalidade da diferença; de outro, a recusa a certas convenções narrativas
constrói novas formas de narrar, que poupam os personagens de um destino trágico e opõem-
se à perspectiva histórica genocida.
PALAVRAS-CHAVE: Literatura indígena. Daniel Munduruku. Genocídio.
ABSTRACT: The novel O karaíba, by Daniel Munduruku, is made of consecrated strategies in
Western narrative tradition. However, the adequacy to such strategies imposes some limits,
and these limits are important to discuss the novel. On the one hand, the adequacy allows the
indigenous novel – in which exists a dynamic between dissimilar societies (the Western,
centered on writing; the indigenous, centered on orality) – to suspend the radicality of the
difference between cultures. On the other hand, the refusal to certain narrative conventions
builds new ways of narrating, which save the characters from suffering a tragic destiny and
let them to oppose the genocide historical perspective.
KEYWORDS: Indigenous Literature. Daniel Munduruku. Genocide.
Doutora em Teoria e História Literária pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).
Contexto (ISSN 2358-9566) Vitória, n. 37, 2020/1
Se esses povos fizerem apenas a “tradução”
da sociedade ocidental para seu repertório
mítico, correrão o risco de ceder ao canto
da sereia e abandonar a vida que tão
gloriosamente lutaram para manter. É
preciso interpretar. É preciso conhecer. É
preciso se tornar conhecido. É preciso
escrever — mesmo com tintas do sangue —
a história que foi tantas vezes negada.
(Daniel Munduruku, “Escrita indígena: registro, oralidade e literatura”, p. 82)
1. Da “literatura” para a “literatura indígena”: estética e política
No livro Uma poética do genocídio, Antônio Paulo Graça (1998) analisa
romances brasileiros em que o índio1 figura como personagem principal —
conjunto de obras que ele denomina “romances indianistas”. O crítico nota
que na tradição ocidental os heróis “têm o destino previamente traçado, de
acordo com o gênero em que estão representados”; porém, quando se trata
de um herói indígena, fica-lhe reservado “um destino adverso, 242
independentemente do gênero em que se apresenta” (GRAÇA, 1998, p. 29). A
contradição entre a tipologia dos personagens e o destino sempre trágico
reservado ao indígena revela, para o autor, nosso “inconsciente genocida”:
“Não se exterminam, por séculos, nações, povos e culturas sem que, de
alguma maneira, haja uma instância do imaginário que tolere o crime. Se a
sociedade brasileira incorre no genocídio, desde sua fundação, e ainda hoje o
reitera, é porque existe no imaginário um foro legitimador” (GRAÇA, 1998, p.
25-26). Observando a maneira como a forma literária ocidental se comporta
quando busca integrar o universo indígena, Graça assinala a questão política
que configura o apagamento deste na sociedade contemporânea: o genocídio
foi/é uma prática que subjaz aos textos literários, processo que contribui para
legitimar sua permanência e atualização no presente.
1
Utilizo os termos “índio” ou “indígena” por fazerem parte do debate que proponho; no
entanto, tenho em mente a insuficiência deles para expressar a diversidade cultural dos povos
que eles supostamente pretendem designar.
Contexto (ISSN 2358-9566) Vitória, n. 37, 2020/1
Os romances analisados por Graça são elaborados por autores não indígenas
de diferentes períodos históricos: José de Alencar, Bernardo Guimarães,
Joaquim Felício dos Santos, Mário de Andrade, Darcy Ribeiro e Antônio
Callado. Com exceção de Macunaíma, considerado uma “antipoética do
genocídio”, os demais romances elaborariam um outro “dissimiliar na cultura,
nos valores, hábitos e crenças” (GRAÇA, 1998, p. 16), que não chega a ser
integrado à forma do romance e fracassa enquanto renovação estética.
A literatura indígena — em que por ora acho devido incluir textos produzidos
por autores indígenas com ou sem a mediação de pesquisadores não indígenas
— é um campo de produção e discussão recente no Brasil; situa-se como
contraponto a um longo processo de silenciamento das vozes indígenas
(GRAÚNA, 2013) e se realiza por meio de diferentes textualidades, mesclando
gêneros literários em prosa, verso e imagem, temporalidades míticas e
históricas (THIÉL, 2012). Essa literatura supõe, segundo Graça Graúna (2013,
p. 172), um “diálogo interétnico”, pela apropriação de formas escritas
243
consagradas na tradição ocidental para dar visibilidade a uma tradição não
ocidental, cujo traço mais marcante seria a vinculação com a oralidade. É
preciso reconhecer, como insiste a pesquisadora e poeta, que a “[...] palavra
indígena sempre existiu; existirá sempre” (GRAÚNA, 2013, p. 178). A
oralidade, para os povos indígenas, não corresponde ao que se entende
negativamente como “ausência de escrita”; ela representa um complexo
sistema de partilha e vivência social que garante a manutenção de seus modos
de vida. A escrita passa a ser sentida como necessidade, técnica a ser
dominada, para enfrentar o silenciamento a que os povos indígenas têm sido
forçados há cinco séculos, estabelecendo com a oralidade, ao menos para
Munduruku (2018a, p. 83), um movimento de complementação que atualiza a
memória ancestral.
A dinâmica entre duas sociedades dissimilares (a ocidental, centrada na
escrita; a indígena, centrada na oralidade) suposta na literatura indígena
implica muitas questões. Em A queda do céu, por exemplo, fica evidente que,
Contexto (ISSN 2358-9566) Vitória, n. 37, 2020/1
para o xamã yanomami Davi Kopenawa, a escrita ocidental é insuficiente para
traduzir a cultura da oralidade na qual seus valores são formados. 2 O
endereçamento dessa literatura a leitores não indígenas, como o faz
explicitamente Kopenawa, assinala a indissociabilidade entre estética e
política: recusa do estereótipo consagrado em especial pela tradição
romântica indianista, para a qual o índio é parte do passado histórico; acesso
a formas de narrar indisponíveis na literatura não indígena, as quais remetem
à diversidade dos modos de ser “índio” no Brasil de ontem e de hoje.
O reconhecimento dessa diversidade se deve à atuação dos movimentos
indígenas nas últimas décadas, quando muitos de seus integrantes tomaram a
cena política e cultural brasileira. Daniel Munduruku (2018b), no artigo “A
literatura indígena não é subalterna”, considera a Constituição de 1988 como
marco para um novo paradigma, que teria superado a ideia de “índio” como
estágio de “transição” para a brasilidade. Tributárias da geração anterior, que
começou a articular uma “célula de resistência” na década de 1960, novas
244
lideranças “[…] organizaram efetivamente — com a ajuda da sociedade civil
brasileira — o movimento político que traria para o debate a presença
indígena em sua diversidade cultural, linguística e social” (MUNDURUKU,
2018b).
Integra esse processo a reivindicação dos indígenas por se
autorrepresentarem, como contraponto ao discurso hegemônico produzido por
não indígenas, desde a considerada “certidão de nascimento” do Brasil — a
Carta de Pero Vaz de Caminha — até os nossos dias. “Por meio da escritura,
eles [os ‘índios narradores de história’] discutem e desfazem as distorções
construídas por séculos de colonização” (THIÉL, 2012, p. 31). Recusando a
2
Para Daniel Munduruku (2018b), a mediação de autores não indígenas, especificamente no
caso de estrangeiros, coloca a voz indígena em posição de subalternidade, mostrando que “os
‘bons selvagens’ ainda não têm voz para além das fronteiras talvez porque o mundo queira
ouvir suas palavras, mas não as ler”. Considero, no entanto, que a noção de autoria evocada
por Munduruku, quando pergunta quem efetivamente teria escrito livros como A queda do céu
e Sauver le planete, não expressa as questões envolvidas nessa dinâmica entre sociedades, e
com as quais acredito que o próprio autor lide no romance que será analisado.
Contexto (ISSN 2358-9566) Vitória, n. 37, 2020/1
representação feita por não indígenas — em que os índios figuram entre
“antropófagos” e “bons selvagens” —, os indígenas se representam como
sujeitos dos processos históricos. Daí a narrativa do contato ser terreno
disputado por diversos/as autores/as, tais como Eliane Potiguara, Kaká Werá
Jecupé, Ailton Krenak, Davi Kopenawa, entre outros. O romance O karaíba:
uma história do pré-Brasil, de Daniel Munduruku, pode ser lido como parte do
esforço de escritores/as indígenas em construir novas perspectivas a respeito
desse momento histórico.
2. As estratégias narrativas em O karaíba: dois movimentos
O romance O karaíba, de Daniel Munduruku, é composto a partir de
estratégias consagradas na tradição narrativa ocidental. No entanto, a
adequação a tais estratégias impõe certos limites, essenciais para a
compreensão dos sentidos do texto. De um lado, a adequação permite que o
245
romance indígena suspenda a radicalidade da diferença entre sociedades
dissimilares; de outro, a recusa a certas convenções narrativas constrói novas
formas de narrar, que poupam os personagens de um destino trágico e opõem-
se à perspectiva histórica genocida.
O enredo pode ser assim resumido: no território dos povos Tupi, um karaíba
anuncia a chegada próxima de fantasmas devoradores de almas, que
alterariam profundamente a condição de vida das pessoas e da natureza. Para
resistir a essa ameaça, a profecia revelada pelo karaíba dizia que uma
guerreira Tupiniquim deveria se unir a um guerreiro Tupinambá — povos que
mantinham forte rivalidade —, para gerarem um maíra, encarregado de
construir a união contra os fantasmas. O enredo põe em relação três aldeias
cujos habitantes, depois de algumas peripécias e enganos, conseguem
concretizar a profecia. O maíra, que nasce da união entre Potyra e Periantã, é
batizado de Cunhambebe, personagem que protagoniza a última cena do
romance: da praia, ele avista “[…] um ponto branco que ‘surfava’ sobre as
Contexto (ISSN 2358-9566) Vitória, n. 37, 2020/1
águas salgadas” (MUNDURUKU, 2010, p. 93) e corre para a aldeia anunciando a
chegada dos estrangeiros.
A presença de Cunhambebe3 permite situar os eventos narrados no panorama
histórico das primeiras décadas de colonização, quando franceses disputavam
com portugueses a exploração da terra e dos habitantes. Como diz Munduruku
(2010, p. 95): “Esta é uma história de ficção. Não aconteceu de verdade, mas
poderia ter acontecido”. O romance procura recontar a história não do ponto
de vista dos registros escritos acerca dos povos indígenas; ele recupera, por
meio da ficção, uma história alimentada pela dinâmica cultural desses povos,
que reservavam à figura de um sábio a transmissão de palavras ancestrais,
para conduzir o povo à “terra sem mal”, referida desde as primeiras páginas
do romance: “Perna Solta por um instante lembrou que conhecia vários
lugares onde estavam inscritas mensagens que os avós diziam se tratarem de
sinais que os conduziriam para uma terra sem males” (MUNDURUKU, 2010, p.
7) — a “Yvy-maraey formosa” com que um curumim sonha nos últimos versos
246
do poema de Graça Graúna que aparece como epígrafe do romance. Segundo
Hélène Clastres (1978), a terra sem mal é, para os povos Tupi-guarani, um
lugar onde se vive eternamente jovem, onde tudo é abundante; mas,
diferentemente do paraíso cristão, ela pode ser alcançada em vida. Até
chegarem os colonizadores, o caraíba, profeta de vida errante responsável por
conduzir os povos até lá, gozava de grande prestígio e por isso podia transitar
por aldeias inimigas.4
3
Além de Cunhambebe, haveria outros personagens históricos referidos no romance. Kaiuby,
o chefe da aldeia de Perna Solta, e Tibiriçá (apenas mencionado) foram líderes indígenas que
terminaram ao lado dos colonizadores portugueses no episódio conhecido como Confederação
dos Tamoios.
4
Numa cena do romance de Munduruku (2010, p. 69), o karaíba “[v]inha furioso porque
ninguém tinha ido lhe receber na entrada da aldeia nem varrido seus caminhos”; em outra,
“[…] o chefe chamou seus melhores guerreiros para limparem o caminho do sábio. […] Minutos
depois, o maíra chegou com pompa de rei” (MUNDURUKU, 2010, p. 91). Hélène Clastres
(1978, p. 44) comenta a importância desse procedimento, que denotava “marcas de honra e
veneração”: “Varria-se o chão que o caraíba ia pisar, às vezes chegava-se até mesmo a tomar
precauções para que ele nem o tocasse [...]”.
Contexto (ISSN 2358-9566) Vitória, n. 37, 2020/1
2.1. Primeiro movimento: adequação às estratégias narrativas tradicionais
O Karaíba foi publicado em 2010. O livro traz ilustrações de Maurício Negro,
um poema de Graça Graúna como epígrafe, dezoito capítulos acrescidos do
desfecho, posfácio do autor e um pequeno glossário. O texto da orelha afirma
que o romance é fruto das pesquisas de Munduruku e chama a atenção para a
pouca produção de conhecimento em torno da história pré-cabralina, o que
nos impede de “compreender o futuro do nosso país”, e considera o livro
como um “primeiro passo” para sanar essa falta; além disso, traz o currículo
de Munduruku: graduado em filosofia, doutor em educação, autor premiado
de vários livros direcionados ao público infantojuvenil e a educadores. Texto e
paratextos permitem relacionar a publicação a uma demanda editorial, tendo
em vista que a Lei 11.645, de 10 de março de 2008, instituiu a
obrigatoriedade do estudo de história e cultura afro-brasileira e indígena nas
escolas de ensino médio e fundamental.
247
A narrativa concentra doses de romance, suspense e aventura. Um narrador
distanciado e onisciente escolhe se ancorar em determinados personagens e, a
partir de seus dramas individuais, vai fazendo o enredo progredir, como numa
novela televisiva. Há também certo tom didático ao trazer para a narrativa
exemplos de superação, questionamento da desigualdade de gênero,
discussão sobre o papel de velhos e jovens na construção da história.
Vejamos, a partir dos primeiros parágrafos do romance, as estratégias
empregadas pelo narrador:
O sol nem tinha dado cores à floresta quando Perna Solta pulou de
sua rede. Não conseguia dormir havia muitos dias por causa dos
burburinhos que estava ouvindo na aldeia. Havia medo e revolta
espalhados pelo ar, e ele não compreendia direito o que estava se
passando.
Saiu da casa logo após atiçar o fogo que estava ficando fraco,
deixando seus outros habitantes com frio. Havia chovido na noite
anterior e uma brisa violenta tinha se abatido sobre as casas,
gerando nas pessoas espanto e terror. Mesmo a pequena Yrá, sua
irmã mais jovem, que sempre teve espírito de bravura, ficou
Contexto (ISSN 2358-9566) Vitória, n. 37, 2020/1
recolhida no colo da mãe, mirando o horizonte com olhos
arregalados. O que estaria por acontecer?
O jovem foi até a beira do rio que banha sua aldeia e acocorou-se
enquanto percebia que o alvoroço da noite anterior estava refletido
também nas calmas águas daquele parente. Mesmo assim, fitou o
olhar para ele e deixou que seus pensamentos voltassem para um
passado próximo a fim de que refrescasse sua memória e lhe
ajudasse a entender o que estava se passando.
(MUNDURUKU, 2010, p. 2)
O trecho narra o despertar de Perna Solta num contexto de angústia com algo
que não se conhece. A angústia sentida por Perna Solta, indiciada pela
insônia, é compartilhada pelos demais habitantes da aldeia, incluindo sua
pequena e destemida irmã; outro indício da angústia são os sinais da natureza
(medo e revolta pelo ar, chuva forte e brisa violenta, alvoroço nas águas do
rio). Como o narrador acompanha o que se passa na cabeça do personagem,
que ainda não compreende o que está acontecendo, nós, leitores, tendemos a
querer buscar, junto dele, a resposta para as alterações descritas. O suspense
está criado.
248
Ainda no primeiro capítulo, ficamos sabendo de parte da profecia do karaíba,
da singularidade da condição de Perna Solta (cujas pernas finas o impediram
de ser guerreiro ou pajé e o levaram a se descobrir como eficiente corredor,
ganhando o papel de mensageiro entre aldeias) e de sua amada Maraí. A
origem desse romance é contada em flashback no terceiro capítulo. O
capítulo quarto suspende a narrativa sobre Perna Solta para introduzir a
personagem Potyra, uma menina que quer ser guerreiro; quando, no capítulo
sétimo, o pai da menina invoca a rainha das águas e ouve dela que Potyra
deverá assumir seu papel na profecia — ou seja, justamente o papel que ela
recusa, de ser mãe e ter filhos —, cria-se uma tensão no enredo. No sexto
capítulo, o narrador acompanha as ações de outro personagem, o chefe
Anhangá aflito com as decisões a serem tomadas, revendo seus sonhos e
ouvindo conselhos de um velho sábio. Aí estão os três principais personagens.
Anhangá interpreta a profecia como se Maraí, a amada de Perna Solta, fosse a
mulher guerreira de outro povo a se casar com Periantã, seu filho adotivo; por
Contexto (ISSN 2358-9566) Vitória, n. 37, 2020/1
isso, reúne seus guerreiros e a sequestram. Perna Solta, então, se vê num
conflito com ares de tragédia grega: se Maraí, Tupiniquim “trazida das bandas
do norte como prisioneira de guerra” (MUNDURUKU, 2010, p. 53), fosse a
guerreira da profecia do karaíba, o jovem mensageiro estaria condenado à
solidão; mas a força de seu amor o faz rejeitar o destino traçado: “Estava
decidido a enfrentar todos os perigos, todos os inimigos, todas as profecias
para encontrá-la e com ela ser feliz” (MUNDURUKU, 2010, p. 74). Para isso,
teria de declarar guerra contra seus próprios parentes, já que Anhangá era
seu tio. Romance e aventura estão imbricados nesse nó.
Nos capítulos doze e treze, outra técnica narrativa é empregada: o narrador
alterna o foco entre cenas protagonizadas cada uma por um dos grupos
apresentados. No capítulo quatorze, um banho de rio é motivo para a inserção
da narrativa de origem do piripiri, a “árvore do cheiro”, rememorado por
Perna Solta em fluxo de consciência. Nos capítulos em que os três grupos se
encontram no meio da mata, o narrador ora focaliza os personagens em
249
contato, ora individualiza a reação de um ou outro; a montagem entre cenas
coletivas e individuais permite que saibamos como os fatos da narrativa são
sentidos pelos personagens.
Há, portanto, domínio de técnicas narrativas variadas. A adequação às
estratégias narrativas ocidentais permite aproximações com imagens
consagradas que, a meu ver, podem ser lidas como como problematização da
ideia de “índio” como exótico. Seguem três casos:
Ao questionar a impossibilidade de a tradição indígena permitir que mulheres
sejam guerreiras, Potyra diz: “Quero trazer meu próprio prisioneiro, enfeitá-
lo para a morte e depois comer seu corpo para ficar ainda mais forte e
valente” (MUNDURUKU, 2010, p. 15). No trecho, ecoa a ideia de que comer a
carne do inimigo implicava assimilar seus valores guerreiros, como se
evidencia no poema “I-Juca-Pirama”, de Gonçalves Dias (2000, p. 309),
quando o guerreiro Tupi é dispensado do ritual: “[…] parte; não queremos /
Contexto (ISSN 2358-9566) Vitória, n. 37, 2020/1
Com carne vil enfraquecer os fortes”. A aproximação com a ideia de
antropofagia cristalizada no poema gonçalvino permite o reconhecimento de
um tema importante na composição do estereótipo sobre o indígena, forjado
como justificativa do projeto colonial. Segundo a análise que faz Viveiros de
Castro (2002) de relatos dos cronistas do século XVI e seus comentadores, o
canibalismo faria parte de um complexo sistema de vingança que funda a
temporalidade entre os povos Tupinambá: o presente existiria no momento
em que guerreiro e prisioneiro dialogam ritualmente evocando os mortos no
passado e apontando a continuidade da vingança no futuro. Desde o
recebimento até o ritual de execução, o prisioneiro passaria por processos de
socialização que tendem a assemelhá-lo aos captores. Além dos enfeites
referidos por Potyra, o prisioneiro também poderia receber uma esposa e com
ela gerar filhos. “Os Tupinambá queriam estar certos de que aquele outro que
iriam matar e comer fosse integralmente determinado como um homem, que
entendesse e desejasse o que estava acontecendo consigo” (VIVEIROS DE
CASTRO, 2002, p. 232). E embora os cronistas da época documentem que “[…]
250
o matador era o único a não comer a carne do inimigo” (VIVEIROS DE CASTRO,
2002, p. 239), a evocação de Potyra no contexto da trama está mais ligada a
um rito coletivo onde quem morre será vingado pelos que vivem, do que,
como no poema de Gonçalves Dias, à ideia individualizada de honra, tendo em
vista que neste caso o guerreiro a ser morto é o último de sua linhagem. A
necessidade do rito expressaria, ainda segundo Viveiros de Castro (2002, p.
241), a vinculação coletiva, “uma radical incompletude – uma incompletude
radicalmente positiva”.
Nas falas de Perna Solta há variação de registro em relação ao pronome
pessoal: ora fala de si em primeira pessoa, ora em terceira. Num momento diz
“Eu também, minha amada, eu também” (MUNDURUKU, 2010, p. 4); em
outro, “Meu avô perdoe a intromissão, mas Perna Solta não entende o motivo
de estar ouvindo esta história” (MUNDURUKU, 2010, p. 6). Essa estratégia
relembra os índios alencarinos, cuja referência a si também varia entre a
primeira e a terceira pessoa: Ubirajara tanto diz “Eu sou Jaguarê” (ALENCAR,
Contexto (ISSN 2358-9566) Vitória, n. 37, 2020/1
p. 334), quanto “[…] Jaguarê já soltou seu grito de guerra” (ALENCAR, p.
332). A convenção linguística usada nas poucas falas do karaíba marca uma
diferença em relação às demais personagens: “— Meu avô está chegando num
lugar vazio? Por que está aqui? / — Lugar nunca vazio, chefe dos tupiniquins.
Vazio espírito da gente. Vazio corpo que se esconde” (MUNDURUKU, 2010, p.
69). Artigos e verbos de ligação presentes na fala do chefe dos Tupiniquim não
são encontrados na fala do karaíba. Essa convenção tem algo do estereótipo
com que o indígena é representado como aquele que não domina a língua
portuguesa; no entanto, por ser o único que assim fala no romance, é possível
pensar que a condição excepcional do karaíba em relação aos demais, sua
vida reclusa e errante, é figurada nessa diferença.
O romance entre Perna Solta e Maraí é moldado nas formas convencionais do
amor romântico: “E os dois ficavam admirando o céu estrelado enquanto
juravam amor eterno” (MUNDURUKU, 2010, p. 54). Os amantes se retiram do
mundo terreno ao tomar as estrelas como testemunho; atestam, com a
251
atitude de olhar para o céu, a durabilidade de seu amor para além da vida.
Como a vinculação entre esses dois elementos (amor e estrelas) poderia
indicar, de acordo com Graça (1998, p. 16), a alteridade do universo indígena
em relação à sociedade ocidental? Pode-se aproximá-la do famoso soneto de
Olavo Bilac (2001, p. 53), de Via Láctea, em que o amante, tendo perdido a
racionalidade, é interpelado pelo amigo: “Ora (direis), ouvir estrelas! [...]”.
Tanto no romance de Munduruku quanto no soneto de Bilac, as estrelas
testemunham o amor, que retira o amante da lógica mundana: “[…] só quem
ama pode ter ouvido / Capaz de ouvir e de entender estrelas”. Um exemplo
da circulação dessa imagem na cultura de massa pode ser dado pela canção
“Escrito nas estrelas”, de Carlos Rennó e Arnaldo Dorfman Black, conhecida
na voz de Tetê Espíndola5, em que domina a ideia do encontro entre amantes
como destino previamente traçado, o que também está sugerido na cena do
romance. Em relação a essas duas imagens, o romance insere uma novidade:
5
Segundo informação do site Wikipedia, verbete “Tetê Espíndola”, a canção teria sido
lançada em um single no ano de 1985.
Contexto (ISSN 2358-9566) Vitória, n. 37, 2020/1
trata-se de um casal indígena. Essa novidade é relevante porque tensiona o
exotismo projetado sobre personagens indígenas, que as exclui daquilo que é
supostamente universal e denuncia que o “universal” da vinculação entre
amor e estrelas tem “cor” pré-definida.
Nos três casos mencionados, imagens consagradas na tradição ocidental
trazidas para o romance parecem suspender o estranhamento entre
sociedades dissimilares. Ao se aproximar da antropofagia gonçalvina e do
registro de linguagem dos personagens alencarinos, o romance do autor
indígena deixa ver que seus personagens não são radicalmente distintos.
Porém, essa aproximação traz sentidos novos: em relação ao primeiro caso, o
romance indígena privilegia o contexto coletivo da trama; em relação ao
segundo, o registro da fala do karaíba pode ser lido como figuração da
singularidade desse personagem. No caso da cena amorosa entre Perna Solta e
Maraí, o romance estende o universalismo amoroso aos personagens indígenas
e abre possibilidades estéticas para outras representações. Seria possível ler
252
essas estratégias como problematização da ideia de que a identidade indígena
representa uma diferença radical, sem diálogo com a sociedade dita
“civilizada”. “O papel da literatura indígena”, diz Munduruku (2018a, p. 83),
é “ser portadora da boa notícia do (re)encontro”. Haveria aí uma dialética em
que, ao se aproximar de imagens consagradas, o romance desestabiliza o
estereótipo do “índio exótico”.
2.2. Segundo movimento: recusa de algumas convenções literárias
Mas a dialética entre se aproximar de imagens consagradas e desestabilizar
estereótipos pode ter uma face ambígua: por um lado, anunciaria o
reencontro entre sociedades dissimilares; por outro, poderia se converter no
“canto da sereia” de que fala Munduruku no trecho citado em epígrafe,
quando a simples “tradução” entre forma ocidental e mundo indígena aliena
os povos de seus modos tradicionais de vida. No caso de O karaíba, se é
Contexto (ISSN 2358-9566) Vitória, n. 37, 2020/1
verdade que, em alguns aspectos, a concessão a certos estereótipos parece
suspender a radicalidade da diferença, a singularidade da perspectiva
indígena se objetivaria na recusa a alguns padrões literários, que permite
efetivar a escrita da “história que foi tantas vezes negada”. Tal recusa
instaura outras formas de narrar, que livram os personagens de um final
trágico, questionando o “inconsciente genocida”.
Um episódio específico me parece sintomático do modo como a recusa a uma
convenção literária livra o personagem da morte. Quando Perna Solta se
prepara para partir como mensageiro, Kaiuby, o chefe de sua aldeia, lhe
oferece um amuleto de proteção, “um colar feito de dentes de inimigos
mortos em combate” (MUNDURUKU, 2010, p. 18), e alerta para que ele não
seja retirado em momento algum. Durante o trajeto, Perna Solta o retira e o
esquece ao pé de uma árvore; lembra do ocorrido e pensa em depois retornar
ao local para resgatar o objeto precioso. Na tradição ocidental, uma infração
como essa funciona como indício, antecipa o que virá na sequência: quando
253
Orfeu, regressando do Hades, descumpre a condição imposta pelos deuses e
olha para trás, sabemos que não conseguirá levar Eurídice de volta ao reino
dos vivos. Perna Solta, ao contrário, termina são e salvo sua jornada como
mensageiro. O narrador não retoma o episódio; é como se ele não houvesse
existido. Mas existiu. O silêncio posterior, a ausência de explicação sobre a
“falha” da estratégia narrativa, coloca do avesso a poética do genocídio
analisada por Graça: no caso dos romances indianistas, independentemente da
estratégia narrativa, o personagem indígena tem destino trágico; em O
Karaíba, embora um indício expressivo gere a expectativa de uma tragédia, o
personagem tripudia dela e segue seu destino.
Em narrativas convencionais, especialmente na tradição romântica, a
dinâmica entre heróis e vilões estrutura a tensão que se desenvolve ao longo
do enredo6. Em O Karaíba, os vilões são “virtuais”, estão no horizonte futuro
6
Em O guarani e Iracema, há grupos de vilões bem delineados: no primeiro, Loredano e seus
comparsas, mas também os aimorés que ao final destroem o solar de D. Antônio de Mariz; no
Contexto (ISSN 2358-9566) Vitória, n. 37, 2020/1
e não no presente narrativo. Embora Tupiniquim e Tupinambá sejam povos
inimigos, a rivalidade entre aldeias parece pouco representável pelo esquema
convencional, pois nela cada povo tem motivos reciprocamente reconhecidos
pelas normas sociais para alimentar a vingança; desde que respeitem as
normas, nenhum dos lados será caracterizado como vilão. O significado do
nome do personagem Anhangá, por exemplo, que remete ao demônio na
língua tupi sistematizada pelos jesuítas — a quem interessava a associação
entre elementos da religiosidade indígena com o mal, para justificar a
catequese enquanto salvação –, não encontra ressonância na narrativa, pois
“demônio” é nominalmente o estrangeiro que a profecia anuncia para o
futuro. Também nesse caso, a expectativa criada na tradição ocidental para o
nome do personagem não se concretiza, sem que haja qualquer explicação
para tal.
Outro fator importante da recusa às convenções é a ausência do confronto
violento entre as aldeias rivais. A profecia do karaíba previa uma guerra entre
254
os dois povos para o encontro do par guerreiro; no entanto, os grupos
concretizam a profecia por meio do diálogo. No capítulo dezesseis, a “tríplice
batalha” a que alude o título se refere a “três conflitos instaurados na mente
e no coração daqueles guerreiros” (MUNDURUKU, 2010, p. 75): trata-se de
uma batalha subjetiva, mas que decide o destino de todos. O próprio karaíba
havia se equivocado na interpretação da profecia: primeiro, acreditou que
Maraí deveria se casar com Periantã; depois, que Perna Solta poderia ser o
guerreiro valente a se casar com Maraí; por fim, compreendeu que Potyra
deveria se casar com Periantã, e Maraí se casar com Perna Solta.
Compartilhada essa compreensão, a guerra entre Tupiniquim e Tupinambá se
torna dispensável.
segundo, Irapuã e seus aliados franceses. Já em Ubirajara, a situação anterior ao contato é
semelhante à narrada por Munduruku nos seguintes aspectos: aldeias inimigas transpõem a
rivalidade em benefício de um final feliz; os verdadeiros vilões são anunciados num horizonte
futuro.
Contexto (ISSN 2358-9566) Vitória, n. 37, 2020/1
A resolução do conflito pela palavra ao invés da guerra, como no caso do
episódio do colar de dentes, faz falhar a expectativa gerada pelo anúncio dos
modos de concretização da profecia. E onde falha a forma consagrada, ficam
ressaltadas tanto a força da palavra indígena – porque a profecia pode ser
diversamente interpretada e porque a palavra substitui a guerra –, quanto a
atuação coletiva em prol da “defesa do território [dos povos Tupi] e do jeito
ancestral de viver” (MUNDURUKU, 2010, p. 75).
A tensão estabelecida na narrativa não se constrói pelo esquema tradicional
de oposição entre heróis e vilões; de forma geral, a orientação para o final
feliz, muito rara na literatura indianista, dissolve os nós construídos ao longo
do enredo. Perna Solta, que havia prometido ir contra tudo e todos para ficar
com Maraí (MUNDURUKU, 2010, p. 74), não precisa empunhar a máscara do
herói trágico que deseja contrariar o destino e fazer guerra aos seus parentes.
O destino já havia assegurado sua união com Maraí. Potyra, que também
sinalizava a intenção de contrariar o destino traçado, abdica de seus planos
255
pessoais e assume o lugar previsto como “garantia para os próximos tempos”
(MUNDURUKU, 2010, p. 85). É o próprio karaíba quem ressalta como benéfica
a capacidade de realizar “[…] grandes sacrifícios em nome da tradição. Isso é
a garantia de que nosso povo continuará vivo ainda por muito tempo”
(MUNDURUKU, 2010, p. 91).
Segundo Munduruku (2009, p. 17), em O banquete dos deuses, crises
existenciais seriam ausentes do mundo indígena, pois a crise “[…] é provocada
pela falta de rituais que deem sentido à existência das pessoas. As pessoas
não têm em que se apegar, pois não têm uma tradição, uma ancestralidade”.
Entre os indígenas as regras sociais não seriam sentidas como imposições que
limitam as liberdades de escolha, mas como formas ancestrais de resolução de
conflitos e integração de todos à comunidade; as angústias individuais
encontram amparo nas regras coletivas, que dão sentido à existência das
pessoas.
Contexto (ISSN 2358-9566) Vitória, n. 37, 2020/1
Se o romance for a forma narrativa que engendra os dramas do indivíduo
moderno em conflito com a sociedade, da qual Dom Quixote de Cervantes
ofereceria ao mesmo tempo uma cristalização e uma caricatura, então um
romance como O Karaíba precisa lidar com certa inadequação a essa forma,
pois o comprometimento com a memória ancestral solicita outras estratégias.
O romance é construído a partir do emprego de técnicas narrativas que
individualizam os personagens ao mesmo tempo em que fazem progredir a
ação dos grupos em torno da profecia do karaíba, que só aparece em
momentos-chave. Alçado a título da narrativa, o karaíba desempenha o papel
de centralizador dos conflitos e reitera o caráter coletivo da trama.
3. Recusa da perspectiva histórica genocida
A situação representada no romance é anterior ao contato; por isso, o
narrador não utiliza a palavra “índio”, mas as designações Tupiniquim e
256
Tupinambá que indicam povos com afinidades culturais e linguísticas, mas
historicamente inimigos (PREZIA, 2008, p. 39). No entanto, em determinado
momento Perna Solta encontra na floresta seres estranhos, cuja língua não
compreende: “É verdade que Perna Solta não tinha avistado ninguém
concretamente, mas as palavras que saíam da boca delas [daquelas pessoas]
eram totalmente incompreensíveis” (MUNDURUKU, 2010, p. 35). Descartando
a possibilidade de serem espíritos noturnos e reconhecendo-os humanos,
Perna Solta se pergunta: “[…] quem eram eles e o que estariam fazendo no
território dos povos tupi? Tinha certeza de que não se tratava de parentes,
mas de gente vinda de fora” (MUNDURUKU, 2010, p. 36 – grifo meu). A
atmosfera de angústia que abre o romance é reforçada nesse breve episódio;
a profecia do karaíba já havia antecipado a chegada dos invasores.
Contexto (ISSN 2358-9566) Vitória, n. 37, 2020/1
Com matizes diferentes, a narrativa de que o branco é um irmão que
retornaria7, tendo perdido sua referência identitária, pode ser encontrada,
por exemplo, nas palavras de Davi Kopenawa (2015), Kaká Werá Jecupé (1998)
e Ailton Krenak (2015). Essas palavras se contrapõem ao discurso hegemônico,
que toma os “índios” como objeto de um processo histórico. Elas nos dizem
que eles se representam como sujeitos, tomando decisões, assumindo
equívocos, fazendo alianças. Elas disputam a narrativa do contato conferindo
centralidade às ações indígenas. A figura de Cunhambebe, ao final de O
karaíba, é um importante elemento dessa disputa.
Cunhambebe é personagem histórico conhecido desde André Thevet e Hans
Staden, que dele dão notícia em seus relatos de viagem à então colônia
portuguesa no século XVI. As referências a esse personagem, do século XVI até
o presente, mereceriam um detalhamento à parte; fico com uns poucos
exemplos apenas para marcar a diversidade de pontos de vista a respeito
dele8.
257
Thevet e Staden se impressionam com as habilidades de Cunhambebe e com a
amplitude de seu domínio entre os Tupinambá. Thevet (2009, p. 87) chega a
lamentar sua morte precoce: “Embora bárbaro, creio que teria feito grandes
coisas, assistido pelos nossos, se tivesse vivido mais tempo”. Staden,
ameaçado de ser comido durante os nove meses em que esteve prisioneiro dos
Tupinambá, se refere constantemente ao canibalismo ostentado por
Cunhambebe. Numa festa em que o chefe indígena come seus prisioneiros,
7
Ainda no século XVI, Thevet (2009, p. 82-83) registra: “[…] nada adiantarei da disputa sobre
o diabo, se ele tem ou não ciência das coisas futuras […]. Mas uma coisa não posso deixar de
dizer-vos: que bem antes da nossa chegada o espírito lhe predissera esse evento. Sei disso por
eles mesmos, naturalmente, mas também por cristãos portugueses que eram, então,
prisioneiros desse povo bárbaro. O mesmo aconteceu, ao que se diz, com os espanhóis que
descobriram o Peru e o México”.
8
Historicamente, teria havido dois indígenas com o nome de Cunhambebe: o primeiro, aliado
dos franceses contra os portugueses no episódio da França Antártica; o segundo,
supostamente seu filho, aliado dos portugueses. A Confederação dos Tamoios, de Gonçalves
de Magalhães (2008), e Quando o Brasil amanhecia, de Alberto Rangel (1919), remetem ao
segundo. Em Meu querido canibal, Antônio Torres (2008) recupera, em forma de romance, a
história de Cunhambebe e alude ao suposto filho de mesmo nome.
Contexto (ISSN 2358-9566) Vitória, n. 37, 2020/1
Staden (1999, p. 106) questiona como irracional a atitude de devorar o seu
semelhante, ao que ele responde desfazendo a lógica do interlocutor: “Jau
ware sche – Sou um tigre, isso está gostoso”. Os dois autores, mesmo
reprovando as práticas do chefe indígena, buscaram alguma aproximação com
sua figura, num misto de reverência e horror.
Imagem mais homogênea é oferecida por Alencar em uma nota a Ubirajara,
em que Cunhambebe é mencionado simplesmente como “verdadeiro
déspota”. Alencar (1958, p. 336) reafirma a feição autoritária de muitos
guerreiros indígenas: “O tacape de muito herói tupi há de ter governado tão
absolutamente como a espada de César ou de Napoleão”. As dissidências
entre chefes e chefiados geradas por esse poder autoritário seriam
responsáveis pela aniquilação da raça indígena, “ainda mais talvez do que a
crueldade dos europeus” (ALENCAR, p. 336). Embora Ubirajara se anuncie
como um romance-protesto contra a fomentada “aversão para o elemento
indígena de nossa literatura” (ALENCAR, 1958, p. 357), a ideia de que os
258
próprios indígenas teriam mais responsabilidade pelo genocídio do que os
colonizadores não parece capaz de gerar simpatia. Além disso, afaga o
“inconsciente genocida” ao tomar o extermínio como processo inerente à
própria cultura indígena: de uma forma ou de outra, tendo o colonizador
chegado nestas terras ou não, o genocídio é tomado como inevitável.
Olavo Bilac e Coelho Neto (1898, p. 58), em A terra fluminense, livro
destinado à educação cívica das crianças, elogiam o progresso relativamente
ao que teria sido o Rio de Janeiro no passado. Para isso, lembram ao leitor
“[...] do tempo em que as tribos viviam por aqui, nuas e sem leis — tempo em
que Cunhambebe, o feroz cacique, dominava com as suas canoas de guerra
todo o litoral do Rio de Janeiro […] — e mede a extraordinária extensão do
progresso feito”9. Nesse tipo de discurso, o genocídio indígena é justificado
9
Optei, na transcrição, por fazer a atualização ortográfica do trecho.
Contexto (ISSN 2358-9566) Vitória, n. 37, 2020/1
como necessário; os povos indígenas são desenhados como hordas refratárias
ao “progresso” e à “civilização”.
Em 2019, o desfile da escola de samba Estação Primeira de Mangueira trouxe
uma “Ala Cunhambebe” para lembrar o líder da Confederação dos Tamoios,
num samba-enredo que evoca “a história que a história não conta”.
Cunhambebe é exaltado como primeiro líder da Confederação, que uniu índios
e franceses contra portugueses. No site oficial da escola, reivindica-se o
reconhecimento de uma história brasileira de 12.000 anos, contraposta aos
500 pós-Cabral. E questiona-se por que lideranças populares não são
homenageadas: “Não fizeram de Cunhambebe — a liderança tupinambá
responsável pela organização da resistência dos Tamoios — um monumento de
bronze” (Enredo, 2019). Reivindica-se o líder indígena como um dos primeiros
na linhagem dos heróis que se contrapuseram ao projeto de colonização
portuguesa.
259
Em O karaíba, Cunhambebe é “o menino capaz de reunir todos os nossos
povos num só contra o demônio que virá de longe” (MUNDURUKU, 2010, p. 33
– grifo meu). A profecia em torno de seu surgimento é assim formulada: “há
uma mulher que não pertence ao nosso povo e que será a mãe de um maíra
que virá para juntar nossa gente” (MUNDURUKU, 2010, p. 28 – grifo meu); “Ela
[Potyra] nasceu para ser mãe de um guerreiro que nascerá para proteger
nossa gente” (MUNDURUKU, 2010, p. 31 – grifo meu). Se concretizada a
profecia, a união entre Tupiniquim e Tupinambá poderia “empurrar o tempo
para frente” (MUNDURUKU, 2010, p. 92), pois em sonhos o karaíba via que os
estrangeiros “[a]inda irão demorar para chegar em nosso lugar, mas não na
terra dos papagaios. Nossos parentes de lá serão enganados e os receberão
com alegria até descobrirem que serão escravizados. Será o fim deles”
(MUNDURUKU, 2010, p. 92). A concretização da profecia supõe que no
território dos povos Tupi será possível fugir ao final trágico indicado em
sonhos para outros povos: a geração do maíra reúne, junta, protege.
Contexto (ISSN 2358-9566) Vitória, n. 37, 2020/1
Se a admiração por Cunhambebe encontrada nos textos de Thevet e Hans
Staden desaparece em Alencar, Bilac e Coelho Neto (por motivos distintos: no
primeiro, pela suposição do mando autoritário; nos demais, pela ideia de
obstáculo ao “progresso”), a reivindicação do samba-enredo da Mangueira
recupera uma leitura positiva a respeito do líder indígena que teria mais
relações com o romance O karaíba. Nos dois últimos, ressalta-se a
importância de Cunhambebe para a história dos povos indígenas no Brasil,
tomados como protagonistas, sujeitos históricos que influíram no rumo dos
acontecimentos.
Os povos Tupi em O karaíba não perderão a guerra para os portugueses, pois a
narrativa se interrompe justamente quando Cunhambebe vê as caravelas. O
romance apresenta um conflito cujas tensões vão sendo reformuladas
estruturalmente: tensões individuais se transformam em possível conflito
entre povos para, ao final, serem colocadas no horizonte daquele que foi
gerado para reunir, juntar e proteger seu povo. Apesar de os tamoios
260
liderados por Cunhambebe terem sido derrotados historicamente, entre o
personagem do romance e o presente do autor a profecia de aliança dos povos
indígenas parece ter se efetivado. Se considerarmos que a narrativa é contada
por um descendente desses povos — como alerta o texto de orelha do livro —,
podemos dizer que há um salto simbólico entre dois momentos históricos,
significativo para o sentido que a forma de narrar assume em contraponto à
literatura não indígena. Ao invés de optar pela verdade histórica, recusa a
perspectiva genocida e afirma a continuidade da luta indígena através dos
tempos.
Referências
ALENCAR, José de. Ubirajara. Em: Obra completa, vol. 3. Rio de Janeiro: José
Aguilar, 1958.
Contexto (ISSN 2358-9566) Vitória, n. 37, 2020/1
BILAC, Olavo. Poesias. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
CLASTRES, Héléne. Terra sem mal: o profetismo tupi-guarani. Tradução de
Renato Janine Ribeiro. São Paulo: Brasiliense, 1978.
DIAS, Gonçalves. Cantos. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
Enredo. Carnaval 2019. Disponível em:
http://www.mangueira.com.br/carnaval-2019/enredo. Acessado dia 19 de
março de 2019.
GRAÇA, Antônio Paulo. Uma poética do genocídio. Rio de Janeiro: Topbooks,
1998.
GRAÚNA, Graça. Contrapontos da literatura indígena contemporânea no
Brasil. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2013.
JECUPÉ, Kaká Werá. A terra dos mil povos: história indígena do Brasil contada
por um índio. São Paulo: Peirópolis, 1998.
KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. A queda do céu: palavras de um xamã
yanomami. Tradução de Beatriz Perrone-Moisés. São Paulo: Companhia das
Letras, 2015. 261
KRENAK, Ailton. “Eu e minhas circunstâncias”. Em: Ailton Krenak.
Organização Sergio Cohn. Rio de Janeiro: Azougue, 2015, p. 238-259.
MAGALHÃES, Gonçalves de. A Confederação dos Tamoios. Em: TEIXEIRA, Ivan
(org.). Épicos: Prosopopéia: O Uraguai: Caramuru: Vila Rica: A Confederação
dos Tamoios: I-Juca Pirama. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo:
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2008, pp. 847-1093.
MUNDURUKU, Daniel. “Escrita indígena: registro, oralidade e literatura. O
reencontro da memória”. Em: DORRICO, Julie; DANNER, Leno Francisco;
CORREIA, Heloisa Helena Siqueira; DANNER, Fernando (orgs.). Literatura
indígena brasileira contemporânea: criação, crítica e recepção. Porto Alegre,
RS: Editora Fi, 2018a, p. 81-83.
MUNDURUKU, Daniel. “A literatura indígena não é subalterna”. Disponível em
http://www.itaucultural.org.br/a-literatura-indigena-nao-e-subalterna.
Acesso em 15 de novembro de 2018b.
MUNDURUKU, Daniel. O Karaíba: uma história do pré-Brasil. Barueri, SP:
Manole, 2010.
Contexto (ISSN 2358-9566) Vitória, n. 37, 2020/1
MUNDURUKU, Daniel. O banquete dos deuses: conversa sobre a origem da
cultura brasileira. São Paulo: Global, 2009.
PREZIA, Benedito Antônio Genofre. Os Tupi de Piratininga: acolhida,
resistência, colaboração. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2008.
[Tese de doutorado]
RANGEL, Alberto. Quando o Brasil amanhecia: fantasia e passado. Lisboa:
Livraria Clássica Editora, 1919.
STADEN, Hans. A verdadeira história dos selvagens, nus e ferozes devoradores
de homens. Tradução Pedro Süssekind. Rio de Janeiro: Dantes, 1999.
THEVET, André. A cosmografia universal de André Thevet, cosmógrafo do rei.
Tradução Raul de Sá Barbosa. Rio de Janeiro: Fundação Darcy Ribeiro, 2009.
THIÉL, Janice. Pele silenciosa, pele sonora: a literatura indígena em
destaque. Belo Horizonte: Autêntica, 2012.
TORRES, Antônio. Meu querido canibal. Rio de Janeiro: Record, 2008.
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. “O mármore e a murta: sobre a inconstância
da alma selvagem”. Em: A inconstância da alma selvagem e outros ensaios de
antropologia. São Paulo: Cosac Naify, 2002, p. 183-264. 262
Recebido em: 06 de maio de 2019.
Aprovado em: 08 de dezembro de 2019.
Contexto (ISSN 2358-9566) Vitória, n. 37, 2020/1
Você também pode gostar
- Relações étnico-raciais na literatura brasileira do século XXI: textos e contextosNo EverandRelações étnico-raciais na literatura brasileira do século XXI: textos e contextosMichel Mingote Ferreira de ÁzaraAinda não há avaliações
- Citações de GraúnaDocumento3 páginasCitações de GraúnaAndré SouzaAinda não há avaliações
- Dossie6 Rev CPF N14 Semana22Documento20 páginasDossie6 Rev CPF N14 Semana22Beatriz AzevedoAinda não há avaliações
- Literatura Indigena BrasileiraDocumento29 páginasLiteratura Indigena BrasileiraJoelma SantosAinda não há avaliações
- As Identidades Indígenas Na Escrita de Daniel MundurukuDocumento22 páginasAs Identidades Indígenas Na Escrita de Daniel MundurukuMatheus CostaAinda não há avaliações
- Projeto UEA Letras - 092638Documento9 páginasProjeto UEA Letras - 092638Alex Almeida CoelhoAinda não há avaliações
- Colonialidade e Silenciamento Nos CanoneDocumento16 páginasColonialidade e Silenciamento Nos CanoneAndré RamosAinda não há avaliações
- O "Dia Do Índio" Está Extinto, Vida Longa Ao "Dia Dos Povos Indígenas"! Aprendendo Com As Vozes Originárias. Helena Azevedo Paulo de AlmeidaDocumento5 páginasO "Dia Do Índio" Está Extinto, Vida Longa Ao "Dia Dos Povos Indígenas"! Aprendendo Com As Vozes Originárias. Helena Azevedo Paulo de AlmeidaZé RuelqAinda não há avaliações
- Suplemento Pernambuco #200: Como autoras brasileira têm escrito a história da ditaduraNo EverandSuplemento Pernambuco #200: Como autoras brasileira têm escrito a história da ditaduraAinda não há avaliações
- Que Brasil Existe - Estrangeiros Na Literatura BrasileiraDocumento9 páginasQue Brasil Existe - Estrangeiros Na Literatura BrasileiraMariana MirandaAinda não há avaliações
- 41 +clipe +BANGUERA,+Julián +AMIM,+ValériaDocumento24 páginas41 +clipe +BANGUERA,+Julián +AMIM,+ValériaTefani MathiasAinda não há avaliações
- Diluição de Fronteiras: A Identidade Literária Indígena RenegociadaNo EverandDiluição de Fronteiras: A Identidade Literária Indígena RenegociadaAinda não há avaliações
- Carlosletras, 1 A LITERATURA DO COLONIZADODocumento13 páginasCarlosletras, 1 A LITERATURA DO COLONIZADOrenanAinda não há avaliações
- Angelo Barroso Costa SoaresDocumento14 páginasAngelo Barroso Costa Soaresnathalia.ferrazaranAinda não há avaliações
- Pobreza, Racismo e Trauma - Grazieli Batista PDFDocumento9 páginasPobreza, Racismo e Trauma - Grazieli Batista PDFandrade.marianaAinda não há avaliações
- Do Sertão à Cidade: Política e a Questão Social em Amando FontesNo EverandDo Sertão à Cidade: Política e a Questão Social em Amando FontesAinda não há avaliações
- 4499-Texto Do Artigo-14883-1-10-20160127Documento19 páginas4499-Texto Do Artigo-14883-1-10-20160127franciscoAinda não há avaliações
- 30160-Texto Do Artigo-86913-1-10-20200428Documento22 páginas30160-Texto Do Artigo-86913-1-10-20200428Patricia MoreiraAinda não há avaliações
- A Leitura Sobre Os Indígenas Na Historiografia Clássica e A Atuação Desses Sujeitos Nas Produções Do Final Do Século XXDocumento3 páginasA Leitura Sobre Os Indígenas Na Historiografia Clássica e A Atuação Desses Sujeitos Nas Produções Do Final Do Século XXALESSANDRA MOREIRA GALVAOAinda não há avaliações
- A Literatura Escrita Por Mulheres Indígenas No BrasilDocumento15 páginasA Literatura Escrita Por Mulheres Indígenas No BrasilBruna CastroAinda não há avaliações
- 11918-Texto Do Artigo-44641-2-10-20210301Documento15 páginas11918-Texto Do Artigo-44641-2-10-20210301Biolab FarmacêuticaAinda não há avaliações
- Explorando os entremeios: Cultura & comunicação na literatura de João Guimarães RosaNo EverandExplorando os entremeios: Cultura & comunicação na literatura de João Guimarães RosaAinda não há avaliações
- 1290 7161 1 PBDocumento10 páginas1290 7161 1 PBOzonildo Fernandes OliveiraAinda não há avaliações
- VERSIANI - Estudos Culturais e Qual AntropologiaDocumento16 páginasVERSIANI - Estudos Culturais e Qual AntropologialeoAinda não há avaliações
- Do Romantismo À Contemporaneidade: o Herói em O Guarani e em "O Roubo Do Fogo" - Problematizar para Não Reproduzir A História ÚnicaDocumento16 páginasDo Romantismo À Contemporaneidade: o Herói em O Guarani e em "O Roubo Do Fogo" - Problematizar para Não Reproduzir A História ÚnicaRosemeire SantosAinda não há avaliações
- Artigo RaidoDocumento14 páginasArtigo RaidoLaís SoaresAinda não há avaliações
- Literatura e interartes: rearranjos possíveis: - Volume 5No EverandLiteratura e interartes: rearranjos possíveis: - Volume 5Ainda não há avaliações
- Letras e linguística: encontros e inovações: - Volume 2No EverandLetras e linguística: encontros e inovações: - Volume 2Ainda não há avaliações
- 4666 16568 1 PBDocumento11 páginas4666 16568 1 PBNana PatriciaAinda não há avaliações
- Historiografia Indígena - Desafios e PossibilidadesDocumento6 páginasHistoriografia Indígena - Desafios e PossibilidadesMarcos AntonioAinda não há avaliações
- Thiagoneto, Gerente Da Revista, 8 - RECONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA NA LITERATURA AFRO-BRASILEIRA DE CONCEIÇÃO EVARISTODocumento14 páginasThiagoneto, Gerente Da Revista, 8 - RECONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA NA LITERATURA AFRO-BRASILEIRA DE CONCEIÇÃO EVARISTOMirele silvaAinda não há avaliações
- Abpn, Gerente Da Revista, 14Documento3 páginasAbpn, Gerente Da Revista, 14Marllon BrendonAinda não há avaliações
- Citações deDocumento2 páginasCitações deAndré SouzaAinda não há avaliações
- 1 PBDocumento20 páginas1 PBlLuA ValoisAinda não há avaliações
- Do radical em revolução às conflitualidades: o pensamento de Antônio Callado no romance QuarupNo EverandDo radical em revolução às conflitualidades: o pensamento de Antônio Callado no romance QuarupAinda não há avaliações
- O Direito A Literatura IndigenaDocumento3 páginasO Direito A Literatura IndigenaMayara SenaAinda não há avaliações
- D. Narcisa de Villar PDFDocumento12 páginasD. Narcisa de Villar PDFhokaloskouros9198Ainda não há avaliações
- 1 PBDocumento12 páginas1 PBClara AnidoAinda não há avaliações
- 9053-Texto Do Artigo-40464-1-10-20200428Documento26 páginas9053-Texto Do Artigo-40464-1-10-20200428Lilian JunqueiraAinda não há avaliações
- A FRONTEIRA COMO LOCUS DE ENUNCIAÇÃO DA IDENTIDADE MESTIZA - Gloria AnzaldúaDocumento11 páginasA FRONTEIRA COMO LOCUS DE ENUNCIAÇÃO DA IDENTIDADE MESTIZA - Gloria AnzaldúaJane EyreAinda não há avaliações
- Uma nova História, feita de histórias: Personalidades negras invisibilizadas da História do BrasilNo EverandUma nova História, feita de histórias: Personalidades negras invisibilizadas da História do BrasilAinda não há avaliações
- Contatando "Brancos" e Demarcando Terras: Narrativas Xavante Sobre sua HistóriaNo EverandContatando "Brancos" e Demarcando Terras: Narrativas Xavante Sobre sua HistóriaAinda não há avaliações
- GRAÚNA, Graça. Contrapontos Da Literatura Indígena ContemporaneaDocumento87 páginasGRAÚNA, Graça. Contrapontos Da Literatura Indígena ContemporaneaLlama VicuñaAinda não há avaliações
- A Alma Ameríndia Uma Leitura Junguiana Do Mito Makunaima1Documento13 páginasA Alma Ameríndia Uma Leitura Junguiana Do Mito Makunaima1JD Lucas100% (1)
- WALTER, Roland. Literatura, Teoria e Descolonização.Documento13 páginasWALTER, Roland. Literatura, Teoria e Descolonização.andersonfrasaoAinda não há avaliações
- GRAÚNA, Graça. Contrapontos Da Literatura Indígena ContemporâneDocumento87 páginasGRAÚNA, Graça. Contrapontos Da Literatura Indígena ContemporâneFabis100% (1)
- 189859-Texto Do Artigo-563993-1-10-20220629Documento23 páginas189859-Texto Do Artigo-563993-1-10-20220629•Bibi Poderosa TM•Ainda não há avaliações
- Livros de Raiz Indígena Põem Mediação de Brancos em Debate - 07 - 04 - 2023 - Ilustrada - FolhaDocumento6 páginasLivros de Raiz Indígena Põem Mediação de Brancos em Debate - 07 - 04 - 2023 - Ilustrada - FolhaFabio CamarneiroAinda não há avaliações
- MURARI, Luciana - Um Eugênico, Enfim o Gaúcho Como Tipo Antropológico Na Literatura e No Discurso Social BrasileiroDocumento20 páginasMURARI, Luciana - Um Eugênico, Enfim o Gaúcho Como Tipo Antropológico Na Literatura e No Discurso Social Brasileirobapomel900Ainda não há avaliações
- Euclides e Rosa - Texto EspecializaçãoDocumento11 páginasEuclides e Rosa - Texto EspecializaçãoAmanda MenezesAinda não há avaliações
- Projeto Mestrado BrunaDocumento14 páginasProjeto Mestrado BrunacunhabfAinda não há avaliações
- Apresentação Cinza e Verde de Volta Ao Trabalho e Prevenção Ao CoronavírusDocumento9 páginasApresentação Cinza e Verde de Volta Ao Trabalho e Prevenção Ao CoronavírusMoraiskarinaAinda não há avaliações
- 2 Artigo - Cid-3 SecretariaDocumento13 páginas2 Artigo - Cid-3 SecretariaCID NOGUEIRAAinda não há avaliações
- Historia e Memoria No Romance Um Defeito de CorDocumento10 páginasHistoria e Memoria No Romance Um Defeito de CorClero JuniorAinda não há avaliações
- Revista Do Brasil 0061Documento138 páginasRevista Do Brasil 0061guttomelloAinda não há avaliações
- Edital Cofecub2009Documento5 páginasEdital Cofecub2009guttomelloAinda não há avaliações
- A Mulher Do Telegrafista - São Paulo - EstadãoDocumento6 páginasA Mulher Do Telegrafista - São Paulo - EstadãoguttomelloAinda não há avaliações
- Tatiana BoninDocumento18 páginasTatiana BoninguttomelloAinda não há avaliações
- Figuras Femininas em Cecília Meireles - Ana Maria DomingosDocumento8 páginasFiguras Femininas em Cecília Meireles - Ana Maria DomingosguttomelloAinda não há avaliações
- FRANCHETTI - Francisca JúliaDocumento2 páginasFRANCHETTI - Francisca JúliaguttomelloAinda não há avaliações
- Circulação de Livros Didáticos No Início Do Século XXDocumento23 páginasCirculação de Livros Didáticos No Início Do Século XXguttomelloAinda não há avaliações
- Cartilha Orientacoes Estagio LicenciaturaDocumento20 páginasCartilha Orientacoes Estagio LicenciaturaguttomelloAinda não há avaliações
- A Presença de Textos de Autoras Negras No Livro Didático de Língua Portuguesa, Por Eliane Cristina Testa e Edileuza Batista de AraújoDocumento14 páginasA Presença de Textos de Autoras Negras No Livro Didático de Língua Portuguesa, Por Eliane Cristina Testa e Edileuza Batista de AraújoguttomelloAinda não há avaliações
- A-Cigarra-1919-0115 - Um Carta de Vicente de CarvalhoDocumento2 páginasA-Cigarra-1919-0115 - Um Carta de Vicente de CarvalhoguttomelloAinda não há avaliações
- Sobre "Lâminas Finas" e Hastes Firmes - de Assunção de MariaDocumento6 páginasSobre "Lâminas Finas" e Hastes Firmes - de Assunção de MariaguttomelloAinda não há avaliações
- Impressos Católicos em Sergipe e Suas Contribuições... Por Anamaria Gonçalves B Freitas e Maria José DantasDocumento30 páginasImpressos Católicos em Sergipe e Suas Contribuições... Por Anamaria Gonçalves B Freitas e Maria José DantasguttomelloAinda não há avaliações
- A Ambivalência Do Gaúcho-Judeu em o CentauroDocumento13 páginasA Ambivalência Do Gaúcho-Judeu em o CentauroguttomelloAinda não há avaliações
- Dissertação Sobre Francisa Júlia - JoaoVicentePereiraNetoDocumento139 páginasDissertação Sobre Francisa Júlia - JoaoVicentePereiraNetoguttomelloAinda não há avaliações
- Literatura Brasileira e As Novas TecnologiasDocumento12 páginasLiteratura Brasileira e As Novas TecnologiasguttomelloAinda não há avaliações
- Entre Professores-Poetas e Poetas-ProfessoresDocumento7 páginasEntre Professores-Poetas e Poetas-ProfessoresguttomelloAinda não há avaliações
- História Do Brasil Contados Aos Meninos Por Estácio de Sá e MenezesDocumento335 páginasHistória Do Brasil Contados Aos Meninos Por Estácio de Sá e MenezesguttomelloAinda não há avaliações
- Imaginário Africano e AfrobrasileiroDocumento147 páginasImaginário Africano e Afrobrasileiroguttomello100% (2)
- 1852 Job Traduzido em Verso Por José Eloy OttoniDocumento201 páginas1852 Job Traduzido em Verso Por José Eloy OttoniguttomelloAinda não há avaliações
- Postilas de Retórica e Poética Ditadas Aos Alunos Do Imperial Colégio de Pedro II - Por Cônego Fernandes PinheiroDocumento194 páginasPostilas de Retórica e Poética Ditadas Aos Alunos Do Imperial Colégio de Pedro II - Por Cônego Fernandes PinheiroguttomelloAinda não há avaliações
- 4-Auritha Tabajara e Carmezia EmilianoDocumento11 páginas4-Auritha Tabajara e Carmezia EmilianoguttomelloAinda não há avaliações
- Episódios Da História Pátria Contados À Infância - Cônego Fernandes PinheiroDocumento194 páginasEpisódios Da História Pátria Contados À Infância - Cônego Fernandes PinheiroguttomelloAinda não há avaliações
- TORNAR-SE SELVAGEM - Texto de Jerá GuaraniDocumento5 páginasTORNAR-SE SELVAGEM - Texto de Jerá Guaraniguttomello100% (4)
- AMANSAR O GIZ - Texto de Célia XakriabáDocumento7 páginasAMANSAR O GIZ - Texto de Célia Xakriabáguttomello100% (1)
- A Escrita Feminina em Isabel Allende - Amanda Da Silva OliveiraDocumento11 páginasA Escrita Feminina em Isabel Allende - Amanda Da Silva OliveiraguttomelloAinda não há avaliações
- O Modelo de Deus para Voce Ter Muito DinheiroDocumento18 páginasO Modelo de Deus para Voce Ter Muito DinheiroMauro SantosAinda não há avaliações
- Princípios Orientadores para A Aplicação Efectiva Do Código de Conduta para Os Funcionários Responsáveis Pela Aplicação Da LeiDocumento4 páginasPrincípios Orientadores para A Aplicação Efectiva Do Código de Conduta para Os Funcionários Responsáveis Pela Aplicação Da LeioeliasmodernoAinda não há avaliações
- I. Introdução À Dimensão Ético-PolíticaDocumento28 páginasI. Introdução À Dimensão Ético-PolíticaSónia RibeiroAinda não há avaliações
- 5 C 066 Fa 272474Documento163 páginas5 C 066 Fa 272474Yuri Carvalho MarquesAinda não há avaliações
- LajesDocumento16 páginasLajesJordy NascimentoAinda não há avaliações
- Lista de Eletricidade Industrial 3Documento3 páginasLista de Eletricidade Industrial 3rafabarsiAinda não há avaliações
- Estudo Dirigido Fisiologia 2 BimestreDocumento3 páginasEstudo Dirigido Fisiologia 2 BimestreAna GabrielaAinda não há avaliações
- InfernoVerde ContosDocumento25 páginasInfernoVerde ContosDayana AssisAinda não há avaliações
- Lista 2Documento6 páginasLista 2Maria Victoria Pereira SilvaAinda não há avaliações
- Lei N 1511 - 19 - Aprova o Plano Diretor Municipal ParticipativoDocumento112 páginasLei N 1511 - 19 - Aprova o Plano Diretor Municipal ParticipativoVitória carvalhoAinda não há avaliações
- Apostíla PneumatologiaDocumento71 páginasApostíla PneumatologiaAdenildo FreitasAinda não há avaliações
- Capovilla 3Documento29 páginasCapovilla 3Bárbara PassosAinda não há avaliações
- Slides - Casos de CorrosãoDocumento10 páginasSlides - Casos de CorrosãoGeraldo Rossoni SisquiniAinda não há avaliações
- Deficiencia AUDITIVA 2Documento54 páginasDeficiencia AUDITIVA 2Nado SerafimAinda não há avaliações
- Io d2 Lista EnemDocumento7 páginasIo d2 Lista Enemsorellaguiliani1660Ainda não há avaliações
- A Dieta Keto Ou CetogénicaDocumento2 páginasA Dieta Keto Ou CetogénicaCláudia De SenaAinda não há avaliações
- Paula Almeida Silva Portulhak Paula 2020 Desenvolvimento-De-um - Balance 57753Documento17 páginasPaula Almeida Silva Portulhak Paula 2020 Desenvolvimento-De-um - Balance 57753luiz marianoAinda não há avaliações
- Angulo Solido RadiometriaDocumento26 páginasAngulo Solido RadiometriajbatnAinda não há avaliações
- Como Ler e Estudar A Bíblia SOZINHODocumento3 páginasComo Ler e Estudar A Bíblia SOZINHOJoão David Auache PereiraAinda não há avaliações
- Sist EndocrinoDocumento58 páginasSist EndocrinoThati BotoAinda não há avaliações
- Manual Usuário ModeladoraDocumento11 páginasManual Usuário ModeladorasabrinaflorAinda não há avaliações
- Aspectos Da Geometria NeutraDocumento53 páginasAspectos Da Geometria NeutraItaxeAinda não há avaliações
- Manual de TransplantesDocumento170 páginasManual de TransplantesClaudiane Carvalho0% (1)
- Apostila de Eletrônica Aplicada - PolivalenteDocumento57 páginasApostila de Eletrônica Aplicada - PolivalenteAna Júlia Souza CostaAinda não há avaliações
- Coordenação e SubordinaçãoDocumento17 páginasCoordenação e SubordinaçãoVandaMarquesAinda não há avaliações
- Boneca Encantada: Receita DigitalDocumento11 páginasBoneca Encantada: Receita DigitalBình An88% (8)
- Ficamento 1Documento3 páginasFicamento 1NandaAinda não há avaliações
- Dicas de Defeitos Da Marca SharpDocumento14 páginasDicas de Defeitos Da Marca Sharploverboy_profissaoamor7727100% (1)
- Propriedade IndustrialDocumento30 páginasPropriedade IndustrialjfpchauqueAinda não há avaliações
- Ticketdirect1723227754 230907 164917Documento4 páginasTicketdirect1723227754 230907 164917SELMA RANIERI VIANAAinda não há avaliações