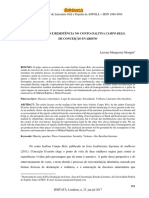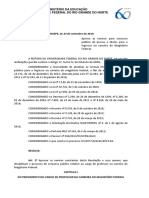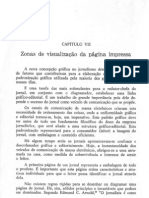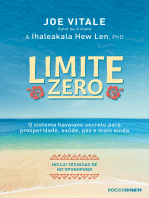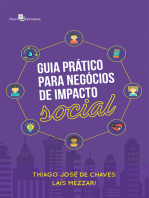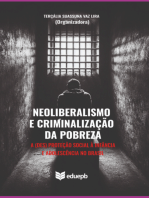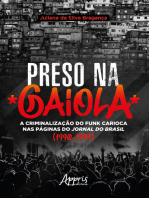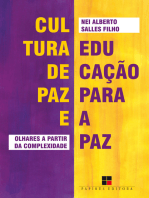Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
NIGRO - SOUSA - MORAES-Decolonizando Saberes Na Literatura
Enviado por
Pedro IvoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
NIGRO - SOUSA - MORAES-Decolonizando Saberes Na Literatura
Enviado por
Pedro IvoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Decolonizar saberes é contar outras histórias.
É alertar, como
afirma Chimamanda Ngozi Adichie, sobre o perigo de uma his-
tória única. Para Adichie, as “histórias importam” e este livro tem
como objetivo contá-las a partir da experiência vivida de su-
jeitos escravizados, racializados, generificados e sexualizados.
Nesse sentido, as autoras/autores/autorxs de Decolonizando
saberes interseccionados na literatura e na educação desafiam
o eixo temporal, espacial e subjetivo do sistema-mundo mo-
derno/colonial e suas instituições, incluindo a universidade/
escola, apresentando obras como protesto contra uma tradição
colonial secular que silencia e violenta os sujeitos que não se
enquadram ao modelo “heterossexual/branco/patriarcal/cris-
tão/militar/capitalista/europeu, com as suas várias hierarquias
globais enredadas e coexistentes no espaço e no tempo.
Nos doze capítulos apresentados, as/os/xs autoras/es/xs indicam
vivências não hegemônicas, representadas pelos textos literários
e situações escolares selecionadas, as quais não separam vida e
investigação científica. Seus textos nos ajudam a considerar o que
nos compele a transformar contextos de formação de professoras/
es/xs, entendendo-os enquanto espaços de ruptura de uma con-
cepção de educação mercantil. Pautando-se em compreensões de
educação como prática da liberdade, problematizam e ampliam a
discussão sobre ensino crítico, o qual combate uma política racista,
sexista, LGBTQIA+fóbica, aporofóbica, conservadora e neoliberal.
Os capítulos aqui reunidos atestam um trabalho potente, inquieto
e inquietante de decolonização dos conhecimentos legitimados,
em andamento nas universidades brasileiras.
CLÁUDIA MARIA CENEVIVA NIGRO é livre-docente em
Crítica Literária, doutora e mestre em Letras pela UNESP e
tem pós-doutorado pela UNICAMP. Docente da Graduação e
Pós-Graduação do IBILCE /UNESP, membro do Núcleo Ne-
gro da UNESP e Líder do Grupo de Pesquisa Gênero e Raça.
Pesquisa e publica sobre os seguintes temas: literatura com-
parada, gênero, raça, estudos culturais, estudos subalternos
e decoloniais.
DAVI SILISTINO DE SOUZA é doutor em Teoria e Estudos
Literários pelo Instituto de Biociências, Letras e Ciências
Exatas (IBILCE) UNESP, câmpus de São José do Rio Preto,
onde desenvolveu pesquisa com apoio da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). É
membro do Grupo de Pesquisa Gênero e Raça e, a partir
de seus estudos sobre as narrativas de David Mitchell e os
filmes de Luiz Bolognesi, no mestrado e doutorado, realiza
pesquisas nas seguintes áreas: estudos subalternos, estudos
de gênero e estudos decoloniais.
FERNANDO LUÍS DE MORAIS é professor, tradutor, poeta
e doutor em Teoria e Estudos Literários pelo Programa de
Pós-graduação em Letras pela Universidade Estadual Paulista
“Júlio de Mesquita Filho” – UNESP/IBILCE, câmpus de São
José do Rio Preto, no qual desenvolveu projeto apoiado pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Supe-
rior (CAPES). É membro do Grupo de Pesquisa Gênero e Raça
do referido instituto, produzindo trabalhos com ênfase nas se-
guintes áreas: estudos de gênero, estudos de raça, estudos de
classe, interseccionalidades, analítica queer e analítica quare.
Editor: Gilmaro Nogueira
Diagramação: Daniel Rebouças
Arte da capa: Marcus Pallas
CONSELHO EDITORIAL
Prof. Dr. Carlos Henrique Lucas Prof. Dr. Leandro Colling
Universidade Federal do Oeste da Bahia – UFOB Universidade Federal da Bahia – UFBA
Prof. Dr. Djalma Thürler Profa. Dra. Luma Nogueira de Andrade
Universidade Federal da Bahia – UFBA Universidade da Integração Internacional da Lusofonia
Profa. Dra. Fran Demétrio
Afro-Brasileira – UNILAB
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB
Prof. Dr. Helder Thiago Maia Prof. Dr Guilherme Silva de Almeida
USP - Universidade de São Paulo Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ
Prof. Dr. Hilan Bensusan Prof. Dr. Marcio Caetano
Universidade de Brasília - UNB Universidade Federal do Rio Grande – FURG
Profa. Dra. Jaqueline Gomes de Jesus Profa. Dra. Maria de Fatima Lima Santos
Instituto Federal Rio de Janeiro – IFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ
Profa. Dra. Joana Azevedo Lima
Dr. Pablo Pérez Navarro
Devry Brasil – Faculdade Ruy Barbosa
Universidade de Coimbra - CES/Portugal
Prof. Dr. João Manuel de Oliveira
e Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG/Brasil
CIS-IUL, Instituto Universitário de Lisboa
Prof. Dr. Sergio Luiz Baptista da Silva
Profa. Dra. Jussara Carneiro Costa
Universidade Estadual da Paraíba – UEPB Faculdade de Educação
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(BENITEZ Catalogação Ass. Editorial, MS, Brasil)
D213 Decolonizando saberes interseccionados na literatura
1.ed. e na educação / organizadores Cláudia Maria Ce-
neviva Nigro, Davi Silistino de Souza, Fernando
Luís de Morais. – 1.ed. – Salvador, BA : Devires,
2023. 232p.
ISBN : 978-85-93646-43-0
1. Educação. 2. Decolonialidade. 3. Gênero – Abor-
dagem educacional. 4. Interseccionalidade. 5. Litera-
tura brasileira. 6. Relações étnicas raciais.
I. Título.
02-2023/63 CDD 370.115
Índice para Catálogo Sistemático :
Decolonialidade : Educação intercultural : Educação 370.115
Aline Graziele Benitez – Bibliotecária – CRB-1/3129
Obra financiada com apoio da Capes/Proex
Qualquer parte dessa obra pode ser reproduzida, desde que
citada a fonte. Direitos para essa edição cedidos à Editora Devires.
Av. Ruy Barbosa, 239, sala 104, Centro – Simões Filho – BA
www.editoradevires.com.br
SUMÁRIO
7 APRESENTAÇÃO
MARCO AURELIO BARSANELLI DE ALMEIDA
REGIANE CORRÊA DE OLIVEIRA RAMOS
15 A DECOLONIALIDADE EM CLOUD ATLAS (2004),
DE DAVID MITCHELL
DAVI SILISTINO DE SOUZA
35 A HISTÓRIA INCOMPLETA DE BRENDA E DE
OUTRAS MULHERES: SUBJETIVIDADES TRANS
NAS BRECHAS DO EXISTIR
FLÁVIA ANDREA RODRIGUES BENFATTI
LUIZ HENRIQUE MOREIRA SOARES
53 DA PELE À PALAVRA: O USO DA VOZ LIBERADA
COMO EXPURGO DA DOR
FERNANDO LUÍS DE MORAIS
MICHELA MITIKO KATO MENESES DE SOUZA
75 DE LAÇO DE FITA NO MEU
BLACK POWER: PROTAGONISMO FEMININO
NEGRO NA LITERATURA PARA CRIANÇAS
LUANA PASSOS
CLÁUDIA MARIA CENEVIVA NIGRO
91 FEMINISMOS PÓS-COLONIAIS
MARCO AURELIO BARSANELLI DE ALMEIDA
107 IMAGINANDO O FUTURO PARA
EXISTÊNCIAS QUARE
FERNANDO LUÍS DE MORAIS
CLÁUDIA MARIA CENEVIVA NIGRO
JESSE ARSENEAULT
135 MATEMÁTICA RUMO À EDUCAÇÃO
ANTIRRACISTA
AIRA CASAGRANDE DE OLIVEIRA CALORE
ANDREIA CRISTINA FIDELIS
147 NOVAS NARRATIVAS NA COMUNIDADE
LGBTQIA+ INDIANA: UMA ENTREVISTA COM O
DIRETOR SUKHDEEP SINGH
REGIANE CORRÊA DE OLIVEIRA RAMOS
JAIRO ADRIÁN-HERNÁNDEZ
TRADUÇÃO DE DAVI SILISTINO DE SOUZA
159 PONCIÁ VICÊNCIO DE CONCEIÇÃO EVARISTO:
(RE)PENSANDO O CURRÍCULO
LEANDRO PASSOS
174 PUTAKARYY KAKYKARY: A LITERATURA
INDÍGENA E O SOPRO DA VIDA
DAVID DE SOUSA PEREIRA
191 “SALT-WATER CITY”: A RACIALIZAÇÃO DE
VANCOUVER EM DISAPPEARING MOON CAFÉ, DE
SKY LEE E THE JADE PEONY, DE WAYSON CHOY
DOMENIC BENEVENTI
TRADUÇÃO DE MARCO AURELIO BARSANELLI DE ALMEIDA
212 UMA JORNADA TRANS DE RESISTÊNCIA:
VULNERABILIDADE E RESILIÊNCIA NA
NARRATIVA DISTÓPICA DE MANJULA
PADMANABHAN
ANTONIA NAVARRO-TEJERO
TRADUÇÃO DE DAVI SILISTINO DE SOUZA
E REGIANE CORRÊA DE OLIVEIRA RAMOS
APRESENTAÇÃO
MARCO AURELIO BARSANELLI DE ALMEIDA1
REGIANE CORRÊA DE OLIVEIRA RAMOS2
Decolonizar saberes é contar outras histórias. É alertar, como afirma
Chimamanda Ngozi Adichie, sobre o perigo de uma história única. Para
Adichie, as “histórias importam” e este livro tem como objetivo contá-las a
partir da experiência vivida de sujeitos que foram/são escravizados, raciali-
zados, generificados e sexualizados (ADICHIE, 2019). Em sua aula magistral,
“Descolonizar a história”, no Centro de Estudos Sociais da Universidade de
Coimbra (2022), disponível no YouTube, Boaventura de Sousa Santos discute
a decolonização da história a partir das pessoas que não querem lembrar e
das que não podem esquecer. Segundo Santos, o passado, para esse segundo
grupo, é uma ferida do presente. Esses olham para o passado com a missão
de denunciar a colonialidade do saber, do ser, da natureza e do gênero/sexua-
lidade, resistindo à dominação. Nesse sentido, as autoras/autores/autorxs de
Decolonizando saberes interseccionados na literatura e na educação desafiam
o eixo temporal, espacial e subjetivo do sistema-mundo moderno/colonial
e suas instituições, incluindo a universidade/escola, apresentando obras que
gritam incessantemente em protesto contra uma tradição colonial secular
que silencia e violenta os sujeitos que não se enquadram ao modelo “hete-
rossexual/branco/patriarcal/cristão/militar/capitalista/europeu, com as suas
1
Doutor em Letras pela UNESP/São José do Rio Preto. E-mail: marcoaurelio_maba@hotmail.com.
2
Professora adjunta da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). Doutora e
mestre em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês pela Universidade de São Paulo (USP).
Especialização em Literaturas de Língua Inglesa pela Universidade de São Paulo (2004). Rea-
lizou estágio de Pós-doutorado em Estudos Literários pela UNESP/IBILCE de São José do
Rio Preto, regiane.ramos@uems.br.
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
7
várias hierarquias globais enredadas e coexistentes no espaço e no tempo”
(GROSFOGUEL, 2008, p. 122).
A coleção de textos aqui apresentados surge do Curso de Extensão “De-
colonizando saberes interseccionados na literatura e na educação – Módulo
II”, organizado pelo Grupo Gênero e Raça (UNESP – São José do Rio Preto)
e pelo Grupo Intersexualidades (USP – São Paulo), liderados respectivamen-
te pela Prof.ª Dr.ª Cláudia Maria Ceneviva Nigro e pelo Prof. Dr. Emerson
Inácio. O curso contou também com a parceria do Núcleo de Estudos Afro-
-Brasileiros e Indígenas (NEABI) do Instituto Federal do Mato Grosso do
Sul (IFMS – Campus Três Lagoas), liderado pelo Prof. Dr. Leandro Passos,
e com o projeto de pesquisa “Narrativas de Resistência” da Universidade
Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS – Unidade Universitária de Jardim),
coordenado pela Prof.ª Dr.ª Regiane Corrêa de Oliveira Ramos. Concebido
e organizado no formato de mesas-redondas, com duas horas de duração,
reuniu especialistas de vários estados do Brasil e também de outros países. Os
encontros aconteceram duas vezes ao mês, às sextas-feiras, de 12 de março
a 12 de novembro de 2021. A proposta do curso foi desconstruir, informar
e promover a interação de saberes interseccionados, oferecendo conteúdo
para viabilizar e fomentar discussões com os participantes, expandindo e
aprimorando o conhecimento onde quer que dele necessitemos.
Nos doze capítulos apresentados, as/os/xs autoras/es/xs aqui elencadas/
es/xs indicam vivências não hegemônica, as quais não separam vida e inves-
tigação científica. Seus textos nos ajudam a considerar o que nos compele
a transformar contextos de formação de professoras/es/xs, entendendo-os
enquanto espaços de ruptura de uma concepção de educação mercantil. Pau-
tando-se em compreensões de educação como prática da liberdade, problema-
tizam e ampliam a discussão sobre ensino crítico, o qual combate uma política
racista, sexista, LGBTQIA+fóbica, aporofóbica, conservadora e neoliberal
(HOOKS, 2017). Os capítulos aqui reunidos são uma espécie de “comprova-
ção” de que um trabalho potente, inquieto e inquietante de decolonização dos
conhecimentos legitimados está em andamento nas universidades brasileiras.
Desse modo, no primeiro capítulo, “A decolonialidade em Cloud Atlas
(2004), de David Mitchell”, Davi Silistino de Souza evidencia de que maneira
as personagens subalternas Autua e Sonmi~451 empoderam-se nos capítu-
los “The Pacific Journal of Adam Ewing” e “An Orison of Sonmi~451” do
romance Cloud Atlas (2004), escrito por David Mitchell. Souza mostra como
as vozes e os discursos das personagens ampliam-se e ganham mobilidade
diante de sociedades autoritárias e excludentes. Para tanto, usa conceitos
recentes acerca dos Estudos Subalternos Latinos, principalmente os rela-
8 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
cionados à decolonialidade, apontando de que maneira estão dispostos na
narrativa em voga para decolonizar padrões hegemônicos e questionar a
colonialidade do poder.
No segundo capítulo, A história incompleta de Brenda e de outras mu-
lheres: subjetividades trans nas brechas do existir”, Flávia Andrea Rodrigues
Benfatti e Luiz Henrique Moreira Soares trazem à tona discussões sobre
subjetividades e corporeidades de mulheres trans a fim de evidenciá-las como
seres dignos de existir, uma vez que as sociedades ocidentais cis-heteronor-
mativas, eurocentradas e cristãs têm invisibilizado as “mulheres” desde a “in-
venção das Américas” (MIGNOLO, 2018). Tratam das existências trans como
subjetividades que importam, cujos corpos são atravessados por dinâmicas
estatais e econômicas, mas imbuídos e permeados de resistências históricas.
Suas reflexões são elaboradas a partir de relatos (contos) de mulheres trans,
compilados no livro intitulado A história incompleta de Brenda e de outras
mulheres, publicado em 2016 pelo jornalista pernambucano Chico Luder-
mir. É a partir dessa obra que Benfatti e Soares pensam o projeto decolonial
como uma opção possível para desconstruir as bases dos discursos de ódio
social em relação às mulheres, especialmente às mulheres trans — mulheres
também diferentes entre si.
No terceiro capítulo, “Da pele à palavra: o uso da voz liberada como
expurgo da dor”, Fernando Luís de Morais e Michela Mitiko Kato Meneses
de Souza retratam como os sujeitos negros-gays, que por tanto tempo foram
relegados a uma posição periférica, lançam seus gritos de protesto por meio
da arte escrita. É essa voz que, partindo de corpos “abjetos” (representado
pela pele), transforma dores e vivências em palavras, em arte literária. De
Morais e Kato proporcionam às/aos/xs leitoras/os/xs discursos possantes dos
poemas “Reclamations” [Reivindicações], de Thomas Grimes, e “O momento
profundo” e “Religião”, de Waldo Motta, que operam como um desabafo de
um repertório de memórias individuais e coletivas contra o cis-heteropa-
triarcado branco classista.
No quarto capítulo, “De laço de fita no meu black power: protagonismo
feminino negro na literatura para crianças”, Luana Passos e Cláudia Maria
Ceneviva Nigro tratam de textos literários para crianças e jovens, que trazem
a descoberta e a validade de identidades, hegemônicas ou não, e confirmam
ou refutam o racismo estrutural. Passos e Nigro analisam a obra Menina Bo-
nita do laço de fita (1986) de Ana Maria Machado, apresentando os indícios
do racismo na narrativa. Buscando o protagonismo e o empoderamento das
personagens negras na literatura, as autoras apontam O mundo no black po-
wer de Tayó (2013), de Kiusam de Oliveira, como uma obra, diferente da de
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
9
Machado, que incentiva e encorajar as crianças no enfrentamento de assuntos
como o preconceito, o racismo estrutural, a discriminação e o estigma.
No quinto capítulo, “Feminismos pós-coloniais”, Marco Aurelio Barsanel-
li de Almeida apresenta algumas concepções sobre os estudos pós-coloniais e
sobre as teorias feministas, refletindo acerca de pontos de intersecção desses
campos teóricos. Almeida mostra-os como alternativas inclusivas contra o
tratamento desigual que corpos negros recebem. O autor traz dados esta-
tísticos, retratando a realidade da população negra no Brasil, que tem sido
discriminada e violentada cotidianamente.
No sexto capítulo, “Imaginando o futuro para existências quare”, Fer-
nando Luís de Morais, Cláudia Maria Ceneviva Nigro e Jesse Arseneault
discutem o conceito de “família”. De Morais, Nigro e Arsenault apresentam
a literatura quare do Norte e do Sul globais que questiona uma composição
familiar monolítica e disciplinadora (modelo tradicional de família) do he-
tero-parentesco. Os autores nos convidam a conhecer as obras “Fraternal
Twins” [Gêmeos fraternos], de Thomas Grimes; “Who Said It Was Simple”
[Quem disse que seria fácil?], de Audre Lorde; “Kotinha”, de Cidinha da Silva;
“No Easter Sunday for Queers” [Sem domingo de Páscoa para os queers], de
Koleka Putuma; e The Quiet Violence of Dreams [A violência silenciosa dos
sonhos], de K. Sello Duiker, as quais desnudam modelos de família, gênero,
sexualidade e raça/etnia, exibindo um novo arranjo familiar no qual as pos-
sibilidades diversas de seres humanos possam ser e estar no mundo. Essas
obras explicitam as linhagens coloniais de família, relação e pertencimento,
deixando florescer vidas quare.
No sétimo capítulo, “Matemática rumo à educação antirracista”, Aira
Casagrande de Oliveira Calore e Andreia Cristina Fidelis discutem a va-
lorização dos saberes e da cultura afro-brasileira no ambiente escolar. As
autoras exploram as potencialidades dos jogos Oware e Borboleta, jogos de
raciocínio originários do continente africano, no ensino lúdico de matemá-
tica, de modo a promover uma valorização da identidade histórica e cultural
africana. Calore e Fidelis tencionam, ainda, auxiliar na formação pedagógica
de professores com vistas a inserir no ambiente escolar práticas antirracistas,
que não apenas ressaltam a ancestralidade africana como constituinte na
construção da cultura brasileira, como também reconhecem a importância
de culturas tradicionais e saberes não europeus na formação do indivíduo.
Dessa maneira somos apresentados à Etnomatemática, designada como uma
teoria e metodologia que subverte a dominação exercida sobre povos cultural-
mente e historicamente subjugados, ao recuperar esses saberes matemáticos
silenciados, a partir de uma visão não eurocentrada.
10 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
No capítulo oitavo, “Novas narrativas na comunidade LGBTQIA+ in-
diana: uma entrevista com o diretor Sukhdeep Singh”, Regiane Corrêa de
Oliveira Ramos e Jairo Adrián-Hernández entrevistam o Engenheiro de
Software Sukhdeep Singh. Nessa conversa, é discutido o documentário Sab
Rab De Bande (2020) [Somos todes criações de Deus], produzido por ele.
Nessa produção cinematográfica, Singh retrata os desafios e as discriminações
que queer sikhs enfrentam nas famílias, nos gurdwaras e nas instituições
sociais, isto é, na territorialização da ideologia cis-heteropatriarcal. Com
os depoimentos de cinco pessoas entrevistadas, o diretor busca evidenciar
que suas identidades, a religiosa e a de gênero/sexual, não estão em conflito.
Assumir uma não significa excluir a outra. O diretor explora esse ambiente
ao relembrar sua infância e discutir os papéis sociais atribuídos aos gêneros,
os limites do masculino e do feminino e o fardo de preservação da honra
familiar, além de comentar acerca dos problemas que teve ao gravar o do-
cumentário, focando-se na dificuldade em encontrar pessoas queer sikh que
estivessem dispostas a partilhar suas experiências tecendo comentários acerca
do moralismo colonial, do preconceito religioso, e do racismo existentes na
sociedade, dentro e fora da comunidade gay indiana.
No nono capítulo, “Ponciá Vicêncio de Conceição Evaristo: (re)pensando
o currículo”, Leandro Passos analisa a obra Ponciá Vicêncio de Conceição
Evaristo, refletindo sobre elementos culturais africanos e afro-brasileiros
presentes no discurso literário de autoria negra, possibilitando-nos repen-
sar questões como o racismo e a resistência da crítica e da historiografia
literária. Ao explorar o panorama educacional contemporâneo, em especial
a Lei 10.639 de 2003, Passos aponta a persistência na relutância para o des-
tacamento de investimentos direcionados a políticas públicas focadas em
perspectivas antirracistas na educação. Passos comenta ainda a inércia social
acerca do racismo, muitas vezes ignorado, tratado como algo inexistente, ou
ao menos imperceptível, na realidade brasileira. Assim, a partir da narrativa
literária, o autor revisita o passado a fim de revelar como povos de origem
africana são inferiorizados e têm sua importância cultural negada na forma-
ção identitária do Brasil, além de propor reflexões sobre a escrita literária
como instrumento antirracista.
No décimo capítulo, “Putakaryy Kakykary: a literatura indígena e o sopro
da vida”, David de Sousa Pereira discorre sobre a cultura indígena como parte
do mosaico identitário nacional. Em suas considerações, o autor menciona
a exotização cultural indígena como uma forma de distanciamento social
desses povos. O autor discute ainda como o contato europeu com indígenas
nos séculos XV e XVI influenciou o pensamento acerca desses povos, seja
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
11
com a ideia do bom selvagem, ou com adjetivos insidiosos quanto às noções
de moral desses indivíduos. O autor explora ainda as modificações, sofridas
pela figura do índio no Brasil, por meio da literatura e de mudanças socio-
culturais, em busca de uma identidade nacional. O autor cita obras literárias
produzidas pelos povos originários e concentra sua análise na obra O sopro da
vida — Putakaryy Kakykary, de Kamuu Dan Wapichana, observando como o
autor “[...] mostra as relações dos povos originais com o seu meio e com suas
espacialidades, isto é, sua conexão com a natureza, sua visão cosmogônica, a
defesa de sua cultura, sua língua e seu povo”.
No décimo primeiro capítulo, “‘Salt-Water City’: a racialização de Van-
couver em Disappearing Moon café, de Sky Lee e The Jade Peony, de Wayson
Choy”, Domenic Beneventi discute a formação cultural e social do Canadá
enquanto nação, e seus reflexos nos sujeitos marginalizados do país. Em suas
considerações, Beneventi aborda as obras Disappearing Moon Café, de Sky
Lee, e The Jade Peony, de Wayson Choy, para demonstrar como os mapea-
mentos nacionalistas da paisagem canadense são usados como tentativa de
afastar a outridade racial do corpo coletivo nacional, produzindo um não
lugar de guetos racializados, reservados a esses sujeitos periféricos. Ambas
as obras selecionadas abordam as histórias de sujeitos de origem chinesa em
meio a uma elite branca que os vê como indesejados, mostrando o ambiente
humano como uma área de exclusão social. Ao explorar espaços rurais e ur-
banos, o autor discorre sobre questões como imigração ilegal, silenciamento
do feminino, processos de aculturação, violência étnica e racismo institucio-
nalizado contra os sujeitos sino-canadenses.
Por fim, no décimo segundo capítulo, “Uma jornada trans de resistência:
vulnerabilidade e resiliência na narrativa distópica de Manjula Padmanabhan”,
de Antonia Navarro-Tejero, discute o feminino, o masculino e o transgênero
nos romances distópicos Escape, e sua sequência The Island of Lost Girls, de
Manjula Padmanabhan. Em suas narrativas, a autora explora a vida em um
mundo dividido entre um país misógino composto apenas por homens, e
uma sociedade secreta governada por mulheres cisgênero. Navarro-Tejero,
analisa de que maneira Padmanabhan problematiza os binarismos rígidos
de gênero ao refletir sobre o modo como feminilidade e ideias de vulnera-
bilidade e resistência entrecruzam-se, além de abordar questões como vio-
lência sexual e empoderamento. Ao discursar sobre questões como gênero
e feminicídio, questionando se o gênero seria baseado em elementos como
órgãos sexuais, aparência, ou identificação do sujeito com a masculinidade ou
a feminilidade, Padmanabhan reflete também acerca da situação do gênero
dentro da sociedade indiana. O capítulo aponta questões sobre visibilidade
12 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
trans e feminina, e critica as desigualdades sociais que conferem às classes
altas aparatos de opressão social.
Assim, os estudos decoloniais, fio condutor de todos os capítulos aqui
apresentados, trazem uma proposta de virada epistêmica, pedagógica e polí-
tica. A pedagogia decolonial implica na ressignificação dos lugares que cor-
pos dissidentes (negras/os, mulheres, indígenas, a comunidade LGBTQIA+
e entre outros), ocupam nas sociedades. A decolonialidade é um caminho
para resistir e desconstruir perspectivas, padrões e conceitos impostos aos
povos subalternizados. É uma crítica direta à modernidade e ao capitalismo
(MIGNOLO, 2018). Os capítulos que compõem esta coletânea podem ser
lidos como ilustrativos da corpo-política. Para Mignolo (2021, p. 44):
[...] a corpo-política é o lado obscuro e a metade que
faltava à biopolítica: a corpo-política descreve as tec-
nologias decoloniais praticadas por corpos que per-
ceberam que eram considerados menos humanos, no
momento em que se deram conta que o próprio ato de
descrevê-los como menos humanos era uma reflexão
radicalmente desumana. Dessa maneira, a falta de hu-
manidade é atribuída a agentes, instituições e conheci-
mentos imperiais, que tiveram a arrogância de decidir
que certas pessoas, de quem não gostavam, eram menos
humanas. A corpo-política é um componente funda-
mental do pensamento decolonial, da ação decolonial
e da opção decolonial.3
Feitas essas observações, desejamos que as ideias defendidas neste livro
ressoem nos corredores da academia e no mundo afora. Que elas possam
intervir nos debates da educação brasileira e estimular a luta pela educação
libertadora e por escolas democráticas.
3
MIGNOLO, W. Desobediência epistêmica, pensamento independente e liberdade decolonial.
Revista X, v. 16, n. 1, p. 24-53, 2021.
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
13
1
14 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
A DECOLONIALIDADE
EM CLOUD ATLAS (2004),
DE DAVID MITCHELL
DAVI SILISTINO DE SOUZA4
No presente capítulo, evidenciaremos de que maneira as personagens
subalternas Autua e Sonmi~451 empoderam-se nos capítulos “The Pacific
Journal of Adam Ewing” e “An Orison of Sonmi~451” do romance Cloud
Atlas (2004), escrito por David Mitchell. Desse modo, veremos como as vo-
zes e os discursos das personagens ampliam-se e ganham mobilidade diante
de sociedades autoritárias e excludentes. Para tanto, discutiremos conceitos
recentes acerca dos Estudos Subalternos Latinos, principalmente os rela-
cionados à decolonialidade5, apontando de que forma estão dispostos na
narrativa em voga.
Iniciando a discussão a partir do conceito de decolonialidade, vemos
que o termo foi cunhado por pensadores do Grupo de Estudos Subalternos
Latinos, representado por autores como Walter M. Mignolo, Aníbal Quijano,
Ramón Grosfoguel, Santiago Castro-Gómez, cujo principal objetivo é expor
4
Doutor em Letras pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP).
Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas (IBILCE). São José do Rio Preto – SP – Brasil.
5
Tratando da tradução do termo em espanhol “decolonialidad” para o português, a aparente
não unanimidade deve ser abordada neste momento. Preferimos o uso de “decolonialidade” ao
invés de “descolonialidade” pelo fato de que o uso do prefixo “des-” indica uma negação, uma
separação, isto é, um binarismo inevitável. Já o prefixo “de”, apesar de ter um sentido voltado
para contradições, não nos remete a um sistema dual. Ou seja, enquanto no primeiro há uma
tentativa de desfazer e superar o colonial, no segundo há uma possibilidade de empoderamento
político da subalternidade na transcendência da colonialidade.
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
15
a perpetuação da colonialidade após o fim da colonização. Assim, apesar de
o sistema colonial ter chegado ao fim em muitos países, resquícios das estru-
turas e hierarquias opressivas ainda se mantêm. Além disso, há um enfoque
na necessidade de inclusão de pensadores não europeus no rol de estudiosos
críticos, fornecendo-lhes plataformas de exposição. Critica-se, desse modo, o
fato de parte das abordagens críticas, como o pós-estruturalismo, não darem
ênfase a pesquisadores e estudos subalternos, em especial no contexto latino.
O pensador Ramón Grosfoguel, caminhando de acordo com o raciocínio
da decolonialidade, afirma a importância de buscarmos uma perspectiva não
essencialista, na qual o conceito de decolonialidade não se desenvolva com
“[...] uma crítica anti-europeia fundamentalista e essencialista. Trata-se de
uma perspectiva crítica em relação ao nacionalismo, ao colonialismo e aos
fundamentalismos, quer eurocêntricos, quer do Terceiro Mundo” (GROS-
FOGUEL, 2008, p. 117). Fugindo do binarismo, concordamos com a pro-
posta de inclusão de mais autores não europeus ou estadunidenses, além
de linhas de pensamentos mais amplas na rede epistemológica, isto é, não
dispensando pensamentos do cânone, mas sobretudo abarcando também
os dos subalternos.
Neste instante podemos observar como David Mitchell representa essa
linha de raciocínio em Cloud Atlas (2004). Sendo esse seu terceiro romance, o
autor traz uma obra complexa em termo das variedades de histórias dispostas
no livro: o romance apresenta seis histórias diferentes, as quais ocorrem em
períodos históricos e locais distintos, desde as ilhas Chatham, no Oceano
Pacífico, durante o final do século XIX, até o Havaí de um futuro pós-apo-
calíptico. Retomando a linha de pensamento de Grosfoguel, em cada uma
das narrativas vemos as protagonistas lutarem em defesa de um pensamento
não dual e não extremista, havendo uma busca pela união de tribos, civiliza-
ções, grupos sociais, entre outros comumente adversários. Tal característica
perpassa diversas épocas e momentos históricos, manifestando-se durante
o colonialismo e após seu término oficial.
Além disso, seguindo o raciocínio decolonial de que as estruturas colo-
niais permanecem na contemporaneidade, Cloud Atlas representa, em cada
um dos capítulos, as consequências da preservação da colonialidade. Vemos,
por exemplo, a presença de uma sociedade LGBTQIA+fóbica em “Letters
from Zedelghem”, machista em “Half-Lives: The First Luisa Rey Mystery”,
e escravocrata no capítulo futurista “An Orison of Sonmi~451”. Assim, os
16 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
conflitos ideológicos e políticos estão presentes independentemente do pe-
ríodo histórico, perpassando todo o romance. Isso se dá devido às relações
histórico-políticas coloniais não desaparecerem milagrosamente, isto é, os
pensamentos hegemônicos não são simplesmente descartados. Há uma per-
manência, em grande parte dos países, do racismo, da LGBTQIA+fobia, do
machismo, dentre outras ideologias opressoras, provenientes dos que estão
no poder.
De fato, o pensamento de que os eixos de dominação e a colonialidade
não existem na contemporaneidade constrói-se a partir de um dos maiores
mitos do século XX. De acordo com Grosfoguel (2008, p. 126), esse mito
[traz] a noção de que a eliminação das administrações
coloniais conduzia à descolonização do mundo, o que
originou o mito de um mundo “pós-colonial”. As múl-
tiplas e heterogêneas estruturas globais, implantadas
durante um período de 450 anos, não se evaporaram
juntamente com a descolonização jurídico-política da
periferia ao longo dos últimos 50 anos. Continuamos a
viver sob a mesma “matriz de poder colonial”.
Apesar da independência política da maioria dos países, os povos ainda
mantêm uma relação hierárquica com os poderes ocidentais, cuja dominação
política e exploração econômica ainda acontecem. Embora pertença a uma
nação hegemônica, Mitchell traz, em suas narrativas, não somente o poder
hegemônico, mas a contrapartida nas vozes da subalternidade. A importância
das protagonistas, dos embates e das resoluções de conflitos dá-se pelo fato
de que, a cada capítulo, o subalterno empodera-se e consegue plataformas
para expor ideologias e pensamentos próprios. Ou seja, a dominação política
e social, a subjugação corporal, o poder e o efeito da colonialidade: todos são
reduzidos à medida que os subalternos começam a enfrentar e conquistar
direitos e espaços de fala. Mitchell, portanto, faz-se uma força dissidente.
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
17
1. Autua e a decolonialidade
Trataremos primeiramente do capítulo “The Pacific Journal of Adam
Ewing” de Cloud Atlas, narrativa situada no final do século XIX, a qual traz
um enfoque no contato entre o advogado estadunidense Adam Ewing e o
ex-escravo da tribo Moriori, Autua, durante uma viagem de navio entre as
ilhas Chatham, na Nova Zelândia, e os Estados Unidos. Analisaremos especi-
ficamente a forma como Autua é representado, à medida que a colonialidade
na personagem manifesta-se por meio de uma dupla colonização, tendo em
vista o contato hierárquico e de dominação com uma tribo neozelandesa
chamada Maori e com a população ocidental.
Para compreender o fenômeno, precisamos nos atentar à historiografia
da região das ilhas da Polinésia, exclusivamente na Nova Zelândia. Antes das
navegações e explorações europeias, havia duas tribos aborígenes: os maoris
e os morioris. Enquanto os primeiros detêm o domínio quase completo das
ilhas da Nova Zelândia, os segundos ocupam as ilhas Chatham, também
denominada Rēkohu pelos nativos.
Diferentemente dos maoris, os morioris adotam, desde a chegada em
Rēkohu, a lei de Nunuku, criada pelo líder Nunuku-Whenua, cujos princípios
básicos são a proibição do assassinato e do canibalismo. De acordo com Deni-
se Davis e Maui Solomon (2016, n.p., tradução nossa), ao se dirigir aos nativos
morioris, Nunuku diz a seguinte frase: “De agora em diante, até o sempre,
nunca mais haverá guerra assim como se vê hoje!”6 As atitudes e ideologias
pacíficas não são compartilhadas pela outra tribo, a qual vê as guerras como
algo indispensável para a prosperidade dos povos. Nas palavras de Autua,
podemos notar a representação da violência perpetrada pelos maoris: “Os
maoris prosperam por meio de guerras & vingança & disputas, mas a paz os
mata” (MITCHELL, 2004, p. 32, tradução nossa)7.
A pacificidade moriori mantém-se inalterada até o momento em que os
maoris decidem invadir as ilhas Chatham, cometendo um grande massacre,
com uma perceptível e proeminente influência inglesa por parte principal-
mente de armas. A maioria dos indivíduos morioris é brutalmente assassina-
da, de modo que os sobreviventes são escravizados em condições precárias.
6
“From now and forever, never again let there be war as this day has seen!” (DAVIS; SOLO-
MON, 2016, n.p.).
7
“Maori thrive on wars & revenge & feudin’, but peace kills ‘em off”” (MITCHELL, 2004, p. 32).
18 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
Dentre as atrocidades cometidas nesse evento estão inclusas a destruição dos
locais religiosos e a “esterilização” — proibição das uniões entre os morioris,
impedindo a continuidade genealógica.
Apesar das diferenças, as tribos possuem uma descendência em comum,
provenientes dos polinésios ocupantes da região da Nova Zelândia no século
XIII. Segundo Howe (2016), a separação das tribos dá-se possivelmente em
1500, quando os morioris migram para as ilhas adjuntas ao país. É necessário
mencionar que, a princípio, no século XIX, a historiografia considerava os
morioris provenientes da Malásia, sem qualquer relação genealógica com os
maoris. Essa linha de argumentação, feita por colonizadores ingleses e baseada
em relatos maoris, serviu como uma tentativa de distanciamento entre as
tribos e uma consequente justificação da escravização por parte dos maoris.
Ainda de acordo com Howe, essa vertente historiográfica, denominada “a
história da grande frota”, reforça a seguinte crença: “[...] os colonizadores
europeus seriam a próxima população ‘superior’, a qual assumiria o papel
ocupado pelos maoris” (HOWE, n.p., 2016)8.
Este olhar historiográfico eurocêntrico, amplamente divulgado em 1904,
permite-nos perceber a presença da crença no mito ocidental denominado
por Santiago Castro-Gómez (2005) de “hybris do ponto zero”, cuja assertiva
é a existência de um ponto zero relacionado à epistemologia e às filosofias
eurocêntricas. O mito, segundo o autor, provém da ideia de Descartes da
necessidade da eliminação de todas as opiniões anteriores, dos contextos
situacionais capazes de influenciar o resultado do experimento por parte do
pesquisador. Isso teria como objetivo principal tornar o pensamento cien-
tífico concreto e válido a partir de um senso de neutralidade. Precursor do
Iluminismo e do racionalismo moderno, o filósofo depreende a necessidade
de ter, na pesquisa científica, um ponto de partida, sendo todos os fatos e
teorias anteriores rejeitados.
Transpondo esse conceito dos Estudos Subalternos para o contexto das
tribos neozelandesas, vemos como a afirmação da neutralidade e do marco
inicial historiográfico suscita o apagamento dos indivíduos morioris. Isso
acontece com uma ênfase historiográfica ressaltando e trazendo como fatos
iniciais o domínio maori e, principalmente, a chegada dos europeus. Por meio
8
“[...] European settlers were the next ‘superior’ people, who would take over from Māori”
(HOWE, n.p., 2016).
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
19
da justificativa de imparcialidade, a perspectiva teórica eurocêntrica continua
no ápice, enquanto as subalternas permanecem silenciadas. A respeito disso,
Castro-Gómez (2005) comenta:
Começar tudo de novo significa ter o poder de nomear
pela primeira vez o mundo; de trazer fronteiras para
estabelecer quais conhecimentos são legítimos ou ile-
gítimos, definindo, ademais, quais comportamentos são
normais ou patológicos. Segundo ele, o ponto zero é
o do começo epistemológico absoluto, mas também o
do controle econômico e social sobre o mundo. Locali-
zar-se no ponto zero equivale a ter o poder de instituir,
de representar, de construir uma visão sobre o mundo
social e natural reconhecida como legítima e garantida
pelo Estado (p. 25)9.
Dessa maneira, não é por acaso que há uma perpetuação do domínio
epistêmico, econômico e social sob a perspectiva eurocêntrica na região da
Nova Zelândia até meados da década de 1980. Também não é acidental o
fato de a cultura dos morioris ter sido silenciada desde o massacre cometi-
do pelos maoris – somente resgatada e rediscutida mais profundamente na
contemporaneidade (começo do século XXI).
Tendo em vista a dominância colonial na retórica da historiografia mo-
derna, pensadores decoloniais defendem a existência de uma realidade mais
ampla, menos hegemônica. Walter Mignolo (2007) contribui para esse debate:
“A decolonialidade é [...] a energia que não se deixa influenciar pela lógica
da colonialidade, nem se permite acreditar nos contos de fadas da retórica
da modernidade” (p. 27, tradução nossa)10. Há uma busca, assim, pela aber-
tura de um sistema fechado e pautado na realidade europeia, revelando e
introduzindo a força dos povos colonizados. De fato, o silenciamento dos
9
“Comenzar todo de nuevo significa tener el poder de nombrar por primera vez el mundo; de
trazar fronteras para establecer cuáles conocimientos son legítimos y cuáles son ilegítimos, de-
finiendo además cuáles comportamientos son normales y cuáles patológicos. Por ello, el punto
cero es el del comienzo epistemológico absoluto, pero también el del control económico y social
sobre el mundo. Ubicarse en el punto cero equivale a tener el poder de instituir, de representar,
de construir una visión sobre el mundo social y natural reconocida como legítima y avalada por
el Estado” (CASTRO-GÓMEZ, 2005, p. 25).
10
“La decolonialidad es, entonces, la energía que no se deja manejar por la lógica de la coloniali-
dad, ni se cree los cuentos de hadas de la retórica de la modernidad” (MIGNOLO, 2007, p. 27).
20 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
morioris é parcialmente rompido quando, décadas depois da ampla divul-
gação da “história da grande frota”, comprova-se, por estudos científicos, a
origem mútua das tribos aborígenes, negando a teoria que tentava justificar
a escravização dos morioris.
Essa contextualização faz-se necessária devido ao fato de Mitchell criar
Autua como pertencente à última geração de moriori, sobrevivente do mas-
sacre feito pelos maoris. A personagem vive num período em que há a es-
cravização dos morioris pelos maoris, no qual sua cultura é desvalorizada
e apagada11, e em que há um domínio e presença forte dos europeus na
Oceania. Dessa maneira, a dupla colonialidade nessa personagem constrói-se
pela subjugação, principalmente, perante a tribo oposta, mas também com
relação aos europeus.
Frente às atitudes mais agressivas e repressoras dos maoris, Autua mos-
tra-se obstinado e não permite o silenciamento ou a exploração pela outra
tribo. O moriori foge diversas vezes do domínio maori, entretanto, vê como
única alternativa de sobrevivência a tentativa de envenenamento do líder da
tribo: “Veneno ruim ruim tem esse peixe moeeka, senhor Ewing, um mordida,
sim, cê dorme, cê nunca acorda mais” (MITCHELL, 2004, p. 31, tradução
nossa)12. Ao buscar a liberdade por meio da vingança pela escravização de
semelhantes, a atitude de Autua, além de ir expressivamente contra a lei de
Nunuku, pode ser considerada um princípio de manifestação essencialista
subalterna.
Segundo Grosfoguel (2008), as reações subalternas à violência e à repres-
são por parte do colonialismo ocorrem de duas formas: os nacionalismos e os
fundamentalismos. Considera-se que, ao buscar reforçar um Estado-nação,
em termos de um sistema-mundo patriarcal/capitalista colonial/moderno,
o nacionalismo ainda apresenta resquícios da estrutura eurocêntrica. Tendo
em vista a busca por um local privilegiado frente à realidade global, a colo-
11
Percebemos esse apagamento no início da narrativa, quando a protagonista Adam Ewing
cai em um buraco e encontra nas árvores resquícios das esculturas e desenhos da tribo Mo-
riori, chamados dendroglyph, em inglês, ou momori rakau, na língua nativa. Tais esculturas,
praticamente inexistentes, sobrevivem ao apagamento cultural justamente por estarem em
um local de difícil acesso, em um buraco repleto de árvores.
12
“Bad bad poison this moeeka fish, Missa Ewing, one bite, aye, you sleep, you never wake no
mo’” (MITCHELL, 2004, p. 31).
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
21
nialidade é mantida; os binarismos permanecem firmes nessa resposta ao
eurocentrismo.
A segunda forma é ainda mais perigosa, sendo a atitude evidenciada
por Autua um possível prelúdio a ações mais fundamentalistas. A tentativa
de envenenamento é uma ação desesperada da personagem de se libertar do
grande mal recebido por anos; entretanto, essa atitude alimenta os binarismos
e a segregação de culturas. Os fundamentalistas agem de modo a colidir com
o eurocentrismo e com as colonialidades, negando não apenas as estruturas
e as hierarquias, mas negando, de modo dual, as características ocidentais,
incluindo a democracia. Desse modo,
Se o pensamento eurocêntrico reivindica que a “demo-
cracia” é um atributo natural do Ocidente, os funda-
mentalismos do Terceiro Mundo aceitam esta premissa
eurocêntrica e reivindicam que a democracia não tem
nada que ver com o não-Ocidente. Ela é, assim, um atri-
buto intrinsecamente europeu e imposto pelo Ocidente
(GROSFOGUEL, 2008, p. 138).
Atitudes como a tomada por Autua, caso atinjam um nível extremo,
em que há uma recusa total da influência colonial, podem levar os povos
à concordância de que a democracia é um constructo europeu e à criação
de governos não democráticos. Conforme Edward Said (1997) aponta, essa
espécie de nativismo, isto é, a negação de qualquer influência colonial, é
alarmante, visto que
[...] reforça a distinção ao se reavaliar o parceiro mais
fraco ou subordinado. E isso tem frequentemente levado
a asserções atraentes, mas demagógicas sobre um pas-
sado e uma história primitivos, ou uma realidade que
parece permanecer livre não apenas do colonizador,
mas ainda do tempo mundial (p. 82, tradução nossa)13.
Apesar das ações de certo cunho extremista, Autua não demonstra querer
voltar a um período mais primitivo ou apagar as influências coloniais. De
13
“[…] reinforces the distinction by revaluating the weaker or subservient partner. And it has
often led to compelling but often demagogic assertions about a native past, history, or actuality
that seems to stand free not only of the colonizer but of worldly time itself” (SAID, 1997, p. 82).
22 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
fato, o escravo moriori aproxima-se da cultura ocidental, principalmente no
tocante à religião católica, visto as semelhanças com o pacifismo da tribo.
Pode-se tentar argumentar que a personagem se mostra subordinada e talvez
até alienada perante a colonialidade inglesa, como é possível observar no
trecho seguinte:
Autua escapou novamente e, durante o segundo mo-
mento de liberdade, lhe foi permitido asilo secreto pelo
senhor D`Arnoq, por alguns meses, com o mesmo risco
do último [asilo]. Nessa residência temporária, Autua
fora batizado e convertido ao Senhor (MITCHELL,
2004, p. 31, tradução nossa)14.
No entanto, defendemos a premissa de que o subalterno pode ter voz
não importando o contexto, mas esta se amplia de maneira eficaz caso se
manifeste dentro das metanarrativas hegemônicas. Vejamos o caso de Autua:
compreendemos que possui consciência da função colonial eurocêntrica
exercida na presença europeia na Nova Zelândia, mas sabe também que, sem
a união com a cultura inglesa, difícil e demoradamente sairia da escravização
maori. Destarte, apesar de a personagem “converter-se” ao catolicismo, é du-
vidável que o aborígene acate essa nova cultura de modo alienante. Em certos
momentos da narrativa, é possível notar, inclusive, como há a manutenção
de suas crenças, como no relato da fuga da escravização maori: “‘Nas noites,
ancestrais visitavam. De dia, eu contava histórias de Maui para os pássaros
e os pássaros contavam histórias do mar para eu’” (MITCHELL, 2004, p. 32,
tradução nossa).15
Desse modo, compreendemos a dupla colonização de Autua constituin-
do-se à medida que há uma influência de ordem direta e violenta quanto
aos maoris e de ordem indireta e velada quanto aos europeus. É importante
notar como a personagem não abandona as origens aborígenes nem relega as
qualidades dos colonizadores ingleses; ao contrário, rejeita as hierarquias mar-
14
“Autua escaped again & during his second spell of freedom he was granted secret asylum by Mr.
D’Arnoq for some months, at no little risk to the latter. During this sojourn Autua was baptized
& turned to the Lord” (MITCHELL, 2004, p. 31).
15
“‘Nights, ancestors visited. Days, I yarned tales of Maui to birds & birds yarned sea tales to I’”
(MITCHELL, 2004, p. 32).
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
23
ginalizadoras, mas aceita pontos positivos dos grupos com os quais está em
contato, como a possível bondade presente nas ideologias cristãs europeias.
2. Sonmi~451 e o giro decolonial
Apesar de constatarmos, por meio da hybris do ponto zero, que teori-
zações eurocêntricas são valorizadas e reforçadas em detrimento da cultura
subalterna, a voz de indivíduos subalternos não deixa de existir, afinal tais gru-
pos são capazes de falar e de expressar teorias e histórias. Para entendermos
como conseguem se manifestar na sociedade, podemos recorrer à personagem
Sonmi~451, do capítulo “An Orison of Sonmi~451”, que, apesar de oprimida
por uma sociedade capitalista “decadente”, luta para mudar o mundo.
Sonmi é uma escrava clone coreana, vivendo em um futuro distópico,
em um mundo repleto de destruição, embora sedimentado em tecnologias
avançadas. Um desses progressos tecnológicos é a criação de clones, com a
finalidade de servirem incondicionalmente os cidadãos dessa nova organi-
zação coreana, sob um regime escravocrata. De fato, a rotina de Sonmi é a
de uma escrava:
Um servo é acordado na hora 4:30 por um estímulo
na corrente de ar, depois convocado a se levantar no
nosso dormitório [...]. Na hora 5:00 organizamos as
caixas ao redor do balcão, à espera do elevador trazer
os primeiros consumidores do novo dia. Pelas próximas
19 horas saudamos os clientes, recebemos os pedidos,
entregamos a comida, vendemos bebidas, estocamos
condimentos, limpamos mesas, e jogamos o lixo fora
(MITCHELL, 2004, p. 185, tradução nossa)16.
Desenvolve-se no século XXII um governo corpocrático, pautado nos
interesses de grandes corporações capitalistas. O extenso domínio dessas
empresas contribui para que grande parte da população viva de forma alie-
nada, mantendo uma ideia de que essa variante do capitalismo seja apenas
16
“A server is woken at hour four-thirty by stimulin in the airflow, then yellow- up in our
dormroom. [...] At hour five we man our tellers around the Hub, ready for the elevator to bring
the new day’s first consumers. For the following nineteen hours we greet diners, input orders, tray
food, vend drinks, upstock condiments, wipe tables, and bin garbage” (MITCHELL, 2004, p. 185).
24 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
um sistema econômico neutro. Pode-se notar tal fato na reação do arquivista,
personagem responsável por realizar uma entrevista com Sonmi, quando esta
revela fatos sobre o sistema:
O que você descreve vai além do... imaginável, Son-
mi~451. Assassinando clones para abastecer restaurantes
com comida e Sabão... não. A acusação é absurda, não, é
injusta, não, é uma blasfêmia! [...] sendo um consumidor
da corpocracia, sou obrigado a dizer que o que você diz
ter visto deve, deve ter sido criado pela União... um ce-
nário para seu proveito. Nenhum tipo de “massacre” seria
permitido existir. O Amado Presidente nunca permitiria!
[...] Se clones não fossem pagos pelo trabalho com a ida
para comunidades de retiro, a pirâmide inteira seria a
mais abominável perfídia (MITCHELL, 2004, p. 343-
344, tradução nossa).17
A visão de que o capitalismo é apenas um sistema econômico, sem defei-
tos ou ideologias opressoras, é mantida pelo arquivista, pois também se insere
na sociedade como um consumidor, isto é, um cidadão da corpocracia. Faz-se
necessário, entretanto, perceber, de acordo com Castro-Gómez e Grosfoguel
(2007), “[...] que o capitalismo não é apenas um sistema econômico [...],
nem tampouco apenas um sistema cultural [...], mas sim uma rede global de
poder, integrada por processos econômicos, políticos e culturais [...]” (p. 17,
tradução nossa).18 O perigo de entender o capitalismo de maneira neutra,
servindo apenas à esfera econômica, é a possibilidade de desconsiderar qual-
quer relação com a opressão dos subalternos. Embora a subalternização desse
grupo ainda ocorra, a cruel realidade dos clones é refutada pelo arquivista.
17
“What you describe is beyond the ... conceivable, Sonmi~451. Murdering fabricants to supply
dineries with food and Soap ... no. The charge is preposterous, no, it’s unconscionable, no it’s
blasphemy! [...] as a consumer of the corpocracy, I am impelled to say, what you saw must, must
have been a Union ... set created for your benefit. No such ... ‘slaughtership’ could possibly be
permitted to xist. The Beloved Chairman would never permit it! [...] If fabricants weren’t paid
for their labor in retirement communities, the whole pyramid would be ... the foulest perfidy”
(MITCHELL, 2004, p. 343-344).
18
“[…] que el capitalismo no es sólo un sistema económico [...] y tampoco es sólo un sistema
cultural [...], sino que es una red global de poder, integrada por procesos económicos, políticos
y culturales [...]” (CASTRO-GÓMEZ; GROSFOGUEL, 2007, p. 17).
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
25
O processo de criação dos clones na narrativa, a princípio, funcionaria
como a elaboração de “máquinas” não pensantes e inanimadas, porém se
torna o início de uma nova classe de subalternos — os clones são, apesar de
possuírem uma fisiologia distinta dos seres humanos, seres vivos tratados
como objetos. Habitando essa atmosfera colonial, na qual há uma escravidão
“justificada”, vivem uma existência desprezível, com obrigações injustas e
condições precárias de sobrevivência. Além disso, submetidos a um sistema
alienante, não é permitido pensar, questionar ou raciocinar, devendo ser se-
guidas ordens de pessoas hierarquicamente superiores. A alienação dá-se na
medida em que os clones, principalmente os projetados para trabalharem na
rede de restaurantes Papa Song’s, realizam todos os dias as mesmas atividades,
sendo uma das primeiras recitar seis “catecismos” e ouvir o sermão feito pelo
“Logoman”, uma espécie de pastor.
Esse senso de superioridade, construído no “sistema mundo europeu/
euro-norte-americano moderno/capitalista colonial/patriarcal” (acrescenta-se
agora corpocrático), revela que, nesse sistema econômico, estão presentes
diversas questões de exploração e dominação cultural, política e histórica.
Sonmi não apenas sofre da dominação econômica e social dos sangue-pu-
ros19, como também de outras hierarquias, como a de gênero (machismo).
Afinal, por que razão somente clones mulheres são criadas para trabalharem
no restaurante como garçonetes? Grosfoguel (2008, p. 122) elucida que, por
meio da colonização, “[...] chegou o homem heterossexual/branco/patriarcal/
cristão/militar/capitalista/europeu, com as suas várias hierarquias globais
enredadas e coexistentes no espaço e no tempo”. Vivendo em uma sociedade
corpocrática, Sonmi é acometida por essas hierarquias, tendo que lutar não
apenas contra uma sociedade escravocrata, mas também machista.
É um equívoco pensar, destarte, que, por meio do sistema capitalista,
não persistam também as ideologias, costumes e crenças europeias. Isto é, os
países que portam esse modelo ocidental de organização social, econômica
e cultural carregam muitas hierarquias: a hierarquia étnico-racial, discrimi-
nando os não europeus a partir do fenótipo; a hierarquia patriarcal, priori-
zando o homem a despeito da mulher; a hierarquia sexual, beneficiando os
heterossexuais e relegando as diversas identidade de gênero; a hierarquia
19
Nomenclatura utilizada por Mitchell para designar pessoas que nasceram da concepção
natural (tradução nossa de pureblood).
26 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
religiosa e espiritual, favorecendo a religião cristã; e a hierarquia linguística e
epistêmica, privilegiando as línguas e o conhecimento construídos na Europa.
Frente a essa realidade, Sonmi~451 surge como uma das únicas persona-
gens clone capaz de desvencilhar-se da prisão intelectual. Sendo assim, escapa
do restaurante e inicia uma jornada pelo mundo, tomando o conhecimento
das práticas perversas da corpocracia. A partir da proximidade com novas
experiências, toma ciência do modo de produção do Sabão, bebida usada na
alimentação de clones — “A indústria genômica necessita de quantidades
gigantescas de biomatéria derretida [...] para o Sabão. Que outra maneira
mais barata de suprir proteína existe além de reciclar clones que atingiram
o final de suas vidas trabalhadoras?” (MITCHELL, 2004, p. 343, tradução
nossa).20 De fato, essa é uma das principais motivações para Sonmi escrever
um manifesto abolicionista, intitulado Declarações. O que seria Declarações
senão um aporte teórico subalterno? Esse é um exemplo do conceito de giro
decolonial de Walter Mignolo (2007), cuja função é a de conquistar:
[...] a abertura e a liberdade do pensamento e de formas
de outras vidas (outras economias, outras teorias polí-
ticas); a limpeza da colonialidade do ser e do saber; o
desprendimento da retórica da modernidade e de seu
imaginário imperial articulado na retórica da demo-
cracia. O pensamento decolonial tem como razão de
ser e objetivo a decolonialidade do poder [...] (p. 29-30,
tradução nossa).21
O giro decolonial permite a recuperação de escritos de autores subal-
ternos, esquecidos e apagados pela visão eurocêntrica do saber, revelando
que o subalterno não somente fala, mas, principalmente, traz contribuições
relevantes à historiografia e a teorizações diversas. A cientificidade do ma-
nifesto de Sonmi é descrita pela personagem no romance:
20
“The genomics industry demands huge quantities of liquefied biomatter [...] for Soap. What
cheaper way to supply this protein than by recycling fabricants who have reached the end of their
working lives?” (MITCHELL, 2004, p. 343).
21
“[...] la apertura y la libertad del pensamiento y de formas de vidas-otras (economías-otras,
teorías políticas-otras); la limpieza de la colonialidad del ser y del saber; el desprendimiento de la
retórica de la modernidad y de su imaginario imperial articulado en la retórica de la democracia.
El pensamiento decolonial tiene como razón de ser y objetivo la decolonialidad del poder [...]”
(MIGNOLO, 2007, p. 29-30).
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
27
Eu, somente eu, escrevi Declarações durante três sema-
nas em Ūlsukdo Ceo [...]. Durante a escrita, consultei um
juiz, um estudioso de genoma, um estudioso em sintaxe,
e o general An-Kor Apis, mas os catecismos elevados
de Declarações, sua lógica e ética, condenados no meu
julgamento como “a pior perversão nos anais das depra-
vações”, foram frutos da minha mente, Arquivista, ali-
mentados por experiências que narrei a você nessa ma-
nhã (MITCHELL, 2004, p. 346-347, tradução nossa).22
Declarações é um documento que condensa críticas a uma sociedade
patológica, exploratória e predatória, e Sonmi tem consciência de que as
ideias dispostas são importantes e serão disseminadas no mundo após um
resgate, um giro decolonial que dê o devido valor aos escritos.
Esse texto de Sonmi assemelha-se aos escritos de Waman Poma de Ayala,
descrito por Mignolo (2007) como um dos subalternos participantes do giro
decolonial e que trouxe uma relevância inigualável para a discussão acerca
das questões políticas, econômicas e sociais de sua respectiva época. Mignolo
revela que Waman Poma de Ayala, habitante da região de Peru no ano de
1616, logo no início da colonização, registra como as tribos Incas são tratadas
pelos colonizadores e realiza uma forte crítica ao sistema político colonial
instaurado pela Espanha. Buscando substituir a perspectiva histórica da época
acerca das tribos indígenas e da colonização, Waman Poma aventura-se a
criar crônicas que descrevem a dura realidade da destruição da cultura nativa.
O manuscrito, o qual fora “dedicado” ao rei Felipe III da Espanha, muito
provavelmente nem ao menos chega às mãos do rei, sendo o autor indígena
apagado da memória teórica do período. Comparamos aqui Declarações
com os escritos de Waman Poma, considerando que o documento de Sonmi
também não é valorizado pela sociedade da época, sendo a personagem presa
e executada por traição e conspiração. No entanto, os resultados são grandes
no futuro, como pode ser abstraído no capítulo seguinte da narrativa. Am-
bientado séculos após o capítulo anterior, em “Sloosha’s Crossin’ an’ Ev’rythin’
22
“I, only I, wrote Declarations over three weeks at Ūlsukdo Ceo [...]. During its composition I
consulted a judge, a genomiscist, a syntaxist, and General An-Kor Apis, but the Ascended Cate-
chisms of Declarations, their logic and ethics, denounced at my trial as ‘the ugliest wickedness in
the annals of deviancy’, were the fruits of my mind, Archivist, fed by xperiences I have narrated
to you this morning” (MITCHELL, 2004, p. 346-347).
28 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
After”, algumas tribos cultuam a personagem como uma deusa enquanto
outras estudam suas palavras de paz e de decolonialidade.
De forma semelhante, segundo Mignolo (2007), o giro decolonial de
Waman Poma deu-se depois de 400 anos, quando os escritos foram “desco-
bertos” e valorizados. Ao trazer à tona esses textos, vemos uma mudança de
perspectiva, em que o ponto zero não se inicia de uma visão eurocêntrica, e
sim a partir dos estudiosos provenientes de países colonizados. Tanto a per-
sonagem Sonmi quanto Waman Poma conseguem, séculos depois, influenciar
e modificar ideologias das sociedades por meio do giro decolonial, isto é, da
abertura para outros conhecimentos, não apenas os canônicos.
Além disso, é importante atentarmo-nos para as formas como tais docu-
mentos se mantêm intactos. Afinal, sabe-se que os colonizadores não prezam
pela cultura do Outro e que inclusive buscam destruir e apagar qualquer
registro proveniente de minorias. Dessa forma, notamos que, se alguns re-
gistros resistem ao tempo e à imposição hegemônica do colonizador, há uma
possibilidade de pessoas participantes das metanarrativas hierárquicas capita-
listas modernas serem responsáveis por perceber o valor e guardar os escritos.
Não há coincidência ou sorte na sobrevivência desses documentos, e, como
muito dificilmente os “marginalizados” teriam poder de guardá-los a salvo,
trazemos a hipótese da existência de dissidentes dentro das metanarrativas,
humanistas ou conscientes de que um dia o giro decolonial poderia ocorrer.
Assim, por meio desse conceito, vemos como Sonmi é capaz de propiciar
que seus registros e pensamentos ultrapassem o tempo/espaço e atinjam a
vida de populações futuras. A voz subalterna, portanto, não se perde; apenas
transita nas espirais do tempo.
3. As hierarquias escravocratas
Retornando às hierarquias do sistema, enquanto Sonmi luta contra as
hierarquias escravocratas patriarcais, Autua enfrenta as de cunho racista.
Aníbal Quijano (2005) admite questões raciais no cerne das discussões de
poder e do capitalismo, percebendo que, com a diferenciação da população
entre europeus e não europeus, veio a classificação de dominantes/superiores
e dominados/inferiores, respectivamente. Dessa maneira, como os grupos
hegemônicos europeus consideram-se superiores, todos os grupos distintos
— aqui, a aparência biológica como raça, gênero, sexo, entre outros, são le-
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
29
vados em conta — são tratados como inferiores. É por isso que na narrativa
de Mitchell, principalmente quando se dá na metade do século XIX no pri-
meiro capítulo, “The Pacific Journal of Adam Ewing”, há uma forte presença
de racismo. Os europeus não chegaram às terras do pacífico sem ideologias;
de fato, a latência de hierarquias nos diversos níveis sociais foi gigantesca.
Advindos da Europa e dos Estados Unidos, os passageiros do navio Prophetess,
no qual Ewing e Autua conversam pela primeira vez, manifestam, de modo
predominante, um racismo explícito quanto aos indígenas da Nova Zelândia.
O racismo constrói-se pelo choque cultural e pela forte presença de
hierarquias por parte dos grupos hegemônicos, que, no caso de Autua, des-
consideram-no por causa de características fenotípicas e culturais. Segundo
Quijano (2005), essa identificação biológica exterior se dá:
[...] em um primeiro momento, principalmente pela
“cor” da pele e do cabelo, e pela forma e cor dos olhos;
mais tarde, nos séculos XIX e XX, também por outros
traços como a forma do rosto, o tamanho do crânio, a
forma e o tamanho do nariz. [...] Desse modo, definiu-
-se aos dominadores/superiores europeus o atributo da
“raça branca”, e a todos os dominados/inferiores “não
europeus”, o atributo das “raças de cor” (p. 120, tradução
nossa).23
Autua sofre injúrias racistas proferidas por personagens como Mr.
Boerhaave, tripulante de Prophetess, que traz o racismo explícito em diversas
situações. Notamos esse comportamento no momento em que Adam Ewing
revela ao capitão Molyneux e a Boerhaave a clandestinidade e o compromisso
em trabalhar como marinheiro de Autua na expedição: “Então esse m——a
de preto quer que nós o sejamos gratos?” (MITCHELL, 2004, p. 33, tradução
nossa).24 Nesse exemplo, conseguimos notar o senso de superioridade de
Boerhaave na posição de colonizador. Para o marinheiro, Autua é um escravo
fugitivo desprezível, sem cultura nem modos e, por isso, passível de ser tratado
23
“[...] en un primer periodo, principalmente el ‘color’ de la piel y del cabello y la forma y el
color de los ojos; más tarde, en los siglos XIX y XX, también otros rasgos como la forma de la
cara, el tamaño del cráneo, la forma y el tamaño de la nariz. [...] De ese modo, se adjudicó a los
dominadores/superiores europeos el atributo de ‘raza blanca’, y a todos los dominados/inferiores
‘no- europeos’, el atributo de ‘razas de color’” (QUIJANO, 2005, p. 120).
24
“So this d——d Blackamoor wants us to be grateful to him?” (MITCHELL, 2004, p. 33).
30 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
como um objeto, isto é, inferiorizado e maltratado fisicamente. O racismo e
as divisões de poder pautadas nas diferenças raciais são práticas constantes
nas colônias e se mantêm com o fim da colonização, com a manutenção das
práticas coloniais. Não é por acaso que vemos Sonmi, séculos depois, sendo
considerada alguém de raça diferente dos cidadãos da corpocracia; até os
nomes são distintos: os clones são chamados de “fabricantes” e os cidadãos
de “consumidores” ou “sangue-puros”.
De fato, exemplos em que o racismo aparece na narrativa de Ewing são
constantes. O racismo eurocentrado também é observado quando relatam
a Ewing a posição dos europeus perante o genocídio dos morioris: “James
Coffee, um criador de porcos, disse que os maoris fizeram um serviço aos
homens brancos ao exterminarem outra raça de brutos para abrir espaço pra
nós [...]” (MITCHELL, 2004, p. 16, tradução nossa).25 Ademais, quando Autua
procura um hospital em Honolulu para salvar Ewing, são perceptíveis atitu-
des racistas: “Três vezes perguntou a estranhos, ‘Onde médico, amigo?’ Três
vezes foi ignorado (um respondeu, ‘Nada de remédio para Pretos fedidos!’)
até que um velho vendedor de peixes grunhiu a localização de um hospital”
(MITCHELL, 2004, p. 505, tradução nossa).26
O escancaramento da hierarquia étnico-racial está presente na narrativa
com a finalidade de expor uma realidade crua e perversa da segunda metade
do século XIX. Afinal, o sistema mundo europeu/norte-americano moderno/
capitalista colonial/patriarcal, com hierarquias sociais e relações de poder,
funciona dessa maneira. As metanarrativas machistas, racistas, heteronorma-
tivas percorrem todos os períodos do romance, tendo em vista que o sistema
pouco muda, apenas continuando e evoluindo dentro de ideologias próprias.
No entanto, as personagens principais de Cloud Atlas são louváveis de-
vido ao grau baixo de dualismos e fundamentalismos. É o modo de encarar
firmemente as adversidades que permite Autua, por exemplo, impactar a vida
de Ewing, isto é, que faz a personagem norte-americana repensar a estrutura
social capitalista hierárquica e buscar um projeto pautado no abolicionismo
e na igualdade social. De maneira semelhante, Sonmi~451, mesmo enfren-
25
“James Coffee, a hog farmer, said the Maori had performed the White Man a service by exter-
minating another race of brutes to make space for us […]” (MITCHELL, 2004, p. 16).
26
“Thrice he asked of strangers, ‘Where doctor, friend?’ Thrice he was ignored (one answered,
‘No medicine for stinking Blacks!’) before an old fish seller grunted directions to a sick house”
(MITCHELL, 2004, p. 505).
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
31
tando um governo repressor, e sabendo da traição de praticamente todos os
companheiros da jornada, é capaz de redigir Declarações e de realizar uma
entrevista que influenciará a vida de inúmeras pessoas.
Dessa forma, as personagens conseguem perceber, assim como Said
(1997) compreende, a necessidade de uma nova manifestação subalterna, uma
expressão não primitiva, surgindo como uma resposta positiva ao apagamento
da história, mas sim da confrontação com o presente. O subalterno não pode
apenas se rebelar instintivamente, refutando as influências ocidentais, mas
utilizá-las como plataformas da expressão dos “marginalizados”.
E, de fato, as personagens subalternas de Cloud Atlas sabem muito bem
disso. Pensamos que o discurso e as atitudes de Autua iniciam um trajeto
decolonial ao longo do livro, afetando de modo direto outras personagens,
como Robert Frobisher, Luisa Rey, Sonmi~451 e Zachry, protagonistas dos
outros capítulos, cujas histórias estão repletas de uma luta contra a subjugação,
o rebaixamento e o apagamento. Assim, vemos como a ação pacífica de Autua
motiva o movimento inicial da luta contra esse sistema de poder, reverberan-
do em gerações consequentes, com amplitudes cada vez mais fortes e mais
incisivas. Sonmi resume essa discussão: “Minhas ideias foram reproduzidas
um bilhão de vezes. [...] Como Seneca alertou Nero: não importa quantos
de nós você matar, nunca irá matar seu sucessor” (MITCHELL, 2004, p. 349,
tradução nossa).27
Portanto, ao fim deste capítulo, pudemos reconhecer a pertinência de
estudos decoloniais na atualidade devido à manutenção das estruturas da
colonização nos países já independentes. A decolonialidade faz-se mais ne-
cessária à medida que se percebem teorias e escritos subalternos desprezados
e emudecidos pela crítica, cujo clamor atende aos pensadores eurocêntricos.
Tratando, por sua vez, da narrativa em análise, tanto Autua quanto Son-
mi~451 funcionam como exemplos de discursos decoloniais, seja pelo giro
decolonial da personagem clone coreana ao escrever as Declarações, seja pelas
atitudes decolonizadoras do índio moriori, ao mesclar os ideais pacifistas de
sua tribo com as ideologias de bondade cristãs ocidentais. Ambos contribuem
para a disseminação do ideal de um mundo onde os subalternos não são
menosprezados e silenciados.
“My ideas have been reproduced a billionfold. [...] As Seneca warned Nero: No matter how
27
many of us you kill, you will never kill your successor” (MITCHELL, 2004, p. 349).
32 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
REFERÊNCIAS
CASTRO-GÓMEZ, S. La hybris del punto cero: ciencia, raza e ilustración en la
Nueva Granada (1750-1816). Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2005.
CASTRO-GÓMEZ, S.; GROSFOGUEL, R. Prólogo. Giro decolonial, teoria crítica
y pensamiento heterárquico. In: (Eds). CASTRO-GÓMEZ, S.; GROSFOGUEL, R.
El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capita-
lismo global. Bogotá: Siglo del Hombres Editores; Universidad Central, Instituto
de Estudios Sociales Contemporáneos; Pontificia Universidad Javeriana, Instituto
Pensar, 2007. p. 9-25.
DAVIS, D.; SOLOMON, M. Moriori - The Impact of New Arrivals. Te Ara - The
Encyclopedia of New Zealand, 2015. Disponível em: <https://www.teara.govt.nz/en/
moriori/page-4>. Acesso em: 29 ago. 2017.
GROSFOGUEL, R. Para descolonizar os estudos de economia política e os estudos
pós- coloniais: Transmodernidade, pensamento de fronteira e colonialidade global.
Revista Crítica de Ciências Sociais, Coimbra, n. 80, p. 115-147, 2008.
HOWE, K. R. Ideas of Māori origins. Te Ara - The Encyclopedia of New Zealand,
2015. Disponível em <http://www.TeAra.govt.nz/en/ideas-of-maori-origins>. Acesso
em: 5 Jun. 2016.
MIGNOLO, W. D. El pensamiento decolonial: desprendimiento y apertura. In:
CASTRO-GÓMEZ, S.; GROSFOGUEL, R. (Eds.). El giro decolonial: reflexiones para
una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Bogotá: Siglo del Hombres
Editores; Universidad Central, Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos;
Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Pensar, 2007. p. 25-47.
MITCHELL, D. Cloud Atlas. London: Random House, 2004.
QUIJANO, A. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. In: LAN-
DER, E. (Org.). A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Pers-
pectivas latinoamericanas. Buenos Aires: Colección Sur Sur, 2005. p. 118-142.
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
33
2
A HISTÓRIA INCOMPLETA DE
BRENDA E DE OUTRAS MULHERES:
SUBJETIVIDADES TRANS
NAS BRECHAS DO EXISTIR28
FLÁVIA ANDREA RODRIGUES BENFATTI29
LUIZ HENRIQUE MOREIRA SOARES30
Este capítulo traz à tona discussões sobre subjetividades e corporeidades
de mulheres trans a fim de evidenciá-las como seres dignos de existir, uma
vez que as sociedades ocidentais cis-heteronormativas, eurocentradas e cristãs
têm invisibilizado as “mulheres” desde a “invenção das Américas” (MIGNO-
LO, 2018). Quando falamos em “mulher”, a tendência é se pensar no “sexo
feminino”, a partir do “órgão genital feminino”, e na mulher branca, como se
outras mulheres não entrassem nessa categoria (negras, indígenas, lésbicas
e trans31). Nessa linha de pensamento, procuraremos tratar das existências
trans como subjetividades que importam, cujos corpos são atravessados por
28
Artigo originalmente publicado no dossiê “Linguagens em movimento: América Latina,
feminismos e dissidências”, da Revista Terceira Margem (v. 26, n. 48), em 2022.
29
Professora adjunto da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).
30
Doutorando em Letras pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”
(UNESP). Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas (IBILCE). São José do Rio Preto
– SP – Brasil.
31
O uso do vocábulo “trans”, neste texto, aponta para uma posição conceitual (aparentemente
neutra) que entende as dinâmicas históricas, políticas e sociais sobre “travesti” e “transexual”.
Assim, como destaca Amara Moira (2021), a distinção entre esses termos deve ser “borrada”,
não podendo esquecer os elementos incorporados no debate de construção da diferença, as
questões de classe social, de raça e de vulnerabilidade, bem como o caráter higienista e estig-
matizado recaído sobre os corpos nomeados como “travestis”.
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
35
dinâmicas estatais e econômicas, mas imbuídos e permeados de resistências
históricas.
As reflexões presentes serão elaboradas a partir de relatos (contos) de
mulheres trans compilados no livro intitulado A história incompleta de Bren-
da e de outras mulheres, publicado em 2016, pelo jornalista pernambucano
Chico Ludermir. Todas as histórias de vidas dessas mulheres se passam no
Nordeste do Brasil, especificamente na cidade de Recife (PE). Considera-
remos esses relatos em termos literários, pois o autor/narrador, a partir de
um discurso subjetivo, com o intuito de descortinar histórias de pessoas
socialmente negligenciadas, apresenta uma singularidade analítica e crítica
no trato com a linguagem.
É, portanto, a partir da obra de Ludermir que pensaremos o projeto de-
colonial como uma opção possível para desconstruir as bases dos discursos
de ódio social em relação às mulheres, especialmente às mulheres trans —
mulheres também diferentes entre si.
Nos bastidores dos preconceitos, transfobias, misoginia e violência en-
contramos um poder que sustenta esses desvalores. Há, portanto, por trás
dessa sustentabilidade, uma Matriz Colonial de Poder (MCP),32 isto é, um
projeto da modernidade/colonialidade que instaura modos de ser, saber, agir,
pensar e sentir ditados por modelos eurocentrados de vida. Sabemos hoje que
esse modelo, desde a colonização das Américas, foi e ainda é absolutamente
danoso para as vidas sob seu jugo, principalmente as vidas localizadas abaixo
da “linha abissal”, pontuada por Boaventura Sousa Santos (2007). Para o teó-
rico, o pensamento abissal consiste no “pensamento moderno ocidental” que
invisibiliza quem se encontra “do outro lado da linha”, em outras palavras, o
Sul global “desaparece enquanto realidade, torna-se inexistente. Inexistência
significa não existir sob qualquer forma de ser relevante ou compreensível”
(SANTOS, 2007, p. 71). Isso significa dizer que as ontologias e epistemologias
do Sul não fazem parte do que é considerado “ser” e “saber” para a hegemonia
do Norte global. Abaixo da linha abissal há, portanto, domínio e apropriação,
mas também há resistência.
É necessário refletir um pouco sobre seres, subjetividades e vivências de
pessoas que, além de estarem no lado Sul da linha abissal, discriminadamente
considerado um local menos civilizado do que o Norte, ainda não são vistas
32
Optamos por usar Matriz Colonial de Poder (MCP) com iniciais maiúsculas devido ao fato
de se usar a abreviação (MCP) com iniciais maiúsculas. A sigla MCP, em inglês CMP (Colo-
nial Matrix of Power) é um termo cunhado por um dos teóricos da decolonialidade, Walter
Mignolo (2018). É também retomado por Catherine Walsh (2018).
36 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
como propriamente dignas de “humanidade” — são pessoas que habitam
corpos desvalorizados e/ou rechaçados pela MCP: mulheres trans, negras,
lésbicas e indígenas. Mulheres brancas, cisgênero e heterossexuais, mesmo
incluídas na categoria “mulher”, ainda desfrutam de certos privilégios. Aos
homens cisgêneros e heterossexuais, louvores são dados e atestados pela MCP,
cuja base se encontra no Norte global. Porém, com o processo colonizatório
e a colonialidade de poder33 (QUIJANO, 2005), as Américas colonizadas
(Central, Sul e Caribe) seguem as “ordens” da matriz e instituem seus poderes,
saberes e vivências dentro dos mesmos padrões eurocêntricos (Europa e Es-
tados Unidos da América). Portanto, dentro desse sistema organizacional da
modernidade, encontra-se uma estrutura discursiva hegemônica definidora
do “crível” e do “intolerável”.
Considerando nosso objeto de análise neste artigo, cabe aqui observar
que embora os contos sejam escritos por um homem cisgênero gay, é impor-
tante dizer que ele faz uma ressalva nas “Notas do Autor” sobre sua condição
de “privilégio” a partir de um sentimento de incômodo por falar “em nome”
das mulheres trans:
Enquanto homem cis, tenho a triste consciência de
que meu próprio corpo corrobora com um discurso
de exclusão que cala e violenta pessoas a todo instante.
Enquanto brasileiro, sei que, tragicamente, faço parte
do país que mais mata travestis e mulheres trans no
mundo. Enquanto escritor brasileiro e cisgênero, reco-
nheço o privilégio de poder assumir um lugar de fala
que é negado a uma imensa parte da população […]
(LUDERMIR, 2016, p. 15).
Mais adiante o autor explica esse “privilégio” como uma situação de con-
forto, porém não pleno “por ser gay e enfrentar a homofobia”. Ainda assim,
Ludermir parece possuir um sentimento de “culpa” por não estarmos, nós,
leitores, lendo diretamente um texto escrito por essas vozes, tão massacradas
e inferiorizadas socialmente. Ao todo, somam-se onze histórias (umas bem
curtas, de até uma página, e outras mais longas), cada qual com sua peculia-
33
Para Quijano (2005), trata-se de um controle exercido desde o início da colonização da
América (a partir de 1492), baseado na distinção feita pelos colonizadores entre os conceitos
de superioridade (colonizador) e inferioridade (colonizado).
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
37
ridade e dor incríveis por simplesmente tratarem de mulheres que habitam
corpos socialmente não críveis, não toleráveis.
Em “A mãe de Anne”, Anne se dizia menina, o pai, advogado, machista
e patriarcal, não admitia ter “um filho” fora dos padrões normativos. Divor-
ciado, o pai possuía a chave da casa, facilidade concedida pela mãe para que
ele e a filha tivessem um relacionamento saudável. Dentre tantas atitudes
opressivas do pai, por medo “do filho” tornar-se menina, Anne se refugiava
em seu quarto, onde se “montava” como mulher. Gostava de imitar Anahí,
personagem da telenovela mexicana Rebelde. Um dia, o pai chega para visi-
tá-la, e ela tinha acabado de sair do quarto após seu “show”. A seguir, deu-se
a seguinte conversa entre pai, mãe e filha:
— Que danado é isso na testa?, e o tom de Adalberto
não era propriamente de curiosidade.
— É uma estrela, Adalberto, interveio a mãe, torcendo
que o assunto morresse logo em seguida. Mas Anne
não deixou morrer.
— Eu tava fazendo um show, pai, continuou o assunto.
— Show?, e o semblante do homem já era de uma in-
dignação extrema.
— É. Eu assisto o show de Rebelde no computador e
imito igualzinho, respondeu Anne já sabendo da imi-
nência de mais um enfrentamento. Não sabia bem o que,
aos olhos do pai, estava errado na sua conduta, mas sabia
que era grave (LUDERMIR, 2016, p. 41, grifos nossos).
O trecho acima mostra que Anne sabe dos enfrentamentos com o pai e a
dificuldade que teria pela frente em ser ela mesma, no entanto, não consegue
entender o que haveria de errado em sua conduta, só sabia que “era grave”.
Percebe-se, na história de Anne, como os preconceitos são construídos dentro
do espaço familiar e, também, no espaço social, sempre sustentados pela MCP.
Em outro trecho, o pai revela bem claramente sua forma patriarcal de
agir. Primeiro, agride a ex-mulher, fisicamente, e depois a filha, verbalmente:
— Você não precisa se comportar como homem, Somá-
lia (mãe da menina). Mas parece que está se esquecendo
de como se comportar como mulher, disse, elevando
o tom da voz e levantando-se da cadeira. As mãos de
Adalberto [o pai] agarraram Somália pelos ombros e,
chacoalhando-a com violência, vociferou: “Eu não vou
deixar meu filho virar fresco feito teu irmão”.
38 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
Adalberto largou os ombros da ex-mulher e viu Anne
encostada na porta do banheiro, paralisada.
— Eu esperava mais de você… meu único filho homem.
Não conte comigo pra nada, seu merda. Nem dinheiro,
nem viagem. Enquanto não virar macho, não dou a mais
do que tá na lei nada, disse, e se encaminhando para a
porta. Fechou-a com força (LUDERMIR, 2016, p. 46,
grifos parênteses nossos).
Igualmente no conto “Nada faz tanto tempo assim”, o narrador versa
sobre Deusa, de 17 anos, que há pouco havia se assumido travesti:
Depois de ter passado nove meses usando saias e ves-
tidos somente durante à noite, decidiu ser ela integral-
mente. Dormindo, acordada, em casa, na rua e na es-
cola. Desde então, praticamente rompeu relação com
o pai (Zé Roberto resume sua relação com a filha aos
sessenta reais que lhe dá, obrigado por lei, uma vez por
semana). Sente falta de um carinho antigo. De quan-
do iam juntos a lanchonetes e a bares, brincavam no
Galo da Madrugada. Tudo mudou desde que ele virou
crente. E ela virou Deusa. O rompimento aconteceu no
meio da rua quando o pai bateu na filha recém-nascida
(LUDERMIR, 2016, p. 65, grifos nossos).
Outra personagem do livro, do conto “Existir é dar um jeito”, é Mariana,
pobre, negra, usuária de crack, que sofreu vários tipos de violência, mas tam-
bém não “deixava barato”, por isso fora presa várias vezes, mesmo tendo razão:
Mariana é abordada na rua por um rapaz e entra no car-
ro dele. Se recusa a fazer o programa quando aparecem
outros três. Pede para voltar e o motorista com agressivi-
dade a expulsa. Saca uma arma, xinga e atira. Mariana
se mantém correndo até perder as forças. A bala atingiu
o fígado e o pulmão e deixou uma marca da virilha
até o peito (LUDERMIR, 2016, p. 96, grifos nossos).
Mariana, quando criança, também apanhou do pai quando este soube
que “o filho tava brincando de viado”. No relato abaixo, o narrador nos conta
o episódio:
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
39
No telefone sem fio da comunidade, o menino também
já sabia o que lhe esperava. Fugiu e passou um tempo
vendo acenderem as luzes da sua casa, morrendo de
medo. Quando chegou, seu pai lhe aguardava com um
cipó arrancado do pé de araçá. Sem dizer nada além de
xingamentos, tirou a roupa da criança e bateu até deixá-
la em brasa, molhando todo o corpo com ajuda de um
caneco. Os gritos e soluços foram ouvidos em todo o
bairro. O menino tinha seis anos. Ainda não sabia que
seria Mariana (LUDERMIR, 2016, p. 98, grifos nossos).
No conto “O filho que deixou de ser”, quando a família de Franncine
descobre que ela estava “namorando um rapaz da rua de cima”, o que, segundo
o narrador, “não era surpresa para ninguém”, o pai não aceita:
“Não quero um viado em casa!”, reescutou, reviu, re-
viveu. Seu pai, ainda com roupa de trabalho gritava a
todos que quisessem ouvir: “filho viado, eu não crio!”. E
não adiantaram os apelos da mãe. A partir desse dia, aos
treze anos, filho deixou de ser. Para visitar a família, só
na ausência paterna. Nem na mesma calçada andaram
os Franciscos durante quase vinte anos (LUDERMIR,
2016, p. 103, grifos nossos).
E sobre Maria Clara, do conto “Formas de voltar para casa”, o narrador relata:
Suas primeiras lembranças estavam povoadas de nãos:
não podia brincar com as meninas, não podia usar o ba-
nheiro feminino e nem as cores rosa e roxo. Seu Rubem
e Dona Maria Francisca, ao perceberem que o nome
masculino que haviam escolhido não encaixava na filha,
resistiram. Reprimiam-na de um lado, repuxavam-na
pro outro; batiam na tentativa de “consertar”, mas a filha
não queria “conserto” […] (LUDERMIR, 2016, p. 110,
grifos nossos).
Como destacado nos textos, a violência física e simbólica e o caráter
contraditório da casa configuram-se como aspectos aproximativos. A he-
rança colonial, calcada por preceitos de cisgeneridade, heterossexualidade e
masculinidade, atravessa as corporeidades trans a partir da permeabilidade
vital das instituições. A família, nos textos, aparece como “esteio cultural”, um
40 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
elemento definidor cujo espaço de simbolização agrupa discursos e modos
de produção subjetiva baseados em regramentos de gênero e de sexualidade,
reforçados a partir da discriminação e do preconceito presente nos discursos
das personagens.
A figura paterna estabelece, nessa leitura, a primazia do poder colonial.
Na voz do pai, as normativas de gênero, de sexualidade e de comportamento
são enunciadas, executadas e mantidas, configurando-se como parte da “colo-
nialidade cisgênera”, conceituada por Viviane Vergueiro (2016, p. 254) como
uma esfera interseccionalmente situada, em que o gerenciamento e o controle
dos corpos a partir da cisgeneridade produzem violências, invisibilidades e
aniquilações, invocando nas personagens trans sentimentos e ações comba-
tivas: “Cada arranhão, Deusa devolve ao mundo. Cada tapa, puxão de cabelo
que levou, ela engole, digere e cospe. É aprendizado antigo, sobrevivência”
(LUDERMIR, 2016, p. 65). Em meio aos conflitos e sofrimentos, há também
o autoconhecimento e a resistência, parte constitutiva das experiências de
personagens trans na literatura brasileira (OLIVEIRA, 2016, p. 9), ao assu-
mirem uma posição de coragem e de enfrentamento, como performatizada
pelas personagens dos contos:
Para significar sofrimentos, exclusões, experiências
subjetivas e corpóreas, são produzidos discursos que
operam como sistemas de saberes que se apresentam
como verdades e que se materializam performaticamen-
te nas reiterações cotidianas das travestis. Se a família
de origem exilou a travesti, ela a reconfigura. Estratégias
de sobrevivência nos são apresentadas em suas biogra-
fias, tornando-se, nesse caso, estratégias de resistência
(BENTO, 2012, p. 281).
A (re)construção dessas histórias de desafetos e de violências físicas e
verbais, perpetradas principalmente por parte dos pais das mulheres trans dos
contos supracitados, institui uma questão simbólica: mais do que observá-las
como corporeidades públicas, atravessadas pela vulnerabilidade e deslocadas
da categoria de “humano”, as imagens dessas mulheres produzem modos de
significação dos corpos dentro de uma economia da perda e do luto.
Em Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence (2004), Ju-
dith Butler escreve sobre a “inevitável inexistência” de certos corpos a partir
de dinâmicas cis-heteronormativas. A conceituação do “humano”, nesses
parâmetros, permeia a própria “não humanidade” das corporeidades trans,
à medida que as estruturam fora do campo da “realidade”:
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
41
Se a violência é cometida contra aqueles que são irreais,
então, da perspectiva da violência, não há violação ou
negação dessas vidas, uma vez que elas já foram nega-
das. Mas elas têm uma maneira estranha de permane-
cer animadas e assim devem ser negadas novamente (e
novamente). Elas não podem ser passíveis de luto porque
sempre estiveram perdidas ou, melhor, nunca “foram”, e
elas devem ser assassinadas, já que aparentemente con-
tinuam a viver, teimosamente, nesse estado de morte. A
violência renova-se em face da aparente inesgotabilida-
de do seu objeto (BUTLER, 2004, p. 33, grifos nossos,
tradução nossa34).
Nesse “estado de morte”, enunciado por Butler (2004), todas as possibili-
dades de existência fora dos eixos convencionalizados do “humano” são, desde
o princípio, não vidas. Nesse sentido, se as corporeidades trans são vidas im-
possíveis de serem enlutadas, justamente porque vivem nesse “estado de mor-
te”, então, como podemos narrá-las? Como escrever sobre um “luto incaptu-
rável” pelas lentes da cis-heteronormatividade? Butler trata do obituário, esse
“meio pelo qual uma vida se torna, ou deixa de se tornar, uma vida publica-
mente dolorosa, um ícone do autorreconhecimento nacional; o meio pelo qual
uma vida se torna digna de nota” (2004, p. 34, tradução nossa),35 como forma
convencional de narração na qual se estabelece a possibilidade remota de
enquadramento e de reconhecimento (ainda que fictício) de uma existência.
Nesses termos, pela impossibilidade, produz-se literatura. A obra de
Ludermir insiste na própria existência e na reconfiguração do humano ao es-
truturar um projeto memorialístico, de celebração, de desejo e de resistência.
Mariana não sabe — mas saberá — que o encontro com
ela foi a reafirmação da vida. Porque além de não ter ce-
lular ou rede social traz em si o cheiro forte da violência
34
“If violence is done against those who are unreal, then, from the perspective of violence, it fails
to injure or negate those lives since those lives are already negated. But they have a strange way of
remaining animated and so must be negated again (and again). They cannot be mourned because
they are always already lost or, rather, never “were,” and they must be killed, since they seem to
live on, stubbornly, in this state of deadness. Violence renews itself in the face of the apparent
inexhaustibility of its object.” (BUTLER, 2004, p. 33)
35
“It is the means by which a life becomes, or fails to become, a publicly grievable life, an icon for
national self-recognition, the means by which a life becomes noteworthy.” (BUTLER, 2004, p. 34)
42 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
cotidiana — da infância, da juventude, da maturidade
— e da exclusão. […] Desviamos de algumas poças de
lama juntos. Comemos mais uma manga e seguimos
com uma trouxa de roupa que ela pegou para lavar.
Assim consegue o dinheiro para o hoje. No amanhã, só
pensará quando acordar. Vai vivendo um dia por vez
(LUDERMIR, 2016, p. 98).
Os discursos da negação da autonomia, do nome e do próprio direito à
expressão são revelados nos textos de Ludermir a partir da ressignificação
promovida pelas personagens:
Wanessa mudou-se de corpo. Daquele rapaz meio de-
sengonçado e até desencontrado, surgiu uma mulher
forte. Somou os efeitos do estrógeno e intervenções ci-
rúrgicas, retoques de maquiagem e um cabelo num tom
de vermelho aceso e vibrante. Escolheu a cor vermelha
como endereço (LUDERMIR, 2016, p. 119).
Interessante notar, nos textos, que a não aceitação social pesa mais pelo
fato de as corporeidades trans estarem relacionadas a adereços femininos,
como o uso de batom, a maquiagem e as roupas, a princípio. Há ainda aquelas
que optam pelo uso de hormônios e de silicone, quando em idade para realizar
transformações. Isso tudo faz com que essas mulheres se tornem ainda mais
subalternizadas e estigmatizadas socialmente, pois elas são vistas, na pers-
pectiva patriarcal, como uma afronta à masculinidade viril. No entanto, nos
bastidores da hipocrisia são, na maioria, esses mesmos indivíduos patriarcais
que vão buscar sexo com elas.
O patriarcado é um sistema extremamente nocivo para a sociedade.
Desde tempos remotos, na Grécia e Roma antigas, século V a. C, homens
cis-heterossexuais já eram o foco dos privilégios. A superioridade física do
homem com relação à mulher e o fato de se valorizar o pênis — Deus Pría-
po — fez com que outras subjetividades fossem consideradas “menores”,
tanto fisicamente quanto intelectualmente (LERNER, 2020; NIGRO et al.,
2020). Mais adiante, na história, temos a ideia de superioridade/inferioridade
conectada ao conceito de raça, concebido, pela primeira vez, pelos coloni-
zadores da América por volta de 1492. Desde essa data, as discriminações,
inferiorizações e superioridade de um povo sobre outro tomaram proporções
catastróficas. Com a colonização, as pessoas passaram a ser classificadas, ro-
tuladas, estigmatizadas, sempre dentro do binarismo homem/mulher, para
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
43
então entrar nesse jogo binário, outros derivativos: homem branco/mulher
branca; homem negro/mulher negra, etc. Juntamente com esses binarismos
de gênero e de raça, ainda se produzem as intersecções com identidades
sexuais. Nesse sentido, as mulheres trans são a categoria mais baixa nessa
escala classificatória. Segundo Maturana:
A maioria dos seres humanos vive hoje em uma cultura
patriarcal de um tipo ou outro. Uma cultura patriarcal
consiste em uma maneira de viver centrada na apropria-
ção, dominação e submissão, desconfiança e controle,
discriminação sexual e racial e guerra. Em uma cultura
patriarcal, a coexistência humana pode assumir muitas
formas diferentes, mas é essencialmente política. Nela,
as relações são vistas principalmente como instrumen-
tos para obter superioridade em uma luta contínua pelo
poder e são vividas principalmente como tal (MATU-
RANA, 2008, s.p, tradução nossa).36
Portanto, toda a sorte de discriminações e de desvalorização humana é
sustentada por esse sistema. E, nas palavras de Maturana (2008), o patriar-
cado luta incessante e continuamente pelo poder e pela superioridade. No
centro dessa patologia, está o homem branco, heterossexual, europeu e cristão.
E como o sistema é muito perspicaz, mulheres brancas (segunda posição
na hierarquia), bem como homens negros (terceira posição na hierarquia),
principalmente, mas não somente, acabam por incorporá-lo, sem se darem
conta das mazelas que causa.
Diante disso, faz-se mister perceber suas idiossincrasias para então re-
pensarmos nossas posições dentro dele e buscarmos saídas a fim de evitarmos
que seres humanos continuem sendo descartados como humanos. Para tanto,
recorremos à opção decolonial que, segundo Mignolo e Walsh, busca, dentre
outras propostas, “[...] a redefinição e a ressignificação da vida em condições
de dignidade” (2018, p. 3, tradução nossa)37. Essa premissa do projeto deco-
36
“Most human beings today live in a patriarchal culture of one kind of another. A patriarchal
culture consists in a manner of living centered in appropriation, domination and submission,
mistrust and control, sexual and racial discrimination, and war. In a patriarchal culture human
coexistence may have many different forms, but it is essentially political. In it relations are viewed
mostly as instrumental for gaining superiority in a continuous power struggle, and are lived
mostly as such” (MATURANA, 2008, s.p.).
37
“[…] the redefining and re-signifying of life in conditions of dignity” (MIGNOLO; WALSH,
2018, p. 3).
44 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
lonial é fundamental para começarmos a repensar novos modos de viver nos
quais todo e qualquer ser humano tenha o direito à uma existência digna.
O que as histórias das mulheres trans nos mostram, sob a ótica de Luder-
mir, é o quanto nós, supostos “seres humanos”, corroboramos para a desuma-
nização. Como a escrita literária de pessoas consideradas inferiorizadas pelas
sociedades capitalistas pode nos ajudar a pensar de uma maneira decolonial?
No caso de nosso objeto de análise, neste artigo, não temos a voz direta das
pessoas trans descritas por Ludermir, mas temos o seu olhar atento e sensível a
vidas que se tornaram personagens no seu projeto literário/político de escrita.
Enquanto observador/pesquisador dessas vidas e realidades, é preciso saber
ouvir (e saber calar) para ter critérios e buscar um “caminho explanatório”
que seja sensível ao olhar do leitor.
Concordamos com uma das formas de ouvir tratadas por Maturana
(2001) e a que ele chama de “objetividade entre parênteses”. Para tanto, o
teórico descreve um observador/pesquisador consciente que é parte de um
sistema vivo e que há também outros observadores que operam em diferentes
domínios de realidade, igualmente legitimados.
Quando o autor de A história incompleta de Brenda, Chico Ludermir, se
posiciona nas “Notas do autor”, pontuando que “o livro se propõe a compar-
tilhar certas narrativas, não deseja falar pelo outro ou roubar protagonismos”
(LUDERMIR, 2016, p. 17), percebemos que se trata dessa “objetividade entre
parênteses” problematizada por Maturana.
Em outras palavras, “saber ouvir” é entender sobre a existência de outros/
outras com suas histórias e protagonismos; o “falar por” é apenas um dos
modos de objetivar realidades sob uma perspectiva que não é universal, nem
totalizante, pois cada indivíduo possui uma subjetividade na qual o outro/a
outra não consegue se interpor. “Saber ouvir” é um dos atos pelos quais um
bom pesquisador das vidas humanas abre brechas no existir de outros, ainda
invisibilizados, na proposição de “enxergar a ‘beleza na incompletude’, e de
que modo esse encontro com a incompletude do ‘outro’ consegue mover e
ressignificar a sua atividade literária e de leitura do mundo” (MONTEIRO
et al., 2020, p. 237).
Ao rememorar e reconstruir as “histórias menores” de mulheres trans,
por meio do incômodo da voz narrativa, Ludermir articula uma mirada
decolonial sobre a cisgeneridade e a representação. A narração e a represen-
tação de/sobre essas mulheres emaranham-se a um pensar decolonial que
questiona a matriz de inteligibilidade cis-heteronormativa e binária, deixando
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
45
entrever os modos pelos quais os estereótipos sobre as identidades trans são
naturalizados e mantidos.
Desse modo, a obra de Ludermir, gestada durante mais de três anos de
pesquisas e entrevistas, é produzida justamente no entrelaçamento de afe-
tações e de deslocamentos. As onze histórias narradas, bem como o ensaio
fotográfico realizado com cada uma das mulheres/personagens das histórias,
articulam um olhar complexo. A proposta de Ludermir parte de uma esco-
lha metodológica inventiva e crítica, especialmente porque intersecciona a
literatura e o jornalismo, a realidade e a ficção, o “eu” e “o outro”/ “a outra”:
[…] mais do que um livro de contos, um livro de relatos
ou até mesmo um mero livro de fotografias: é uma metá-
fora da possibilidade de preencher vazios, mas também
de ressignificá-los — renomear ou simplesmente im-
plodir. E é justamente da implosão que muitas histórias
contadas são constituídas (SOARES, 2018, p. 1-2).
A capacidade de implosão presente na obra, percebida por Soares (2018),
liga-se também ao fato de a proposta de Ludermir expor um exercício nar-
rativo de “outridade”. No encontro, ou mesmo nos desencontros, o autor/
narrador vê-se atravessado por essas mulheres, suas dores, ilusões e alegrias.
A nomeação não se estrutura a partir de uma base meramente binária (eu/
outro, sujeito/objeto), pelo contrário, estabelece a afetação, no ato de afetar-se,
tanto no sentido de “importar-se com algo”, no “incômodo produzido por
algo”, quanto na potência de “representar” ou “figurar algo”. A afetação, de
modo dialógico, articula esse exercício de “olhar” com singularidade, per-
ceptível nas narrativas:
Um terceiro ângulo mostra Wanessa única, como cada
uma das personagens presentes nesses relatos. Só ela
tem aquele tom de vermelho no cabelo, só ela tem esse
sorriso estridente, só Wanessa fez tantas mudanças de
casa e de corpo, que nos lembram o quanto é necessário
nos mudarmos também (LUDERMIR, 2016, p. 120).
46 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
Ao escrever sobre/com essas mulheres38, Ludermir também escreve so-
bre si. Nesse jogo, o exercício de “olhar o outro/ a outra” se confunde com o
exercício literário e jornalístico, deixando entrever questões políticas e ideo-
lógicas de representação e discursividade. O discurso do narrador vislumbra
a afetação causada por parte das personagens:
Já era fim de tarde e o chão de terra ficava ainda mais
alaranjado no Pilar. Na sombra de uma casa quase em
ruínas, uma moça chupa uma manga com um dedo
entortado por golpes de capacete. Ao lado outros ca-
roços, já sem polpa.
Magra, negra, poucos cabelos e dentes.
Quase sem acreditar no encontro, me aproximo, cheio
de dúvidas, olho e abraço (LUDERMIR, 2016, p. 96-97).
De acordo com Soares (2020, p. 95), apoiando-se nos postulados de
Regina Dalcastagné (2012), a falta de acesso à voz por parte das personagens
trans, no interior das narrativas, especialmente quando controladas por nar-
radores cis-heterocentrados, pode ser interpretada como mais um índice de
subalternidade. Esse caráter eminentemente político da narração entranha-se
aos processos de produção de legitimidade e humanidade. A disposição dos
discursos, assim, está relacionada não somente aos modos constitutivos de
certa “subjetividade estranhada”, mas também na própria operação de dife-
renciação e desigualdade estabelecida com o narrador enquanto “produto
linguístico observante e não confiável” (SOARES, 2020, p. 95).
Podemos chamar esse olhar do autor/narrador de decolonial à medida
que busca resgatar histórias apagadas pela modernidade/colonialidade (dois
pilares da MCP), que tem trabalhado incessantemente para “negar, repudiar,
distorcer e refutar conhecimentos, subjetividades, sentidos de mundo e vi-
sões de vida” (MIGNOLO; WALSH, 2018, p. 4, tradução nossa39). Pode-se
qualificar esse “olhar” como decolonial, pois busca revelar as dinâmicas de
produção da realidade e de intervenção nessa realidade, a corporificação de
traumas e violências, mas também de vidas legítimas dentro de um espectro
38
O projeto de Ludermir se estende a outras plataformas de produção de subjetividade. Em
seu canal no YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCSHal0k1-i10GoIm1H090bw),
o autor apresenta uma série de entrevistas e leituras dos trechos do livro, compartilhadas
diretamente com as personagens das histórias narradas.
39
“negate, disavow, distort and deny knowledges, subjectivities, world senses, and life visions”
(MIGNOLO; WALSH, 2018, p. 4).
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
47
de sensibilidade e de afetação. O “olhar” consciente e crítico, mas também
sensível, parte da observação para a materialização narrativa dessas mulhe-
res, ao mesmo tempo que encena os atravessamentos desse exercício, como
destaca Maria Clara Araújo no prefácio da obra:
Precisamos não só conseguir enxergar as mulheres e
travestis que se abriram para o nascimento dessa publi-
cação, mas proporcioná-las o direito de fala e de serem
ouvidas. Dessa forma, existirá a demarcação de que
uma nova história está sendo escrita. E que, nessa nova
versão, o protagonismo é nosso. A produção da minha
identidade vai de encontro, necessariamente, com a
produção do “outro”. Porém, que possamos permitir a
criação de algo que não tenha sido escrito apenas por
um único lado. Que outras narrativas possam existir.
E que possam ser vistas. Que estampemos com nossos
rostos, narremos nossas vivências, criemos a imagem
do ambiente vivido e coloquemos o ponto final quando
preciso, mas as reticências na esperança de continuar-
mos (r)existindo (ARAÚJO, 2016, p. 12-13).
No conto “A História Incompleta de Brenda”, que dá nome ao livro,
Brenda (Juninho quando criança, marinheiro Bazante quando adulta e Bren-
da, sua identidade travesti) sofre, assim como em todas as outras histórias,
preconceitos desde criança, xingamentos, maus-tratos de toda espécie e não
aceitação familiar. A mulher Brenda fora assediada por companheiros de
quartel, ainda em lento processo de transformação, e, em sua primeira relação
sexual, estuprada. No banheiro do quartel, o narrador nos conta:
Enquanto se enxugava, maldizendo a vigília obrigatória,
teve certeza de que estava sendo seguida. Reconheceu
aqueles dentes separados e rapidamente tentou se es-
quivar do empurrão que lhe forçou a entrar na cabine
do banheiro
— Se você gritar eu digo a todo mundo que foi você que
passou a mão em mim. Vai ser pior.
— Não, por favor! Não!
O homem arrancou a toalha de Bazante, deixando-a
inteiramente nua. Abriu o cinto e o botão da calça e
mandou que ela chupasse. Quanto mais ela resistia, mais
ele se tornava agressivo […] Brenda guardou da sua pri-
48 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
meira relação sexual alguns arranhões na pele e uma dor
castigante na região anal. Foram apenas cinco minutos
em cima da privada que lhe tatuaram a sexualidade daí
por diante (LUDERMIR, 2016, p. 165-166).
A invasão e a agressão ao corpo de Brenda mostram o quanto corpo-
reidades trans são, ao mesmo tempo, objetos de desejo e de repúdio. O ódio
cis-heteronormativo a esses corpos indignos de cuidado servem aos que os
buscam como prazer e imposição de dor a elas, se não devidamente respei-
tados. E respeito é algo praticamente impossível nessa relação entre uma
masculinidade agressiva e uma feminilidade fragilizada.
Diante do quadro estarrecedor de opressão, desprezo e objetificação
das vidas trans apresentadas no livro de Ludermir, só nos resta uma saída:
promover debates incansáveis, seja no meio acadêmico ou fora dele, a fim de
despertar consciências empáticas para realidades de violência física, moral e
de mortes, não mais pertinentes. É preciso decolonizar, no sentido de cola-
borarmos para a restituição dessas subjetividades e desses corpos nos meios
sociais e nas redes sociais para tentarmos deter essas discriminações. É preciso
um esforço conjunto para que realidades torturantes sejam transformadas
em afeto e respeito ao modo de existir do outro.
A literatura por si só é capaz de nos transformar, nos fazer enxergar
aquilo que, muitas vezes, não somos capazes de ver a olho nu: ela desnuda o
véu que nos cega para mostrar que vidas estão ali nas páginas de um texto,
representadas. Nesse sentido, ficção e realidade se interpõem, se interpene-
tram. Ademais, a literatura, em intersecção com outras disciplinas como o
jornalismo, o direito, a história dentre outras, nos brinda com olhares plu-
riversais capazes de nos permitir sair do lugar comum, para repensarmos
nossas existências e nossas relações humanas. É preciso haver mudanças em
nossos “emocionares” (MATURANA, 2004) para (con)vivermos e coabitar-
mos harmoniosamente. Para tanto, devemos reestruturar, principalmente,
nossos modos de ver e ouvir, a fim de que saberes preconcebidos a respeito de
vidas divergentes das nossas sejam decolonizados para que não haja apenas
brechas no existir de pessoas trans e outras socialmente inferiorizadas, mas
sim espaços de direito, de respeito e de dignidade.
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
49
REFERÊNCIAS
ARAÚJO, M. C. Prefácio. In: LUDERMIR, Chico. A história incompleta de Brenda
e de outras mulheres. Rio de Janeiro: Confraria do Vento, 2016, p. 11-13.
BENTO, B. As famílias que habitam “a família”. Sociedade e Cultura, v. 15, n. 2, p.
275-283, 2012. Disponível em: https://doi.org/10.5216/sec.v15i2.22396. Acesso em
09 Jun. 2021.
BUTLER, J. Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence. New York:
Verso, 2004.
LERNER, G. A criação do patriarcado: história da opressão das mulheres pelos
homens. Tradução de Luiza Sellera. São Paulo: Cultrix, 2020.
LUDERMIR, C. A história incompleta de Brenda e de outras mulheres. Rio de
Janeiro: Confraria do Vento, 2016.
MATURANA, H. Cognição, ciência e vida cotidiana. Organização e tradução de
Cristina Magro e Victor Paredes. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2001.
MATURANA, H. ZÖLLER-VERDEN, G. Amar e Brincar: fundamentos esquecidos
do humano do patriarcado à democracia. Tradução de Humberto Mariotti e Lia
Diskin. São Paulo: Editora Palas Athena, 2004.
MATURANA, H; VERDEN-ZÖLLER, G. The Origin of Humanness in The Biology
of Love. Edited by Pille Bunnell. Imprint Academic, Exeter, UK, 2008.
MIGNOLO, W. D.; WALSH, C. E. On Decoloniality: Concepts, Analytics, Praxis.
Durham and London: Duke University Press, 2018.
MOIRA, A. A origem da diferenciação entre travestis e transexuais. BuzzFeed, 2021.
Disponível em: https://buzzfeed.com.br/post/a-origem-da-diferenciacao-entre-tra-
vestis-e-ransexuais?fbclid=IwAR33ZLfOLRsjQeyVSAm8DVDvaA5sPoiIAYKBk_Qi-
zF3U2I7hOiM787QwsFg. Acesso em 15 Jun. 2021.
MONTEIRO, S. A. S. et al. Corpos-texto na imensidão de histórias incompletas: a
sexualidade como dispositivo de sentidos. MONTEIRO, S. A. S. (Org.). A educa-
ção no Brasil e no mundo: avanços, limites e contradições 6. Ponta Grossa: Atena
Editora, 2020, p. 228-244.
NIGRO, C. M. C. et al. A masculinidade hegemônica e a (im) posição dos corpos:
resquícios da virilidade patriarcal na história e na literatura. Polifonia, v. 27, n. 46,
p. 9-24, 2020. Disponível em: https://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/
polifonia/article/view/11163. Acesso em 26 fev. 2022.
OLIVEIRA, F. N. A. Travestis na literatura: personagens e identidades abjetas. Da-
randina Revisteletrônica, v. 8, p. 1-15, 2016. Disponível em: https://www.academia.
edu/33839472/Travestis_na_Literatura_Personagens_e_Identidades_Abjetas. Acesso
em 16 Jun. 2021.
50 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
QUIJANO, A. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. In: QUI-
JANO, A. A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas
latino-americanas. Buenos Aires: CLACSO, 2005, p. 117-142, 2005.
SANTOS, B. S. Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma ecologia
de saberes. Novos estudos CEBRAP, p. 71-94, 2007. Disponível em: https://www.
scielo.br/j/nec/a/ytPjkXXYbTRxnJ7THFDBrgc/?lang=pt. Acesso em 06 Jul. 2021.
SOARES, L. H. M. Para ouvir o canto das sereias: um comentário sobre “A história
incompleta de Brenda e de outras mulheres” (2016). Revista Entre Parênteses, n.
7, v. 1, p. 1-7, 2018. Disponível: https://publicacoes.unifal-mg.edu.br/revistas/index.
php/entreparenteses/article/view/776. Acesso em 08 Jun. 2021.
SOARES, L. H. M. Sereia do asfalto, rainha do luar: configurações da personagem
travesti no romance contemporâneo brasileiro. 2020. 150 f. Dissertação (Mestrado
em Letras) — Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, São José do
Rio Preto, 2020.
VERGUEIRO, V. Pensando a cisgeneridade como crítica decolonial. In: MESSEDER,
S. et al (Orgs.). Enlaçando sexualidades: uma tessitura interdisciplinar no reino
das sexualidades e das relações de gênero. Salvador: EDUFBA, 2016, p. 249-270.
Disponível em: http://books.scielo.org/id/mg3c9/pdf/messeder-9788523218669-14.
pdf. Acesso em 01 jun. 2021.
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
51
3
52 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
DA PELE À PALAVRA: O USO DA VOZ
LIBERADA COMO EXPURGO DA DOR
FERNANDO LUÍS DE MORAIS40
MICHELA MITIKO KATO MENESES DE SOUZA41
Conheço bem aquilo que dói. Leio sobre cada parte do
meu corpo a história de uma humilhação. Quando se
mastiga a mordaça apenas o corpo medita, melancólico,
voluntarista, fora de foco, aquém ou além do que se trata.
O corpo não se cala, é testemunha voluntária. O corpo
pede para ter voz. O que não foi dito pode ser esquecido?
Só o que não se diz é preciso dizer. O verbo se faz carne
pelo silêncio. Minhas mãos fazem gestos de lavrador, cuja
feroz agricultura me promete o esquecimento (SISCAR,
2006, p. 21).
Em uma declaração altamente provocativa, o psiquiatra e filósofo político
Frantz Fanon diz que “o negro não é um homem [...] O negro é um homem
negro” (FANON, 2008 [1952], p. 26, grifo nosso). Tal afirmação, fruto de um
denso diagnóstico da sociedade colonial, aponta uma destituição do negro do
status de humanidade genérica – espaço consagrado ao homem branco. Nessa
infausta narrativa, sujeitos racializados são posicionados como inferiores,
40
Doutor em Letras pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP).
Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas (IBILCE). São José do Rio Preto – SP – Brasil.
41
Professora adjunta no Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, campus Três Lagoas.
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
53
tendo sua cultura interpretada como menor ou subalterna. Em análise mais
profunda, são encarados como corpos selvagens e incivilizados, privados de
qualquer autonomia sobre si. No livro Racism [Racismo] (1989), o sociólogo
britânico Robert Miles, ao tratar dessa temática, assim se expressa:
O africano foi […] definido como um ser humano infe-
rior. A representação do africano como Outro apontou
características fenotípicas e culturais como evidência
dessa inferioridade, e a condição a ele atribuída cons-
tituiu, portanto, uma medida do progresso e da civili-
zação europeus (MILES, 1989, p. 75, tradução nossa).42
Radicada e ecoada no posicionamento de inúmeros outros teóricos, a
afirmação de Miles leva-nos a pensar nas limitações gritantes dos discursos
totalizadores, produtos de um secular sistema de classificação que menoscaba
a experiência negra – embora farta de diversidade de sentidos – por efeito
de marcas fenotípicas próprias dessa raça/etnia. Dentro dos contornos desse
entendimento insensível, a humanidade e os corpos desses sujeitos são redu-
zidos a uma mera questão de aparência, de pele e de cor. Reduzir o homem
negro aos limites desse quadro de representação realça uma disposição de
assimetrias de poder e status entre “o senhor” (europeu) e os escravos (afri-
canos), rotulados como Outros, ou então como um espelho a partir do qual
os brancos se veem ocupando uma posição de superioridade, valorizando
a si mesmos e seus sistemas. Fazendo alusão à música Sampa, de Caetano
Veloso, ao Outro, o homem branco chama de “mau gosto”, “[é] que Narciso
acha feio o que não é espelho” (VELOSO, 1978). Em outras palavras, reforçar
e insistir na condição dos negros como seres inferiores, como avassalados,
como bárbaros, alimenta a engrenagem de um aparato atroz que corrobora
a supremacia do poderio branco e, por conseguinte, a branquidade. Relativa-
mente a essa suposta soberania, Neil Campbell e Alasdair Kean afirmam que
42
“The African was […] defined as an inferior human being. The representation of the African
as Other signified phenotypical and cultural characteristics as evidence of this inferiority and
the attributed condition of Africans therefore constituted a measure of European progress and
civilization.” (MILES, 1989, p. 75).
54 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
[...] a herança da escravidão na cultura afro-americana
e seu impacto no posicionamento dos indivíduos ra-
cializados, em um quadro de valores controlados pela
cultura dominante dos brancos, tendem a assumir o
escravo como ‘um tipo de tabula rasa sobre a qual o
homem branco poderia escrever o que quisesse’[...] A
‘cultura-mestra’, tal qual o senhor de engenho que pro-
curava governar a vida dos escravos, tentou impor nor-
mas e valores aos grupos minoritários, ridicularizados
por conta de sua cor e por conta de uma visão europeia
herdada, na qual os africanos são tachados como bár-
baros, pagãos e inferiores (CAMPBELL; KEAN, 1997,
p. 75, tradução nossa).43
Como consequência direta desse arranjo arbitrário e coercitivo, ao sujeito
negro, até os dias de hoje, é vetada uma identidade particular, positiva. Além
disso, sob sua condição enquanto negro – e mais significantemente quando
entrecruzada por diversos eixos de opressão como o do gênero e o da classe,
por exemplo – pesam opressivamente o preconceito, o estigma e os impe-
dimentos. E nesse sentido de entrecruzamento, é necessário considerar “a
composição histórica de um complexo de complexos sociais historicamente
determinados” (FAUSTINO, 2019, p. 16), que estrutura um entrelaçamento
enredado de opressões, e não simplesmente uma somatória de arbitrariedades.
Num contexto cultural cuja voz tradicionalmente imperativa e soberana
é branca, cis-heterossexual e elitizada, a história – e, portanto, a biografia
– de sujeitos negros, dissidentes sexuais e pobres tem sido regida por uma
dinâmica opressora de emudecimento e invisibilidade. Embora seja estarre-
cedor, manobras mórbidas de higienização da diferença ou de apagamento de
sujeitos situados à parte dessa matriz supressora são regidas por uma prática
quase comezinha. Hostilizadas, banalizadas e tornadas precárias em razão
dos diversos tipos de violência a que são submetidas, essas vidas são, pois,
43
“[…] the heritage of slavery in African-American culture and its impact on the positioning of
people of colour within a framework of values dominated by the mainstream culture of whites
who tended to assume the slave was ‘a kind of tabula rasa upon which the white man could write
what he chose’ […]. The ‘master-culture’, like the master of the plantation who sought to rule the
lives of the slaves, tried to impose its norms and values on the minority group who were derided
because of their colour and because of an inherited European view of the African as barbaric,
heathen and inferior.” (CAMPBELL; KEAN, 1997, p. 75).
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
55
desumanamente preteridas ao enclausuramento de um recinto de subjugação,
de dominação, em que a integridade é desabonada e violada.
Excetuando as violências físicas e corporais, um dos estratagemas por-
ventura mais cruéis e desumanos em relação ao Outro é a asfixia de sua voz
ou sua total constrição à invisibilidade e ao ostracismo. Evidencia-se, assim,
uma instância não menos cruel em que a fala é forçosamente calada; a boca,
por sua vez, é obstruída e amordaçada, e seus usos, então, privados e interdi-
tos. Notadamente quanto ao abafamento da voz, a escritora, teórica e artista
portuguesa Grada Kilomba, em um de seus livros mais notáveis, Memórias
da plantação: episódios de racismo cotidiano (2019), formula um capítulo
intitulado “A máscara: colonialismo, memória, trauma e descolonização”, no
qual trata da máscara (do silenciamento), instrumento atormentador e um
dos símbolos implacáveis das políticas coloniais. Perversamente administrada
com intuito de calar a voz dos sujeitos negros durante o período escravocrata,
a chamada “Máscara de Flandres” – dispositivo real de atrocidades utilizado
por mais de 300 anos – cumpria a função de artefato de manutenção de poder.
Trancado à chave, por meio de um cadeado posicionado atrás da cabeça,
a fim de que o acesso fosse exclusivo aos proprietários de escravizados, o apa-
rato era constituído de duas cordas, das quais uma situada à volta do queixo
e maxilar; e a outra, em torno do nariz, passando pela testa. Fabricado com
folha de flandres, o desumano dispositivo preso à cabeça do aprisionado tinha
como serventia evitar – e também punir – o furto/consumo de alimentos,
o alcoolismo e a ingestão de terra, que, consumida em grande quantidade,
poderia levá-lo à morte. Subterfúgio frequente, o suicídio de centenas de
cativos constituía um sistema de rebelião contra a autoridade.
Em passagem pelo Brasil no século XIX, Jacques Étienne Victor Arago,
pintor, desenhista e explorador francês, retrata o instrumento atroz em uma
litogravura conhecida como Castigo de Escravos (1839), explicitando, já no
título da obra, que se trata de uma punição. Nela, há a representação gráfica de
uma mulher negra, de olhar firme e revoltado, cuja cabeça sustém a máscara
perversa. Observemos a imagem perturbante:
56 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
Figura 1- Castigo de Escravos (1839)
Fonte: Coleção Museu AfroBrasil 44
44
Trata-se do retrato da escrava Anastácia. Quanto às explicações acerca da referida imagem,
por serem bastante congruentes, reproduzimos aquelas fornecidas por Grada Kilomba em seu
livro: “Esta imagem penetrante vai de encontro à/ao espectadora/espectador transmitindo os
horrores da escravidão sofridos pelas gerações de africanas/os escravizadas/os. Sem história
oficial, alguns dizem que Anastácia era filha de uma família real Kimbundo, nascida em
Angola, sequestrada e levada para a Bahia e escravizada por uma família portuguesa. Após
o retorno dessa família para Portugal, ela teria sido vendida a um dono de uma plantação de
cana-de-açúcar. Outros alegam que ela teria sido uma princesa Nagô/Yorubá antes de ter sido
capturada por europeus traficantes de pessoas e trazida ao Brasil na condição de escravizada.
Enquanto outros ainda contam que a Bahia foi seu local de nascimento. Seu nome africano
é desconhecido. Anastácia foi o nome dado a ela durante a escravização. Segundo todos os
relatos, ela foi forçada a usar um colar de ferro muito pesado, além da máscara facial que a
impedia de falar. As razões dadas para esse castigo variam: alguns relatam seu ativismo polí-
tico no auxílio em fugas de ‘outras/os’ escravizadas/os; outros dizem que ela havia resistido às
investidas sexuais do ‘senhor’ branco. Outra versão ainda transfere a culpa para o ciúme de
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
57
Quanto aos usos e implicações da máscara, Kilomba relata que
Oficialmente, a máscara era usada pelos senhores bran-
cos para evitar que africanas/os escravizadas/os comes-
sem cana-de-açúcar ou cacau enquanto trabalhavam nas
plantações, mas sua principal função era implementar
um senso de mudez e de medo, visto que a boca era um
lugar de silenciamento e de tortura. Neste sentido, a
máscara representa o colonialismo como um todo. Ela
simboliza políticas sádicas de conquista e dominação e
seus regimes brutais de silenciamento das/os chamadas/
os “Outras/os”: Quem pode falar? O que acontece quan-
do falamos? E sobre o que podemos falar? (KILOMBA,
2019, p. 33, grifo nosso).
O excerto acima tem como foco evidenciar o modo pelo qual a más-
cara configurava-se enquanto elemento de manutenção caro às prescrições
coloniais. Embora tivesse uma função dita oficial e, portanto, manifesta, tal
artefato, como constata Grada Kilomba, cumpria uma finalidade sub-reptícia
e, sem dúvida, mais tirânica: a implementação de um “senso de mudez e de
medo”. Dentro da perspectiva da ordem colonial, esse dispositivo é justamente
o elemento simbólico e brutal que sintetiza a totalidade da violência impin-
uma sinhá que temia a beleza de Anastácia. Dizem também que ela possuía poderes de cura
imensos e que chegou a realizar milagres. Anastácia era vista como santa entre escravizadas/
os africanas/os. Após um longo período de sofrimento, ela morre de tétano causado pelo
colar de ferro ao redor de seu pescoço. O retrato de Anastácia foi feito por um francês de 27
anos chamado Jacques Arago, que se juntou a uma ‘expedição científica’ pelo Brasil como
desenhista, entre dezembro de 1817 e janeiro de 1818. Há outros desenhos de máscaras co-
brindo o rosto inteiro de escravizadas/os, somente com dois furos para os olhos; estas eram
usadas para prevenir o ato de comer terra, uma prática entre escravizadas/os africanas/os
para cometer suicídio. Na segunda metade do século XX a figura de Anastácia começou a se
tornar símbolo da brutalidade da escravidão e seu contínuo legado do racismo. Ela se tornou
uma figura política e religiosa importante em torno do mundo africano e afrodiaspórico,
representando a resistência histórica desses povos. A primeira veneração de larga escala foi
em 1967, quando o curador do Museu do Negro do Rio de Janeiro erigiu uma exposição para
honrar o 80° aniversário da abolição da escravização no Brasil. Anastácia também é comu-
mente vista como uma santa dos Pretos Velhos, diretamente relacionada ao Orixá Oxalá ou
Obatalá – orixá da paz, da serenidade e da sabedoria – e é objeto de devoção no Candomblé
e na Umbanda” (KILOMBA, 2019, p. 35-36).
58 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
gida, servindo, então, como metonímia de toda a sistemática sanguinolenta
do colonialismo.
Na sequência, no intento de tratar da questão da boca, articulada pos-
teriormente como metáfora da posse, a autora reforça a ideia de que esse
órgão é singular, porquanto representa a fala e a enunciação. Argumenta, à
vista disso, que “[n]o âmbito do racismo, a boca se torna o órgão da opressão
por excelência, representando o que as/os brancas/os querem – e precisam
– controlar e, consequentemente o órgão que, historicamente, tem sido seve-
ramente censurado” (KILOMBA, 2019, p. 34). A boca do sujeito colonial – e é
possível expandirmos nossa análise aos sujeitos LGBTQIA+ e despojados de
recursos –, assim, constitui uma ameaça, pois é suscetível de ferir os tímpanos
do cis-heteropatriarcado branco e classista. É por meio dela que verdades há
muito negadas, reprimidas, refreadas e tolhidas são anunciadas:
A máscara, portanto, levanta muitas questões: por que
deve a boca do sujeito negro ser amarrada? Por que ela ou
ele tem que ficar calada/o? O que poderia o sujeito negro
dizer se ela ou ele não tivesse sua boca tapada? E o que
o sujeito branco teria de ouvir? Existe um medo apreen-
sivo de que, se sujeito colonial falar, a/o colonizadora/or
terá de ouvir. Seria forçada/o a entrar em uma confron-
tação desconfortável com as verdades da/o “Outra/o”.
Verdades que têm sido negadas, reprimidas, mantidas
e guardadas como segredos (KILOMBA, 2019, p. 41).
Os questionamentos de Kilomba parecem encontrar indícios de respostas
em indagações muito explícitas do filósofo Jean-Paul Sartre, no exórdio do
memorável ensaio “Orphée Noir” [Orfeu negro]: “O que vocês esperavam
acontecer quando tiraram a mordaça que tapava essas bocas negras? Que
entoassem hinos de louvor? Que as cabeças curvadas pelos nossos pais, à
força, até o chão, quando se reerguessem, revelassem adoração nos olhos?”
(SARTRE, 1948, p. ix, tradução nossa).45 De forma direta, Sartre está nos
alertando sobre a assunção da voz em toda sua produtividade.
45
“Qu’est-ce donc que vous espériez, quand vous ôtiez le bâillon qui fermait ces bouches noires?
Qu’elles allaient entonner vos louanges ? Ces têtes que nos pères avaient courbées jusqu’à terre par
la force, pensiez-vous, quand elles se relèveraient, lire l’adoration dans leurs yeux ?” (SARTRE,
1948, p. ix).
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
59
Como tentativa de debelar essas repressões e fazer frente aos padrões
culturais cujos ditames sempre traduziam e refletiam uma voz exclusivamente
branca e masculina, Campell e Kean defendem a necessidade de explorar di-
versos modos de expressão assertivos, capazes de provocar ruídos, de perfurar
espessas camadas estruturais e miná-las, quebrando, dessa forma, o “silêncio
imposto, herdado da escravidão e perpetuado na história escrita e nos quadros
sociais” (CAMPBELL; KEAN, 1997, p. 74, tradução nossa).46 Contrariamente
ao discurso da tradição hegemônica, o que se nos apresenta, na tentativa
de traçar linhas de fuga, é a voz do oprimido, a voz do “subalterno” – para
valermo-nos do termo empregado por Spivak (1988). A possibilidade de fala,
de réplica do oprimido, e o discurso de emancipação são os fomentadores de
uma contra-história, uma história reescrita a partir de uma perspectiva outra,
desafiadora de predisposições excludentes. Citando novamente Fanon (2008,
p. 33), “falar é existir absolutamente para o outro”. Dito de forma diferente, a
voz do subalterno viabiliza, se não uma equiparação entre negros e brancos,
uma reavaliação dos valores da raça/etnia negra e, por conseguinte, reclama
respeito. Em relação a essa voz, bell hooks argumenta:
Passar do silêncio ao discurso é para o oprimido, o
colonizado, o explorado e aqueles que permanecem e
lutam ombro a ombro um gesto de rebeldia, que cura,
possibilitando uma nova vida e um novo desenvolvi-
mento. Esse ato de fala de “réplica” – não mero gesto de
palavras vazias, ou seja, a expressão de nossa passagem
de objeto para sujeito – é a voz liberada (HOOKS, 1989,
p. 9, tradução nossa).47
Parece-nos difícil ignorar o fato de o recurso da “voz liberada” correr na
contramão dos processos de exclusão. E, nessa lógica, quais discursos essas
dicções poderiam carregar e, por fim, articular? Como expressar a história
dessas vidas enclausuradas na penumbra, a história desses corpos “estranhos”,
muitas vezes indesejados, dessas peles negras “tóxicas”, sustentáculo, por
46
“[…] the imposed ‘silence’ inherited from slavery and perpetuated in the written history and
social frameworks” (CAMPBELL; KEAN, 1997, p. 74).
47
“Moving from silence into speech is for the oppressed, the colonized, the exploited, and those
who stand and struggle side by side, a gesture of defiance that heals, that makes new life, and new
growth possible. It is that act of speech, of ‘talking back’ that is no mere gesture of empty words, that
is the expression of moving from object to subject, that is the liberated voice.” (HOOKS, 1989, p. 9).
60 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
muito tempo, de “máscaras brancas”? Como confrontar e reverter o discurso
do colonizador, um discurso que coage, faz calar, desumaniza e dizima?
Parafraseando o questionamento da ativista e professora de direito Mari
Matsuda (1989, p. 8, tradução nossa),48 “O que uma consciência da expe-
riência de vida sob o domínio do patriarcado e da hierarquia racial oferece à
jurisprudência?”, perguntamos: O que uma consciência da experiência de vida
sob o domínio do patriarcado e da hierarquia racial oferece à literatura, e, por
conseguinte, à vida? Nossa resposta é confiante e firme: oferecem discursos
possantes que operam como um desabafo, materializando-se narrativamente,
com uma sintaxe e uma morfologia próprias, como efusão de um repertório
de memórias individuais e coletivas, deslocando o conhecimento em terceira
pessoa para, então, assumir a construção de um autoconhecimento.
Conjugamos esses entendimentos com aqueles lançados por Audre Lorde
em uma passagem bastante elucidativa do capítulo “A transformação do silên-
cio em linguagem e em ação”, contido no livro Irmã outsider (2019 [1984]).
Segundo a revelação feita pela autora,
PASSEI A ACREDITAR, com uma convicção cada vez
maior, que o que me é mais importante deve ser dito, ver-
balizado e compartilhado, mesmo que eu corra o risco de
ser magoada ou incompreendida. A fala me recompensa,
para além de quaisquer outras consequências. Estou aqui
de pé como uma poeta lésbica negra, e o significado de
tudo isso se reflete no fato de que ainda estou viva, e
poderia não estar.
[...] Parte da minha experiência durante esse período me
ajudou a compreender melhor o que sinto em relação à
transformação do silêncio em linguagem e ação.
[...]
Quais são as palavras que você ainda não tem? O que
você precisa dizer? Quais são as tiranias que você engole
dia após dia e tenta tomar para si, até adoecer e morrer
por causa delas, ainda em silêncio? (LORDE, 2019, p.
51-53, grifo nosso).
48
“What does a consciousness of the experience of life under patriarchy and racial hierarchy
bring to jurisprudence?” (MATSUDA,1989, p. 8).
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
61
Daí admitirmos a possibilidade de fala, de revide desses sujeitos e seus
discursos de emancipação como fomentadores de uma releitura da história,
testemunhada a partir de uma perspectiva outra, desafiadora de predisposi-
ções excludentes. Por meio dos ruídos provocados por essa nova predicação,
“esses outros jeitos de usar a boca” (KAUR, 2017), tenciona-se uma objeção
das flagrantes estruturas de referências ortodoxas, que revelam como as cul-
turas e discursos racializados, gendrados – assim como tantos outros – têm
sido sistematicamente suplantados e sabotados em detrimento de uma his-
tória narrada por sujeitos hegemônicos (leia-se, brancos, cis-heterossexuais,
de classe média/alta). Também, repudiando as sombras e recusando o limbo,
têm se libertado dos grilhões, propondo uma narrativa enviesada por uma
perspectiva e sensibilidade outras.
Operando a ampliação do léxico de vozes audíveis ao transpor fronteiras,
delatar intolerâncias e dirimir exclusões, uma série de produções literárias
evidenciam exatamente esse processo de passagem do mutismo à voz. In-
suflam um discurso que, apesar de erigido na experiência da angústia, da
mágoa e do sofrimento, transforma-se, em última instância, em um potencial
locus – não tão amoenus – de diluição e liquefação da dor, ao se constituir
como uma narrativa singular, como escrita de uma vivência do próprio corpo
negro (muitas vezes dissidente sexual e privado de recursos), metaforizando
a luta contra a ideologia dominante e estagnadora de uma sociedade para a
qual nada pode fugir às convenções, ao establishment.
Apresentamos, em seguida, os poemas “Reclamations” [Reivindicações],
de Thomas Grimes, e “O momento profundo” e “Religião”, assinados por
Waldo Motta, que em suas intricadas tessituras discursivas, desafiadoras da
violenta constrição da pluralidade, oferecem uma multiplicidade de arenas
de expressão.
Thomas Grimes, cujo fazer poético é substancial, reativo e cerebral, toma
a escrita como instrumento político e, questionando as ferramentas da opres-
são e da exclusão, instala sua poesia numa nova ordem. Em “Reivindicações”,
poema no qual se abriga um mundo interditado às violências das narrativas
hegemônicas, o “subalterno” não fala, antes, grita a reivindicação de uma
estética negra e uma história usurpadas.
62 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
Reivindicações
As pessoas do primeiro mundo são um mistério
são minha história
eu a reivindico
Em um caleidoscópio
de cromatismos
somos o que faz o arco-íris brilhar
irradiamos sabedoria
resistindo às tempestades da escravidão
e às águas gélidas do racismo
Somos aquecidos pelo calor do amor-próprio
reluzimos beleza
nascido de um povo majestoso
reivindico os cachos, o crespo
MEUS
lábios grossos, nariz achatado
MEUS
blues, soul
MEUS
Não é segredo
como danço ritmos sincopados
despertadas pelo bater dos tambores
as vozes dos antepassados FALAM
espíritos se movendo profundamente
por séculos de espinhas dorsais
curvadas e dobradas, nunca partidas
pela linguagem dos tambores
as vozes dos antepassados, roubadas
e despojadas, jamais serão silenciadas novamente
sou herdeiro desses ritmos
eu os reivindico.
Pelas noites escuras
sem a luz da lua
continuamos a brilhar
cavalgando e deslizando no vento
enquanto o sopro da mãe natureza suspira
Nas ruínas da História (dele)
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
63
enquanto vasculhamos as areias do deserto
a sujeira da cidade
ou o barro vermelho da Geórgia
continuamos a encontrar nossas peças perdidas
Somos pessoas do primeiro mundo
não pessoas do terceiro mundo
não pessoas de segunda classe
não a minoria
mas a maioria
e queremos tudo de volta
nossos segredos
nossas músicas
e nossa dança
DE VOLTA
nossas receitas
nossos encantamentos
e remédios naturais
DE VOLTA
o nariz lascado da esfinge
Reconstruído
a linguagem esquecida de um povo
Falada novamente
As pessoas do primeiro mundo são a minha história
para reivindicar tudo o que já fomos
somos
e para sempre
continuaremos
a ser.
(GRIMES, 1994, p. 36-38, tradução nossa).49
49
“Reclamations // First world people are a mystery / They are my-story / I reclaim it // In a
kaleidoscope / of complexions / we are what makes the rainbow glow / we sunshine wisdom /
weathering storms of slavery / & icy waters of racism // We are warmed by the heat of self love /
we sparkle beauty / born of a majestic people / I reclaim kinks & naps / MINE / thick lips & flat
noses / MINE / blues & soul / MINE // It’s no secret / how I dance to syncopated rhythms / moved
by the pounding of onyx colored on drums / the voices of the ancestors SPEAK / spirits moving
deep / through centuries of backbones / bowed & bent but never broke / through the language
of the drums / voices of ancestors who were stolen / & stripped will never be silent again / I am
heir to these rhythms / I reclaim them. // Through dark nights / without the light of a moon / we
continue to shine / riding and gliding on the wind / as the breath of mother nature sighs / In the
64 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
Nesta proposição, Grimes concebe um “eu” poético, voz reclamante,
trazendo o sujeito negro para o centro do debate para reivindicar sua história
espoliada. Trata-se de uma reflexão poética concreta e densa, porque determi-
nada pelo signo da contestação – um protesto já desencadeado desde o título:
“Reivindicações”. A rebeldia assumida pelo “eu”, firmado em seu propósito
de recusa da “História (dele)” para reaver a “minha história”, funciona como
um ato de transgressão do sentido (colonial) instalado. Esse repúdio se dá,
inclusive, pelo anseio de restituição da cultura apossada. Enfrentando o corpo
opressor do sistema, o sujeito lírico entoa uma voz de revolta e reclamação,
desmascarando apropriações indébitas: “e queremos tudo de volta / nossos
segredos / nossas músicas / e nossa dança / DE VOLTA / nossas receitas /
nossos encantamentos / e remédios naturais / DE VOLTA / o nariz lascado
da esfinge / Reconstruído / a linguagem esquecida de um povo / Falada
novamente”. Dissociar os paradigmas para recompor a história pessoal (mas
também coletiva), alicerçada num terreno igualitário e progressista, significa
recolher os cacos de um mundo despedaçado pela ação colonial, ordená-los
e aglutiná-los – um percurso árido, extenso, exaustivo, transposto “resistindo
às tempestades da escravidão / e às águas gélidas do racismo”.
Delineados ao longo de 64 versos, os protestos e contestações são pon-
tuados por uma voz vigorosa, que, irrompendo contra o imperativo apaga-
mento de sua presença, tanto força a promoção de espaços de visibilidade
e legitimidade cultural como ressalta a resistência: “Não é segredo / como
danço ritmos sincopados / despertadas pelo bater dos tambores / as vozes dos
antepassados FALAM / espíritos se movendo profundamente / por séculos de
espinhas dorsais / curvadas e dobradas, nunca partidas”. Como numa missão
de rasurar a cruel realidade radicada nas convenções hegemônicas coloniais,
“as vozes dos antepassados, roubadas / e despojadas”, avivadas pelo som do
batucar dos tambores, falam, a fim de “jamais ser[em] silenciadas novamente”.
O entusiasmo pela enunciação aporta uma vitalidade tal, que o investimento
ruins of His-story / as we sift through desert sands / city dirt / or Georgia red clay / we continue
to find our missing pieces // We are first world people / not third world people / not second class
people / not minority people / but majority people / & we want it all back / our secrets / our
songs / and our dance / BACK / our recipes / our incantations / and herbal remedies / BACK /
the chipped nose of the sphinx / Rebuilt / the forgotten language of a people / Re-spoken // First
world people are my-story / to reclaim all we’ve ever been / all that we are / & will forever /
continue / to be.” (GRIMES, 1994, p. 36-38).
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
65
no uso de letras maiúsculas para representá-lo parece, portanto, inevitável.
Dito de outra forma: a dimensão das letras transplanta à página toda a carga
da linguagem, o anseio incontido de expressão a plenos pulmões. O corpo
exerce a mesma resistência estoica operada pela voz “contraventora”. Abrigo
dos espíritos moventes, as espinhas dorsais (sinédoque do sujeito oprimido),
embora extenuadas, resistem às tensões/(o)pressões mais violentas: “curvadas
e dobradas, nunca partidas”. Resistir, ainda que sob o peso das flagelantes
torturas, é consolidar a determinação de romper o círculo vicioso e instaurar
uma nova órbita, tomada de liberdade.
Os versos “[s]omos aquecidos pelo calor do amor-próprio / reluzimos
beleza / nascido de um povo majestoso / reivindico os cachos, o crespo /
MEUS / lábios grossos, nariz achatado / MEUS” colocam-nos diante da be-
leza/estética negra. Símbolos relevantes da negritude, “os cachos”, “o crespo”,
os “lábios grossos” e o “nariz achatado”, ostentados, contrariam a tão comum
avalanche de ridicularizações, produzida a partir de uma ideologia na qual
a brancura é idealizada. Nessa perspectiva de esvaziamento, impregnada de
resíduos de narcisismo e de discursos intolerantes, o Outro, porque negro,
é sistematicamente depreciado, minorado. Especificamente quanto a esse
aspecto, o pesquisador e psicólogo Lucas Veiga, em sua argumentação nodal,
sustenta que “[c]rescer numa sociedade em que a beleza está no outro e as
marcas que te constituem física e historicamente te são preteridas, tem um
efeito subjetivo dilacerante sobre a constituição do senso de valor próprio,
da autoestima” (VEIGA, 2019, p. 86). Por isso, a providência de esforços para
rechaçar os rótulos e clichês raciais em suas inúmeras e inusitadas formas:
“Somos aquecidos pelo calor do amor-próprio / reluzimos beleza”, “Em um
caleidoscópio / de cromatismos / somos o que faz o arco-íris brilhar / irra-
diamos sabedoria”.
Revisando acontecimentos, relendo o curso da história e fracassando a
condição abjeta e ignóbil a qual esteve reduzido, o “eu” desvela-se. Desenla-
çado dos aparatos constritores, sua presença abundante é sentida/transbor-
dada em toda a construção poética, seja na forma do pronome pessoal “eu”,
seja por meio das desinências número-pessoais dos verbos (primeira pessoa
do singular e do plural), seja pela insistente reiteração do pronome “meu”/
“nosso” e suas variações, dispersos em 11 momentos. Essas recorrências, em
seu potencial de provocar importantes fraturas, não só performatizam uma
conquista de espaço e de voz, materializada no próprio corpo do poema, mas
também colocam em derrocada o processo de sufocamento/apagamento do
66 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
“eu”. Evidencia-se, logo, um deslocamento da invisibilidade à visibilidade, da
tenuidade ao vigor, do mutismo à enunciação.
Se o poeta, munido da arma da sensibilidade e da “linguagem esquecida
de um povo / Falada novamente”, reivindica “tudo o que já fomos / somos
/ e para sempre / continuaremos / a ser”, ele fala contra um “mundo onde
somos forçados a colocar as mãos sobre a boca ou sofrer sob o açoite do
aprisionamento, do desemprego ou mesmo da morte.” (BEAM, 2008, p. 184,
tradução nossa).50 São suas palavras, suas vozes mais íntimas, sempre prontas,
infalíveis contra convenções e condicionamentos despoticamente infligidos,
que dão – ou resgatam – vidas. Enunciar é um ato performativo, é (fazer)
viver: “Se não posso vocalizar um sonho – primeiro passo para que se torne
real –, então não tenho sonho. Continua sendo um pensamento, uma visão
sem forma. Ouso sonhar que nosso sangue é mais espesso que a diferença.”
(BEAM, 2008, p. 186-187, tradução nossa).51 Não só ao sonhar, mas ao agir, o
poeta rasga o véu do silenciamento torturante. Afinal, como questiona Joseph
Beam, “[q]ue legado pode ser encontrado em nosso silêncio?” (BEAM, 2008,
p. 184, tradução nossa).52
E se silêncios não podem haver, visto que obstam a viabilidade de cons-
trução de um legado, Waldo Motta concretiza em “O momento profundo” a
presença de um “eu” “desassujeitado” e vocalmente articulado, cujo discurso
parece se desencravar das entranhas. Nessa produção, a voz enunciativa –
reflexo insuspeito do poeta “subalterno” – dilacera o estado compulsório
de mutismo, empreendendo um descomunal trabalho contra a letargia e
a inconsciência de um mundo desconfigurado e arruinado sob o peso de
infortúnios e reveses. O clamor, expresso em gritos aferrados, reclama uma
disposição/abertura à escuta:
50
“[…] world where we are forced to cup our hands over our mouths or suffer under the lash of
imprisonment, unemployment, or even death.” (BEAM, 2008, p. 184).
51
“If I cannot vocalize a dream, which is the first step toward its realization, then I have no dream.
It remains a thought, a vision without form. I dare myself to dream that our blood is thicker than
difference.” (BEAM, 2008, p. 186-187).
52
“What legacy is to be found in our silence?” (BEAM, 2008, p. 184).
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
67
O momento profundo
Do ventre da noite raia o dia, filho
que se entranha de novo, quando a tarde finda.
A vida não tem sentido, a não ser
esse que nós mesmos lhe infundimos.
Se eu bater bater minha cabeça
nos paralelepípedos desta rua desolada
até reduzi-la a farelos
não resolve porque o mundo continua.
Mas se eu gritar gritar gritar talvez
desperte os homens dessa catalepsia.
(MOTTA, 1987, p. 11).
O poema, apesar de sua brevidade (estruturado em torno de apenas três
estrofes) é pontuado por uma densa reflexão. Trata-se, afinal, de um “momen-
to profundo”. Esse adjetivo, posposto ao substantivo “momento”, modifica-o
e atribui-lhe um valor semântico tanto de seriedade quanto de intimidade. É
nesse olhar absorto, mergulhado em si, que o “eu”, tomando o discurso como
seu por direito, investe-se de uma linguagem suficientemente potente para
criar fendas nas estruturas silenciadoras e, em ato de resistência, grita contra
uma pedagogia de produção de subjetividades subjugadas. Ao falar de si, de
sua mortificação, fala sobre o mundo em seu colapso sintomático: “A vida
não tem sentido”, “não resolve porque o mundo continua”, os homens estão
em estado perene de catalepsia.
O esvaziamento do propósito da vida é explicitado na primeira estrofe:
“Do ventre da noite raia o dia, filho / que se entranha de novo, quando a tarde
finda.” A imagem metafórica do dia como filho, que rebenta das entranhas
da mãe-noite para, depois, nelas, voltar a se embrenhar dá relevo a um ce-
nário irretratavelmente reincidente, o qual, por fim, tornar-se-á monótono,
enfadonho, inaturável. O efeito dessa monorritmia apática, suscitada também
pelo emprego dos verbos no presente do indicativo, contamina a segunda
estrofe, aberta sob o signo absoluto da falta de propósito da existência: “A
vida não tem sentido”.
A consternação perturbadora provocada por essa realidade condicio-
nada/colonizada (mas igualmente condicionante/colonizadora) pode ser
68 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
lida como adiantamento – antes, como a presumível causa – do estado ca-
taléptico a ser retratado no verso final do poema (“desperte os homens dessa
catalepsia”). Definida como um distúrbio que acarreta a incapacidade de
movimentação e, inclusive, de fala, a doença, inscrita no verso, aponta para
a inação e o mutismo – aqui admitidos como aspectos patológicos assola-
dores da humanidade. A cáustica condição humana é desenrolada diante do
nosso olhar.
Se há uma realidade corrosiva focalizada pelo poeta, o qual, para denun-
ciá-la, traz à cena o “eu” e suas íntimas angústias, não é menos verdade que é
dele, do “eu”, que provém um estado de lucidez e consciência – mas também
de dicção. O subalterno, transgredindo o silêncio, põe-se a falar. Em termos
diferentes, a voz enunciadora entabula um desarme contra o condicionamento
da “máquina do mundo” – para usar a feliz expressão drummondiana.
A incredulidade no propósito da vida parece sucumbir à força da locução
conjuntiva “a não ser que” (“a não ser / esse que nós mesmos lhe infundimos”),
cuja polaridade negativa acarreta uma alteração semântica da oração anterior
(“A vida não tem sentido”). Assim, sentido há: é “esse que nós mesmos lhe
infundimos”. Está, portanto, recolhido em uma esfera íntima, comedido. E
talvez seja sua busca que dissuada as pressupostas violências que o “eu” cogita
investir contra si (“Se eu bater bater minha cabeça / nos paralelepípedos desta
rua desolada / até reduzi-la a farelos / não resolve porque o mundo continua”).
O penúltimo verso se inicia com a conjunção “mas”, introduzindo a agên-
cia do “eu” na busca de desvitalizar o estado de torpor: “Mas se eu gritar gritar
gritar talvez / desperte os homens dessa catalepsia.” O grito, aí, reiterado três
vezes de modo ininterrupto, configura-se como reivindicação. É um protesto
incessante (“gritar gritar gritar”) de denúncia contra uma tradição colonial
secular, que degrada existências, impelindo-as às mais recônditas profundezas
abissais, à total desarticulação discursiva e ao intransigente silenciamento. “A
reivindicação”, Judith Butler argumenta, “torna-se um ato que reitera o ato
que a reivindicação afirma, estendendo o ato de insubordinação ao realizar
a sua confissão através da linguagem.” (BUTLER, 2014, p. 30). Na sequência,
arremata seu raciocínio, tratando do apoderamento da voz (insubordinada):
a “autonomia é conquistada através da apropriação da voz autorizada daquele
a quem resiste, uma apropriação que traz consigo traços de uma simultânea
recusa e assimilação dessa própria autoridade” (BUTLER, 2014, p. 30). Nesse
sentido, a objeção e a assunção da voz são primordiais não só porque instau-
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
69
ram um enfrentamento à letargia de um mundo sedimentado sobre as bases
do colonialismo mas igualmente porque, aliadas a uma linguagem pujante,
permitem confrontar o próprio poder colonial.
A articulação da voz inflamada, transposta na escrita sob a forma de
texto poético, mobiliza uma dimensão messiânica, redentora. Em “Religião”,
outro poema de Motta, a textualidade poética conduz a um tipo próprio
de abolição, sinalizando não só um estado de libertação mas também uma
dinâmica de poder revolucionário:
Religião
A poesia é a minha
sacrossanta escritura,
cruzada evangélica
que deflagro deste púlpito.
Só ela me salvará
da guela do abismo.
Já não digo como ponte
que me religue
a algum distante céu,
mas como pinguela mesmo,
elo entre alheios eus.
(MOTTA, 1996, p. 79).
A tessitura poética, reforçando seu meio de operação enquanto religa-
mento (do verbo latino religare, de onde deriva “religião”), desvela a instância
sagrada (e, muitas vezes, profana) da poesia de Waldo Motta. Todo um des-
dobramento imagético próprio do campo semântico hierático (“sacrossanta
escritura”, “cruzada evangélica”, “púlpito”) culmina na redenção (“Só ela me
salvará /da guela do abismo”). Deflagrada do púlpito, a “sacrossanta escritura”
(metáfora do discurso poético), buscada enquanto enunciação desafiadora de
parâmetros codificados e instigadora de deslocamentos (“cruzada evangéli-
ca”), conduz à salvação. É ela quem poupa o sujeito poético – também reflexo
do poeta – da “guela do abismo”, de um total desmoronamento. Outra vez,
a assunção da voz possibilita situar-se numa posição distinta, no “púlpito”,
70 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
e, a partir dele, expressar-se autonomamente, tornar-se vocal. Eis o lugar
destinado ao “eu”, que, liberto das amarras e mordaças hegemônicas, pers-
cruta as condições da existência humana, pondo a nu seus emaranhamentos
e contradições. “O presente do poeta [e do sujeito poemático] confronta-o
e deixa emergir uma necessidade de pronunciar, a partir da letra/escrita, as
contradições que cercam as relações de poder.” Nesse sentido, Motta, em seu
projeto empenhado e militante, “ao mergulhar nas sombras de seu tempo,
[...] confe[re à] sua poesia o espaço por onde a obscuridade de sua condição
confrontará o esteio centralizador do poder e da cultura dominante” (SAN-
TOS, 2011, p. 61). Ao sobre-exceder sua capacidade de luta e esfarrapar as
vicissitudes e os entraves culturais naturalizados, o subalterno, tanto na figura
do “eu” quanto do poeta, eclodindo uma redoma robusta e incomplacente
de impedimentos, desfibra a linguagem, distende seus limites, e, implacavel-
mente, volta a falar.
Se há uma lição a ser extraída dos ensinamentos dos poetas aqui abor-
dados, é certamente aquela de que os saberes produzidos pelos indivíduos
de grupos historicamente discriminados, cuja voz tem sido incessantemente
reprimida, são locus de rendimento e vigor que retraçam e cartografam o
mundo a partir de outros olhares e geografias. Adiando formalismos acadê-
micos, encerramos este capítulo com uma citação lúcida e aguda de Concei-
ção Evaristo, a qual endossamos: “aquela imagem da escrava Anastácia, eu
tenho dito muito que a gente sabe falar pelos orifícios da máscara e às vezes
a gente fala com tanta potência que a máscara é estilhaçada. E eu acho que
o estilhaçamento é um símbolo nosso, porque nossa fala força a máscara”
(EVARISTO, 2017). Falar, estilhaçando esse dispositivo intimidador, levanta
o véu infausto dos obscurantismos coloniais e revela, então, as maquinarias e
maquinações de um projeto opressor. Dali, desse descerramento, liberam-se
vozes resolutas no confronto do poder soberano, entoando seus cantos de
expurgo da dor, mas igualmente seus clamores de liberdade.
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
71
REFERÊNCIAS
BEAM, J. (Ed.). In the Life: A Black Gay Anthology. 2. ed. Washington, DC: Redbone
Press, 2008.
BUTLER, J. O clamor de Antígona: parentesco entre a vida e a morte. Tradução de
André Cechinel. Florianópolis: Editora da UFSC, 2014.
CAMPBELL, N.; KEAN, A. American Cultural Studies: An Introduction to Ame-
rican Culture. New York: Routledge, 1997.
EVARISTO, C. Nossa fala estilhaça a máscara do silêncio. Carta Capital, 13 mai.
2017. Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/sociedade/conceicao-evaris-
to-201cnossa-fala-estilhaca-a-mascara-do-silencio201d/. Acesso em: 31 mai. 2020.
FANON, F. Pele negra, máscaras brancas. Tradução de Renato da Silveira. Salvador:
EDUFBA, 2008 [1952].
FAUSTINO, D. M. Prefácio. In: RESTIER, H; SOUZA, R. M. (Orgs.). Diálogos con-
temporâneos: sobre homens negros e masculinidades. São Paulo: Ciclo Contínuo
Editorial, 2019, p. 13-20.
GRIMES, T. Reclamations. Cambridge: Parfait de Cocoa, 1994.
HOOKS, B. Talking Back: Thinking Feminist, Thinking Black. Boston, MA: South
End Press, 1989.
KAUR, R. Outros jeitos de usar a boca. Tradução de Ana Guadalupe. 2. ed. São
Paulo: Planeta, 2017.
KILOMBA, G. Memórias da plantação: episódios de racismo cotidiano. Tradução
de Jess Oliveira. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019.
LORDE, A. Irmã outsider: ensaio e conferências. Tradução de Stephanie Borges.
Belo Horizonte, Autêntica, 2019 [1984].
MATSUDA, M. J. When the First Quail Calls: Multiple Consciousness as Jurispru-
dential Method. Women’s Rights Law Reporter, v. 11, n. 1, p. 7-10, 1989.
MILES, R. Racism. London: Routledge, 1989.
MOTTA, V. Eis o homem. Vitória: Ed. da Fundação Ceciliano Abel de Almeida, 1987.
MOTTA, W. Bundo e outros poemas. Campinas: Editora UNICAMP, 1996.
RESTIER, H.; SOUZA, R. M. (Orgs.). Diálogos contemporâneos: sobre homens
negros e masculinidades. São Paulo: Ciclo Contínuo Editorial, 2019.
SANTOS, R. A. O protesto lírico em Waldo Motta. Estação Literária. v. 8 A, p.
54 - 64, 2011.
SARTRE, J. Orphée Noir. In: SENGHOR, L. S. (Org.). Anthologie de la nouvelle
poésie nègre et malgache de langue française. Paris: Quadrige / PUF: 1948. p. ix-xliv.
72 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
SENGHOR, L. S. (Org.). Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de
langue française. Paris: Quadrige / PUF: 1948.
SISCAR, M. O roubo do silêncio. Rio de Janeiro: 7Letras, 2006.
SPIVAK, G. Pode o subalterno falar? Tradução de Sandra Regina Goulart Almeida,
Marcos Pereira Feitosa, André Pereira Feitosa. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010
[1988].
VEIGA, L. Além de preto é gay: as diásporas da bixa preta. In: RESTIER, H.; SOUZA,
R. M. (Orgs.). Diálogos contemporâneos sobre homens negros e masculinidades.
São Paulo: Ciclo Contínuo Editorial, 2019. p. 77-93.
VELOSO, C. Sampa. In: VELOSO, Caetano. Muito (Dentro da Estrela Azulada).
[S.l.]: Polygram, 1978.
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
73
4
DE LAÇO DE FITA NO MEU
BLACK POWER: PROTAGONISMO
FEMININO NEGRO NA LITERATURA
PARA CRIANÇAS53
LUANA PASSOS54
CLÁUDIA MARIA CENEVIVA NIGRO55
Introdução
Histórias são feitas para tornar as pessoas melhores, não são feitas para
serem geniais e inventadas para ficarem mantidas presas em torres de mar-
fim, inacessíveis a tantos. Muitos textos literários são produzidos para serem
lidos por todos. Neste artigo, temos a intenção de tratar de textos literários
para crianças e jovens, que trazem a descoberta e a validade de identidades,
hegemônicas ou não, e confirmam ou refutam o racismo estrutural ao qual
estamos expostos; aquele que, para Silvio de Almeida (2019), constitui as
relações no seu padrão de normalidade e está tão imbricado na nossa socie-
dade a ponto de levar os sujeitos, muitas vezes, a replicarem ações e atitudes
impensadas.
As palavras e os diálogos escolhidos para este trabalho perpetuam a
criança que há em nós, na poesia e nas reivindicações ideológicas contidas nas
histórias aparentemente inocentes. Reconectar as crianças e os adultos leitores
com as reflexões que fazemos na nossa sociedade nos ajuda a reinventar a
“realidade”, a impactar significados estáticos e endurecidos, a propor meios
de sentir o mundo, com suas nuances, tons, sons e percepções.
53
Artigo publicado na Revista Panorâmica online, dossiê n. 33 (2021).
54
Professora doutoranda na Secretaria Municipal de Educação de São José do Rio Preto.
55
Professora associada na Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP).
Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas (IBILCE). São José do Rio Preto – SP – Brasil.
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
75
Para descer da torre de marfim, repensamos os repertórios das bibliotecas
das nossas escolas, onde há o reconhecimento da representatividade de alguns
grupos e, na ausência ou no encobrimento (livros escondidos em armários
por coordenadores e/ou não utilizados pelos docentes), o desconhecimento
das perspectivas de outros grupos.
Essa falácia da democracia na leitura tem a necessidade de ser revista. Se
todos têm importância, por que as histórias continuam mantendo as crenças
limitantes de racistas, sexistas e homofóbicos? Na contemporaneidade, como
resultado da luta de autores em movimento, temos a oportunidade de ler
outros livros, outros mundos, outras autorias.
Uma das discussões, a ser aprofundada aqui, é a encontrada em dois
textos dessa literatura que encanta e nos leva a desconstruções e revisões
sobre o instituído: o registro do protagonismo feminino negro por meio de
duas personagens, uma menina sem nome e Tayó. Comecemos por aquela
sem nome.
1. Menina bonita do laço de fita
Como já apontamos acima, o racismo estrutural permeia até as produ-
ções cuja intenção é colaborar com os argumentos contrários ao racismo.
Kiusam de Oliveira (2017) afirma continuar o racismo sendo estrutural,
parte de um construto educativo que se inicia na infância e, portanto, faz-se
necessária a sua desconstrução por aqueles com um olhar mais dinâmico
sobre a constituição do país, sem expressar juízo de valor ou afirmações
como as de que as contribuições dos brancos no Brasil são mais significativas
que as contribuições de indígenas e de negros. Portanto, sem juízo de valor,
analisaremos agora uma obra literária usada à exaustão em escolas públicas
e privadas brasileiras como combate ao racismo. A partir de nossa visão,
mostraremos a importância e, também paradoxalmente, a manutenção de
indícios propagadores de concepções ainda racistas e sexistas.
Entendemos a revolução empreendida pela publicação em sua época,
mas aqui discutimos a manutenção exaustiva de uma única obra e um único
momento na educação (mês da Consciência Negra), tantos anos depois e com
tantas outras obras hoje à nossa disposição.
Publicado originalmente em 1986 no Brasil, pela jornalista, escritora
e membro da Academia Brasileira de Letras Ana Maria Machado, Menina
76 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
bonita do laço de fita já teve uma recepção calorosa da crítica, pois Machado
estava incluída no métier da literatura da época: exilada em 1970, trabalhou
em Londres e Paris, além de fazer um curso de altos estudos cujo mestre era
Roland Barthes. Terminou o doutorado sobre a obra de Guimarães Rosa
em Paris. Foi editora e criadora de uma das primeiras livrarias especializa-
das em literatura infantil. Tem produção vasta (100 livros), algumas obras
traduzidas, e ganhou vários prêmios. Quem discutiria com essa escritora?
Seus livros estão lá. Significaram muito durante a ditadura militar e parece
que os blindaram de quaisquer críticas. Nosso intento não é o de desmontar
tão cuidadosa produção, mas desvelar o racismo estrutural e o machismo
nele contidos.
Pensemos o título: preservar a ligação da mulher com a beleza não é
ainda manter o valor feminino ligado somente ao prazer do outro? Bonita
para quem? Valorizada por quem? Com que finalidade? Ligar a criança à
beleza física tem algum propósito?
Já na capa do livro, vemos o nome da autora, em rosa, no centro acima
e, no mesmo tom e centralizado abaixo, o nome do ilustrador, Claudius. No
centro, um pouco à direita, temos uma menina negra, com os cabelos trança-
dos e com uma fita vermelha no final de cada trancinha. No entanto, a menina
sem nome não é a protagonista única da história; ela divide a capa com um
coelho branco adulto, centralizado à esquerda, cujo olhar de apaixonado é
ratificado por seis coraçõezinhos vermelhos. Como um adulto animalizado
apaixona-se por uma criança? A menina apresenta-se com batom vermelho.
Amanda Braga (2015, p. 258) relata que o século XX fará surgir uma
beleza moral, entendida como tentativa de “[...] aplacar estereótipos ofereci-
dos ao corpo negro pelo período anterior, muito embora essa moral tenha
sido corrompida pelos tantos sambas que tinham no corpo supostamente
sensual da mulata sua inspiração”. O corpo da menina sem nome do livro
traz o batom vermelho, expondo marcas estereotipadas acerca das mulheres
negras desde a infância, sensualizando meninas e as tornando atraentes so-
mente para os animais mais velhos, caso do coelho branco, que, mais tarde
no texto, comprova seu fascínio – o mesmo do colonizador pelas mulheres
consideradas exóticas – arrumando uma parceira da mesma cor da menina.
A produção da personagem negra no texto verifica-se por uma visada
cujos acertos ocorrem por ocasião da sua publicação, quando não ser racista
era muito importante. Agora, necessita de uma revisão, pois é necessário ser-
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
77
mos antirracistas. Nas primeiras páginas da narrativa, por exemplo, a autora
descreve a menina negra: “Era uma vez uma menina linda, linda. Os olhos
dela pareciam duas azeitonas pretas, daquelas bem brilhantes. Os cabelos
eram enroladinhos e bem negros, feito fiapos da noite” (MACHADO, 1986,
p. 2). No entanto, ao descrever a pele “escura e lustrosa” apresenta uma com-
paração da menina com outro animal: uma pantera negra pulando na chuva.
O cabelo da menina é bonito, mas a próxima sentença sobre ela inicia-se
com “Ainda por cima” (MACHADO, 1986, p. 4), reforçando que a mãe o
“domava”, fazendo trancinhas europeizadas, com laços de fitas nas pontas. A
narradora cita os reinos da África e uma fada do luar. A ilustração referente
ao cuidado ancestral da mãe é linda.
Contudo, na página seguinte, aparece o coelho branco enorme com um
olhar afetado, cuja descrição ratifica a excitação expressa no texto: “[...] de
orelha cor-de-rosa, olhos vermelhos e focinho nervoso sempre tremelicando”
(MACHADO, 1986, p. 5), apesar de associar o seu desejo com a esperança
de ter uma filha pretinha.
Não há descrição do protagonismo da menina. As ilustrações são proble-
máticas em relação a ela: envolta em um pano branco, dançando e mostrando
as pernas, fazendo exercícios em uma barra, onde o foco é também as pernas,
agora coloridas com a cor rosa das meias-calças (MACHADO, 1986, p. 6).
O narrador dá a voz ao coelho. É o animal quem produz as questões
endereçadas a ela. A história não se constrói sobre quem é a menina, sobre a
sua identidade e percepção no mundo: “Menina bonita do laço de fita, qual
é teu segredo pra ser tão pretinha?” A ilustração apresenta uma menina na
rede, com a mão esquerda segurando um livro de capa verde e a mão direita
acariciando o próprio cabelo, e uma perna para fora da rede. As respostas da
menina não demonstram o conhecimento da própria história: “A menina não
sabia, mas inventou [...]” (MACHADO, 1986, p. 7). Inventou haver caído na
tinta preta e assim o coelho pintou-se de preto. Depois tomou chuva e ficou
branco de novo. Alguma semelhança com o blackface?
Na segunda pergunta, a ilustração traz a menina com cadernos e livros
dispostos no chão. O coelho faz a mesma pergunta e, dessa vez, ela inventa
ter tomado café. Na terceira, ela inventa ter comido muita jabuticaba. Essas
situações narrativas criam um senso de humor aparentemente inconsequente,
desvelando a ignorância da menina, comparando-a com a do animal.
78 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
Há uma quebra na perspectiva quando o ilustrador (MACHADO, 1986,
p.13) retrata a menina no colo da mãe mostrando a foto da avó. O coelho,
abaixo e à direita, assiste a ancestralidade com muita curiosidade. Na quarta
vez que faz a mesma pergunta, a menina responde: “A menina não sabia e já
ia inventando outra coisa, uma história de feijoada, quando a mãe dela, que
era uma mulata linda e risonha [...]” (MACHADO, 1986, p. 14). Apesar de
ser comumente utilizado na época, o termo “mulata” merece ser eliminado.
O protagonismo é do coelho. A ilustração da página 15 mostra a parede
cheia de retratos da família do coelho: o patriarca, um casal, um bebê e a
família toda, diferentemente da menina, que tem apenas um retrato do rosto
da avó (mãe solo). A ilustração é associada ao texto: “E aí o coelho – que era
bobinho –, mas nem tanto [...]” decide casar-se com uma coelhinha preta.
A ilustração da página 17 mostra o desejo sexual do coelho, com os olhos
dilatados, a mão no peito, a boca aberta e um “Ah, eu tô maluco!” escrito ao
lado. A posição corporal é de ataque e o texto comprova a facilidade do branco
em encontrar uma parceira: “Não precisou procurar muito. Logo encontrou
uma coelhinha escura como a noite, que achava aquele coelho branco uma
graça.” A ilustração seguinte é de uma coelha marrom, apaixonada, com
batom vermelho, bem sensual (MACHADO, 1986, p. 18).
O problema da eugenia e miscigenação vem bem ilustrado nas páginas
19 e 20: uma ninhada de coelhinhos, com só uma coelhinha preta. O texto
confirma o resultado: “Tinha coelho para todo gosto: branco bem branco,
branco meio cinza, branco malhado de preto, preto malhado de branco e
até uma coelha bem pretinha.” A menina, ao final, torna-se madrinha da
coelhinha preta. Não tem namorado, não casa, não tem pai, não tem nome.
Será que esse texto ainda deve ser usado nas escolas? Com que finalidade?
Manutenção do racismo e do sexismo estrutural? Contemplemos outros
horizontes.
2. O mundo no Black Power de Tayó
A literatura para crianças e jovens caminha cada vez mais no compro-
misso de problematizar situações sobre práticas antirracistas para o universo
da infância. Especificamente quando nos remetemos ao texto literário voltado
à criança e à sua respectiva infância, temos, obviamente, um leitor literário
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
79
que lê a partir da leitura do outro. Sendo assim, podemos afirmar que não
é o primeiro leitor.
Nesse sentido, o adulto é aquele que empresta os seus olhos para as
crianças realizarem suas leituras e, também, é aquele que, frequentemente,
produz o texto literário para as infâncias. O entrelaçamento entre o criador
do texto de receptividade infantil, isto é, o adulto, e o leitor adulto ou criança
proporciona em certo momento uma construção de texto e um código de
leitura no qual a criança é vista como um “[...] receptor passivo, por meio de
personagens modelares, absorve exemplos de bom comportamento e valores
a serem seguidos” (DEBUS, 2017, p. 38).
Por outro lado, aquele que alicerça os modelos – os
protagonistas das narrativas – apresenta características
vinculadas aos grupos mantenedores do poder, por cer-
to não contemplando a diversidade étnica, silenciando
a representação de personagens negras, indígenas, asiá-
ticas entre outras (DEBUS, 2017, p. 38).
Para Maria Anória de Jesus Oliveira (Correio Nagô), estudiosa na área de
literatura afro-brasileira, houve um aumento de livros que discutem a temá-
tica racial, no entanto, muitos deles produzidos não conseguem interromper
ideias e conteúdos preconceituosos, racistas e com a visão equivocada de
África – vários são afro-oportunistas e não estão envolvidos com as relações
étnico-raciais.
Heloisa Pires Lima (2005), ao tecer apontamentos sobre as personagens
negras na literatura afirma ser a literatura infanto-juvenil um “[...] ‘filão’ de
uma linguagem a ser conhecida, pois nela reconhecemos um lugar favorável
do conhecimento social e à construção de conceitos” (LIMA, 2005, p. 101).
Continua a autora,
A psicanálise folheou as ingênuas obras e nos contou
uma história de profundos conflitos psíquicos, relacio-
nando personagens a chaves emocionais, como abando-
no, perda, competitividade, autonomia, etc., que auxi-
liaram na ordenação da caótica vida interna da criança
em formação. Para além de uma função, a terapêutica,
as narrativas voltadas para o leitor jovem apresentam
o dinamismo das diferentes culturas humanas e o que
80 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
imaginamos ser um espaço de significações, aberto às
emoções, ao sonho e a imaginação (LIMA, 2005, p. 101).
Nesse sentido, temos em uma obra literária, voltada para crianças e jo-
vens, um diálogo com suas mais diferentes emoções, manifestação cultural
e social, de modo também a expressar valores, crenças, representações e
simbologias. Se ler o outro e sobre o outro tem importância fundamental na
formação leitora do indivíduo, o contato com textos literários, que apresentam
personagens em diferentes contextos, [...] permite uma visão ampliada do
mundo (DEBUS, 2017, p. 29).
As infâncias são fases muito importantes nas vidas das crianças. É o
momento de grandes construções, descobertas e aprendizagens. E dentro
dessas vivências e experiências, as crianças notam as diferenças raciais em
seu convívio, percebendo e constituindo a sua consciência racial.
Para Rita de Cássia Fazzi (2012, p. 84), “no mundo infantil, ser conside-
rado moreno ou preto/negro é significativamente importante e pode represen-
tar um tratamento social diferenciado”. Em seus estudos, a autora observa,
entre crianças, a estigmatização da categoria “preto/negro” e a valorização
da categoria “moreno”, esta última não se manifestando como prática nas
categorias de xingamentos.
Uma criança classificada como preta/negra dificilmente
escapa das avaliações negativas e comentários deprecia-
tivos associados a essa categoria, podendo a sua autoes-
tima ser muito mais atingida do que as que se conside-
ram e são consideradas morenas (FAZZI, 2012, p. 85).
É evidente a problemática envolvida na “classificação” ancorada em ca-
racterísticas da aparência, pois não garante a eliminação do preconceito racial.
A ênfase dada pelas crianças ao aspecto estético, dis-
tinguindo entre o que é feio e o que é bonito, sugere o
desenvolvimento do preconceito racial visual, prova-
velmente através de pistas verbais, quando da aquisi-
ção de padrões de beleza. Desde muito cedo a criança
aprende, por exemplo, que cabelo liso é cabelo bonito, e
esse padrão é reforçado, uma vez que parecem ser raros,
senão inexistentes, elogios aos cabelos crespos durante
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
81
a infância. Fernanda, 9 anos, morena, respondeu à per-
gunta “alguém já te falou que o seu cabelo é bonito?”
da seguinte forma: “não, ninguém fala. O Nenem (um
colega de outra turma que tem o cabelo liso) fala que o
nosso cabelo é duro” (FAZZI, 2012, p. 85).
Fazzi (2012) ainda relata em suas pesquisas com crianças que a expressão
“nega do cabelo duro” é usada como forma de inferiorização, como revelado
na fala de outra criança:
[...] os menino lá de rua fica, quando eles vê a Fernanda,
eles falam um negócio do cabelo dela e aí quando vê
eles falam a mesma coisa. Igual um dia que o menino
falou que o cabelo dela é duro. Eles ficam cantando:
nega do cabelo duro que não gosta de pentear, quando
passa na boca do túnel o negão começa a gritar (FAZZI,
2012, p. 115).
Essas experiências raciais apontadas ainda são respingos de todo um pro-
jeto de seleção eugênica pelo qual passavam negros escravizados e por negros
que ainda não possuem sua negritude afirmada e empoderada. O cabelo e o
tom de pele são vistos como determinantes no processo de seleção eugênica:
O primeiro, à esteira do turbante, ainda no momento
escravocrata, era sinônimo de linguagem: “O significado
social do cabelo era a riqueza para o africano. Dessa
forma, os aspectos estéticos assumiam um lugar de im-
portância na vida cultural das diferentes etnias.” Visan-
do, no entanto, a aproximação com o modelo europeu
– justamente devido ao processo de seleção -, emergiria
a preferência por um tipo de cabelo cacheado que já
não era o crespo, mas cacheado, fruto da miscigenação
(BRAGA, 2015, p. 256-257).
Nessa perspectiva, os penteados africanos tenderam cada vez mais a
uma “necessidade” de aproximação ao “padrão branco”. O século XX, por
exemplo, registra uma radicalização desse processo, “ exemplo de moderni-
dade e elegância”.
82 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
Os séculos XVIII e XIX, imbuídos de num sistema es-
cravocrata, construíram uma beleza castigada, ligada ao
corpo e bifurcada entre o olhar do negro sobre o negro
e o olhar do branco sobre o negro: as escarificações, as
marcas tribais, os penteados africanos, o achatamento
do nariz e a limagem dos dentes são elementos exaltados
apenas pelo olhar do negro sobre o negro. Num olhar
inverso, que faz o branco o observador, apenas o seu
modelo deveria ser posto enquanto conceito de beleza,
daí as seleções eugênicas (BRAGA, 2015, p. 257).
Para Munanga (2006, p. 15), no prefácio do livro Sem perder a raiz, de
Gomes (2006):
Desde a construção da ideologia racista, a cor branca
com seus atributos nunca deixou de ser considerada
como referencial da beleza humana com base na qual fo-
ram projetados os cânones da estética humana. Por uma
pressão psicológica visando à manutenção e à reprodu-
ção dessa ideologia que, sabe-se, subentende a domi-
nação e a hegemonia ‘racial’ de um grupo sobre outros,
os negros introjetaram e internalizaram a feiura do seu
corpo forjada contra eles, enquanto os brancos inter-
nalizavam a beleza do seu corpo forjada em seu favor.
Visto desse ângulo, ‘nosso’ corpo e seus atributos
constituem o suporte e a sede material de qualquer
processo de construção da identidade. [...] Ora, para
libertar-se dessa inferiorização, é preciso reverter a
imagem negativa do corpo negro, através de um processo
de desconstrução da imagem anterior e reconstrução de
uma nova imagem positiva (MUNANGA, 2006, p. 15).
Isso acontece no O mundo no black power de Tayó (2013), de Kiusam
de Oliveira. Eleita como uma das dez escritoras mais importantes para a
formação infantil pela ONU, Kiusam de Oliveira é professora e educadora,
mestre em Psicologia e doutora em Educação pela USP. Em 2009 começa a
lançar seus livros, Ọmọ-Ọba: histórias de princesas (2010), recomendado pela
Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) – 2010 e seleciona-
do pelo Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) – 2011. Recebe o
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
83
Prêmio ProAC Cultura Negra 2012 com a obra literária O mundo no black
power de Tayó (2013). Também é autora dos livros O mar que banha a Ilha
de Goré (2015) e O Black Power de Akin (2020).
O protagonismo e o empoderamento de personagens negras na litera-
tura podem ser vistos em O mundo no black power de Tayó, em que Kiusam
de Oliveira narra sobre uma menina negra de seis anos, que experimenta e
vive o seu processo de empoderamento e fortalecimento, orgulhosa de si e
de sua ancestralidade, conhecedora de sua história e identidade. A persona-
gem Tayó, ao retratar sua negritude e beleza negra, rompe com construções
destrutivas sobre símbolos da identidade negra no Brasil, com ênfase no
corpo e no cabelo.
Seus OLHOS são NEGROS, tão negros como as mais
escuras e belas noites que do alto miram com ternura
qualquer ser vivo.
Do fundo desses olhos escuros saem faíscas de um bri-
lho que só as estrelas são capazes de emitir.
Seu nariz parece uma larga e valiosa PEPITA DE
OURO.
Grossos e escuros como orobô, seus lábios encantam, só
se movendo para dizer PALAVRAS DE AMOR (OLI-
VEIRA, 2013, p. 11-14).
A narrativa carrega e também ensina sobre as relações étnico-raciais e
como reverter práticas preconceituosas e racistas vindas do ambiente escolar,
ou em qualquer espaço institucional e social.
Bem-humorada, quando seus colegas de classe dizem
que seu cabelo é ruim, ela responde:
— MEU CABELO É MUITO BOM porque ele é fofo,
lindo e cheiroso. Vocês estão com dor de cotovelo, por-
que não podem carregar o mundo nos cabelos como
eu posso.
Quando retorna para casa pensativa com toda a falta de
gentileza dos seus colegas, TAYÓ projeta em seu pen-
teado, mesmo sem se dar conta disso, todas as memó-
rias do sequestro dos africanos e africanas, sua vinda à
força para o Brasil nos navios negreiros, os grilhões e
84 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
correntes que aprisionavam seus corpos. Tudo isso bem
guardadinho lá no fundo da sua alma.
Mas, quando recupera o seu bom humor, é capaz de
transformar todas as LEMBRANÇAS tristes em pura
alegria, projetando em seu penteado todos os sons e
cores alegres das tradições que os negros e negras
conseguiram criar e preservar [...] demonstrando que
nem correntes nem grilhões conseguiram aprisionar
a ALMA POTENTE DOS SEUS ANTEPASSADOS
(OLIVEIRA, 2013, p. 27-31).
A firmeza de Tayó, diante as agressões verbais e psicológicas, é um en-
sinamento para meninas e meninos, mulheres e homens, negras e negros,
brancos e brancas, e outros grupos raciais. A menina, sem se deixar vencida,
enfrenta a situação com energia positiva, força e muita coragem, demonstran-
do como sua infância e o seu jeito de ser criança negra é, e está sendo cons-
truído, alicerçado em conhecimentos da história e cultura africana e afro-bra-
sileira, transmitindo esse saber pela literatura, transformando especialmente
as crianças negras e as brancas. Em entrevista ao Lunetas, a autora Kiusam
de Oliveira faz a seguinte afirmação, refletindo sobre a infância e a criança:
Penso numa infância em que as crianças são conside-
radas partes fundamentais de um todo bem maior que
elas, já preestabelecido e onde devem participar de uma
gama variada de experiências que as coloquem frente
à frente com novos desafios e situações para que sejam
capazes de desenvolver suas capacidades de protagoni-
zar, de escolher, de opinar, de se emocionar, de enfrentar
problemas e de se solidarizar. É nessa perspectiva con-
ceitual que haverá quem pense que tratar de preconcei-
to, estigma, discriminação e racismo estrutural no Brasil
não são assuntos para a infância, inclusive acrescentan-
do que nenhuma criança é racista (OLIVEIRA, 2017).
Em continuidade às ideias da autora, há um grupo distinto formado
por aqueles que incentivarão e encorajarão as crianças ao enfrentamento
de assuntos como o preconceito, o racismo estrutural, a discriminação, o
estigma, “[...] porque mesmo acreditando que a criança não seja racista, se
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
85
aceita que ela é capaz de reproduzir o racismo que vê, ouve e aprende em
casa” (OLIVEIRA, 2017).
A literatura e a linguagem literária têm o poder de comparticipar com
o leitor, de qualquer idade e pertencimento étnico-racial, valores, origem
sociocultural, histórica e até mesmo ideológica. Para Kiusam de Oliveira,
literatura infantil e arte devem andar juntas e podem ser analisadas como uma
ferramenta relevante para o empoderamento de crianças e jovens negros, bem
como para a aprendizagem de não negros, nesse processo de educação das
relações étnico-raciais, de modo que se “vejam no processo relacional com
a diversidade entre as pessoas a partir das diferenças”. Por isso, a proposta
contida na linguagem do texto literário revela a beleza do negro, fortalecendo
as características da criança negra que possui cabelos crespos, nariz largo,
lábios grossos, etc. (OLIVEIRA, 2017).
Em O mundo no black power de Tayó, na primeira linha da primeira pá-
gina, alegria e ancestralidade africanas yorubas, explicitadas no nome Tayó,
introduzem a história:
TAYÓ tem 6 anos. É uma menina de beleza rara. Encan-
tadora, sua beleza contagia a todos que perto dela ficam.
Seu rosto parece uma moldura de valor, que destaca
BELEZAS INFINITAS (OLIVEIRA, 2013, p. 8).
Dessa maneira, a narradora apresenta a menina à sua leitora e ao seu
leitor, valorizando a estética negra e ensinando às brancas e aos brancos os
padrões de beleza diferentes dos seus. Essa literatura que ensina sobre outro
padrão de beleza, empodera e fortalece, é chamada por Kiusam de Literatura
Negra de Encantamento.
Ela está focada na ancestralidade e no fortalecimento
das identidades negras. Ela é capaz de atingir as estru-
turas psíquicas mais profundas de jovens e crianças
negras, provocando as costuras psíquicas necessárias
para que suas identidades, fragmentadas pelas vivên-
cias racistas, sejam reconstruídas de forma saudável.
Tal literatura depende da arte presente nas ilustrações
que devem encantar crianças e jovens negros para que
se sintam orgulhosos do que veem e se reconheçam
naquelas imagens (OLIVEIRA, 2017).
86 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
As ilustrações no livro de Tayó foram feitas por Taisa Borges. As ima-
gens, assim como a narrativa, mostram a beleza negra de mãe e filha, a força
da ancestralidade e do empoderamento feminino. De um colorido intenso e
delicado, a ilustração da pequena menina negra, com seus traços negroides
marcantes e a potencialidade de seu black power, vai de um vermelho intenso,
cor forte e de energia, ao rosa e amarelo. O verbal e o não verbal acompanham
a apresentação de Tayó e o seu penteado; seu nariz simbolizando uma larga
pepita de ouro em contraste com as cores preto/dourado e seus lábios de
orobô. Ao seu redor, aves, flores, borboletas, gatos e cachorro de um colorido
tão intenso quanto o da protagonista e da sua mãe.
A literatura e linguagem kiusamiana traz ao texto e à linguagem literá-
ria a reflexão e a discussão dos corpos negros (Tayó e da sua mãe), libertos
do sofrimento causado em situações de conflitos pelo não entendimento e
violentação, por construções racistas e simbólicas ao longo dos séculos. O
posicionamento das personagens desconstrói narrativas racistas e nos ensina
sobre a educação antirracista e o empoderamento feminino desde a infância.
A linguagem kiusamiana também corrobora no construto identitário.
A menina de seis anos de beleza rara tem nome, Tayó. Sabemos o quanto o
nome é importante para a construção e o fortalecimento da nossa identidade
individual. Tayó é um nome próprio africano, cujo significado é “alegria”.
Quanta alegria quando podemos nomear crianças negras, identificadas e
carregadas do nome ancestral, do nome do tronco africano ao qual a criança
negra faz parte e constrói a sua identidade individual. Ao refletirmos sobre
as possibilidades de entendimento desse último conceito, podemos verificar
sempre algo que nos identifica, quer seja no nome carregado de memórias e
ancestralidades, quer seja em marcas identitárias como as escarificações, as
pinturas no corpo, o modo de se vestir ou os modelos de penteado do cabelo.
Os nomes próprios em yorubá, orùkọ, “são formados por diversas pala-
vras, vindo a compor um nome relacionado com fatos ou divindades, entre
outras coisas, tornando-os bastante significativos” (BENISTE, 2014, p. 594).
Recebemos o nosso orùkọ aqui no Brasil quando nascemos, e esse nome passa
a nos diferenciar de nossas irmãs, nossos irmãos, nossos pais e nossos avós.
O nome representa a identidade individual de uma pessoa. Essa identi-
dade individual, gerada ou concebida na constituição pessoal, pelo nome ou
orùkọ e pela identidade familiar, marca a existência e a pertença ao mundo.
Essa materialidade da identidade individual pode ser exemplificada na cer-
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
87
tidão de nascimento, na carteira de identidade e, aqui nesta discussão, como
constitutivo da linguagem literária expressa e materializada no livro para
crianças e jovens.
Finalizando...
Após a apresentação dos dois livros, pudemos constatar que às crianças
do século XXI só podem ser dadas oportunidades para construir as suas
identidades e também para desconstruir crenças hegemônicas ainda cris-
talizadas e presentes, herdadas do processo de colonização e escravatura, a
que foram submetidas.
A utilização de outras leituras na escola, com protagonistas cujas vozes
podemos ouvir, são bem-vindas. Há premência em aprendermos sobre as
ancestralidades africanas para reconstituir nosso imaginário restrito às an-
cestralidades europeias e ampliar o respeito às mulheres negras que circulam
com seus corpos na sociedade.
88 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
REFERÊNCIAS
ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS. Ana Maria Machado. Disponível em: http://
www.academia.org.br/academicos/ana-maria-machado/biografia. Acesso em: 01
jul. 2020.
ALMEIDA, S. L. Racismo estrutural. São Paulo: Sueli Carneiro; Pólen, 2019.
BENISTE, J. Dicionário yorubá-português. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2014, p. 594.
BRAGA, A. B. História da beleza negra no Brasil: discursos, corpos e práticas. São
Paulo: EdUFSCAR, 2015.
CORREIO NAGÔ. Aliada à Educação, literatura-juvenil conta história do povo
negro. Disponível em: http://correionago.com.br/portal/aliada-a-educacao-literatu-
ra-juvenil-conta-historia-do-povo-negro/. Acesso em: 19 jul. de 2020.
DEBUS, E. A temática da cultura africana e afro-brasileira na literatura para
crianças e jovens: lendo Joel Rufino dos Santos, Rogério Andrade Barbosa, Júlio
Emílio Bráz e Georgina Martins. Florianópolis: NUP/CED/UFSC, 20017.
FAZZI, R. de C. O drama racial de crianças brasileiras: socialização entre pares e
preconceito. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2012.
GOMES, N. L. Sem perder a raiz: corpo e cabelo como símbolos da identidade negra.
Belo Horizonte: Autêntica, 2006.
LIMA, H. Personagens negros um breve perfil na literatura infanto-juvenil. In:
MUNANGA, K. (Org.). Superando o Racismo na escola. Brasília: Ministério da
Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005.
Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/racismo_escola.pdf>.
Acesso em: 20 de jul. de 2016.
MACHADO, A. M. Menina bonita do laço de fita. São Paulo: Ática, 1986.
MUNANGA, K. (Org). Superando o Racismo na escola. Brasília: Ministério da
Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005.
Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/racismo_escola.pdf>.
Acesso em: 20 de jul. de 2016.
OLIVEIRA, K. ỌMỌ-ỌBA, história de princesas. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2009.
OLIVEIRA, K. O mundo no black power de Tayó. São Paulo: Peirópolis, 2012.
OLIVEIRA, K. O mar que banha a Ilha de Goré. São Paulo: Peirópolis: Fundação
Biblioteca Nacional, 2014.
OLIVEIRA, K. A criança é capaz de produzir racismo. [Entrevista concedida a]
Camila Hoshino. Lunetas, São Paulo, 22 dez. 2017. Disponível em: https://lunetas.
com.br/entrevista-kiusam-de-oliveira/. Acesso em: 19 jul. 2020.
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
89
5
FEMINISMOS PÓS-COLONIAIS
MARCO AURELIO BARSANELLI DE ALMEIDA56
Introdução
Neste capítulo apresentaremos algumas concepções sobre os estudos
pós-coloniais e sobre teorias feministas a fim de propor reflexões acerca de
pontos de encontro entre ambos os horizontes de estudo, de maneira a com-
preender como seus entrelaçamentos podem ser observados na contempo-
raneidade. Iniciaremos nossas considerações a partir dos estudos sobre o
pós-colonialismo.
A evolução dos estudos pós-coloniais desde seus primeiros escritos na
década de 1970 acompanha a constante marcha de movimentos sociais, cujas
concepções compartilham elementos semelhantes. O surgimento de grandes
expoentes das teorias pós-coloniais, notavelmente na Índia, na África e nas
Américas, possibilitou não apenas a disseminação desses conceitos como
também a pluralidade de realidades percebidas dentro das ideias pós-colo-
niais, permitindo a incorporação de outras vivências ao horizonte teórico
pós-colonial.
Entre o final dos anos 1960 e início da década de 1970, o movimento fe-
minista também desponta nos Estados Unidos e se alastra por diversos lugares
do mundo. Comumente subdividido por “ondas”, o pensamento feminista
lança sementes em profusas realidades sociais e culturais, culminando em
56
Doutor em Letras pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP).
Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas (IBILCE). São José do Rio Preto – SP – Brasil.
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
91
numerosos nichos teóricos que compreendem concepções feministas segundo
realidades de populações femininas de locais diversos.
A partir de considerações de algumas pensadoras feministas e de autoras
e autores dedicados ao pensamento pós-colonial, gostaríamos, no capítulo
aqui apresentado, de refletir acerca de determinados pontos de intersecção
entre ambos os campos teóricos. Assim, iniciaremos nossas considerações
dissertando brevemente sobre algumas questões acerca de conceitos sobre o
pós-colonial, principalmente a partir de ideias de pensadoras como Catherine
Walsh e Gayatri Chakravorty Spivak, entre outras. Enquanto grandes nomes
do pensamento pós-colonial, suas ponderações nos permitem não apenas
compreender esse campo de estudos como também vislumbrar um horizonte
de análises que abrange diferentes perspectivas.
Posteriormente, lançamos foco sobre concepções de teorias feministas
segundo escritos de autoras como bell hooks e Kimberlé Crenshaw, possibi-
litando, assim, um amplo rol de percepções acerca do pensamento feminista.
A partir das concepções arroladas, objetivamos compor uma reflexão
acerca de pontos de encontro entre ambos os campos teóricos. Desse modo,
podemos sublinhar questões nas quais as ideias feministas e pós-coloniais
alinham-se na compreensão de sujeitos comumente vistos como periféricos
e/ou desviantes nas estruturas sociais contemporâneas. Enquanto domínios
ideológicos nos quais a busca pelos mecanismos de opressão e subordina-
ção social evidenciam a necessidade de desconstrução e reconfiguração das
arquiteturas sociais, políticas e culturais vigentes, os possíveis pontos de en-
contro de ambas as esferas de pensamento parecem indicar um horizonte
prolífico não apenas de reflexão, mas de efetivas possibilidades de ação que
proporcionem relações sociais mais igualitárias.
Iniciaremos nossa exposição discutindo alguns conceitos basilares pre-
sentes em escritos pós-coloniais. No texto que segue gostaríamos não somente
de expor algumas ideias acerca desse campo teórico como também de definir
alguns conceitos-chave para nossas reflexões subsequentes.
1. Alguns princípios do Pensamento Pós-Colonial
As conquistas imperialistas dos séculos XIX e XX marcaram profun-
damente os territórios colonizados. Como fruto do pensamento europeu
surgido com as ondas de industrialização, a visão da Europa enquanto berço
92 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
da modernidade e da civilização impulsionou as potências europeias rumo à
conquista de territórios, principalmente nos continentes africano e asiático,
uma vez que eram vistos como os mais carentes das inovações tecnológicas
e sociais europeias.
As relações entre Europa e África haviam declinado significativamente
quando acontecem os movimentos de independência na América. Principal-
mente devido ao fim do tráfico de escravizados para as colônias americanas,
consoante ao impulso nos processos de industrialização de países europeus,
o continente africano voltaria a ser novamente cobiçado apenas a partir do
século XIX. Enquanto a Europa vive o frenesi causado pelos rápidos avanços
tecnológicos e sociais, as potências industriais europeias buscam agora fontes
de matérias-primas para suprir a crescente demanda das indústrias. Assim,
os olhos da Europa voltam-se novamente em direção ao continente africano.
Em As sociedades africanas e o colonialismo (2008), Tania Maria Chagas-
telles explica que, considerado na época como “o túmulo do homem branco”,
os exploradores europeus ainda viam o continente africano como território
hostil, o que dificultava incursões exploratórias e a dominação de territórios.
Entretanto, os avanços científicos na área da medicina serviram como portões
de entrada relativamente seguros para missões científicas e evangelizado-
ras. É interessante notarmos que a evolução científica relativa ao combate
às doenças no continente foi direcionada principalmente em benefício dos
exploradores europeus, ou seja, o principal beneficiário dos avanços médicos
era o próprio homem branco.
A Europa lança seus excedentes populacionais por todo
o planeta, em um movimento migratório sem prece-
dentes, formado especialmente por proletários que não
encontram na sua pátria condições de sobrevivência.
Por outro lado, na África subsaariana, pela primeira
vez, o homem branco – missionários, cientistas, explo-
radores, comerciantes – sobrevive (CHAGASTELLES,
2008, p. 114).
Baseados na ideia de levar a civilização para os povos selvagens, ou seja,
para aqueles até então não subordinados às decisões políticas europeias e não
tocados ainda pelo gênio civilizatório europeu, grandes potências industriais
enviam missões científicas e evangelizadoras para territórios africanos. Con-
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
93
juntamente, a Europa exporta para esses novos territórios o excedente de
mão de obra, ou seja, o proletariado que não encontra em território europeu
condições de vida satisfatórias.
O processo gradual de influência das metrópoles industriais sobre os
povos africanos culmina na Conferência de Berlim, entre 1884 e 1885, na
qual, sem a participação de qualquer nação independente africana e sob o
disfarce de motivações humanitárias, o continente africano é subdividido
principalmente entre nações europeias.
A Europa demarca, assim, um extensivo domínio político, cultural, so-
cial e econômico sobre as colônias africanas: missionários evangelizadores
combatem religiões não cristãs; os costumes sociais e culturais europeus são
forçadamente inseridos no quotidiano dos povos dominados; as funções
sociais de mulheres e homens aproximam-se dos papéis sociais de gênero
europeus; e a máscara humanitária cai frente às repressões violentas direcio-
nadas a tentativas de resistência por parte dos povos nativos.
Spivak, em Pode o subalterno falar? (2010), discute a maneira como a
narrativa cultural colonizadora foi utilizada para demonstrar a necessidade
da presença do europeu nas colônias. A autora cita o caso da proibição do
sacrifício das viúvas, no qual a mulher cometia suicídio ao se atirar na pira
funerária do marido. Segundo Spivak, o sacrifício era socialmente aceito e,
por alguns, incentivado como culturalmente inserido nos ritos funerários
indianos. O sacrifício escondia as situações precárias às quais as viúvas pode-
riam ser submetidas após a morte do cônjuge, como abandono pela família,
estupros, prostituição, fome e miséria.
Ao estabelecer seus domínios sobre a Índia, o governo britânico proibiu
a imolação das viúvas, resultando em uma narrativa de “[...] homens brancos
salvando mulheres de pele escura de homens de pele escura [...]” (SPIVAK,
2010, p. 94), o que entrava em conflito com a culturalmente estabelecida
ideia de que o suicídio era a vontade da mulher e que, portanto, sua proibição
desconsiderava o desejo feminino. Spivak lembra que as mulheres não foram
consultadas sobre sua real vontade em cometer suicídio e que a proibição
sem a preocupação com a situação dessas mulheres após a morte do cônjuge
abre as portas para a inserção desses corpos em condições humilhantes e
sub-humanas de descaso e de violências variadas.
94 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
A dominação colonial evidencia fronteiras bastante claras entre o colo-
nizador e o colonizado. Segundo Spivak, a repressão dispensada aos povos
dominados aliada ao afastamento desses corpos de qualquer participação no
estado dominante são elementos essenciais no processo de subalternização.
Para a autora, o subalterno é o indivíduo cuja participação nas esferas de
poder é vetada, uma evidência do desnivelamento de poder das relações
coloniais.
Voltando para as populações africanas, objeto deste capítulo, é percep-
tível a manutenção de relações de poder mesmo após os processos de in-
dependência das colônias africanas serem efetivados. Quando os domínios
coloniais africanos iniciam seus processos de libertação, percebemos aspectos
irreversivelmente alterados pelas nações colonizadoras. Elementos sociais
e culturais, como vestimentas, panoramas econômicos e administrativos,
aspectos religiosos e linguísticos, sofrem intervenções profundas causadas
pelos anos de dominação e subordinação.
Nesse panorama o pensamento pós-colonial encontra terreno fértil para
o desenvolvimento, uma vez que pensar o colonial é basilar na compreensão
das amarras subalternizadoras que continuam a existir na contemporanei-
dade. Apesar de as ex-colônias africanas terem tido, majoritariamente, suas
independências reconhecidas ainda no século XX, a colonização cultural,
política e econômica ainda se faz presente de diversas maneiras nas nações
africanas, asiáticas e americanas, mantendo, e não raro criando, amarras
coloniais, bem como zonas de influência imperialistas ligadas a grandes po-
tências econômicas, como os Estados Unidos.
Parece simples notarmos o quanto a cultura e a sociedade estadunidense,
por exemplo, ainda se fazem presentes no quotidiano dos cidadãos da Améri-
ca Latina. Seja através da música, cinema, literatura, ou mesmo por meio do
panorama político, escapar da influência do colonizador, ou mesmo revertê-la
de alguma forma, parecem idealizações distantes de uma realidade plausível.
Ao considerar esses elementos de dominação, a escritora Catherine Wal-
sh reforça em Interculturalidad, estado, sociedad: luchas (de)coloniales de
nuestra época (2009) a impossibilidade de retorno a um estado similar ao
período anterior à colonização, ou seja, anterior à influência europeizante
do colonizador. Nesse sentido, Walsh utiliza a nomenclatura “decolonizar”
em lugar de “descolonizar”, explicando que:
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
95
Suprimir o “s” e nomear “decolonial” não é promover
um anglicismo. Pelo contrário, é marcar uma distinção
com o significado em castelhano do “des”. Não pretende-
mos simplesmente desarmar, desfazer ou reverter o co-
lonial; ou seja, passar de um momento colonial para um
não colonial, como se fosse possível que seus padrões
e traços deixassem de existir. Ao contrário, a intenção
é sinalizar e provocar um posicionamento – uma pos-
tura e uma atitude contínua – de transgredir, intervir,
insurgir e influenciar. O decolonial denota, então, um
caminho de luta contínua no qual podemos identificar,
tornar visível e incentivar “lugares” de exterioridade e
construções alternativa (WALSH, 2009, p. 14-15, tra-
dução nossa).57
A necessidade de desconstrução das arquiteturas de poder colonial e de
subalternização social parece ser aspecto essencial para a ruptura das rela-
ções de dominação centradas na Europa e nos Estados Unidos. Entretanto, a
decolonização perpassa principalmente a tomada de consciência dos grupos
subalternizados de modo a compreenderem as maneiras como as relações
de poder colonial afetam o quotidiano, ao passo que a conscientização é
elemento sine qua non para a insurgência contra o pensamento colonizador.
A partir da compreensão do pensamento decolonial, podemos entender
os rastros do colonizador não mais como influências danosas às comunidades
colonizadas e subalternizadas, mas como insumos para repensar a realidade
e descontruir os modos de dominação colonial. Resgatar elementos culturais
e repensá-los à luz das ideias pós-coloniais, decolonizar o pensamento a fim
de insurgir contra as formas de subalternização são maneiras de compreen-
der a realidade e moldá-la novamente segundo necessidades locais. Parece
plausível considerarmos que o pensamento decolonial se apresente enquanto
ferramenta importante na construção de sociedades inclusivas, nas quais os
57
Suprimir la “s” y nombrar “decolonial” no es promover un anglicismo. Por el contrario, es
marcar una distinción con el significado en castellano del “des”. No pretendemos simplemente
desarmar, deshacer o revertir lo colonial; es decir, pasar de un momento colonial a un no colonial,
como que fuera posible que sus patrones y huellas desistan de existir. La intención, más bien, es
señalar y provocar un posicionamiento –una postura y actitud continua– de transgredir, inter-
venir, in-surgir e incidir. Lo decolonial denota, entonces, un camino de lucha continuo en el cual
podemos identificar, visibilizar y alentar “lugares” de exterioridad y construcciones alternativas
(WALSH, 2009, p. 14-15).
96 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
corpos atualmente relegados às margens sociais possam ter acesso às esferas
de poder.
No próximo subitem falaremos um pouco mais sobre os corpos subal-
ternizados, mas, antes, gostaríamos de dissertar brevemente acerca dos mo-
vimentos feministas, de modo a compreender seus desdobramentos sociais,
culturais e políticos relevantes para nosso estudo.
2. Feminismo e Pensamento Pós-Colonial
O movimento feminista contemporâneo surge na Europa, como um
desdobramento resultante da Revolução Francesa. Após a Revolução, a exi-
gência feminina pela participação nas decisões políticas se espalha pela Eu-
ropa, como na Inglaterra, onde os esforços feministas estiveram inicialmente
vinculados à busca de direitos políticos. Grupos sufragistas reivindicavam,
então, o direito feminino à participação em eleições por meio do voto, em
uma primeira leva de protestos comumente denominada como Primeira
Onda dos movimentos feministas.
Entretanto, uma característica bastante marcante nessa gênese é a ho-
mogeneidade de raça e classe social percebida entre as lideranças do grupo.
Formadas em grande parte por mulheres brancas de classe alta, as pautas
feministas voltavam-se comumente para questões concernentes a proble-
mas enfrentados por essas mulheres, sem que questões raciais, por exemplo,
fossem consideradas.
Já em uma convenção de 1851, em prol dos direitos femininos, a ex-escra-
vizada Sojourner Truth realiza de improviso um discurso no qual denuncia a
situação de mulheres negras. Em sua fala, Truth comenta sobre os modos dis-
tintos de tratamento dispensados a mulheres brancas e negras na sociedade:
Aquele homem ali diz que as mulheres precisam ser
ajudadas a subir em carruagens, erguidas sobre as va-
las, e ter o melhor lugar em todos os lugares. Ninguém
me ajuda a entrar em carruagens, nem a passar sobre
poças de lama, nem me dá o melhor lugar! E eu não sou
uma mulher? Olhem para mim! Olhem o meu braço!
Arei e plantei, e levei tudo para os celeiros, e nenhum
homem era melhor que eu! E eu não sou uma mulher?
Podia trabalhar tanto quanto e comer tanto quanto um
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
97
homem – quando conseguia comida – e suportar o chi-
cote também! E eu não sou uma mulher? Dei à luz treze
filhos e vi a maioria deles ser vendido para a escravidão,
e quando gritei com minha dor de mãe, ninguém além
de Jesus me ouviu! E eu não sou uma mulher?
Então eles falam sobre essa coisa na cabeça; como é que
eles chamam isso? [um membro da audiência sussurra
“intelecto”]. Isso mesmo, querida. O que isso tem a ver
com os direitos das mulheres ou o direito dos negros?
Se minha xícara comporta só meio litro e a sua um
litro, não seria maldade sua não me deixar encher essa
meia medida?
Então aquele mocinho de preto ali diz que mulheres
não podem ter tantos direitos quanto os homens porque
Cristo não era uma mulher! De onde veio o seu Cristo?
De onde veio o seu Cristo? De Deus e de uma mulher!
O homem não teve nada a ver com Ele.
Se a primeira mulher que Deus fez foi forte o bastante
para virar o mundo de cabeça para baixo sozinha, essas
mulheres reunidas devem ser capazes de fazê-lo voltar
e ficar do lado certo novamente! E agora que elas estão
pedindo para fazer isso, é melhor que os homens as
deixem fazer (TRUTH, 2021, tradução nossa).58
58
That man over there says that women need to be helped into carriages, and lifted over ditches,
and to have the best place everywhere. Nobody ever helps me into carriages, or over mud-puddles,
or gives me any best place! And ain’t I a woman? Look at me! Look at my arm! I have ploughed
and planted, and gathered into barns, and no man could head me! And ain’t I a woman? I could
work as much and eat as much as a man - when I could get it - and bear the lash as well! And
ain’t I a woman? I have borne thirteen children, and seen most all sold off to slavery, and when
I cried out with my mother’s grief, none but Jesus heard me! And ain’t I a woman?
Then they talk about this thing in the head; what’s this they call it? [member of audience whispers,
“intellect”] That’s it, honey. What’s that got to do with women’s rights or negroes’ rights? If my
cup won’t hold but a pint, and yours holds a quart, wouldn’t you be mean not to let me have my
little half measure full?
Then that little man in black there, he says women can’t have as much rights as men, ‘cause Christ
wasn’t a woman! Where did your Christ come from? Where did your Christ come from? From
God and a woman! Man had nothing to do with Him.
If the first woman God ever made was strong enough to turn the world upside down all alone,
these women together ought to be able to turn it back, and get it right side up again! And now
they is asking to do it, the men better let them. (Disponível em: < https://sourcebooks.fordham.
edu/mod/sojtruth-woman.asp>. Acesso em: 19 de abril de 2022.)
98 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
O discurso de Truth lança luz às violências sofridas por mulheres escra-
vizadas ao denunciar os preconceitos e estigmas sociais aos quais as mulheres
negras eram constantemente sujeitas.
Diante da resistência de grupos de mulheres brancas em incluir as questões
dos corpos de mulheres negras nas pautas feministas, o movimento subdivide-
se, de modo a acolher os problemas femininos segundo as necessidades de
grupos distintos. Dessa maneira, é comum que atualmente encontremos
menções a “feminismos negros”, “feminismos asiáticos”, “feminismos latino-
americanos”, etc., uma vez que as pautas do movimento não são mais fixadas,
mas constantemente transformadas segundo necessidades de grupos locais.
A necessidade de inclusão de populações femininas distintas nas pautas
do movimento relaciona-se diretamente com a maneira como o sistema de
opressão patriarcal interage diferentemente com grupos femininos distin-
tos. Como mácula ainda presente da repressão escravagista, os preconceitos
sexistas direcionados a mulheres brancas são diversos daqueles direcionados
a mulheres negras, como bell hooks menciona em seu livro Ain’t I a Woman?
Black Women and Feminism (1990).
Segundo a autora, o tratamento dispensado a escravizados de sexo mas-
culino e feminino nos Estados Unidos comumente prezava pela manutenção
do status de masculinidade, uma vez que mesmo entre escravizados o femi-
nino era visto como uma forma de rebaixamento do sujeito. Dessa forma,
como comentado por Truth, a mulher podia ser enviada a posições de traba-
lhos braçais, usualmente vistos como masculinos, entretanto, os homens não
eram comumente conduzidos a postos de serviço tidos como naturalmente
femininos, como cuidados com a casa ou com crianças.
A subalternização das pessoas negras durante o período escravagista
empurrou o corpo negro feminino para posições ainda mais afastadas de
quaisquer círculos de poder. Segundo Spivak: “Se [...] o sujeito subalterno
não tem história e não pode falar, o sujeito subalterno feminino está ainda
mais na obscuridade.” (2010, p. 67), ou seja, no caso das mulheres negras,
a condição enquanto categoria mais oprimida dentre os subalternos lhes
empurrou cada vez mais para a periferia social.
Não é estranho, portanto, que as reivindicações das mulheres negras
apresentassem resistência por parte dos grupos femininos brancos. hooks
explica que a preocupação das mulheres brancas feministas era a problema-
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
99
tização de questões raciais com o objetivo de conquistar mais igualdade entre
os gêneros, empurrando-as a uma posição inferior à do homem negro, ou
mesmo a uma hierarquia semelhante à da mulher negra.
Segundo hooks, as mulheres negras encontram mais obstáculos em suas
lutas quando em comparação às brancas. Um dos exemplos da autora foi o
combate a estereótipos raciais e sexistas surgidos na escravatura e que são
comumente reforçados pela mídia, como a figura de Sapphire, a emascu-
lante mulher negra. Tida como uma caricatura da megera, Sapphire é rude,
maliciosa, agressiva e temperamental com seu parceiro, inclinada a ataques
irracionais de raiva e geralmente retratada com as mãos na cintura enquanto
grita impropérios e reclamações humilhantes para o homem negro.
O estereótipo de Sapphire, entre outros, foi e continua a ser usado não
apenas como forma de rebaixar as mulheres negras como também uma ma-
neira de atingir os homens negros em sua masculinidade. Além disso, a ima-
gem da mulher negra como dona de uma sexualidade exagerada também é,
segundo a autora, comumente divulgada pela mídia:
Basta olhar a televisão americana vinte e quatro horas
por dia durante uma semana inteira para aprender a
forma como as mulheres negras são percebidas na so-
ciedade americana – a imagem predominante é a da
mulher “caída”, a meretriz, a puta, a prostituta (HOOKS,
1990, p. 52, tradução nossa).59
Enquanto meios de propagação de estereótipos racistas e sexistas, veí-
culos de mídia como jornais, cinema e televisão participam ativamente do
processo de marginalização e subalternização de grupos sociais não hege-
mônicos, ou seja, daqueles corpos que desviam das características idealiza-
das do homem modelo europeu: branco, heterossexual, economicamente
estabelecido. Essas características são basilares na compreensão das ideias
de Kimberlé Crenshaw sobre interseccionalidade.
Para Crenshaw, em Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A
Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and
59
One has only to look at American television twenty-four hours a day for an entire week to learn
the way in which black women are perceived in American society – the predominant image is
that of the “fallen” woman, the whore, the slut, the prostitute (HOOKS, 1990, p. 52).
100 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
Antiracist Politics (1989), assaltos preconceituosos sofridos por populações
não hegemônicas devem ser entendidos não como fatores causais isolados,
mas como a somatória de diversas características presentes nas vítimas. Em
outras palavras, segundo Crenshaw, uma mulher negra, homossexual, desfa-
vorecida economicamente está sujeita a sofrer preconceito não pela cor de sua
pele ou por ser homossexual, mas sim por ser mulher e negra e homossexual
e economicamente desfavorecida – a intersecção de fatores variados formata
o preconceito ao qual será sujeitada.
Não é incomum que encontremos, no Brasil, por exemplo, dados esta-
tísticos aos quais a interseccionalidade possa ser aplicada. Em um artigo de
2020 sobre a inserção de pessoas negras em cursos tradicionalmente ocupados
pelas classes mais altas, nos é informado que em São Paulo apenas 0,9% dos
médicos formados se autodeclaram pretos ou pardos. Da mesma forma, o
artigo aponta que, de acordo com o censo de 2016, apenas 14,05% e 1,81% dos
docentes de nível superior são pardos ou pretos, respectivamente, e apenas
0,12% são de origem indígena. Ainda que minoritariamente representados
no magistério superior, o contrário é identificado ao vislumbrarmos as por-
centagens de brancos e negros detidos no sistema carcerário brasileiro.
Em um artigo de 2018, a página oficial da Câmara dos Deputados pontua que:
Entre os presos, 61,7% são pretos ou pardos. Vale lem-
brar que 53,63% da população brasileira têm essa ca-
racterística. Os brancos, inversamente, são 37,22% dos
presos, enquanto são 45,48% na população em geral.
E, ainda, de acordo com o Departamento Penitenciário
Nacional (Depen), em 2014, 75% dos encarcerados têm
até o ensino fundamental completo, um indicador de
baixa renda.60
Essas estatísticas denunciam o abismo existente entre brancos e não
brancos, como uma faceta persistente do pensamento colonizador na contem-
poraneidade e, embora estejamos citando dados gerais com relação ao gênero,
um artigo também de 2018 presente no site da Pastoral Carcerária apresenta
dados semelhantes quanto aos percentuais de mulheres aprisionadas:
Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-per-
60
manentes/cdhm/noticias/sistema-carcerario-brasileiro-negros-e-pobres-na-prisao>. Acesso
em: 21 abr. 2022.
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
101
[...] o Estado criou outras regras para controlar a popu-
lação negra sem, no entanto, explicitar o componente
racial. Não é por acaso que a maioria das mulheres pre-
sas (62%) é negra ou que a taxa de aprisionamento de
negras (62,5) é muito superior à de brancas (40,1). Há,
obviamente, uma seletividade racial que determina, por
meio da Justiça, que mulheres negras são mais suspeitas
que mulheres brancas.61
O componente racial, assim como o educacional e o econômico, é bas-
tante significativo nos dados apresentados, pois é perceptível a dominação
exercida pelo pensamento patriarcal e hegemônico que ecoa nos modos de
subalternização desses corpos não brancos. Ainda que a interdição aos meios
de poder não seja total, é evidente a seletividade de gênero e de raça presente
nas escalas mais altas de poder quando atentamos para o machismo presente,
por exemplo, nos protestos contra a alta dos preços dos combustíveis durante
o governo da Presidente Dilma Rousseff: os adesivos que sexualizavam a
figura presidencial não foram produzidos novamente, agora utilizando a
imagem do atual presidente, durante os sucessivos aumentos de preço dos
combustíveis recentemente. Ainda que nenhuma das duas formas de ma-
nifestação com adesivos sejam apropriadas, é relevante o fato de que essa
espécie de sexualização ofensiva seja direcionada apenas à figura feminina.
Esse tratamento desigual demonstra, talvez, um equívoco acerca de
quais indivíduos devem ou não se engajar em lutas feministas e/ou apreen-
der reflexões sobre esforços decoloniais, como comentado por Walsh. Sobre
o tema, hooks defende que o patriarcado afeta negativamente ambos homens
e mulheres. Enquanto os efeitos negativos sobre as mulheres são largamente
conhecidos, é comum que homens cresçam sobrecarregados de uma série
de regulamentos, os quais não devem ser quebrados. “Homem não chora” e
“isso é coisa de menina” são concepções cujo efeito negativo é comumente
sentido, ainda que nem sempre reconhecido, uma vez que determina sanções
e restrições que não devem ser quebradas, sob o perigo de pôr em risco a
masculinidade do indivíduo. Os efeitos negativos sobre o colonizador, ainda
que pareçam menos perceptíveis, são tão reais e insalubres quanto sobre o
colonizado.
61
Disponível em: <https://carceraria.org.br/mulher-encarcerada/brasil-e-o-4o-pais-que-mais-
-prende-mulheres-62-delas-sao-negras>. Acesso em: 21 abr. 2022.
102 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
Ao rejeitar formas de opressão e buscar a desconstrução das desigualdades
sociais de gênero, raça e sexualidade, o pensamento feminista e pós-colonial
compartilham interesses mútuos e objetivos a serem alcançados por meio de
caminhos semelhantes: a conscientização e o esforço em busca da construção
de espaços alternativos e inclusivos, nos quais a igualdade de direitos possa
resultar na equidade de oportunidades.
Acrescentamos ainda que a visão do masculino enquanto elemento es-
sencial para o sucesso do movimento feminista é defendido por hooks, uma
vez que a autora aponta que a percepção dos homens sobre o modo negativo
como são afetados pelo pensamento patriarcal, bem como sobre a necessária
tomada de consciência acerca das injustiças sociais que os colocam em po-
sições superiores às mulheres são os primeiros passos para que os próprios
homens principiem a rejeitar concepções machistas e a quebrar suas amarras.
Assim, em muitos aspectos, o pensar feminista é também um pensar
pós-colonial, uma vez que ambos se apresentam como reações de insurgência
a concepções colonizadoras de controle que rebaixam o feminino e o corpo
negro, que obrigam homens ao enquadramento a padrões machistas tóxicos,
e que direta ou indiretamente ampliam o acesso de grupos sociais hegemoni-
camente selecionados aos mecanismos de controle e opressão a outros grupos
sociais. Buscar igualdade de gênero e equidade social é parte do processo de
rebelião e de busca de alternativas não discriminatórias.
Considerações finais
O encerramento oficial dos domínios coloniais das grandes potências
industriais europeias não significou o fim das relações exploratórias, auto-
ritárias e opressoras nascidas da dominação imperialista. Da mesma forma,
o término do período escravagista não impediu que diversos modos de vio-
lência e dominação continuassem a fazer parte da existência quotidiana dos
grupos desviantes dos padrões hegemônicos.
O poder de antigos colonizadores sobre seus ex-colonizados é cons-
tantemente renovado em sociedades nas quais esse domínio é exercido por
meio de concepções machistas criadas pelo pensamento patriarcal, fazendo
com que insurreições contra essa espécie de opressão sexista sejam também
insurreições contra laços colonizadores.
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
103
Dados mostram a face seletiva dessas relações ainda presentes em so-
ciedades contemporâneas, como nos casos de homens e mulheres, brancos e
negros, inseridos em cursos de medicina e em celas de prisões; ou mesmo na
grande importância atribuída por uma relevante parcela das populações de
antigas colônias a ideias e produtos estrangeiros, principalmente originários
da Europa e dos Estados Unidos.
O constante bombardeamento das populações por ideias colonizadoras
semelha a frequente presença, nos veículos de mídia, de narrativas focadas
em manter as mulheres, juntamente com outros grupos não hegemônicos,
em posições sociais periféricas, de maneira a conservar o sujeito masculino
hegemônico como o detentor solitário dos poderes social, político, econô-
mico e cultural.
O levante contra essas formas de dominação perpassa necessariamente a
compreensão, por populações dominadas, dos mecanismos pelos quais essa
sujeição se faz presente, aliando ideias feministas e pós-coloniais na busca
por alternativas inclusivas às sociedades contemporâneas.
104 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
REFERÊNCIAS
ADICHIE, C. N. Sejamos todos feministas. Trad. Christina Baum. São Paulo: Com-
panhia das Letras, 2015.
SISTEMA CARCERÁRIO BRASILEIRO: NEGROS E POBRES NA PRISÃO. Comis-
são de direitos humanos e minorias, 2018. Disponível em: <https://www2.camara.leg.
br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdhm/noticias/sistema-
-carcerario-brasileiro-negros-e-pobres-na-prisao>. Acesso em: 21 de abril de 2022.
CHAGASTELLES, T. M. S. As sociedades africanas e o colonialismo. In: MACE-
DO, J. R. (Org.). Desvendando a história da África [online]. Porto Alegre: Editora
da UFRGS, 2008.
CRENSHAW, K. W. Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black
Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist
Politics. Chicago: University of Chicago Legal Forum, 1989.
HOOKS, b. Ain’t I a Woman?: Black Women and Feminism. Cambridge: South
End Press, 1990.
SOJOURNER TRUTH: “AIN’T I A WOMAN?”, December 1851. Modern History
Sourcebook, 2021. Disponível em: < https://sourcebooks.fordham.edu/mod/sojtru-
th-woman.asp>. Acesso em: 19 abr. 2022.
SOUZA, P. G. A. et al. Perfil Socioeconômico e Racial de Estudantes de Medicina
em uma Universidade Pública do Rio de Janeiro. Revista brasileira de educação
médica, n. 44, 2020. Disponível em: < https://www.scielo.br/j/rbem/a/y8h6fFZn-
zSTMxBdzBNNC8nd/?lang=pt>. Acesso em 21 abr. 2022.
SPIVAK, G. C. Pode o subalterno falar? Tradução de Sandra Regina Goulart Almei-
da, Marcos Pereira Feitosa e André Pereira Feitosa. Belo Horizonte: Editora UFMG,
2010.
TREVISAN, M. C. Brasil é o 4º país que mais prende mulheres: 62% delas são negras.
Pastoral Carcerária, 2018. Disponível em: < https://carceraria.org.br/mulher-encar-
cerada/brasil-e-o-4o-pais-que-mais-prende-mulheres-62-delas-sao-negras>. Acesso
em: 21 abr. 2022.
WALSH, C. Interculturalidad, estado, sociedad: luchas (de)coloniales de nuestra
época. Quito: Ediciones Abya-Yala, 2009.
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
105
6
IMAGINANDO O FUTURO PARA
EXISTÊNCIAS QUARE
FERNANDO LUÍS DE MORAIS62
CLÁUDIA MARIA CENEVIVA NIGRO63
JESSE ARSENEAULT64
Em um mundo regido pela volatilidade e efemeridade de quadros de
referência e pontos de orientação, a concepção do que até recentemente se
havia compreendido como “família” tem sido ampliada de forma a incorpo-
rar novos horizontes de humanidade. Distendendo os sentidos dessa com-
preensão e adotado para sinalizar um conjunto de relacionamentos – agora
vinculados a distintas ideias –, o termo “parentesco” mostra-se maleável,
elástico, respondendo às formas sociais sobre as quais vivemos e, como tal,
vindicando e retraçando linguagens e códigos atualizados.
Espaço de relações consolidadas, essa instituição, cuja responsabilidade
recaía sobre a provisão de crianças e a garantia de uma criação quase sempre
– ou exclusivamente – pautada sobre os parâmetros da naturalização da hete-
rossexualidade, tem sido expandida de forma a abranger outras atribuições,
adaptáveis ao discurso social, econômico, cultural e, até mesmo, moral. No
livro Black Queer Ethics, Family, & Philosophical Imagination [Ética, família
e imaginação filosófica queer negras] (2016), a professora Thelathia Nikki
Young sustenta a seguinte posição:
62
Doutor em Letras pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP).
Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas (IBILCE). São José do Rio Preto – SP – Brasil..
63
Professora associada na Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP).
Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas (IBILCE). São José do Rio Preto – SP – Brasil..
64
Professor Assistente da Concordia University. Departamento de Inglês. Montreal, QC, Canadá.
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
107
Sem dúvida, o poder regulador da “família” excedeu
o cuidado e a provisão de crianças para incluir a es-
tabilização e a normalização – e, até mesmo, a prote-
ção – da sexualidade heteropatriarcal e dos papéis de
gênero. A família tem sido entendida como o local no
qual a sociedade confia grande parte da responsabili-
dade de ensinar e manter esses papéis. Tem também,
por sua vez, sido compreendida, em vários contextos,
como originadora e perpetuadora de roteiros sociais
relacionados ao gênero e à sexualidade altamente valo-
rizados. A família tem atuado como um palco no qual
a diferenciação sexual, o papel e o comportamento de
gênero, e a identidade e as práticas da sexualidade são
formados, avaliados e protegidos. Ao pensar a jornada
da “família” por meio da lente da regulação do gênero
e da sexualidade, lembro-me de exemplos tais como a
proteção da feminilidade e a garantia da superioridade/
potência masculina, o resguardo da pureza do corpo e o
ensino de como se tornar maridos e esposas (YOUNG,
2016, p. xv, tradução nossa).65
Examinando a ideia da família enquanto instituição incumbida não só de
orientar mas também de revigorar e perpetuar os papéis de gênero, inflexivel-
mente sob a ótica da compulsoriedade de relações e práticas fundadas sobre
o terreno da cisgeneridade e da heterossexualidade, Cláudia Nigro e Luiz
Henrique Soares, em artigo sobre a potência da família em corpos travestis,
apontam-na como “um espaço estruturado a partir de diversas violências”
(NIGRO; SOARES, 2022, p. 25).
Se tomada em sua aguda rigidez, a concepção tradicional de família,
erigida sobre robustos pilares do cis-heterofalocentrismo branco e elitista,
não abre precedentes para o vislumbre de um futuro, ou futuros possíveis
65
“To be sure, the regulatory power of “family” has extended beyond the care and provision of
children to include the stabilizing and normalizing – and even protection – of heteropatriarchal
sexuality and gender roles. Family has been understood as the site in which society entrusts a
large portion of the responsibility of teaching and maintaining these roles. In turn, family has been
understood in various contexts as the originator and perpetuator of highly valued social scripts
related to gender and sexuality. Family has acted as a stage on which sex differentiation, gender
role and behavior, and sexuality identity and practices are played out, refereed, and protected. In
thinking about the journey of “family” through the lens of gender and sexuality regulation, I am
reminded of instances of protecting femininity and ensuring male superiority/potency, securing
the purity of the body, and teaching about becoming husbands and wives.” (YOUNG, 2016, p. xv).
108 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
para as existências quare66 (JOHNSON, 2005; DE MORAIS, 2020). Julgados
como corpos “fora da norma”, por não se sujeitarem à intransigência e à
austeridade de modelos preconcebidos de gênero, raça/etnia e classe, restam
a esses sujeitos o lugar da indiferença, do desamor e, portanto, do desprezo.
Abraçando uma perspectiva na qual a família é pensada enquanto espaço
profundo de socialização e politização, a ativista negra bell hooks, em ensaio
intitulado “Challenging Sexism in Black Life” [Desafiando o sexismo na vida
negra], incluído no livro Killing Rage: Ending Racism [Eliminando a raiva:
acabando com o racismo] (1995), defende o argumento de que é nesse círculo
onde os pensamentos arejados acerca da raça/etnia, do gênero e da classe
devem ser aprendidos. Segundo observa, negligenciar a organização familiar
enquanto estrutura de formação da consciência crítica é assumir uma posição
igualmente negligente em relação ao desenvolvimento da identidade e dos
valores. Ao abordar, em particular, as famílias negras, abrindo espaço para
dimensões mais inclusivas, a teórica efetua uma crítica de alta voltagem em
relação às famílias patriarcais:
Falar sobre a família negra progressista e não autoritária
enquanto local de redenção (como costumo fazer em
meu trabalho) é importante. [...] Em vez de trabalhar a
partir de um modelo patriarcal “ideal” profundamente
falho, precisamos abordar a verdadeira família negra,
que é diversa, e reconhecer as possibilidades positivas
existentes para a transformação de todas as estruturas
familiares negras. A realidade é essa. As famílias pa-
triarcais não são lugares seguros e construtivos para o
desenvolvimento de identidades e laços de parentesco
livres do peso paralisante da dominação (HOOKS, 1995,
p. 72-73, tradução nossa).67
É imprescindível lembrar que a mudança do conceito de família é his-
tórica, porque, cada vez mais, declina um modelo dogmático e “tradicional”
66
Segundo Johnson (2005) e De Morais (2020), quare são sujeitos LGBTQIA+ racializados,
comprometidos com a luta contra todas as formas de opressão – de raça/etnia, de sexo, de
gênero, de classe, de religião entre outras.
67
“To speak about a progressive, nonauthoritarian black family as one site of redemption (as I
often do in my work) is important. […] Rather than working from a seriously flawed patriarchal
model as the ‘ideal,’ we need to address the real black family which is diverse and acknowledge
the positive possibilities that exist for transformation in all black family structures. The reality is
this. Patriarchal families are not safe, constructive places for the development of identities and
kinship ties free of the crippling weight of domination.” (HOOKS, 1995, p. 72-73).
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
109
(leia-se, reacionário) para abarcar outras configurações. Torna-se mais e mais
comum o incremento da administração familiar chefiada por mulheres, bem
como a opção pela não maternidade; o aumento do número de divórcios,
mas, ao mesmo tempo, a multiplicação de uniões homoafetivas. O panorama,
muitas vezes, arrojado da constelação familiar, na qual as relações são mais
maleáveis e humanas, e a partir da qual uma nova configuração dos papéis
de gênero pode ser vislumbrada, foi suscitado, como explica hooks no texto
“Reconstruindo a masculinidade negra” (2019 [1992]), como consequência
do capitalismo avançado:
O capitalismo avançado promoveu mudanças na na-
tureza dos papéis de gênero para todos os homens nos
Estados Unidos. A imagem do patriarca e chefe da casa,
líder desse miniestado chamado “família”, desbotou no
século XX. Mais homens do que antes trabalhavam para
alguém. O estado começou a interferir nos assuntos do-
mésticos. O tempo do homem não era dele; pertencia
ao seu empregador, e os termos em que comandava a
família mudaram. Antigamente, um homem que não
tinha dinheiro ainda poderia estabelecer um domínio
tirânico sobre sua família e parentes, pela virtude de seu
status patriarcal, geralmente reforçado por sistemas de
crenças cristãos. Dentro de uma florescente economia
capitalista, era o poder de ganhar dinheiro que deter-
minava até que ponto um homem poderia dominar a
casa, ainda que essa regra fosse limitada pelo estado
(HOOKS, 2019, p. 182).
O posicionamento da teórica possibilita embrenharmo-nos nessas ques-
tões e entrelaçá-las a outras igualmente cruciais. Sendo a criação da família
tradicional uma ficção do poder capitalista há muito vantajosa e lucrativa,
interferir nesse enredo, numa tentativa de se livrar de suas amarras ou des-
mantelá-lo, provoca reações adversas, expressas por meio das mais sórdi-
das hostilidades. Em outros termos, não pertencer ou manifestar qualquer
deslocamento em relação a esse código narrativo normalizador gera como
produto uma culpabilidade não limitada aos atributos físicos (não belo, não
magro, não jovem, não homem, não branco), de gênero (não cisgênero, não
heterossexual, não masculinizado/feminilizado), materiais (não rico, não
bem-sucedido) e mentais (não inteligente, não capaz). Por conseguinte, en-
gendram-se dispositivos para eleger corpos propícios à constituição familiar
e, nessa escolha, restringem-se ou extinguem-se os espaços para o Outro,
110 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
dissidente. A família, então, não lhe pertence? Por quais zonas pode circular
se a sociedade, amparada nessa retesada urdidura, refreia-os? Os modelos
de masculinidade e feminilidade consagrados são inescapáveis, inelutáveis?
As respostas a esses questionamentos parecem ser dadas por Audre Lorde
no ensaio “Sou sua irmã: mulheres negras se organizam para além das se-
xualidades”: “Já ouvi pessoas dizendo que as lésbicas negras são uma ameaça
às famílias negras. Porém, quando 50% das crianças negras nascem fora de
casamentos e 30% das famílias são lideradas por mulheres sem maridos,
precisamos ampliar e redefinir o que é família.” (LORDE, 2020 [1985], p. 15).
Em oposição àquela formação sedimentada da “família nuclear”, Maria
Rita Kehl, psicanalista brasileira, institui o que denomina “família tentacular”
(KEHL, 2013), de forma a abarcar distintas realidades. Para ela, os tentáculos,
aludindo aos polvos, enlaçam diversos membros antes inexistentes. Em outros
termos, a família deixou de ser uma instituição estável e permanente para
se transformar num agrupamento circunstancial e provisório: o parentesco.
A serviço de desconcertar o vigoroso maquinário reprodutor da narrativa
familiar estática, Judith Butler propõe uma concepção bastante promissora:
Se entendermos parentesco como um conjunto de práti-
cas que estabelece relações de vários tipos que negociam
a reprodução da vida e as demandas da morte, então as
práticas de parentesco são aquelas que emergem para di-
rigir as formas fundamentais da dependência humana,
que podem incluir o nascimento, a criação das crianças,
as relações de dependência e de apoio emocional, os
vínculos de gerações, a doença, o falecimento e a morte
(para citar algumas). O parentesco não é nem uma esfe-
ra completamente autônoma, proclamada como distinta
da comunidade e da amizade – ou dos regulamentos
do Estado [...], nem está “ultrapassado” ou “morto”, só
porque [...] perdeu a capacidade de ser formalizado e
rastreado das maneiras convencionais utilizadas pelos
etnólogos no passado (BUTLER, 2003, p. 221-222).
Nesse sentido, as funções predeterminadas são, agora, dissolvidas e as
posições embaralham-se. Ignorar e/ou sufocar uma tal variedade de experiên-
cias configura uma “jornada por um ideal patriarcal inatingível ameaçador”,
em detrimento do “caminho para o amor, para a paz de um espírito livre e
íntegro” (HOOKS, 2019, p. 173). Portanto, ao romper com esses protótipos,
essas representações fantasiosas e estereotipadas, abre-se espaço para o ques-
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
111
tionamento e, por conseguinte, para a inauguração de organizações menos
categóricas e, ao mesmo tempo, mais ilimitadas e compreensivas.
Tendo em vista esses novos entendimentos, este capítulo caminha na
direção de evidenciar como tais posturas encontram-se elaboradas, sob dis-
tintas perspectivas, em composições literárias de autores quare do Norte e do
Sul globais. Para tanto, empreenderemos uma leitura dos textos “Fraternal
Twins” [Gêmeos fraternos], de Thomas Grimes; “Who Said It Was Simple”
[Quem disse que seria fácil?], de Audre Lorde; “Kotinha”, de Cidinha da Silva;
“No Easter Sunday for Queers” [Sem domingo de Páscoa para os queers], de
Koleka Putuma; e The Quiet Violence of Dreams [A violência silenciosa dos
sonhos], de K. Sello Duiker.
“Gêmeos fraternos”, de Thomas Grimes
As fotografias em preto e branco da minha infância
sempre me mostram acompanhadas pelo meu irmão.
Ele é menos de um ano mais novo que eu, parecemos
gêmeos e, por um período de nossas vidas, fazíamos
tudo juntos. Éramos inseparáveis. Quando pequenos,
éramos irmão e irmã, camaradas, companheiros. Na
adolescência, ele foi obrigado a se tornar um garoto
e eu, uma garota. Em nossa casa no Sul, num lar ba-
tista patriarcal, ser um garoto significava aprender a
ser duro, a mascarar seus sentimentos, a defender seu
território e lutar; ser uma garota significava aprender a
obedecer, ficar quieta, ser limpa, reconhecer que você
não tem território para defender. Eu era dura, ele não.
Eu era voluntariosa, ele era tranquilo. Nós dois éramos
decepções. Carinhoso, cheio de bom humor, amoroso,
meu irmão não tinha o menor interesse em se tornar
um rapaz patriarcal (HOOKS, 2019, p. 171).
Nesse excerto introdutório do texto “Reconstruindo a masculinidade
negra”, assinado por bell hooks, a autora, rememorando sua infância, oferece
um panorama das expectativas que emaranham as relações de gênero den-
tro da comunidade e da família negras estadunidenses. Desvelando papéis
rigidamente configurados como masculinos e femininos, hooks aponta que,
dentro dessa lógica familiar monolítica e disciplinadora, tanto ela quanto
o irmão eram reputados como “decepções”. Estruturada em torno de um
112 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
núcleo inflexível, cujo ideal estava enraizado na versão mais irretocável da
masculinidade patriarcal, o modelo tradicional de família, constituído por
um homem e uma mulher que se uniam para viverem juntos e criarem seus
filhos, forjava homens a serem “‘muito homem’, um provedor, amante, disci-
plinador, leitor e pensador” (HOOKS, 2019, p. 172). Mulheres, por sua vez,
eram compelidas à inevitável sina de se retraírem e perpetuar uma conduta
delicada, comedida e subserviente.
As colocações acima, a partir das quais se revela uma matriz absolutista
das expectativas de conformação ao núcleo familiar, parecem efetivamente
acomodadas no poema “Fraternal Twins” [Gêmeos fraternos], de Thomas
Grimes (1957-2003):
Gêmeos fraternos
Garoto cabeça de caroço de pipoca
com dentes de coelho e dedos delgados
CLIQUE/
Garota de pernas tortas
com pés tortos, com o dedão besuntado de pimenta
CLIQUE/
aqueles gêmeos fraternos fizeram poses
e caras e bocas
para as lentes de uma câmera voraz
disseram “Xis” e sorriram
Ao olharem a fotografia em preto e branco
alguns dizem: “Oh, eles não são umas gracinhas?”
mas aqueles gêmeos tinham a sensação de serem tão
feios
ouvidos alugados com comentários do tipo
ela tão grande
ele tão pequeno
ela tão escurinha
ele tão clarinho
ela tão agressiva
ele tão delicado
ela tão barulhenta
ele tão quietinho
ela deveria ter sido menino
ele deveria ter sido menina
gêmeos
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
113
feridos por línguas afiadas
comparações anavalhadas
que atingem o osso
e mesmo assim o amor
a intimidade
e as ligações telepáticas
nunca foram cortadas
Gêmeos fraternos
floresceram e desabrocharam
de beliches a quartos separados
segredos partilhados de
novos amores encontrados
e virgindade perdida
Mais velhos e sábios
eles se juntam
eventualmente
Olham fotografias em preto e branco desbotadas
E recordam-se
de duas crianças cor de chocolate com aparência la-
mentável
testas oleosas
e roupas de segunda mão
renunciando ao que um dia pensaram
ser feio
sobre o outro
“Oh, não somos umas gracinhas?”
(GRIMES, 1994, p. 20-21, tradução nossa).68
68
“Fraternal Twins // Popcorn kernel head boy / with rabbit teeth and slender fingers / CLICK/ /
Knock-kneed girl / with pigeon toes and hot sauce thumb / CLICK/ / those fraternal twins posed
/ hammed it up / for the lens of a hungry camera / said ‘CHEESE’ and smiled // When gazing
at the black and white snapshot / some say ‘Ooh ain’t they cute’ / but those twins felt so ugly /
ears bent with comments of / she so big / he so small / she so dark / he so light / she so rough / he
so delicate / she so loud / he so quiet / she should have been a boy / he should have been a girl /
twins / wounded by blunt-edged tongues / those switch-blade comparisons / cut bone deep / yet
the love / the closeness / and the telepathic connections / have never been severed // Fraternal
twins / blossomed and bloomed / from bunk beds to separate rooms / shared secrets of / new
found loves / and lost virginities // Older and wiser / they come together / occasionally / Gaze at
fading black and white snapshots / and reminisce / about two pitiful looking chocolate children
/ with those greasy foreheads / and secondhand clothes / relinquishing what they once thought /
was ugly / about each other / ‘Ooh ain’t we cute?’” (GRIMES, 1994, p. 20-21).
114 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
“Gêmeos fraternos” exibe, desde seus versos inaugurais, a representa-
ção incongruente de crianças negras diante das miradas antipáticas de uma
sociedade arraigada em hostilidades e prejulgamentos (“Garoto cabeça de
caroço de pipoca / com dentes de coelho e dedos delgados / CLIQUE/ / Ga-
rota de pernas tortas / com pés tortos, com o dedão besuntado de pimenta”).
Ao trazer à baila a noção de não enquadramento do casal de irmãos (“mas
aqueles gêmeos tinham a sensação de serem tão feios / ouvidos alugados com
comentários do tipo / [...] ela deveria ter sido menino / ele deveria ter sido
menina”), o poema sinaliza a inadequação diante dessa estrutura fortemente
solidificada, na qual a família deve ser construída a partir de pilares hetero-
falocêntricos, sustentados sob a noção de uma masculinidade maciça. Não
anunciada de modo manifesto no poema, a célula familiar convencional é,
antes, sugerida por meio dos anseios e comentários direcionados às crianças
ali retratadas.
Revestida de ironia, a observação “Oh, eles não são umas gracinhas?”
concorre para instaurar uma indisposição quanto às percepções que “aqueles
gêmeos” tinham de si mesmos. Estamos diante de um entendimento rotulador
da ausência de espaço para a beleza negra (“ela tão escurinha / ele tão clari-
nho”). Desdizendo esses enredos contrafeitos, Djamila Ribeiro, em “Enxergue
a negritude”, questiona justamente “[...] o porquê de pessoas negras se verem
reduzidas a determinados estereótipos, em vez de serem reconhecidas como
seres humanos em toda sua complexidade e com suas contradições” (RI-
BEIRO, 2019, p. 26). Para além dessas arbitrariedades, pesam sobre “aqueles
gêmeos” fraternos todas as expectativas sociais, todos os papéis de gênero
meticulosa e previamente elaborados.
O poema desnuda também os papéis de gênero, isto é, o conjunto de
padrões e expectativas de comportamentos aprendidos em sociedade e cor-
respondentes aos diferentes gêneros. Em outras palavras, trata-se de manifes-
tações sociais ou representações do que é ser “macho” ou “fêmea” dentro do
contexto cultural de determinada sociedade. Tais expectativas encontram-se
explicitamente patentes nos versos “ela tão grande / ele tão pequeno / ela
tão escurinha / ele tão clarinho / ela tão agressiva / ele tão delicado / ela tão
barulhenta / ele tão quietinho / ela deveria ter sido menino / ele deveria ter
sido menina”. hooks (2019), pensando num movimento histórico, defende
que “[o]s líderes negros do século XIX estavam preocupados com papéis de
gênero. Enquanto acreditavam que os homens deveriam assumir posições
de liderança em casa e na vida pública, também estavam preocupados com o
papel das mulheres na melhoria da raça.” (HOOKS, 2019, p. 178). Objetando
essa visão de família introjetada na consciência negra como a única disposição
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
115
admissível, a teórica sustenta a necessidade de erradicar um modelo patriarcal
e implantar um novo arranjo no qual as possibilidades diversas sejam reco-
nhecidas como apropriadas e autênticas, e não “ferid[a]s por línguas afiadas
/ [ou por] comparações anavalhadas / que atingem o osso”.
Apesar de todas as adversidades e das experiências de sofrimento, o
elo fraternal resiste, inalterado: “e mesmo assim o amor / a intimidade / e
as ligações telepáticas / nunca foram cortadas”. A cumplicidade, a afeição e
a própria obstinação e relutância diante dos reveses e percalços atualizam e
requalificam os vínculos privados. Como bem afirma Young (2016, p. vii,
tradução nossa),69 completamente hostil e relutante à ideia austera da consti-
tuição familiar homogênea e monolítica, “[...] amor, compromisso, resistência
e sobrevivência diária reafirmam para mim a noção de que relacionamentos
e famílias são realidades criativas e formativas”.
O retrato da intimidade, o acervo individual de afetos privados, protegi-
dos da intromissão de olhares alheios (ou das “lentes de uma câmera voraz”),
são retomados nos versos “Gêmeos fraternos / floresceram e desabrocharam
/ de beliches a quartos separados / segredos partilhados de / novos amores
encontrados / e virgindade perdida”, nos quais a figura do irmão/irmã traz
uma espécie de reconforto, porque confessionário de confidências e revelações
recônditas. Aliada a seus dados biográficos, a produção de Grimes permite
afirmar que o poeta retrata, nos versos, a si e sua própria vivência, junto à
irmã gêmea, Tina Grimes. Nesse sentido, a materialidade negra-gay do autor
encontra-se, de certa forma, ali insertada.
Flagrados pelas “lentes de uma câmera voraz”, o “[g]aroto cabeça de
caroço de pipoca / com dentes de coelho e dedos delgados” e a “[g]arota
com pernas tortas / com pés tortos, com o dedão besuntado de pimenta”
destoam de quaisquer imaginários de beleza hegemonicamente idealizados.
Eis que a isso se somam outras “falhas”: “ela tão grande / ele tão pequeno /
ela tão escurinha / ele tão clarinho / ela tão agressiva / ele tão delicado / ela
tão barulhenta / ele tão quietinho”. Dentre todas, a delicadeza do menino
e, em contrapartida, a agressividade da menina são as mais consternadoras
quando observadas à luz de um prisma heteropatriarcal. Especificamente
quanto aos homens negros, sobre quem pesa os efeitos devastadores de uma
masculinidade que lhes impõe o papel de provedores, de chefes, a vulnera-
bilidade e a delicadeza são marcas intoleráveis. Como explicita hooks, “[a]
o apagar as realidades de homens negros que têm diferentes entendimentos
69
“[…] love, commitment, fortitude, and daily survival reaffirm to me the notion that relationships
and families are creative and formative things” (YOUNG, 2016, p. vii).
116 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
de masculinidade” – e, no caso do poema, esta constituição enquanto sujeito
mais frágil e introvertido – “a produção acadêmica sobre a família negra
(tradicionalmente, o contexto da discussão sobre masculinidade negra) co-
loca uma representação rasa e unidimensional no lugar dessa complexidade
vivida” (HOOKS, 2019, p. 174).
Grimes explicita um recorte bastante definido da constituição familiar
ao focar tão somente a figura dos irmãos; ali, na malha textual, não se en-
contram outros membros da família. Ao particularizar sua mirada, coloca
sob perspectiva os vínculos fraternos positivos, retirando, portanto, de cena
a ambivalência de sentimentos, associada ao trânsito de afetos positivos e
negativos. Apesar dessa gama de sentimentos quase paradoxais, a relação
instaurada entre eles é íntima, profunda, cotidiana e intricada. O mais in-
teressante é que, conforme sugerem os versos, nem o tempo é capaz de ruir
ou dissolver os vínculos fraternais: “Mais velhos e sábios / eles juntam-se /
eventualmente”. Pelo contrário, parece que esses vínculos são reforçados,
fornecendo um continente substantivo de consonâncias (“Olham fotografias
em preto e branco desbotadas / [...] / renunciando ao que um dia pensaram
/ ser feio / sobre o outro / “Oh, não somos umas gracinhas?”).
Na singularidade e lucidez de seus princípios, perfurantes da espessa
camada de hostilidades e intolerâncias, “Gêmeos fraternos” põe a nu como
os irmãos passam a ser fonte de suporte mútuo nas novas configurações
familiares nas quais o gênero e também a raça exercem um papel relevante.
A cumplicidade fraterna exposta por Grimes não só enseja uma maior proxi-
midade, um vínculo mais íntimo, como também sugere um amadurecimento
pessoal. É justamente da ideia de parentesco enquanto unidade inclinada ao
amor, ao carinho, à felicidade que surgem possibilidades plurais de uniões –
igualmente legítimas –, solapando visões estreitas e solidificadas e desfazendo
a lógica supostamente natural da configuração familiar. É daí que futuros
podem despontar e promover o amparo das mais heterogêneas formas de
existências e dissidências, inclusive das vidas quare.
“Quem disse que seria fácil?”, de Audre Lorde e “Kotinha”,
de Cidinha da Silva
Lésbicas, negras, ativistas e escritoras premiadas, Audre Lorde (1934-
1992) e Cidinha da Silva (1967) são mulheres inegavelmente quare. A qua-
lidade incontroversa de seus trabalhos, sempre comprometidos com um
vigoroso processo de ressignificação de juízos negativos, inscrevem-nas no
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
117
cenário literário, provocando fissuras nos circuitos editoriais hegemônicos.
Reivindicando a escrita como direito – porque dotada de um poder liberta-
dor – e promovendo mudanças primordiais ao protagonismo literário negro,
fundam suas próprias editoras a fim de publicar livros invisibilizados em seus
respectivos países.
Embora dissociadas temporal e espacialmente (Lorde, pertencente ao
Norte, e da Silva, ao Sul global), ambas se acercam quanto às pautas das quais
tratam. Um dos reflexos do distanciamento temporal é que Audre Lorde pôde
falar muito antes de Cidinha da Silva, durante a luta pelos direitos civis dos
negros nos Estados Unidos – contexto marcado por fiscalização, restrição
e regulamentação estatal das manifestações sobre os direitos dos negros.
Independentemente de escrever anos mais tarde, e em outro lugar, da Silva,
assim como Lorde, orientada por um intuito humanizador, trata dos corpos
negros, circunscritos à rejeição e aos parâmetros da colonialidade do poder.
Buscando abrir terrenos de modo a subverter os ditames da branquidade e
negociar lugares supostamente não apropriados àqueles corpos, as autoras
agenciam a viabilização de publicações de suas comunidades, alargando o
auxílio de corpos negros femininos.
Apesar da vastíssima e necessária produção de ambas as intelectuais –
abarcantes do domínio do ensaio, do conto, do teatro, da poesia e da crônica –,
restringimo-nos, para efeito deste capítulo, à análise de um poema de Lorde e
um conto de da Silva. Trata-se, respectivamente, de “Who Said It Was Simple”
[Quem disse que seria fácil?] (1973) e de “Kotinha” (2018).
Em “Quem disse que seria fácil?”, Lorde conclama a mulheridade para
todas, demarcando e interpelando ações acerca do privilégio da branquida-
de e da heterossexualidade nas passeatas feministas pelo direito de “todas”
as mulheres. Trata-se de um poema narrativo, composto inteiramente em
versos livres, dispostos em três estrofes. O arranjo textual, estruturado em
três versos na primeira e na última estrofes, e em doze versos na segunda,
revela a narratividade. A introdução, cuja função é levar o leitor para dentro
do texto, e a conclusão, onde se apresenta a síntese da problemática tratada,
focalizam o corpo negro feminino. A descrição, a fundamentação e os des-
dobramentos das intricadas adversidades encontram-se no desenvolvimento.
Vejamos o poema:
118 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
Quem disse que seria fácil?
Tem tantas raízes a árvore da raiva
que às vezes os galhos se despedaçam
antes mesmo de dar frutos.
Sentadas na Nedick’s,
as mulheres se reúnem antes de marchar
falando das garotas problemáticas
que contratam para ficarem livres.
Um atendente quase branco posterga
um irmão que espera para servi-las primeiro
e as damas nem notam nem rejeitam
os pequenos prazeres da escravidão deles.
Mas eu, confinada tanto pelo espelho
quanto pela minha cama,
enxergo questões não só de cor
como também de gênero.
e sento aqui me perguntando
qual de meus eus sobreviverá a todas
essas libertações.
(LORDE, 1973, s.p., tradução nossa).70
Na introdução, Lorde discute a ira das injustiças impressas nos corpos
de mulheres negras, como efeito não só do sexismo mas também do racismo
e do classismo – a se revelar ao longo da composição: “Tem tantas raízes a
árvore da raiva / que às vezes os galhos se despedaçam / antes mesmo de
dar frutos.” Ao focalizar uma cena episódica, na qual algumas mulheres es-
tão sentadas em um estabelecimento de uma rede de fast food, antes de um
protesto feminista, discutindo suas empregadas subalternizadas, a poeta evi-
dencia como as mulheres brancas não notam, mas aceitam o favorecimento
de atendimento do garçom (negro) em detrimento ao de um homem negro,
70
“Who Said It Was Simple // There are so many roots to the tree of anger/ that sometimes the
branches shatter / before they bear. // Sitting in Nedicks / the women rally before they march /
discussing the problematic girls / they hire to make them free. / An almost white counterman
passes / a waiting brother to serve them first / and the ladies neither notice nor reject / the slighter
pleasures of their slavery. / But I who am bound by my mirror / as well as my bed / see causes in
colour / as well as sex // and sit here wondering / which me will survive / all these liberations.
(LORDE, 1973, s.p.).
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
119
que esperava há mais tempo. Classe e raça interseccionam-se nessa segunda
estrofe, não só porque Lorde aponta a burguesia (antagônica e malévola) e
a classe trabalhadora, continuamente explorada, mas também porque esta-
belece uma diferenciação entre “mulheres” (brancas) e “garotas” (negras),
sendo essas últimas qualificadas – melhor seria dizer desqualificadas – como
“problemáticas”.
Também ali, nos versos vivos e ásperos, incide a crítica mais contundente
empreendida na tessitura textual: “e as damas nem notam nem rejeitam /
os pequenos prazeres da escravidão deles.” A problemática da escravização
desnuda-se sob o efeito devastador da expressividade dos versos, porque ab-
solutamente irônicos, assentados sobre “pequenos prazeres”. É a partir desses
acontecimentos radicados na indiferença, portanto, que a poeta entabula o
questionamento das pautas feministas relativas ao próprio corpo, constatado,
posteriormente, ao admitir: “Mas eu, limitada tanto pelo espelho / quanto
pela minha cama, / enxergo questões não só de cor / como também de gê-
nero.” Os versos reverberam a ideia da indissociabilidade das opressões. Em
outros termos, ecoam, novamente, a premência do olhar interseccional. A
conjunção adversativa “mas” corta o fluxo aparentemente natural da narrativa,
estabelecendo o contraponto da denúncia e da fúria, anunciada previamente
no primeiro verso da primeira estrofe: as mulheres negras (lésbicas) não
têm lugar nessa passeata. A elas tampouco é facultada a oportunidade de
constituir famílias, pois não se assentam no padrão cristão hegemônico. São
sentidas como corpos disponíveis para o trabalho submisso, para o prazer
sem compromisso. Ao corpo que grita de Lorde, a família constitui-se na
impossibilidade, “limitada pelo espelho e pela cama”.
O poema é encerrado com uma forte ironia. Lorde parece falar das inú-
meras direções para as quais é puxada, pois se interroga: “qual de meus eus
sobreviverá a todas / essas libertações.” Todos os locais sociais de Lorde –
bem como os da comunidade de mulheres negras lésbicas em nome da qual
fala – interpenetram-se para compor sua experiência; não pode furtar-se da
totalidade de sua complexidade corpórea para se fragmentar em heterogê-
neos “eus”. E é justamente nessa pulverização de “eus” que reside a ironia,
mas também o juízo crítico.
A força poética de Lorde está igualmente expressa no grito de da Silva
no conto “Kotinha”, do premiado livro Um Exu em Nova York, publicado em
2018. Nessa narrativa, amálgama de mitos bantos, iorubás, entre outros, da
120 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
Silva resgata a mulher negra e toda a sua ancestralidade, defrontando o ho-
mem branco de linhagem europeia. Na trama, vê-se um terreiro de candomblé
sendo invadido por homens brancos protestantes cujo intuito é erradicar
saberes ancestrais vinculados a corpos negros: “Quebra! Quebra! Quebra
em nome de Jesus! E Jesus se encolhia num canto, assustado por usarem seu
nome na contramão de princípios humanistas.” (DA SILVA, 2018, p. 21).
No momento do evento, a narradora descreve mulheres e crianças escon-
dendo-se e rogando não só para que a agressão acabasse mas também para
que nenhum homem dali chegasse “e se visse obrigado a enfrentar os dois
crentes” (DA SILVA, 2018, p. 21). Além de evidenciar o discurso de ódio, o
episódio expõe o ato de desmesurada barbárie daqueles que adentram espaços
alheios, em momentos precisos, a fim de exercerem o machismo (aqui, dis-
simulado – ou cúmplice? do discurso religioso). O conto, no entanto, não se
atém ao inescrupuloso preconceito religioso, ao tétrico sexismo e à impetuosa
crueldade; ocupa-se da ancestralidade africana, defendendo, juntamente a
menina Kotinha, o lugar onde o parentesco pode existir e vislumbrar futuros.
Em meio àquela catástrofe, ao caos instalado, surge a deusa Oyá (tam-
bém conhecida como Iansã ou Bamburucema). Orixá dos ventos e dos raios,
comanda a “água forte, chuva de raio e vento” (DA SILVA, 2018, p. 21). A
deusa defensora, que traz consigo a chuva, representando todas/todos as/os
orixás ancestrais, está aliada às mulheres aquilombadas no terreiro, resguar-
dando a família comunal frequentadora dali. Kotinha, também integrante
daquele lugar, é então apresentada e, em seguida, nomeada. Pequena macota,
tem um cargo feminino de prestígio: é “zeladora dos orixás”. É ela, portanto,
quem invoca Iansã/Oyá/Bamburucema para ensinar aos homens brancos a
bondade e a importância de outras constituições familiares no Brasil cristão.
No abraço de Kotinha às pernas da Mameto (cargo da mãe de santo no
candomblé bantu) aflora o contato fecundo entre a família de lá (do mundo
espiritual) com a família daqui (do mundo terreno). No conto, o parentesco é
simbolizado pelo terreiro, pois conjuga seres variados, de distintas dimensões,
unidos pelo vínculo ancestral. Essa instituição, materializada sob a forma do
espaço de culto, é livrada dos “homens de cérebros lobotomizado, tomados
pelo Demônio” por Kotinha, quando toca o Adjá (instrumento musical sagra-
do), para invocar os orixás. Os “homens maus”, “destruidores”, são tomados
pelo vigoroso som. A um deles, cujo corpo é apossado por Bamburucema,
“Mameto [...] explica sobre a perseguição que sua casa vinha sofrendo, pede
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
121
solução” (DA SILVA, 2018, p. 23). O homem é iniciado e recebe um puxão
de orelha de Kotinha, que também lhe repreende. A paz é reestabelecida e o
futuro da família-terreiro é garantido.
O conto de Cidinha da Silva e o poema de Audre Lorde mostram-nos
a relevância da denúncia educativa, elemento propulsor do entendimento
da humanidade enquanto parentesco. Nigro e Soares (2022), em texto já
citado, sustentam que, em comunidades indígenas, a concepção de família
encontra-se associada a um conjunto também amplo de relações, dentre as
quais o senso de comunidade, a transmissão de saberes (não capitaneados e
capitalizados pelo poder hegemônico) e as vinculações com o divino, com a
natureza e com a sociedade. Nessa cultura, atribui-se, de modo geral, ao mais
velho o papel da educação e do respeito à comunidade. Na esteira desse modo
de conhecimento, da Silva e Lorde implementam um conceito parentesco
alicerçado em relações de conexão e de transmissão de saberes, advindos
das próprias comunidades, à parte de qualquer manutenção econômica de
grupos privilegiados.
“Sem domingo de Páscoa para os queers”, de Koleka
Putuma; e A violência silenciosa dos sonhos, de K. Sello
Duiker
Em seu livro recente, Frottage [Fricção] (2019), Keguro Macharia lamenta
que o hetero-parentesco – laços de sangue, ancestralidade e estruturas fami-
liares heteronormativas – organize as relações entre a vida afrodiaspórica e
africana em meio ao que Saidiya Hartman chama de “vida pós-escravidão”
(HARTMAN, 2007, p. 6, tradução nossa).71 “Não é que populações afro-
diásporas e africanas não se conectem enquanto amigos, amantes ou ‘paus
amigos’”, afirma, “mas que essas formas de encontro raramente tomam o palco
central como base para teorizar as relações afrodiásporas e africanas. O que
acontece quando o erótico está no centro de como as populações afrodias-
póricas e africanas se encontram? O que acontece quando o erótico está no
centro de como se imaginam?” (MACHARIA, 2019, p. 66, tradução nossa).72
71
“afterlife of slavery” (HARTMAN, 2007, p. 6).
72
“It is not that Afro-diasporic and African populations don’t connect as friends and lovers and
fuck buddies […] but that these forms of encounters rarely take central stage as the grounds for
theorizing Afro-diasporic and African relationships. What happens when the erotic is at the heart
122 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
Focalizando, portanto, o erótico nos mundos queer afrodiaspóricos, esta
seção, consciente das articulações transnacionais de parentesco queer/quare,
pauta-se na noção de “fricção” ou “esfregar contra”, postulada por Macharia. A
concepção proposta “captura o estético (enquanto termo de prática artística)
e o libidinal (enquanto termo de prática sexual), sinalizando formas criativas
em que o sexual pode ser usado para imaginar e criar mundos” (MACHA-
RIA, 2019, p. 4, tradução nossa).73 Dedicada a autores quare sul-africanos
que imaginam uma comunidade quare vasta, além das fronteiras nacionais,
propomos investigar como criam modelos de parentesco sob o signo do
erótico. Tais protótipos reimaginam o parentesco para além da estrutura da
família tradicional e dos laços de sangue, adotadas pelo colonialismo europeu
como mecanismo de desmantelamento dos sistemas de parentesco indígenas.
Em razão de seus empreendimentos de expansão da vida comunitária
quare para além de seus contextos nacionais – especialmente por seus escritos
abraçarem imaginários fantásticos contra a tirania da homofobia cotidiana,
enfocamos, particularmente, dois escritores sul-africanos, separados por
quase duas décadas de história. O primeiro, K. Sello Duiker (1974–2005),
escrevendo no início dos anos 2000 e emergindo dos escombros do Apar-
theid, recorre às possibilidades do erótico para imaginar de forma fantástica
relações quare a partir de redes de parentesco já desgastadas. Nesse processo,
sua escrita chama a atenção para as comunidades afrocêntricas, que rompem
com noções brancas de pertença na África do Sul. A segunda, Koleka Putu-
ma (1993) – atenta às histórias cruzadas do tráfico de escravos, ao racismo
provocado pelo Apartheid, e à história colonial – amalgama a abjeção [queer-
ness] e o sagrado no processo de reparação da violência cotidiana dirigida
à vida quare no país – mais aparente nas enxurradas de violência sexual e
de gênero. Para cada um dos escritores, o erótico tem a possibilidade de
reconstruir a comunidade para além do âmbito do heteroparentesco e das
noções de pertencimento, colocados em prática pelo colonialismo colonialista
branco, revisando, em particular, suas intimidades suplantadoras de redes
afrocêntricas de inter-relações. Ambos – embora fundamentados no espectro
de violência anti-quare, mas contestando-o – refutam o real, respondendo
of how Afro-diasporic and African populations encounter each other? What happens when the
erotic is at the heart of how they imagine each other?” (MACHARIA, 2019, p. 66).
73
“[…] captures the aesthetic (as a term of artistic practice) and the libidinal (as a term of sex
practice), and so gestures to the creative ways the sexual can be used to imagine and create
worlds” (MACHARIA, 2019, p. 4).
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
123
ao chamado de José Esteban Muñoz (2009, p. 1, tradução nossa)74 de “lutar,
diante da representação totalizante da realidade do aqui e agora, para pensar
e sentir um ali e um então”. Enquadrando este projeto nos termos do pensa-
mento utópico de outro escritor sul-africano, esses escritores rejeitam o real
cotidiano da constante difamação da vida quare e procuram o que Zakes Mda
chama de “forma[s] interessantes de reimaginar a África do Sul e transcender
a repetição dos horrores repisados cotidianamente nos jornais” (MDA, 2018,
31, tradução nossa).75 A escrita de Duiker o faz por meio do flerte com a
fantasia; a de Putuma, por meio da revisão do sagrado.
Esse empreendimento, no entanto, traz possibilidades imaginativas que
extrapolam o contexto da África do Sul. Recordando as estruturas “afrodiás-
poras” sob as quais Macharia articula o foco da “fricção”, vale a pena lembrar
que a “diáspora africana” não é exclusivamente transatlântica, pois as histó-
rias de mobilidade, de migração e de deslocamento têm visto a travessia de
corpos e recursos entre os Estados-nações limítrofes dentro do continente. À
medida que este capítulo considera a questão do parentesco – especialmente
como as vidas quare mobilizam-no para deslindar as linhagens coloniais de
família, relação e pertencimento –, a atenção a tais movimentos abre formas
abrangentes nas quais a fricção de corpos opera tanto dentro e entre fronteiras
continentais. A “fricção”, então, serve como um paradigma profícuo para
pensar como autores quare constroem solidariedades baseadas em parentesco
dentro de uma noção histórica e geograficamente variegada do que veio a ser
singularmente chamado de “África”. A África do Sul continua sendo um caso
importante para se pensar a relação entre abjeção e conexões afrodiaspóricas,
particularmente devido ao fim tardio da governança branca e à mudança
de relacionamento com o continente africano. Ao imaginar o contato entre
as relações afrodiásporas e africanas sob o signo do erótico, é interessante
relembrar a crítica de Macharia em outro lugar: “o contexto racializado da
África do Sul queer, que é dominado por queers brancos” (MACHARIA,
2016, p. 39, tradução nossa).76 Por se tratar da nação africana com a presença
74
“[…] strive, in the face of the here and now’s totalizing rendering of reality, to think and feel a
then and there” (MUÑOZ, 2009, p. 1).
75
“[…] refreshing way[s] to re-imagine South Africa and transcend the repetition of the horrors
repeated everyday in the newspapers” (MDA, 2018, 31).
76
“[…] the racialized context of queer South Africa, which his dominated by white queers”
(MACHARIA, 2016, p. 39).
124 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
mais populosa de colonos (brancos), estimular parentescos tanto inter como
intracontinentais torna-se ainda mais importante como estratégia decolonial.
Em meio à violência dirigida à mulher negra, particularmente na Áfri-
ca do Sul, a poesia de Putuma funde aspectos do sagrado, do familiar e do
erótico, expondo os modos como os legados coloniais do cristianismo, os
regimes heteroreprodutivos de relação, e os desejos quare sobrepõem-se na
construção e na exclusão do parentesco quare. O poema “No Easter Sunday
for Queers” [Sem domingo de Páscoa para os queers] abrange nove páginas,
e está dividido em uma série de listas com marcadores. No início, essas listas
alternam entre os subtítulos “The Northern Suburb” [O subúrbio do Norte]
e “The Southern Suburb” [O subúrbio do Sul], contendo as descrições da
experiência de estar situado em cada um deles. O subúrbio do Norte consiste
na experiência do eu lírico, frequentando a igreja e escutando a pregação de
seu pai, o que sugere um parentesco orientado em torno da família; o subúr-
bio do Sul, por sua vez, apresenta o contexto da universidade, dos clubes e
dos protestos, sinalizando um parentesco que extrapola os laços de sangue
das estruturas familiares e religiosas e direciona-se a alianças de afinidade
experiencial. Nesse sentido, o poema oferece um relato detalhado (pontuado
pelas listas de marcadores) sobre como a identidade do “eu” é derivada da
posição geográfica e com ela identificada. Cada espaço, contudo, torna-se
um local de exclusão e de negação da vida quare do “eu”. A justaposição, por
um lado, do eu lírico, que ouve o pai pregar e interioriza versículos bíblicos
que condenam as sexualidades dissidentes e, por outro, de relatos de lésbicas
sendo violentamente assassinadas nos subúrbios do Sul, evidencia a violên-
cia ideológica e física de cada espaço. Sob o signo da hostilidade, as vidas
das mulheres são brutalmente excluídas das duas áreas da Cidade do Cabo:
aquelas em que o “eu” vive e frequenta, mas a nenhuma das quais pertence.
Sob cada conjunto de títulos, a voz enunciadora elabora sua relação com
o espaço. O subúrbio do Norte é local de ordem familiar, descrito como “[u]
m antigo testamento / Uma gaiola”, onde o “eu” é “uma sombra / Um sonho
adiado” (PUTUMA, 2017, p. 25, tradução nossa).77 Lá, o “eu” frequenta a
igreja, ouvindo o pai pregar e recitar versículos bíblicos condenando as se-
xualidades queer/quare. É um espaço governado por uma espécie de ordem
familiar, centrada em torno do pai – um sistema reforçado por uma coloniali-
77
“An old testament / A cage” where the speaker is “a shadow / A dream deferred” (PUTUMA, 2017, p. 25).
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
125
dade hierárquica regente do cristianismo. Com efeito, em um poema anterior,
o “eu” reforça esse ordenamento racial quando enfatiza que “[o] primeiro
homem / que você é ensinado a reverenciar / é um homem branco”, e que
“[é] pelo evangelho / que a branquidade invade nossos lares / e nos coloca
de joelhos” (PUTUMA, 2017, p. 25, tradução nossa).78 Em contraste com a
ordem silenciosa do subúrbio do Norte, dentro da qual o eu poético é um
espectador dócil, o subúrbio do Sul traz certas possibilidades, corroboradas
pelo prazer e pelo parentesco de um tipo diferente. O Sul é um local de “[c]
oisas feitas no escuro agora vindo à luz / Duas mulheres dando uns pegas no
banco de trás de um táxi, durante uma corrida de uma boate no Green Point
até a casa / Uma boca livre de amarras” (PUTUMA, 2017, p. 26, tradução
nossa),79 permitindo a revelação de um desejo erótico. O erotismo funde-se
também com a ordem sagrada da Igreja, no Norte, onde, “entediado/e ressa-
cado/e excitado” (PUTUMA, 2017, p. 30, tradução nossa),80 o “eu” senta-se,
ouvindo o pai pregar; o Sul, porém, acarreta uma ativação intersubjetiva
desse desejo. A imagem das duas mulheres no táxi, durante o ato íntimo,
dissipa o isolamento do subúrbio do Norte e traz o “eu” da docilidade isolada
à mobilidade erótica.
No entanto, nenhum dos espaços deixa de apresentar restrições. O Sul
não se configura como um contraponto utópico para o Norte, pois a luta
continua, e a voz enunciadora detalha a violência regularmente dirigida às
lésbicas nessa área. O Sul pode permitir o parentesco de camaradagem e
prazer – o subúrbio do Sul “[é] uma passeata / É uma boate”, mas é também
“um novo tipo de paranoia” (PUTUMA, 2017, p. 26, tradução nossa).81 Ao
detalhar o assassinato violento de lésbicas, constantemente nas manchetes,
o “eu” enfatiza, de forma sucinta, a dicotomia entre essas duas localizações:
No Norte, minhas mãos estão levantadas em adoração.
No Sul, minhas mãos estão levantadas em protesto.
De um modo ou de outro, estou sempre me rendendo.
O Norte diz que meu corpo pertence ao inferno.
78
“The first man / you are taught to revere / is a white man,” and foregrounds that “The gospel /
is how whiteness breaks into our homes / and brings us to our knees” (PUTUMA, 2017, p. 25).
79
“Things done in the dark now coming to light / Two womxn humping in the back of a cab
ride from a club in Green Point to res / A mouth without cellotape” (PUTUMA, 2017, p. 26).
80
“bored/and hungover/and horny” (PUTUMA, 2017, p. 30).
81
“Is a march / Is a club” but it is also “a new kind of paranoia” (PUTUMA, 2017, p. 26).
126 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
O Sul diz que meu corpo pertence ao depósito de lixo.
Em ambos os espaços, meu corpo está à mercê dos
homens.
(PUTUMA, 2017, p. 27, tradução nossa).82
A justaposição dos dois espaços não revela suas diferenças, mas, antes,
sua similaridade, pois o desejo do “eu” é excluído – e, às vezes, violentamente
expulso – de cada um deles. O real é marcado por uma ausência de espaço
disponível para o erótico do parentesco quare, pois, todo local é rigorosamente
policiado, e o corpo dissidente sexual negro é constrangido a zonas abjetas
de não pertencimento.
Apesar das restrições do real e das violências que anuncia, o poema abre
brechas para imaginar o contrário, apontando um mundo ainda por vir. En-
quanto a violência, no parágrafo acima, condena o corpo à absoluta abjeção,
descartando-o como lixo ou constrangendo-o ao mal, o poema consagra uma
salvação queer/quare na qual a vida lésbica suplanta a mitologia do Cristo
branco. “Meu pai, o imagino”, diz o “eu”, “pregando sobre um Deus cujas
mãos estavam atadas com roupas íntimas, e os tornozelos, com cadarços”
(PUTUMA, 2017, p. 30, tradução nossa)83:
- Ele diz: alguns não se lembrarão do Calvário de
corpos queer
- Como esta crucificação é um evangelho ainda não
propagado
- Ainda sem nome
- Não registrado (na maioria das vezes)
(PUTUMA, 2017, p. 30, tradução nossa).84
O “eu” enfatiza esse sermão imaginado com a pergunta: “E por que não
há domingo de Páscoa para corpos queer / Quando as lésbicas são crucificadas
82
“In the North, my hands are raised in worship. / In the South, my hands are raised in protest // Ei-
ther way, I am always surrendering. // The North says my body belongs in hell. / The South says my
body belongs in a dump. // In both spaces my body is at the mercy of men.” (PUTUMA, 2017, p. 27).
83
“I imagine him, my father,” / “preaching about a God whose hands were tied with underwear
and her ankles with shoelaces” (PUTUMA, 2017, p. 30).
84
“He says: some will not remember the Cavalry of queer bodies / How this crucifixion is a gospel
that goes unpreached / Goes unnamed / Unrecorded (most times)” (PUTUMA, 2017, p. 30).
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
127
como Cristo”? (PUTUMA, 2017, p. 30, tradução nossa).85 Esse questiona-
mento final, que lamenta a morte não registrada de diversas mulheres nas
mãos dos homens, é também uma exortação à memorialização, um apelo por
outro mundo, no qual a fusão do luto e celebração que marcam o domingo
de Páscoa não seja voltada ao Cristo branco. A pergunta desloca o olhar em
relação ao destino das mulheres assassinadas: não como corpos remetidos aos
despojos, conforme declarado anteriormente no poema (“meu corpo pertence
ao depósito de lixo”), mas, ao contrário, como sagrados. Isso é muito mais
significativo do que simplesmente sublimar a morte quare e criar um espaço
imaginário sagrado para essas vidas. O fato de o sermão imaginado acontecer
no contexto eclesiástico, em diálogo com a pregação feita pelo pai, enfatiza
uma ampla disseminação do conhecimento e do luto de tais mortes para o
suposto espaço não quare da igreja, dos quais o “eu” havia sido previamente
excluído. Ressalta, igualmente, o espaço sombrio da igreja enquanto local de
violência, sinalizando a força colonizadora do cristianismo. Fazer das mortes
de mulheres algo divinizado também desvitaliza o signo da masculinidade
colonial branca, pela qual as noções sul-africanas do sagrado têm sido domi-
nadas. Enquanto texto que suplanta o lamento da dominação da igreja pelo
Cristo branco como instrumento de governança racial, o poema, ao substituir
a morte de Cristo pela morte de mulheres quare, evidencia uma comunidade
submetida às consequências tanto por parte das vidas femininas e dissidentes
sexuais negras quanto por todos aqueles subordinados a uma ordem religiosa
colonial reinante nos espaços sul-africanos. Desta forma, o luto imaginativo
do “eu” pela morte quare constrói um outro mundo não exclusivo à vida
quare, mas deixa seus traços em todas as geografias escrutinadas pelo “eu”
ao longo do poema.
A fricção do erótico e do sagrado na obra de Putuma ecoa a maneira
como um autor anterior, K. Sello Duiker, aborda as restrições do “real” colo-
nial por meio do fantástico. Os dois romances publicados durante a vida de
Duiker envolvem a fusão do real urbano cotidiano com elementos do divino,
do mágico e da promessa do apocalipse para reconstruir radicalmente o
cotidiano colonial. Como observa Shaun Viljoen sobre o primeiro romance
do escritor, Thirteen Cents [Treze Centavos], “o sobrenatural, o surreal, [e]
o mítico [...] revestem e perturbam o real, examinando-o” (VILJOEN, 2013,
85
“And why is it that there is no Easter Sunday for queer bodies / When lesbians are crucified
like Christ?” (PUTUMA, 2017, p. 30).
128 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
p. vi, tradução nossa).86 Aqui, ocupamo-nos do segundo romance, The Quiet
Violence of Dreams [A violência silenciosa dos sonhos], para enfatizar como
sua evidenciação das possibilidades fantásticas do erótico concebe parentes-
cos que forjam laços perdidos com os mundos coloniais embranquecidos da
experiência queer/quare urbana cotidiana na Cidade do Cabo.
Tshepo, o protagonista, é um estudante universitário que se digladia com
sua sexualidade, com o assassinato violento cometido pelo pai contra a mãe,
quando ele era criança, e com os deslocamentos por uma Cidade do Cabo
dominada por brancos. No início do romance, ele se encontra internado em
razão de uma “psicose induzida por cannabis”, diagnóstico médico incapaz de
acomodar o trauma e o desejo da personagem por “uma compreensão mais
profunda do que me aconteceu” (DUIKER, 2001, p. 10, tradução nossa).87
Após narrar uma série de traumas, Tshepo acaba se tornando um profissional
do sexo em um clube de alto nível, Steamy Windows, onde começa a explorar
as possibilidades do erótico. Lá, o sexo passa a funcionar com uma espécie
de ritual de autodescoberta, no qual a relação sexual se torna um catalisador
para desvelar os elementos fantásticos de sua história. Durante o tempo no
Steamy Windows, as conversas que mantém com outros trabalhadores do
sexo aproximam-se do mítico. Ao descobrir as possibilidades eróticas do sexo
com homens, Tshepo começa a sentir “um mito crescendo dentro de mim,
uma história escrita há muito por outra pessoa, talvez um deus benigno” e
“se lembra de um tempo que excede a memória” (DUIKER, 2001, p. 379,
tradução nossa).88 Por fim, o romance revela a personagem como a divindade
egípcia antiga Hórus, e sua mãe como Ísis. As origens mitológicas de Tshepo
colocam em primeiro plano uma espécie de pertencimento afrocêntrico que
se distancia da brancura da Cidade do Cabo. Conectando Tshepo, na cidade
mais ao sul da África, às geografias mais ao norte do Egito, os fundamentos
mitológicos de sua narrativa o imbuem de uma temporalidade afrocêntrica
cuja linha do tempo excede o domínio colonial da Europa na África do Sul.
O final do romance retrata a mudança de Tshepo da Cidade do Cabo
para Joanesburgo, um deslocamento que acentua ainda mais seu movimento
86
“[…] the supernatural, the surreal, [and] the mythical … layer and disrupt the real and com-
ment on it” (VILJOEN, 2013, p. vi).
87
“[…] a deeper understanding of what happened to me” (DUIKER, 2001, p. 10).
88
“[…] a myth growing inside me, a story that was written long ago by someone else, perhaps a be-
nign god / remember[s] a time that stretches back further than memory” (DUIKER, 2001, p. 379).
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
129
em direção ao afrocêntrico. De fato, apesar das possibilidades que lhe foram
reveladas no Steamy Windows, ele continua sendo um objeto fetichizado, um
dos únicos trabalhadores sexuais negros, chamado de “Garanhão Negro”. A
abjeção nessa localidade permanece dominada por visões brancas do exotis-
mo e da animalidade negros. Cole, o outro trabalhador sexual negro, enfatiza
esse ponto quando pergunta a Tshepo: “Quem detém todo o poder? Quem
decide quem fica ou sai?”, e Tshepo admite, “[o]s brancos” (DUIKER, 2001, p.
346, tradução nossa).89 Em meio a isso tudo, lamenta que “a Cidade do Cabo é
muito branca, a influência das tradições europeias como as cafeterias e bistrôs.
Em alguns lugares da Cidade do Cabo, você não se sente como se estivesse
na África” (DUIKER, 2001, p. 420, tradução nossa).90 Em contrapartida, a
mudança de Tshepo para Joanesburgo, onde há confluência de migrantes de
todas as partes da África, dispersa um pouco da alienação que a brancura da
Cidade do Cabo produz. “Me sinto em casa”, diz Tshepo em Joanesburgo. “Eu
vejo a África. Sinto que vivo na África quando, ao sair na rua, ouço belezuras
de pele escura cantando rap em línguas como lingala ou congo ou um patoá
francês, que não entendo” (DUIKER, 2001, p. 454, tradução nossa).91 Em
Joanesburgo, Tshepo imagina o parentesco não em termos de familiaridade
com o mundo a seu redor – ele não entende as vozes dos que o rodeiam –,
mas em termos de afinidade e encontro com a alteridade africana.
A mitologia do romance também imbui Tshepo de poder e, especialmen-
te, de uma futuridade roubada pelo domínio contínuo do neocolonialismo
sobre a vida sul-africana. O protagonista vê gradualmente os traços de um
apocalipse emergente. Ele prediz que “desastres terríveis nos esperam”. Apesar
disso, regularmente, “conhece homens especiais que vêm de diferentes lugares.
Nem sempre durmo com eles, mas a intimidade de algum tipo faz parte de
nosso ritual” (DUIKER, 2001, p. 456, tradução nossa).92 Nesses encontros,
diz: “Meus horizontes estão se ampliando. Quando estou com esses homens,
percebo o quanto somos frágeis, quão absoluta será a nossa destruição. [...]
89
“Who’s got all the power? Who decides who stays or leaves? / White people” (DUIKER, 2001, p. 346).
90
“Cape Town is very white, the influence of European traditions like coffee shops and Bistros. In
some places in Cape Town you don’t feel like you’re in Africa” (DUIKER, 2001, p. 420).
91
“I feel at home / I see Africa. I feel like I live in Africa when I walk out in the street and hear
dark-skinned beauties rapping in Lingala or Congo or a French patois I don’t understand” (DUI-
KER, 2001, p. 454).
92
“[...] meet[s] special men who come from different places. I don’t always sleep with them, but
intimacy of some sort is a part of our ritual” (DUIKER, 2001, p. 456).
130 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
Mas quem conhece os caminhos da vida vai sobreviver” (DUIKER, 2001, p.
456, tradução nossa).93 Mesclando formas de sexo queer afrocêntricas com
o sagrado, a narrativa de Tshepo evidencia as possibilidades de parentesco
corroboradas pelo erótico. Assim como Putuma, o trabalho de Duiker eleva
o sexo quare ao status de divindade, invertendo o lugar abjeto para o qual
foi remetido tanto pela imaginação nacional sul-africana homofóbica quan-
to pelas propriedades sexuais da história colonial. Mais importante ainda,
imagina um parentesco que miticamente extrapola as restrições dos laços
de sangue em direção às afinidades transnacionais que emergem do erótico.
Considerações
Enfocando o desmantelamento de modelos pré-concebidos não só de
família/parentesco mas também de raça/etnia, de gênero e de sexualidade,
investigamos, neste capítulo, como a experiência do parentesco, em suas
novas conformações, é abordada em textos literários. A leitura das compo-
sições literárias de Thomas Grimes, Audre Lorde, Cidinha da Silva, Koleka
Putuma e K. Sello Duiker, autores quare tanto do Norte quanto do Sul globais,
permitiu-nos demonstrar que, porque erigida sobre as bases do cis-heterofa-
locentrismo branco e elitista, a concepção tradicional de família/parentesco
inviabiliza o vislumbre de um futuro, ou futuros possíveis para as existências
quare. Nossas análises nos direcionaram à conclusão de que o parentesco,
pensado tanto como espaço profundo de socialização e politização e como
agrupamento circunstancial e provisório, extrapola os laços de sangue das
estruturas familiares e religiosas e direciona-se a alianças de afinidade ex-
periencial. Assim, passa, portanto, a englobar toda a comunidade da qual
fazemos parte, que respeitamos e que, ao mesmo tempo, respeita-nos tanto
em nossas semelhanças quanto em nossas diferenças. Se futuros quare pu-
derem, de fato, existir, isso significa que, de algum modo, o parentesco e o
desejo quare foram capazes de fissurar os legados coloniais do cristianismo
e os regimes heteroreprodutivos de relação.
93
“My horizons are broadening. When I am with these men I realize how fragile we are, how
complete our destruction will be. [...] But those who know their way around life will survive”
(DUIKER, 2001, p. 456).
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
131
REFERÊNCIAS
DA SILVA, C. Kotinha. In: Um Exu em Nova York. Rio de Janeiro: Pallas, 2018. p. 21-23.
DE MORAIS, F. L. Analítica Quare: como ler o humano. Salvador: Editora Devires, 2020.
DUIKER, K. S. The Quiet Violence of Dreams. Cape Town: Kwela, 2001.
DUIKER, K. S. Thirteen Cents. Ohio: Ohio University Press, 2013.
GRIMES, T. Glass Closets. In: SAINT, Assotto. (Ed.). Milking black bull: 11 gay
black poets. 1. ed. Sicklerville, NJ: Vega Press, 1995. p. 109-121.
HARTMAN, S. Lose Your Mother: A Journey Along the Atlantic Slave Route. New
York: Farrar, Straus and Giroux, 2007.
HOOKS, B. Challenging Sexism in Black Life. In: HOOKS, Bell. Killing Rage: Ending
Racism. New York: Henry Holt, 1995.
HOOKS, B. Reconstruindo a masculinidade negra. In: HOOKS, Bell. Olhares negros:
raça e representação. São Paulo: Elefante, 2019. p. 170-213.
JOHNSON, E. P. ‘Quare’ Studies or (Almost) Everything I Know about Queer Stu-
dies I Learned from My Grandmother. In: JOHNSON, E. P.; HENDERSON, M. G.
(Eds.). Black Queer Studies: A Critical Anthology. Durham: Duke University Press,
2005. p. 124-157.
JOHNSON, E. P.; HENDERSON, Mae. G. (Ed.). Black Queer Studies: A Critical
Anthology. Durham: Duke University Press, 2005.
KEHL, M. R. Maria Rita Kehl: em defesa da família tentacular. Disponível em: ht-
tps://www.fronteiras.com/artigos/maria-rita-kehl-em-defesa-da-familia-tentacular.
Acesso em: 18 out. 2021.
LORDE, A. Land Where Other People Live. Detroit: Broadside Press, 1973.
LORDE, A. Sou sua irmã: escritos reunidos. São Paulo: Ubu Editora, 2020.
LORDE, A. Sou sua irmã: mulheres negras se organizam para além das sexualidades
In: LORDE, A. Sou sua irmã: escritos reunidos. São Paulo: Ubu Editora, 2020. p. 13-15
LORDE, A. Who Said It Was Simple. In: LORDE, Audre. Land Where Other People
Live. Detroit: Broadside Press, 1973. s.p.
MACHARIA, K. 5 Reflections on Trans* & Taxonomy. Critical Arts, vol. 30, p.
31-4, 2016.
MACHARIA, K. Frottage: Frictions of Intimacy Across the Black Diaspora. New
York: New York University Press, 2019.
MDA, Z. Justify The Enemy: Becoming Human in South Africa. Pietermaritzburg:
University of KwaZulu-Natal Press, 2018.
132 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
MUÑOZ, J. E. Cruising Utopia: The Then and There of Queer Futurity. New York:
New York University Press, 2009.
NIGRO, C. M. C.; SOARES, L. H. M. A potência da família no curta-metragem Os
sapatos de Aristeu e no romance Las malas. In: COSTA, A. M. et al. (Org.). Recon-
figurações da literatura contemporânea: abordagens críticas. Porto Velho: Coleção
Pós-Graduação da UNIR EdUFRO, 2021. p. 22-39.
PUTUMA, K. Collective Amnesia. Cape Town: uHlanga, 2017.
RIBEIRO, D. Enxergue a negritude. In: RIBEIRO, D. Pequeno manual antirracista.
São Paulo: Companhia das Letras, 2019. p. 23-30.
RIBEIRO, D. Pequeno manual antirracista. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.
SAINT, A. (Ed.). Milking black bull: 11 gay black poets. 1. ed. Sicklerville, NJ: Vega
Press, 1995.
VILJOEN, S. Introduction. In: DUIKER, K. S. Thirteen Cents. Ohio: Ohio University
Press, 2013.
YOUNG, T. N. Black Queer Ethics, Family, & Philosophical Imagination. New
York: Palgrave Macmillan, 2016.
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
133
7
134 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
MATEMÁTICA RUMO À EDUCAÇÃO
ANTIRRACISTA
AIRA CASAGRANDE DE OLIVEIRA CALORE94
ANDREIA CRISTINA FIDELIS95
Introdução
O Brasil é um país marcado pelas desigualdades e preconceitos, onde a
valorização da cultura afro-brasileira e o enfrentamento das discriminações
e dos preconceitos passam, necessariamente, pelo trabalho no âmbito escolar.
Desconstruir estereótipos e valorizar aspectos de uma cultura, constitutiva
de nosso país, requer a discussão do tema e a formação docente para atuar
neste sentido.
No âmbito escolar e acadêmico, as Africanidades Brasi-
leiras constituem-se em campo de estudos, logo, tanto
podem ser organizadas enquanto disciplina curricular,
programa de estudos abrangendo diferentes disciplinas,
como área de investigações. Em qualquer caso, carac-
terizam-se pela interrelação entre diferentes áreas de
conhecimentos, que toma como perspectiva a cultura
e a história dos povos africanos e de descendentes seus
nas Américas, bem como em outros continentes (SILVA,
2005, p.161).
94
Professora mestra em Matemática na Educação Básica (SEE-SP).
95
Professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP),
campus de São José do Rio Preto.
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
135
Considerando o reconhecimento e a valorização da história e da cultura
dos afro-brasileiros nos ambientes escolares como uma das reivindicações
e propostas do Movimento Negro, os objetivos deste capítulo é valorizar a
cultura e os saberes herdados dos povos africanos e promover o seu reco-
nhecimento no campo da Matemática. Para realizar essa discussão, o texto é
baseado no módulo do curso de extensão intitulado “Matemática e oralidade
africana na educação antirracista”, realizado pelas professoras-mestras Aira
Casagrande de Oliveira Calore e Andreia Cristina Fidelis de Souza e organi-
zado pelo Grupo de Pesquisa Gênero e Raça.
Ao refletirem sobre a Etnomatemática e os jogos africanos, respectiva-
mente, como contribuições pedagógicas e evoluções da educação antirracista
no âmbito da Educação Matemática, as docentes propõem uma discussão
sobre o tema, a fim de contribuir tanto para a formação de professores quanto
para a decolonialidade na Educação Matemática. Vale observar que, de acordo
com Vergani (2007, p. 25), a essência da Etnomatemática “debruça-se com
respeito sobre as culturas tradicionais não-europeias, conferindo-lhes uma
dignidade que nem sempre é reconhecida”. Dessa maneira, oportunizar aos
descendentes de africanos a valorização de sua identidade, história e cultura
torna-se necessário nas ações curriculares associadas aos diferentes segmen-
tos da educação básica, além da garantia de respeito aos saberes aliados a
esta valorização e à reflexão acerca da potencialidade dos jogos africanos,
especificamente Oware e Borboleta.
1. Etnomatemática e educação antirracista
O cerne desta discussão é uma visão transcultural e, portanto, transdis-
ciplinar da ciência Matemática, constituída a partir das pesquisas de Teresa
Vergani (2007), Luane Bento dos Santos (2013) e de Vanísio Luiz da Silva
(2014; 2016). O ponto de partida é a dissertação de Santos (2013), na qual
textos de Ubiratan D’Ambrósio e outros cientistas são debatidos devido a
alusões ao termo Etnomatemática.
Na área de Educação Matemática, o brasileiro Ubiratan D’Ambrósio é
citado por ser o pioneiro em propor os fundamentos da etnociência para o
conhecimento matemático. Isto ocorreu a partir dos anos de 1970, conven-
cionando a Etnomatemática como teoria e metodologia para captar práticas e
saberes matemáticos de povos cultural e historicamente dominados, no intuito
136 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
de subverter esta dominação e agregar uma sobrevivência digna pela via do
conhecimento, porém impregnado do contexto sociocultural. A finalidade
dessa proposta é, portanto, a superação da dimensão opressora dos padrões
dominantes da Matemática em relação às demais formas de vida, de cultura
e de conhecimento.
Genuinamente nacional, a Etnomatemática, ao contrário das origens
eurocêntricas da maioria das ações científicas em Matemática, consolidou-
se como proposta teórica e metodológica não europeia e com o objetivo de
explicitar conhecimentos matemáticos no plural. Neste sentido, o padrão
singular da Matemática é visto como uma parte do espectro de possibilidades
de se conhecer matematicamente fatos e elementos.
O diferencial da Etnomatemática é, portanto, uma postura científica
descentralizada, considerando todos os seres humanos como fontes de co-
nhecimento matemático e incluindo a oralidade, visto que a pesquisa etno-
gráfica é parte essencial da produção científica. Além disso, ocorre a reunião
de concepções holísticas e de estudos de técnicas, de culturas e de saberes
diversos, resultando em uma “miscelânea de expressões” reunidas no verbo
“matematizar”, tornando-o inegavelmente múltiplo.
Ademais, as reflexões acerca da temática tecidas neste capítulo integram,
originalmente, o contexto do curso de formação promovido pelo Grupo Gê-
nero Raça e por instituições parceiras, por meio de lives ocorridas durante
o ano de 2021. Assim como no evento, os objetivos deste capítulo também
tratam da superação de opressões históricas relativas ao povo africano, à sua
cultura, aos seus conhecimentos e, principalmente, às condições de sobrevi-
vência de seus descendentes no Brasil e no mundo por meio da abordagem
da Etnomatemática.
No conjunto das reflexões propostas na live, destaca-se o problema da
afetividade com a cultura africana, originada nas relações históricas de co-
lonização e repercutida como racismo estrutural nas sociedades africanas e
afrodescendentes. Nessas sociedades, verificam-se indivíduos e grupos rema-
nescentes capazes de negar mesmo as aparências mais óbvias das heranças
genéticas africanas para se protegerem dos efeitos racistas.
O problema é comum nas escolas e se acirra nas aulas de Matemática,
conforme aponta Silva (2014; 2016), devido à existência de currículos uni-
versais, eurocêntricos e com valorização da escrita em detrimento da orali-
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
137
dade. O pesquisador denuncia que, assim como a educação ainda não é para
todos, a educação matemática também não o é. Como justificativa, traz tanto
evidências estatísticas mundiais da Organização das Nações Unidas (ONU)
e providências ainda não tomadas pelo Fundo de Emergência Internacional
das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) quanto uma análise de como o
fracasso nos diversos currículos de Matemática não pode ser atribuído a uma
incapacidade de determinados indivíduos, pois não há uma representativi-
dade étnico-cultural dos conhecimentos prescritos sob forma de currículo.
Para Santos (2013), uma possível solução é a evolução da desvalorização para
a valorização do corpo negro, mais especificamente do cabelo crespo e da
baixa autoestima nestes quesitos (SANTOS, 2013).
Dentre os problemas da educação pública, os quais variam desde a falta
de qualidade nos ambientes e de recursos até a falta de afetividade nas relações
escolares, os piores são as violências diversas, os preconceitos naturalizados,
as reações de negação de identidade face aos preconceitos e também o iden-
tificado por Silva (2016) como inclusão perversa. Neste tipo de inclusão,
predomina o discurso de que a educação é para todos pelo simples fato de
o indivíduo ter acesso a uma unidade escolar, não importando as condições
de acessibilidade.
Contudo, a consciência desses e de outros problemas e o compromisso
profissional de agir em busca de soluções não podem derivar de opinião ou
decisão pessoal. É possível ambos resultarem da formação sob o viés da Etno-
matemática, com as ressalvas de evitar o positivismo científico, mas também
ampliar o poder político dos movimentos sociais em respeitar a identidade
étnico-racial e a defesa de condições efetivas de equidade na área de Educação.
Diante dos problemas, seria possível e mais simples ignorá-los, cum-
prindo apenas o compromisso com o currículo de Matemática, assim como
é esperado nos diversos sistemas de ensino. No entanto, torna-se inviável tal
alternativa após a constatação de comportamentos de negação ou de desva-
lorização da cultura afro-brasileira, reiterados por muitos estudantes.
Logo, de que forma pode-se superar esse sentimento de fracasso dos
estudantes, reforçado na imposição de um currículo? Como substituir posi-
tivamente as respostas negativas aos preconceitos expressos como descuido,
mas tratando-se de reprodução de violências, como a negação da cor da pele
e a desvalorização de si ao vestir-se, ao esconder o cabelo sob o boné, ao
prender ou alisar o cabelo conforme padrões eurocêntricos? Como convencer
138 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
os estudantes de que o conhecimento matemático, além de plural, também
tem origem africana?
Ao se pensar em soluções, Santos (2013) desenvolve e descreve sua pes-
quisa etnográfica sobre penteados africanos e afrodescendentes ao evidenciar
sobretudo as ações humanas de cabelereiros e de cabeleireiras, destacando
a identidade das trançadeiras, do público e das configurações geométricas
das tranças, bem como dos processos algorítmicos presentes nas técnicas de
trançar cabelos. Ademais, Santos (2013) refere-se às atuações científicas de
Ron Eglash e Paulus Gerdes, a fim de destacar a africanidade do conhecimento
matemático como ponto de partida para uma ação docente justa em relação
ao preconizado na Educação Antirracista.
Vale ressaltar, finalmente, a produção científica de Teresa Vergani, a qual
fornece uma vasta gama de exemplos de oralidade para estabelecer condutas
éticas e lúdicas na perspectiva de resolução de problemas de convivência
(VERGANI, 1995); e de entretenimento, evidenciando outras origens e expli-
cações para jogos, brincadeiras, relações geométricas e aritméticas percebidas
em contextos africanos, como formas, simetrias, malhas pontilhadas, linhas
contínuas e teoremas semelhantes aos atribuídos a autores gregos.
Evidencia-se, por exemplo, como os desenhos na areia, as pinturas ou os
trançados (na cestaria ou nos penteados), assim como a presença das cores
vibrantes e das estampas características de africanidades, tornam-se aspectos
didáticos não só para as aulas de Matemática, como também para dinâmicas
interdisciplinares. No caso específico de Matemática, é possível se atentar
para os aspectos históricos e culturais de alguns conteúdos curriculares, mas
também considerar os fatos de modo holístico e contemporâneo, como se
verifica nas divulgações de Ron Eglash e na dissertação de Luane Bento dos
Santos (2013). Ambos os autores trazem tentativas de estabelecer um nível mí-
nimo de afetividade entre estudantes afrodescendentes e matemática escolar,
também objetivando superar a negação da origem ou da identidade africana.
Eglash e Santos tratam especificamente do cabelo crespo em evidência e
como padrão. Assim, com o objetivo de destaque não somente da estética afro,
Santos (2013) evidencia a proposta de tratar aspectos matemáticos presentes
em penteados afro-brasileiros, expondo a estética dos penteados com tran-
ças a partir da prática profissional de cabeleireiros. Na referida dissertação,
Santos (2013) se refere ao estudo de Eglash sobre imagens africanas, tanto da
arquitetura quanto de penteados, as quais fundamentam com exclusividade a
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
139
Geometria Fractal e colaboram com a teoria de iterações na área computacio-
nal, elementos destacados tanto na exposição dos fatos quanto nas imagens
do próprio autor dos estudos.
Na análise de Santos (2013, p. 59), a pesquisa de Ron Eglash:
[...] Dignifica as práticas de cuidado legadas por nossos
ancestrais africanos na diáspora, ou seja, podemos en-
contrar nas culturas negras vários elementos que podem
ser vistos sobre óticas multifocais como os padrões geo-
métricos presentes na estrutura dos penteados.
De modo geral, todas as tentativas de estabelecer um nível mínimo de
afetividade entre estudantes afrodescendentes e matemática escolar são es-
senciais para se superar a negação da identidade africana no contexto escolar.
Neste sentido, Santos (2013) e Silva (2016) fomentam a abordagem da digni-
dade científica ao colaborarem com exemplos para a necessária afetividade
entre afrodescendentes e suas origens culturais, instigando-os a reconhecer
tais origens como fontes de conhecimento científico, rumo à luta por uma
visibilidade tão merecida quanto à de outra cultura.
Por fim, é recomendável compreender o aspecto da alteridade ao lidar
com tais exemplos, considerando o fato de “só podemos ter acesso a uma
visão interpretativa do outro” (VERGANI, 1995). Ademais, compreendemos
não ser uma utopia acreditar em interpretações cada vez mais respeitosas e
equitativas, à medida que as pesquisas avançam com evidências do conhe-
cimento africano indissociável do conhecimento matemático.
2. Os jogos africanos Oware e Borboleta
A Lei 10.639/2003 altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
de 1996, tornando obrigatório, nos estabelecimentos públicos e privados de
ensino fundamental e médio, o ensino sobre História e Cultura Afro-brasilei-
ra. Essa lei é o resultado das reinvindicações e propostas do Movimento Negro
ao longo do século XX para o reconhecimento e a valorização da história
e da cultura dos afro-brasileiros nos ambientes escolares. A lei garante que
esses conteúdos sejam ministrados em todo o âmbito escolar, em especial
nas disciplinas específicas da área de Humanas, no entanto não isenta outras
áreas do conhecimento a abordarem essa temática. Assim, a disciplina de
140 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
Matemática também pode contribuir para essa valorização e tratar do ensino
sobre cultura e da história da África e dos afro-brasileiros, uma vez que o
ensino é amplo e pode ser explorado por se tratar de uma ciência sempre e
cada vez mais inerente em vários segmentos da vida cotidiana.
Souza (2016), em seus estudos, traz o esclarecimento de Halmenschlager
(2001) sobre o redirecionamento de enfoques dados à Educação Matemática.
Segundo Halmenschlager (2001), a atenção agora é voltada à contribuição da
Educação Matemática para a compreensão mais ampla do mundo, não apenas
à importância do conhecimento matemático para a resolução de problemas
cotidianos. Souza (2016, p. 17) enfatiza que a “(...) autora situa a Etnomate-
mática nesse enfoque como uma perspectiva para o currículo, por ser uma
abordagem fundada na conexão entre a cultura dos alunos e o conhecimento
escolar”. Logo, a Etnomatemática proporciona o reconhecimento e a visi-
bilidade de práticas, atividades, ações e habilidades relativas à Matemática
vivenciadas por pessoas de diversas culturas.
Portanto, segundo Souza (2016, p. 17):
Se o objetivo é o reconhecimento de determinada cul-
tura, a Etnomatemática cumpre com esse propósito,
uma vez que, para Halmenschlager (2001), ao fazer a
conexão entre cultura e saber matemático, este ramo de
pesquisa permite o reconhecimento das práticas diárias
na tentativa de resolver e manejar realidades específicas
utilizadas por grupos sociais, como diferentes modos
de fazer matemática, que nem sempre são identificados
como Matemática quando vistos pela ótica acadêmica.
Uma possibilidade de inserir o legado africano em atividades curricu-
lares da disciplina de Matemática é o uso de jogos provenientes e praticados
na África e difundidos pelo mundo com a diáspora africana como proposta
dentro da perspectiva da relação étnico-racial na escola. Como exemplo para
a prática pedagógica, escolheu-se Oware e Borboleta, os quais não se tratam
de jogos de sorte, mas sim de estratégia, sendo conhecidos como jogos de
raciocínio. Em ambos os jogos é possível construir os tabuleiros com os alunos
a partir de materiais simples, como caixas de ovos e papel cartão, enquanto
as peças utilizadas no jogo podem ser desde sementes até botões.
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
141
O uso desses tipos de jogos, os quais envolvem números ou estratégias
como recurso didático no ensino da Matemática, estimula a imaginação e o
pensamento matemático e estratégico das crianças. Além disso, proporciona
o desenvolvimento de articulação de habilidades matemáticas e permite o
acesso dos estudantes à história, à cultura, ao pensamento e às estratégias dos
jogadores africanos. Afora isso, contribui para a ampliação do repertório dos
alunos em conhecer e reconhecer as estratégias utilizadas pelo povo africano
para a resolução de problemas.
A construção do tabuleiro, a aprendizagem das regras e o momento de
jogar proporcionam uma proximidade do aluno com o objeto de estudo. Esses
três momentos são atividades pedagógicas que exigem planejamento com
objetivos e etapas definidos para não serem apenas um momento de distração,
isto é, são ações pedagógicas portadoras de intencionalidade. Sendo assim,
o conhecimento sobre os jogos e sobre suas potencialidades de trabalho em
sala de aula é necessário ao educador.
Existem publicações disponíveis com informações sobre os jogos Man-
cala escritas por Guerra (2009), Pereira (2016), Powell e Temple (2002) e
Souza (2016), e sobre o jogo Borboleta escritas por Melo (2014) e por Souza
(2016). Além de explorar esses jogos, tais autores trazem as possibilidades
de uso em sala de aula.
Oware é um jogo praticado em Gana e pertence à família conhecida
como Mancala. Esse termo é uma denominação genérica da classe de jogos,
a qual contém mais de 200 versões. Ademais, Mancala também é conhecido
como o jogo tradicional do continente africano. A versão Oware foi escolhida
visto o modo como se dá a captura de peças, atendendo às expectativas de
aprendizagem para determinados conteúdos da disciplina de Matemática,
desde o Ensino Fundamental I até o Ensino Médio. O intuito do uso do jogo
é contribuir para a compreensão de conceitos matemáticos, como frações,
frações equivalentes, porcentagem e análise combinatória.
Para além do campo da Matemática, o desenvolvimento de atividades,
envolvendo o uso do jogo Oware, propicia ao aluno conhecer as características
dos jogos da família Mancala, os locais onde são praticados, as lendas e os
costumes relacionados, a diáspora africana e sua contribuição para a disse-
minação desse tipo de jogo. Dessa maneira, permite-se também conhecer
características fundamentais de Gana, país onde a versão Oware é praticada
nas suas dimensões físicas, econômicas, sociais e culturais, bem como estudar
142 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
as relações existentes entre o Brasil. Ademais, o jogo auxilia na reflexão sobre
a contribuição de povos africanos, dentre eles o povo ganense, na e para a
formação da população e cultura brasileira, pois foi um dos povos africanos
trazidos para o Brasil na época da colonização.
Assim como o Oware possibilita o diálogo com a nação africana Gana,
o Borboleta permite conhecer aspectos de Moçambique, país localizado no
Sudoeste Africano, onde as crianças são os seus jogadores. Também chamado
de Gulugufe, o qual na língua Chitonga local significa Borboleta, o tabuleiro
assemelha-se ao animal com as asas abertas.
A escolha do jogo Borboleta justifica-se devido à estrutura de seu tabu-
leiro apresentar figuras geométricas, proporcionando o desenvolvimento de
conteúdos conceituais e procedimentais na disciplina de Matemática, quais
sejam: (i) o uso da régua como instrumento de medida; (ii) o estabelecimento
das relações entre as unidades de medida de metro, centímetro e milímetro;
(iii) a identificação das características das figuras geométricas presentes na
estrutura do tabuleiro, notando as semelhanças e as diferenças entre elas. A
partir desta última observação, é possível construir ou rever com os alunos a
definição de cada figura geométrica plana e a posição relativa entre as retas, a
saber: retas paralelas e retas concorrentes; ângulo, Teorema de Tales, Teorema
de Pitágoras, ângulos formados por duas paralelas e uma transversal e, ainda,
vivenciar, tomar decisões e buscar por soluções de problemas.
Borboleta e Oware pertencem a uma variedade de jogos africanos, os
quais utilizam conhecimentos e habilidades matemáticas que aproximam os
alunos do conhecimento e legado africano. O uso desses jogos proporciona
o ensino e a aprendizagem de conteúdos além dos limites da disciplina de
Matemática, à medida que, por meio do jogo, aborda-se a história, a cultura,
o local onde vivem os jogadores africanos. Em outras palavras, permite o
diálogo com as outras disciplinas do currículo para a promoção de uma
educação que valorize e reconheça a importância da cultura africana e afro-
brasileira, com o objetivo de construir uma sociedade antirracista.
3. Considerações finais
Os jogos Oware e Borboleta possibilitaram o trabalho didático e a am-
pliação de conhecimentos e habilidades matemáticas, aproximando os alunos
da cultura, da história e do legado africano, principalmente de dois povos
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
143
que contribuíram para a formação da população brasileira. O uso de jogos
de origem africana na disciplina de Matemática desconstrói a narrativa de
alguns docentes da impossibilidade de visualizar uma relação da temática
com os conteúdos curriculares da disciplina. Dessa maneira, é necessário
haver a promoção de cursos de formação continuada e a implantação de
disciplinas nos cursos de formação inicial que tratem do ensino para as
relações étnico-raciais em todas as áreas, fazendo parte do currículo da
Educação Básica não apenas nas disciplinas de Humanas.
Conforme apontado no início do artigo, refletiu-se de modo pontual
sobre o tema discutido na live formativa organizada e promovida pelo Grupo
de Pesquisa Gênero e Raça e instituições parceiras, de modo a contribuir no
debate a respeito das questões étnico-raciais no componente curricular da
Matemática. Outrossim, foram sugeridas atividades didáticas que considerem
o legado africano nos espaços educacionais da Etapa Básica ao Ensino Supe-
rior em diferentes áreas do conhecimento, dentre eles os jogos matemáticos.
144 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
REFERÊNCIAS
GUERRA, D. AIÚ: A herança africana dos jogos de mancala no Brasil. Revista África
e Africanidades - Ano 2 - n. 6, ago. 2009. Disponível em: < http://www.africaeafri-
canidades.com.br/edicao6.html >. Acesso em: 30 jun. 2022.
GOMES, N. L. A questão racial na escola: desafios colocados pela implementação da
Lei 10.639/03. In: MOREIRA, A. F.; CANDAU, V. M. (Orgs.). Multiculturalismo:
Diferenças Culturais e Práticas Pedagógicas. 2ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.
GOMES, N. L. Um olhar além das fronteiras: educação e relações raciais. Belo
Horizonte: Autêntica, 2010.
HALMENSCHLAGER, V. L. S. Etnomatemática: uma experiência educacional.
São Paulo: Summus, 2001.
MELO, H. S. As flores e as borboletas na Matemática, Correio dos Açores. 3 de julho
de 2014. Disponível em: < https://repositorio.uac.pt/bitstream/10400.3/3558/3/As%20
flores%20e%20as%20borboletas%20na%20Matematica.pdf >. Acesso em 30 jun. 2022.
PEREIRA, R. P. Mancala: o jogo africano no ensino da matemática. Curitiba: Appris, 2016.
POWELL, A. B.; TEMPLE, O. L. Semeando Etnomatemática com OWARE: Sankofa.
Boletim do GEPEM, n. 40, p. 91-106, agosto de 2002.
SANTOS, L. B. Para além da estética: uma abordagem etnomatemática para a cultura
de trançar cabelos nos grupos afro-brasileiros. 2013. Dissertação - PPRER/ CEFET,
Rio de Janeiro, 2013.
SILVA, P. B. G. Aprendizagem e ensino das africanidades brasileiras. Brasília:
Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Di-
versidade, 2005.
SILVA, V. L. Afetividade, etnomatemática e cultura negra. Revista Latinoamericana
de Etnomatemática, v. 9, n. 3, pp. 26-43, 2016.
SOUZA, A. C. F. Jogos Africanos e o currículo da matemática: Uma questão de
Ensino. 2016. 116 f. Dissertação (Mestrado) Universidade Estadual Paulista “Júlio
de Mesquita Filho”, Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas. São José do
Rio Preto, 2016.
VERGANI, T. Excrementos do sol: a propósito de diversidades culturais. Lisboa:
Pandora, 1995.
VERGANI, T. Educação etnomatemática: o que é? Natal: Flecha do Tempo, 2007.
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
145
8
NOVAS NARRATIVAS NA COMUNIDADE
LGBTQIA+ INDIANA: UMA ENTREVISTA
COM O DIRETOR SUKHDEEP SINGH
REGIANE CORRÊA DE OLIVEIRA RAMOS96
JAIRO ADRIÁN-HERNÁNDEZ97
TRADUÇÃO DE DAVI SILISTINO DE SOUZA98
Regiane Ramos (RR): Tomei conhecimento do documentário de Su-
khdeep Singh no Facebook, em 24 de fevereiro de 2020, quando Sukhdeep
postou um cartaz de divulgação da futura estreia. Imediatamente, escrevi-lhe
pedindo a data de lançamento e perguntando sobre a transgeneridade no
sikhismo (pois tenho interesse pelo tópico). Singh prontamente respondeu
e começamos a trocar mensagens. Em 3 de dezembro de 2020, enviou um
e-mail convidando-me para assistir ao lançamento online do Sab Rab De
Bande (Somos todes criações de Deus), no dia 5 de dezembro de 2020. Depois
de assistir ao documentário, convidei-o para uma entrevista. Conversamos
no dia 5 de fevereiro de 2021, via Google Meet, pois eu estava no Brasil e
Sukhdeep na Índia.
Jairo Adrián-Hernández (JAH): A professora Regiane Corrêa de Oli-
veira Ramos e eu temos conjuntamente pesquisado sobre as transgeneridades
na Índia por algum tempo. Após ter assistido ao documentário, a pesquisa-
96
Professora adjunta da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS).
97
Mestre em Estudos Literários pela Universidad de Granada (UGR).
98
Doutor em Letras pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP).
Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas (IBILCE). São José do Rio Preto – SP – Brasil..
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
147
dora gentilmente me convidou para participar da tradução do roteiro para
o espanhol, pois ela havia feito a tradução para o português. Então entramos
em contato com Singh para discutir esse documentário inédito sobre queer
sikhs e seu ativismo como membro da comunidade LGBTQIA+. Minhas
perguntas aqui são, portanto, uma recriação dessa conversa, a qual, caso haja
interesse, está disponível na íntegra no canal do YouTube da Brasil-Índia
Associação de Redes de Conhecimento (BrIndARC), tendo sido postada no
dia 28 de junho de 2021. Devido à limitação de espaço, algumas perguntas
foram encurtadas ou omitidas.
Boa tarde, Sukhdeep. Em primeiro lugar, muito obrigada por aceitar
nosso convite para falar sobre o documentário Sab Rab De Bande (Somos
todes criações de Deus) e os desafios que os sikhs LGBTQIA+ enfrentam.
RR: Quem é Sukhdeep Singh? Por favor, conte-nos um pouco sobre você.
Sukhdeep Singh (SS): Sou um gay sikh de trinta e poucos anos, envolvi-
do em várias coisas. Cresci em Calcutá em uma família sikh e me formei em
Engenharia no IIT Dhanbad. Enquanto estava na faculdade, me assumi gay
e fundei a Gaylaxy Magazine, uma revista eletrônica LGBTQIA+. Depois de
me formar, comecei a trabalhar como engenheiro de software. Paralelamente,
sou editor dessa revista. Gaylaxy é mais um projeto de paixão e completou 10
anos. Atualmente moro em Nova Delhi, onde trabalho como Engenheiro de
Software Sênior. Recentemente, também terminei meu primeiro documen-
tário sobre queer sikhs, chamado Sab Rab De Bande (Somos todes criações
de Deus).
RR: Você poderia falar um pouco sobre a cultura Punjabi? Qual o sig-
nificado dela para os queer sikhs?
SS: A cultura do Punjab é extremamente masculina e patriarcal. Existe
uma imagem de um homem punjabi bastante viril e a sociedade deve se
sujeitar a isso. Espera-se que as mulheres sigam os papéis patriarcais e que
todos se conformem aos papéis de gênero. Isso pode ser muito sufocante para
pessoas queer, especialmente para queer sikhs, os quais são insultados por
suas características. Se você é menino, muitas vezes dizem que está agindo
como uma menina e pedem que aja como um homem. Da mesma forma,
148 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
as meninas devem estar dentro dos limites estabelecidos e têm o fardo de
salvaguardar a honra da família, todas noções muito patriarcais.
RR: Qual foi sua primeira experiência de discriminação? Você já sofreu
bullying na escola?
SS: Esta é uma pergunta difícil de responder. Discriminação por causa
de qual identidade? Carrego múltiplas identidades, e em cada uma delas
sou uma minoria. Então você quer dizer discriminado por causa da minha
religião, ou minha orientação sexual? Quando criança, crescendo em Ben-
gala Ocidental, era muitas vezes ridicularizado por outras crianças por causa
da minha identidade religiosa, especialmente quando lavava os cabelos e
os deixava soltos. Questionavam meu gênero, pois tinha cabelos longos, e
meninos deveriam ter cabelos curtos. Alguns também consideravam o kara
(bracelete) como uma pulseira.
Eu era muito bom nos estudos, o melhor aluno da minha turma, e nunca
sofri nenhum tipo de bullying na escola. Suponho que passo por cisgênero,
então minha sexualidade não era tão óbvia. Na faculdade foi um pouco di-
ferente. Havia muitos estereótipos. Estudei em uma faculdade federal, onde
discentes de toda a Índia ingressaram após prestarem o exame nacional,
muitos de pequenos vilarejos e partes remotas da Índia. Para eles, o fato de eu
ser uma pessoa sikh de Bengala era algo engraçado. Eram tão desinformados
que achavam que o povo sikh vive só em Punjab. O fato de eu não me encai-
xar na imagem de um homem sikh viril (eu era muito magro) aumentava a
confusão, muitas vezes me tornando alvo de piadas. Todavia, acho que mi-
nha faculdade em geral era um lugar muito ruim. Então, quando me assumi
publicamente, era a única pessoa assumida gay na faculdade, enfrentei uma
enxurrada de questionamentos. Houve algumas sugestões ultrajantes sobre
como mudar minha sexualidade e depois surgiram muitos rumores sobre
mim também. Houve um incidente específico que aconteceu comigo, depois
de sair da faculdade. Estava morando com meus amigos em um apartamento
compartilhado em Gurgaon e dividindo um quarto com um dos meus co-
legas da faculdade. Depois de mais ou menos um mês, ele quis o quarto só
para ele, minha orientação sexual se tornou um problema e disse que não
dividiria mais o quarto comigo. Essa situação foi muito dolorosa para mim.
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
149
RR: Como foi sua entrada na comunidade queer?
SS: Quando entrei na comunidade queer, estava entusiasmado, pensando que
seria finalmente aceito por completo. No entanto, isso estava longe de ser o
caso. Logo descobri que minha identidade sikh não era aceita por muitos e
que seria rejeitado quando soubessem que era um sikh de turbante. E estou
falando da era pré-smartphone, ou quando os smartphones ainda eram uma
novidade. Aplicativos como o Grindr ainda nem existiam.
RR: Como você lida com todas as suas identidades?
SS: Nunca tive problemas com minhas múltiplas identidades. São todas
partes de mim e acho maravilhoso carregar tantas identidades diferentes
dentro de mim. Na verdade, outras pessoas parecem estar confusas ou com
problemas em aceitar que uma pessoa pode ter tantas identidades diferentes
ao mesmo tempo. As pessoas gostam de rotular os outros com identidades
definidas. Como não podem fazer isso comigo, têm um problema.
JAH: Você ainda enfrenta racismo e estereótipos dentro da comunidade gay?
SS: A comunidade gay é, em sua essência, extremamente racista. As
pessoas muitas vezes te discriminam por causa de sua casta; não vão namorar
você se não for de uma casta específica. Então, sim, eu enfrento racismo e
estereótipos dentro da comunidade gay. Muitas vezes as pessoas têm escrito
em seus perfis, “não queremos sikhs” ou “não queremos sardars”. Às vezes,
alguns querem dar sermão, pedindo para não utilizar aplicativos de namoro
ou pelo menos para não colocar fotos, já que os sikhs não podem ser gays,
e isso traria má fama. Por outro lado, algumas pessoas usam sikh gays no
Grindr para satisfazer suas fantasias. Eu mesmo já fui fetichizado.
RR: É impossível não fazer essa pergunta. Qual a influência da casta na
comunidade queer?
SS: Como na maioria das comunidades na Índia, a comunidade queer
também é afetada pelo sistema de castas. Existem muitas atitudes relacio-
nadas às castas dentro da comunidade queer, as quais não são discutidas,
150 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
reconhecidas ou comentadas. Algumas pessoas como Akhil Kang e Dhrubo
Jyoti têm tentado abordá-las e destacar os problemas.
RR: Como foi a recepção de Sab Rab De Bande (Somos todes criações
de Deus)?
SS: A recepção de Sab Rab De Bande tem sido extremamente boa desde
o início, quando a notícia sobre o projeto foi divulgada. Nossa campanha
de crowdfunding atingiu o objetivo em menos de duas semanas. Há muita
emoção e expectativa para o documentário. E as críticas iniciais da imprensa
também foram positivas. Sab Rab De Bande também está sendo selecionado
em muitos festivais de cinema.
RR: Como foi para você produzir esse documentário? O que foi mais difícil?
SS: O tema era extremamente significativo para mim e queria fazer esse
documentário há muito tempo. Porém, também foi muito desafiador. Este é o
meu primeiro documentário e não tinha experiência de contar as histórias de
pessoas diferentes em menos de 30 minutos. Além disso, não tinha nenhum
patrocinador ou algo do tipo, foi tudo autofinanciado no começo.
O maior desafio para mim foi encontrar pessoas queer sikh que estives-
sem dispostas a aparecer diante das câmeras e compartilhar suas experiências.
Quem primeiro se juntou ao projeto foi Amolak, que me contatou após ver
uma postagem minha no Facebook. Tivemos uma longa conversa e elx disse
que esse é um tema importante e que deveríamos levar nossas histórias ao
público. Entretanto, depois disso, foi uma longa busca. Algumas pessoas
que tinham de fato se assumido para a família ou para os círculos próximos
concordaram inicialmente, mas depois desistiram de participar. Busquei pes-
soas nas mídias sociais e entrava em contato com elas se achasse que tinham
uma história para contar. Eu até garantia que manteríamos suas identidades
ocultas, mas, mesmo assim, as pessoas tinham medo. Ao longo de dois ou três
anos, finalmente conheci pessoas que concordaram fazer parte do documen-
tário. Mesmo quando concordavam, muitas não se sentiam à vontade para
filmar em sua casa ou no local de trabalho porque, mesmo assumidos(as),
esse não era um assunto com o qual a família se sentisse confortável em lidar.
Além disso, o tempo era outro problema, porque eu estava trabalhando em
tempo integral e o cinegrafista e os integrantes do documentário também.
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
151
Então, encontrar um dia e hora em que todos estivessem disponíveis era uma
tarefa enorme por si só. E mesmo quando conseguíamos um tempo livre,
tínhamos apenas de duas a três horas com eles, tendo de filmar tudo dentro
desse prazo e gravar todas as filler shots necessárias. Além disso, como era
autofinanciado, estava procurando pessoas em ou nos arredores de Nova
Delhi para reduzir ao mínimo os custos do projeto.
RR: Você ficou satisfeito com o resultado do documentário? Era isso
que tinha em mente?
SS: Não tenho certeza se posso dizer que estou satisfeito, mas estou feliz
sim com o resultado final. Essa é a história que queria contar ao mundo.
Ademais, com todas as nossas restrições, tanto financeira quanto outras,
fiz o melhor que pude e estou feliz com o resultado. Há muitas maneiras de
ser queer sikh e queria retratar isso. Consegui representá-las por meio das
cinco histórias.
RR: Por que Ekampreet e Puneet não mostram seus rostos no documen-
tário? Estavam com medo de retaliação?
SS: Tanto Ekampreet quanto Puneet tinham receio de mostrar seus rostos
e eu tive de lhes prometer que suas identidades não seriam reveladas. Ekam-
preet não tinha se assumido gay para a família ou para qualquer outra pessoa
(exceto para alguns amigos íntimos). No caso da Puneet, ela estava muito
ansiosa sobre como as pessoas poderiam se comportar se soubessem sobre a
identidade lésbica. Não é fácil ser mulher na sociedade indiana e ser mulher
lésbica significa se expor ao dobro da opressão e marginalização. Ela estava
muito preocupada com o julgamento das pessoas e como isso poderia afetar
sua vida e seus relacionamentos. Na verdade, quando o documentário estava
pronto e estávamos prestes a participar de festivais de cinema, Puneet teve
uma espécie de crise de pânico e me ligou, pedindo para deletar sua filmagem
do documentário. Tive que acalmá-la e, em seguida, desfocar ainda mais seu
rosto nas cenas nas quais ela parecia estar preocupada. Esta é a primeira vez
em que os queer sikhs na Índia discutem abertamente vários aspectos da vida
e da religião. Não é fácil se expor assim. Além disso, ninguém entre nós sabia
como seria a reação da comunidade sikh.
152 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
RR: Os cinco depoimentos no documentário trazem argumentos a favor
de suas duas identidades, religiosa e sexual. Você conhece alguém que desistiu
do sikhismo por causa da sexualidade?
SS: Pessoalmente, não encontrei uma pessoa queer sikh que desistiu da
identidade religiosa ou da religião por causa da sexualidade. Conheci alguns
homens sikh gays, alguns deles Amrithdaris (Amritdhari Sikhs são indivíduos
que passaram pela cerimônia de iniciação Amrit Sanskar), que não viam
suas identidades religiosas e queer em conflito, por causa da mensagem mais
abrangente de aceitação e igualdade da religião sikh.
RR: Como o queer sikh lida com os líderes religiosos?
SS: Acho que a solução para mudar atitudes é por meio do diálogo e da
discussão. Ao contrário de outras religiões, não houve um debate ou discussão
sobre o tema da homossexualidade dentro da comunidade sikh. Os líderes
religiosos sempre assumiram uma postura reacionária, sem tentar entender a
homossexualidade ou quais são as histórias de pessoas queer. Por exemplo, o
Akal Takht sempre que falava sobre o assunto era em reação a certos eventos,
como a legislação sobre casamentos entre pessoas do mesmo sexo no Canadá
e a decisão do artigo 377 na Índia .
É importante para a comunidade queer se engajar com esses líderes
e contar nossas histórias e educá-los sobre gênero e sexualidade também.
Quanto mais os queer sikhs se assumirem, mais seremos vistos como parte
da comunidade sikh. Espero que Sab Rab De Bande ajude a trazer essas ex-
periências vividas à tona e a iniciar uma conversa.
RR: Você acha que o discurso colonial/ LGBTQIA+fóbico do granthi
(sacerdote) no documentário mudará no futuro à medida que a sociedade e
a nova geração estão modificando lentamente suas mentalidades?
SS: Sim, acho que sim. É desanimador ouvir o granthi no documentário,
pois muito do que é falado é pura ignorância e desconhecimento sobre o
assunto. Ele equipara a homossexualidade com comportamento depravado
e chama isso de antinatural, argumentos sem nenhuma evidência científica.
Grande parte dessa atitude em torno do tema da homossexualidade deve-se
a uma mentalidade colonial e, portanto, vê o tema através das mesmas len-
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
153
tes. Todavia, não há problemas em aceitar pessoas trans, porque em geral há
algum tipo de aceitação de pessoas trans na sociedade.
Sua interpretação de algumas das coisas ou versos do Granth Sahib é
afetada por sua própria homofobia, decorrente, por sua vez, da ignorância
e do colonialismo. Com a geração mais jovem sendo mais aberta e liberal,
acredito que haverá uma mudança no futuro.
JAH: Se o confronto do Ocidente com as dissidências sexuais provém
principalmente de uma longa tradição de perversão cristã, deduzo que dentro
da literatura sikh há uma série de seções que parecem aumentar as esperanças
dos sikhs, isto é, o casamento, por exemplo, é entendido como uma união de
duas almas sem gênero, como mencionado no documentário. No entanto,
as dissidências sexuais e de gênero ainda são um tabu e um tópico muito
controverso dentro da comunidade sikh. Eu me pergunto: se o sikhismo se
originou em um país que, antes da invasão europeia, era relativamente to-
lerante com outras formas de ser e amar, e suas escrituras também refletem
essa diversidade, o que aconteceu na evolução natural do sikhismo?
SS: Todas as religiões na Índia foram tocadas pela moralidade vitoriana
e por isso somos muito influenciados por esses pensamentos coloniais. A
partir daí começamos a interpretar nossa religião através de uma mentalidade
muito colonial, principalmente em relação à homossexualidade. Onde quer
que os britânicos fossem, encontra-se uma lei semelhante à Seção 377 que
criminaliza a homossexualidade. É por isso que mesmo em religiões antigas
como o hinduísmo, na qual a sexualidade e o gênero eram muito fluidos,
não há uma aceitação. Quando se trata do sikhismo, não há regras tão rígi-
das como acontece com o cristianismo, por exemplo. Nossa ênfase está na
espiritualidade e, portanto, a inclusão vem naturalmente para os sikhs, mas
não somos imunes ao colonialismo.
RR: Por favor, faça um comentário sobre a seguinte afirmação de Puneet
no documentário: “sua religião concerne você e seu Deus” (00:26:44-00:26:48).
SS: Puneet faz uma afirmação muito válida. Frequentemente ficamos
muito envergonhados em expor nossa religião ou presos a tantas regras esta-
belecidas por indivíduos religiosos sobre como alguém pode chegar a Deus.
Acho que a fé é basicamente um relacionamento pessoal entre você e Deus.
154 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
Ninguém tem o direito de interferir e dizer qual ou como deve ser esse re-
lacionamento.
JAH: Percebi um fenômeno fascinante aqui nas Canárias: os católicos
LGBTQIA+ se reapropriaram do discurso e estão ocupando certos espaços e
esferas antes negligenciados. Até as drag queens apresentam-se vestidas como
a Virgem Maria ou Jesus Cristo e os jovens católicos também estão criando
novos grupos de apoio inclusivos para a comunidade. Você conhece alguma
situação semelhante entre os sikhs?
SS: Fora da Índia, em alguns países como Reino Unido, Canadá ou Es-
tados Unidos com uma diáspora sikh maior, sei que existem grupos de apoio
trazendo à tona essas discussões sobre religião e sexualidade. Também estão
ajudando seus membros a aceitar ambas as identidades. Estamos em um
momento muito importante, em que ou caminhamos para uma interpre-
tação mais receptiva e inclusiva sobre religião e sexualidade ou temos uma
interpretação muito rígida.
JAH: Estive fazendo algumas pesquisas e encontrei o canal Logo no
YouTube entrevistando pessoas queer sikhs e, embora sejam americanos,
estavam narrando que, em junho (mês do Orgulho LGBTQIA+), ficam em
luto pelas primeiras semanas, em memória daqueles que foram mortos na
“Operação Bluestar”, também mencionada no início do documentário. Isso
certamente cria novos corpos pertencentes à cultura queer sikh. Você conhece
outras peculiaridades endêmicas do sikhismo queer?
SS: Jovens de vinte e poucos anos no Instagram, ou mesmo Amolak Singh
no documentário, estão ousando com sua aparência e alguns até fazem drag.
Carregam ambas as identidades. Amolak, por exemplo, é muito rigorosx em
ir aos gurdwaras usando maquiagem e de um jeito andrógino. Não deixamos
que outros definam nossas identidades.
RR: Quais são os desafios para a política e a legislação do governo atual
com relação às questões LGBTQIA+ na Índia?
SS: Acho que o maior desafio agora é termos um governo conservador
contrário a minorias e aos direitos humanos. Não deram muito apoio quando
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
155
o caso da Seção 377 surgiu na Suprema Corte. Mesmo quando aprovaram
a Lei dos Direitos Trans, descartaram todas as sugestões e preocupações da
comunidade trans*, criando uma lei veementemente contestada pela comu-
nidade trans*. Acho que não vai ser fácil.
RR: Qual é a situação do Projeto de Lei Pessoas Transgênero (Proteção
de Direitos), 2019, agora?
SS: O Projeto de Lei foi aprovado pelo parlamento em novembro de
2019 e se tornou uma lei. Primeiro, foi aprovado na câmara baixa em agosto,
quando o parlamento estava discutindo também o tão polêmico Artigo 370
(artigo da Constituição indiana que deu algum status especial ao estado de
Jammu e Caxemira). Depois, apesar da objeção de muitos, foi aprovado pela
câmara alta em novembro de 2019. A comunidade trans* se opôs ao projeto
por causa das incoerências e fez sugestões para enviá-lo a um Comitê Per-
manente. As considerações/reivindicações da comunidade foram ignoradas
e o governo seguiu em frente com sua própria versão.
RR: O debate de gênero/sexualidade nas escolas/faculdades/universida-
des pode ajudar a criar uma sociedade mais inclusiva?
SS: Sem dúvida! A educação de gênero/sexualidade nas escolas e uni-
versidades é a necessidade do momento, especialmente em um país como a
Índia. Isso ajudará a quebrar muitos mitos e tabus em torno do tema e dissipar
a falta de informação/conhecimento que frequentemente leva à homofobia.
Isso ajudará os jovens a entender seus próprios sentimentos e educá-los sobre
a diversidade sexual, não havendo nada de errado em não ser heterossexual.
RR: Como a pandemia está afetando a comunidade queer na Índia?
SS: A pandemia afetou profundamente a comunidade queer, porque
a Índia teve a quarentena mais rigorosa e longa. Quem sofreu mais foi a
comunidade trans* porque muitas pessoas dependem da mendicância e do
trabalho sexual para sobreviver. Sendo assim, ficaram sem sustento. As pes-
soas trans* não têm reservas econômicas para recorrer. Muitas delas também
estão fazendo tratamento com hormônios. Algumas são HIV positivos e
precisam de medicamentos antirretrovirais. É uma situação terrível, e, em
156 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
alguns estados, os governantes finalmente intervieram e pediram ao governo
que fornecesse um auxílio ou algum recurso aos membros da comunida-
de. Muitas ativistas trans também começaram campanhas de crowdfunding
para arrecadar dinheiro para distribuir suprimentos essenciais e provisão aos
membros da comunidade.
Além disso, muitas pessoas queer tiveram de voltar para a casa e depois
ficaram presas com suas famílias. Muitas delas são abusivas em relação às
crianças queer. O retorno às casas não apenas aumentou os maus-tratos,
como também os problemas de saúde mental. Mesmo as pessoas que já mo-
ravam com a família, não podiam se encontrar com amigos ou frequentar
espaços comunitários. Perderam o sistema de apoio e isso também afetou
negativamente a todos.
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
157
9
PONCIÁ VICÊNCIO DE CONCEIÇÃO
EVARISTO: (RE)PENSANDO O
CURRÍCULO
LEANDRO PASSOS99
Introdução
Poderia o discurso literário de autoria negra apresentar-se como uma das
ferramentas para superar o racismo na sociedade brasileira contemporânea?
Caso sim, de que forma a palavra, signo expressivo da literatura, oferece
instrumentos para a superação deste mal social no Brasil?
Karenga (2009, p. 333) elucida-nos que só é possível “[...] compreender o
presente nos referindo ao passado e estudando-o de forma contínua, quando
qualquer um dos fenômenos complicados de nossa vida cotidiana nos deixa
perplexos”. Segundo o pesquisador, ao surgirem problemas religiosos, políti-
cos ou mesmo raciais, devemos, sempre, lembrar que, embora sua resolução
esteja no presente, sua causa e explicação se encontram no passado.
Para responder a essas questões, propomos a reflexão da obra Ponciá
Vicêncio de Conceição Evaristo, por oferecer conceitos e saberes significativos
para pensar não só o racismo, a cultura africana e a afro-brasileira no texto,
mas também a resistência da crítica, da historiografia literária e, portanto,
da educação como um todo, tendo em vista que o assunto, muitas vezes, é
demonizado em nossa sociedade.
99
Professor pós-doutor na Escola da Rede Federal do Espírito Santo.
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
159
Em entrevista para a Revista Úrsula (online) a escritora e educadora
Kiusam de Oliveira salienta que, desde a obrigatoriedade do trato da história
da África e das culturas afro-brasileira e indígena, notamos, de forma geral,
uma falta de vontade, por parte dos prefeitos, de gestoras e de gestores das
secretarias de educação, para separar parte do orçamento para investir na
formação dos seus profissionais e organização para a criação de departamen-
tos e chefias destacadas para pensar em política pública focada na educação
das relações étnico-raciais sob a perspectiva antirracista100.
Segunda a educadora e ativista, as leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008
obrigam e orientam o ensino da história da África e das culturas afro-brasi-
leira e indígena na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, mas há 19 anos têm
sido motivo de questionamentos por parte dos professores que explicitam
a falta de compreensão em se tratar de questões sobre o racismo na escola,
ao partirem do pressuposto de que ele não existe no país ou que se ele existe
nunca foi percebido, visto que se colocam como pessoas não racistas até
porque ou seus amigos são negros, ou sua melhor amiga de infância era uma
criança negra ou, ainda, porque as suas empregadas são negras.
Lopes (2008, p. 9), por sua vez, ressalta, por exemplo, a negação da im-
portância cultural do segmento bantu na formação brasileira, “[...] apesar de
sua relevância, pela anterioridade de sua presença e pelo número vultoso de
sua entrada nos portos brasileiros, por mais de 300 anos, além de sua disper-
são forçada por quase todo o território nacional [...]”. Conforme o autor, essa
omissão refletiu no inconsciente nacional porque as ideias sobre uma suposta
inferioridade foram formuladas, a partir do século XIX, por escritores tidos
como “luminares” da pesquisa científica, tais como Silvio Romero (1953, p.
132), ao dizer que os negros, na formação brasileira: “São gentes [os bantu]
ainda no período do fetichismo, brutais, submissas e robustas, as mais pró-
prias para os árduos trabalhos de nossa lavoura rudimentar”.
Nina Rodrigues (1977, p. 20) também desqualifica a cultura bantu, ao
dizer que:
No entanto, por mais avultada que tivesse sido a impor-
tância de negros da África Austral, do vasto grupo étni-
100
“Kiusam de Oliveira: ‘No Brasil, Ensina-se a Ser Racista, Aprende-se a Ser Racista’”. Por Duan-
ne Ribeiro. Disponível em Revista Úrsula: https://revistaursula.com.br/filosofia/kiusam-de-o-
liveira-no-brasil-ensina-se-a-ser-racista-aprende-se-a-ser-racista/. Acesso em julho de 2022.
160 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
co dos negros de língua tu ou bantu – e o seu número foi
colossal -, a verdade é que nenhuma vantagem numérica
conseguiu levar a dos negros sudaneses, aos quais, além
disso, cabe inconteste a primazia em todos os feitos em
que, da parte do negro, houve na nossa história uma
afirmação da sua ação ou dos seus sentimentos de raça.
Além de Romero (1953) e Rodrigues (1977), Lopes (2008) também cita
Vianna (1959, p. 202): “[...] os negros puros, vivendo nas florestas do Congo
ou da Angola, nunca criaram civilização alguma”. Percebemos, como aponta
Lopes (2008, p. 94), a inferiorização dos bantu em relação aos povos da África
ocidental, apregoada “pelos eruditos do racismo científico”. O autor, contu-
do, cita, a partir dos estudos de Carneiro (1981), a contribuição de Arthur
Ramos, que foi um dos primeiros pesquisadores a notar a importância dos
bantu para a cultura brasileira. Lopes (2008, p. 191) esclarece que, em rela-
ção aos sudaneses, a cultura bantu foi, por muito tempo, considerada frágil,
“sem estrutura, um amontoado de crendices e superstições, com suas bases
emprestadas à teogonia nagô e facilmente engolidas pelo catolicismo”. O autor
justifica esse desprezo à violência católica a que estiveram submetidos desde o
século XV e à brutalidade da tragédia escravizadora. Entretanto, ressalta que,
apesar da opressão cristianizadora que sofreram, os bantu do antigo Congo
e da Angola empreenderam uma verdadeira guerrilha religiosa com a Igreja
Católica: suas conversões ao catolicismo quase sempre foram seguidas de
reconversões à religião tradicional.
Neste artigo, então, a análise da obra de Conceição Evaristo vai ao en-
contro da possibilidade de a literatura de autoria negra poder, sim, ser um
instrumento antirracista, como também oferecer uma reflexão acerca da Lei
10.639 de 2003 ainda pouco cumprida no currículo oficial da Rede de Ensino
à luz da cultura dos grupos etnolinguísticos bantu e iorubás.
1. Ponciá Vicêncio: a ancestralidade bantu e ioruba
Conceição Evaristo, no romance Ponciá Vicêncio (2003), poetiza o cor-
po da mulher negra desabitado por estruturas mantenedoras da sociedade
brasileira e, ao mesmo tempo, habitado por memórias e histórias ancestrais
da cultura afro-brasileira em um ecossistema linguístico. Trata-se de uma
bricolagem cultural, na qual a simbologia dos povos iorubá e bantu reflete e
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
161
problematiza a condição de negras e de negros no Brasil de modo provocador
a fim de colocar em xeque a normatividade hegemônica (NIGRO; PASSOS,
2019). Ao contar a narrativa da família de Ponciá, protagonista do romance,
Evaristo nos toma pela mão e nos conduz ao passado africano e afro-brasi-
leiro, mas ressignificado e motivado pela escrita de autoria negra.
Duarte (2019, p. 198-199), acerca do romance, diz que “[...] é um livro
que grita as mazelas, os sofrimentos, as angústias, os vazios do povo negro,
realidade que se perpetua através dos anos e que permanece nos dias atuais”.
Consciente desta conjuntura experimentada pelo povo negro em nosso país,
a autora retoma a simbologia dos iorubás e dos bantu e provoca na crítica, na
historiografia literária brasileira e, evidentemente, no leitor, uma reflexão. A
partir de repositórios de narrativas ancestrais ainda desconhecidas e desvalo-
rizadas pela sociedade e, vale dizer, por alguns programas de pós-graduação
em Literatura, em Educação etc., a escritora (re)visita o passado ancestral
africano e os insere na trama narrativa do romance.
Daibert (2015), baseado nos estudos de Altuna (1985), explica ser o
mito, o rito e a religião dos bantu, por exemplo, sustentados numa estrutura
piramidal, a partir da crença no mundo invisível e visível. Assim como os
bantu, a protagonista do romance, Ponciá, vê seres que, para ela, assumem-se
como naturais. A proximidade com a natureza traz o animismo como parte
dessa cultura, em que forças autóctones e alterações de fenômenos modificam
a ordem espontânea das coisas. Tal ligação promove a crença em entidades
capazes de intervir, simbolicamente, na rotina das personagens do romance.
Essa intervenção, diferente do conceito de fantástico e de maravilhoso
(TODOROV, 1970), de matriz europeia, serve como procedimento concebido
por um modus operandi revelador do modo de pensar, de agir, de ser e de
existir do povo (iorubá e bantu), cujas origens advêm da diáspora africana:
O certo é que o contato com o invisível e a profunda
relação de interação com as manifestações da natureza
veio na diáspora africana e passou pela tradição oral do
mais velho ao mais novo. E, no que determina essa rela-
ção entre os homens e os mitos, o que é estranho para
determinadas culturas, significa a verdade presente no
cotidiano de vários outros povos. A combinação entre
o invisível, o fantástico e a literatura é simbiótica, um se
funde ao outro e, no que concerne à África tradicional,
a literatura dá, algumas vezes, muito mais condições
162 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
de explicar contextos históricos e culturais do que a
própria disciplina história, até mesmo pelo fato de ser
a cultura africana em grande parte oral e o estudo da
história se debruça, em sua maioria, sobre documentos
e fatos datados; já a literatura, mesmo que seu processo
de produção seja, na maioria das vezes, a escrita, sua
fonte de inspiração e produção, não necessariamente, o
é (AGUIAR; SIQUEIRA; NASCIMENTO, 2016, p. 109).
Como sinalizado pelos autores supracitados, na cultura de alguns povos
africanos, determinadas situações e ações não são vistas como estranhas, tam-
pouco fantásticas e maravilhosas, caso consideremos os estudos tradicionais
e já conhecidos de Todorov (1970):
Divertia-se brincando com as bonecas de milho ainda
no pé. Elas eram altas e, quando dava o vento, dança-
vam. Ponciá corria e brincava entre elas. O tempo corria
também. Ela nem via. O vento soprava no milharal,
as bonecas dobravam até o chão. Ponciá Vicêncio ria.
Tudo era tão bom. Um dia, nessa brincadeira, ela viu
uma mulher alta, muito alta que chegava até o céu. Pri-
meiro ela viu os pés da mulher, depois as pernas, que
eram longas e finas, depois o corpo que era transparente
e vazio. Sorriu para a mulher que lhe correspondeu o
sorriso (EVARISTO, 2017, p. 13-14).
Pela articulação da palavra literária, há o ir ao passado mítico ancestral
e o vir à contemporaneidade de modo provocador à crítica tradicional: as
espigas de milho (cereal e alimento) assumem outra condição por adquirirem
o papel de bonecas na relação com Ponciá, relembrando a brincadeira da
menina. Ponciá criança, além disso, vê um ser feminino hiperbolicamen-
te alto e de corpo diferenciado lhe respondendo ao sorriso. Consciente da
ancestralidade, do passado mítico simbólico, Conceição Evaristo constrói a
narrativa do romance sem deixar, entretanto, de destacar estarmos, atual-
mente, em outros tempos, visto que, quando a personagem relata para a mãe
sobre o ser que vê, Ponciá percebe como ela se assusta um pouco e pede ao
marido para cortar o milharal, mesmo sabendo não ser época oportuna de
colheita: “E, quando Ponciá Vicêncio acordou no outro dia, o milharal estava
derrubado. As bonecas mortas pelo chão. Ela ainda olhou para os lados com
esperança de ver a mulher alta e transparente.” (EVARISTO, 2017, p. 13-14).
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
163
Vemos, ao mesmo tempo, a recusa (mãe) e a aceitação (Ponciá) da ances-
tralidade africana no romance, que se configura ainda em nossa sociedade.
Ponciá é consciente desse fato; após estar um certo tempo na cidade e já
adulta, e ao acordar com a costumeira angústia no peito, sem querer, olha
o céu como se pedisse ajuda a Deus: “Um arco-íris bonito, inteiro, bipartia
a morada das águas suspensas.” (EVARISTO, 2017, p. 14). A personagem
mostra-se conhecedora da hierarquia bantu entre os quais estão presentes os
jinkisi, “espíritos tutelares ou gênios da natureza, que habitavam os lagos, os
rios, pedras, ventos, florestas ou objetos materiais.” (DAIBERT, 2015, p. 11), e
que desempenham grande influência sobre os homens, principalmente, sobre
as atividades da caça, da pesca e da agricultura. Conceição Evaristo provoca a
normatividade hegemônica da crítica, ao inserir tais elementos no romance,
pois sabe que o conteúdo não é tão explorado e “sabido” como já deveria ter
sido desde a diáspora africana nas Américas. Assim como os orixás dos ioru-
bás do culto ketu, as divindades bantu atuam sobre os fenômenos da natureza,
por estarem ligados ao ar, à terra, às águas e à vegetação, pontua Giroto (1999).
No desfecho do romance de Evaristo, “Lá fora, no céu cor de íris, um
enorme Angorô multicolorido se diluía lentamente, enquanto Ponciá Vicên-
cio, elo e herança de uma memória reencontrada pelos seus, não haveria de
se perder jamais, se guardaria nas águas do rio.” (EVARISTO, 2017, p. 111),
a personagem une-se, simbolicamente, ao sagrado, à herança da memória
ancestral. Antes disso, Ponciá passa grande parte da infância dentro de casa,
realizando tarefas domésticas. Ao se deslocar para a cidade em busca de opor-
tunidades, a personagem trabalha como empregada doméstica; casa-se, mas
ainda permanece dentro de casa e, por vezes, é incompreendida e fica sujeita à
violência doméstica, apanhando do companheiro. Na cidade, sente-se sozinha,
sem os familiares, sem filhos. Fora da natureza, Ponciá não tem a memória que
lhe acolhe e guia. Ainda assim, mesmo na falta, coloca-se em movimento na
tentativa de denunciar o abuso ao gênero, à “raça” e à classe, ou seja, de anun-
ciar uma sociedade dizendo-se estável, sem acolhimento algum à diversidade.
Podemos dizer que Ponciá, a partir deste percurso, torna-se heroína na
concepção de herói (heroína) africano descrita por Ford (1999), segundo
a qual a busca é orquestrada em três momentos. No primeiro, a heroína é
convocada a deixar o espaço familiar e aventurar-se em terras desconhecidas.
No caso do romance, este chamamento realiza-se a partir da insatisfação
da personagem sobre a condição do povo negro do povoado, metonímia
da sociedade brasileira racista. Ponciá encontra-se consumida e insatisfeita
164 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
com o enfrentamento e com o esforço insanos em relação ao trabalho e à
sobrevivência a que estão submetidos negros e negras e deixa o chão familiar
(espaço de dominação e de sujeição).
No movimento seguinte, a heroína obtém experiência por meio das aven-
turas e, até mesmo, com o auxílio de forças ditas mágicas no sentido africano
proposto por Ford (1999). Por meio do enfrentamento deste corpo negro no
novo espaço de experiências, realiza-se o esculpir do crescimento e do ama-
durecimento em Ponciá Vicêncio. Sair do espaço familiar é, pois, encarar a
sociedade racista e, consequentemente, a normatividade hegemônica.
A construção de uma identidade feminina e negra culturalmente mode-
lada reconstitui-se: “Pouco a pouco, mais e mais, Ponciá se adentrava num
mundo só dela, em que o outro, cá de fora, por mais que gostasse dela, en-
contrava uma intransponível porta.” (EVARISTO, 2017, p. 93). A personagem
reformula-se, culturalmente, durante a narrativa; ao mesmo tempo em que
ocorre (i) a passagem pelo arco-íris (elemento ancestral), trazendo-lhe medo,
e (ii) o ritual de segurar a saia entre as pernas para não virar menino. Con-
ceição Evaristo provoca a tradição eurocentrada ao amalgamar a simbologia
do arco-íris de Angorô dos bantu e de Oxumarê dos iorubás, uma vez que,
na cultura destes povos, não há a mudança de sexo ao passar pelo arco-íris,
tampouco o “pote de ouro” no fim como ocorre nas narrativas irlandesas com
o leprechaum. A passagem pelo arco-íris vai dando a essa heroína desenhos
de mulher negra contornada, inscrita pela ancestralidade africana e ainda
pouco conhecida e estudada em nossa sociedade (NIGRO, PASSOS, 2019).
No terceiro movimento descrito por Ford (1999), a heroína volta para a
terra de origem. Trata-se de um retorno simbólico às origens dos povos ne-
gros, sinalizado pelo espaço familiar: “Lá fora, no céu cor de íris, um enorme
ângoro multicolorido se diluía lentamente, enquanto, Ponciá, elo e herança
de uma memória reencontrada pelos seus, não haveria de se perder jamais,
se guardaria nas águas do rio. (EVARISTO, 2017, p. 111). O retorno sinaliza
a afirmação de identidade marcada pela ancestralidade, a qual é reivindicada
e valorizada por meio da escrevivência evaristiana. Ponciá representa sujeitos
afro-brasileiros, cujos direitos ao passado lhes foram silenciados e negados,
cuja religião ainda é demonizada.
Neste sentido, ao retornar ao leito do rio, ao manipular água, lama e ar-
gila, a personagem do romance modela negros e negras brasileiras por meio
da literatura. A personagem de Evaristo assemelha-se ao orixá iorubá Nanã
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
165
Buruquê, se considerarmos os itans (orações sagradas) desta divindade tão
respeitada até mesmo pelos orixás masculinos. Nanã Buruquê é a origem
e também o poder: dela sai o barro primordial, ofertando a vida e a força
física aos homens perfeitos e imperfeitos, que nem mesmo o rei dos orixás,
Oxalufã, conseguiu criar (NIGRO, PASSOS, 2019). Sutilmente, Evaristo, por
meio da simbologia da cultura iorubá, também nos oferece a reflexão acerca
do gênero, ao inserir a narrativa mítica de Nanã no romance contemporâneo.
As narrativas míticas dos orixás, originalmente, fazem parte dos poemas
oraculares cultivados, à princípio oralmente, pelos babalaôs, mas que hoje
já possuem compilação escrita e traduzida para o português. Tais poemas
narrativos relatam a criação do mundo e de como ele foi repartido entre os
orixás, além de relatarem uma quantidade significativa de situações, envol-
vendo tanto os homens como os deuses-divindades, os animais, as plantas,
os elementos da natureza e da vida da sociedade iorubá (PRANDI, 2001). O
pesquisador observa que, na sociedade tradicional dos iorubás não histórica e
primordial, “[...] é pelo mito que se interpreta o presente e se prediz o futuro,
nesta e na outra vida”.
Pinto (2008) diz que a água constitui-se o elemento feminino funda-
mental das forças humanas: nas águas dos rios, Ponciá entra em conjunção
com a ancestralidade. Os rios manifestam-se como agentes de fertilização, à
medida que possuem o poder de inundar, submergir, irrigar ou fazer perecer
a vida. As águas representam a existência humana e o curso da vida com a
sucessão de desejos, de sentimentos, de intenções e da variedade de seus
desvios, completa Pinto (2008).
A personagem, como explica Dionísio (2013), ao final do romance, re-
torna ao rio, ao barro, à matéria-prima para o sustento da família. Conforme
o autor, ao pesquisar as referências bantu no romance, a argila é o produto
resultante do trabalho que a natureza fez, resultante do esmagamento e da
quebra de rochas que se dissolvem na água, dando-lhe, assim, a peculiar
maleabilidade; há “[...] uma relação direta com a energia vital de Ponciá e
sua família com as energias advindas do barro.” (DIONÍSIO, 2013, p. 75).
A figura do avô também revela a herança para Ponciá: “[...] diasporiza-
dos em sua essência e origem, mostrando que o afrodescendente não deve
renunciar ao seu legado, as suas práticas religiosas, nem a sua história.” (DIO-
NÍSIO, 2013, p. 81). A personagem sente falta do barro das águas dos rios, do
166 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
povoado em que nasceu. Assim, sai das terras, amadurece e retorna (heroína
africana descrita por Ford), tendo como “molde” uma figura masculina: o avô.
A presença e a ausência do avô também podem ser percebidas por Taís
Araújo, atriz, jornalista, apresentadora e mãe de filhos pretos, na orelha da
obra Com qual penteado eu vou? de Kiusam de Oliveira e ilustração de Ro-
drigo Andrade (2021). Araújo ressalta a importância da literatura de autoria
negra e de temas em que a cultura negra esteja poetizada nestes textos, visto
que não teve acesso a estes conteúdos. Para a atriz, tratou-se de um “gatilho”,
pois seus familiares maternos morriam muito cedo, e a ancestralidade é sig-
nificativa na obra de Kiusam, e podemos sinalizar também na de Evaristo; a
avó paterna, por exemplo, faleceu quando Taís ainda era criança; o avô, por
sua vez, vivia em terras distantes. Logo, tanto a obra de Kiusam de Oliveira
como a de Conceição Evaristo configuram-se, para leitores negros e não
negros, não como “gatilho”, no sentido referencial de “arma de fogo”, mas,
sim, como uma arma, como um antídoto para se combater o racismo, para
lembrarmos o conceito de Literatura negro-brasileira de Luiz Silva, Cuti.
Conforme o crítico-poeta;
Certa mordaça em torno da questão racial brasileira
vem sendo rasgada por sucessivas gerações, mas sua
fibra é forte, tecida nas instâncias do poder, e a lite-
ratura é um de seus fios que mais oferece resistência,
pois, quando vibra, ainda entoa loas às ilusões de hie-
rarquias congênitas para continuar alimentando, com
seu veneno, o imaginário coletivo de todos os que dela
se alimentam direta ou indiretamente. A literatura, pois,
precisa de forte antídoto contra o racismo nela entra-
nhado (SILVA, 2010, p. 13, grifos nossos).
Essa “vivência especial”, para leitores, principalmente negros e negras,
marcada pela ancestralidade, permite que (re)conheçamos o passado e, prin-
cipalmente, o “caminho que seguiremos”, pontua Taís Araújo.
Ponciá Vicêncio amalgama, imbrica e, portanto, engloba histórias den-
tro de histórias, as quais são fundamentais para o povo negro, cuja cultura,
história e narrativa foram, pelo processo de escravização, silenciadas, porém
contadas pelas escrevivências evaristiana:
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
167
A palavra poética é o modo de narração do mundo. Não
só de narração, mas, antes de tudo, a revelação do utópi-
co desejo de construir outro mundo. Pela palavra poé-
tica, inscreve-se, então, o mundo que poderia ser. E, ao
almejar o mundo do outro, a poesia revela o seu descon-
tentamento com uma ordem previamente estabelecida.
Há momentos em que a característica subversiva da fala
poética se torna não perceptível que seus criadores são
considerados personae non gratae, e suas vozes são for-
çadas ao silêncio, ou ignoradas, como se não existissem.
Entretanto, todo indivíduo e toda a coletividade têm o
direito ao seu auto-pronunciamento, tem direito de con-
tar/cantar a sua própria história (BRITO, 2011, p. 59).
Provocativa e ciente do poder da palavra, Conceição Evaristo, aos moldes
da adinkra sankofa, volta-se ao passado para caminhar no presente a fim
potencializar o futuro. Ainda no que diz respeito à ancestralidade bantu do
romance de Conceição, o nkisi Nkongolo, palavra oriunda de kikongo, língua
dos povos bakongo (plural do Kongo), forma aportuguesada Angorô, é cul-
tuado no candomblé Congo-Angola de matriz africana bantu e está associado
ao arco-íris e à cobra. É símbolo de futuras farturas, sinal de bons presságios,
de novos tempos de colheitas dos frutos da terra, elemento sagrado pelos
africanos. Ponciá, ao passar debaixo do Angorô, colhe os frutos positivos da
superação e da busca pelo autoconhecimento e equilibra sua sexualidade, pois,
de acordo com os conceitos bantu, essa divindade também está associada ao
equilíbrio do planeta, fazendo a ligação energética entre céu e terra, simboli-
camente em Ponciá, entre masculinidades e feminilidades. Por mais que seja
um nkisi masculino, Angorô apresenta um sentido andrógeno, porque, num
de seus caminhos de atuação simbólica, no universo e na natureza, compor-
ta-se numa dualidade, que incide nos princípios macho, ndála (masculino), e
fêmea, indalá (feminino). Liga-se ao domínio da sexualidade e da perpetuação
das espécies, além de agir sobre o emocional dos seres humanos e dominar,
predominantemente, as partes sexuais masculinas:
Ao ver a mulher [Ponciá] tão alheia teve desejos de
trazê-la ao mundo à força. Deu-lhe um violento soco
nas costas, gritando-lhe pelo nome. Ela devolveu um
olhar de ódio. Pensou em sair dali, ir para o lado de
fora, passar por debaixo do arco-íris e virar logo homem
(EVARISTO, 2017, p. 19).
168 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
O arco-íris revela não só uma resolução para os seus conflitos físicos,
mas também emocionais. Entretanto, a mudança ocorre apenas parcialmente:
a falta, a ausência da protagonista é de muitas naturezas.
A obra Ponciá Vicêncio, por fim, procura aliar, a uma ideia de identidade
negra, significados positivos e afirmadores, contrapondo uma gama de pro-
duções literárias que ainda falam sobre o afrodescendente como primitivo
ou selvagem (MARINGOLO, 2014), o que requer um olhar decolonizado e
atento para o leitor que desconhece a cultura africana e afro-brasileira dada
a formação hegemônica europocentrada da formação leitora no Brasil.
Considerações finais
Como a educação escolar pode se manter, ainda, distante da diversidade,
uma vez que essa se faz presente no cotidiano escolar por meio da presença
de professores e de professoras, e de alunos e de alunas dos mais diferentes
pertencimentos étnico-raciais, idades e culturas? (GOMES, 2007).
Do ponto de vista cultural, a diversidade deveria ser entendida como a
construção histórica, cultural e social das diferenças. Trata-se, sim, de desafio
enfrentado por todos nós que atuamos no campo da educação, sobretudo, o
escolar: da etapa básica ao Ensino Superior em que se insere a pós-graduação
das diversas áreas do conhecimento.
Como pontua Gomes (2007), é necessário ter clareza sobre a concepção
de educação que nos orienta, pois há uma relação estreita entre o olhar e o
trato pedagógico da diversidade e a concepção de educação que informa as
práticas educativas, o que torna a formação continuada de professores funda-
mental em épocas de retrocesso. Por mais que a diversidade seja um elemento
constitutivo do processo de humanização, há uma intenção nas culturas, de
um modo geral, de destacar como positivos e melhores os valores que lhe
são próprios, gerando certo estranhamento e, até mesmo, uma rejeição em
relação ao diferente, o que chamamos de etnocentrismo (GOMES, 2007).
Diante da realidade cultural da educação, da escola brasileira, bem como
do quadro de desigualdades raciais e sociais no Brasil, já não cabe mais aos
educadores e às educadoras aceitarem a diversidade étnico-cultural apenas
como um desafio. Nossa responsabilidade ética e social como cidadãs e ci-
dadãos exige mais de nós, como pontuam Gomes e Silva (2011). Exige-se de
todos nós uma postura e uma tomada real de posição diante dos sujeitos da
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
169
educação que reconheça e valorize tanto as semelhanças quanto as diferenças
como fatores indispensáveis de qualquer projeto educativo e social que se
pretenda e se diga democrático.
Ao ser questionada sobre o impacto de obras de literatura negro-bra-
sileira no currículo, Kuisam de Oliveira101 também observa tais questões ao
reafirmar que, no Brasil, o racismo é estrutural pois se ensina a ser racista,
aprende-se a ser racista. Para a escritora e educadora, a hipocrisia está, jus-
tamente, no olhar relativizado no qual pessoas brancas se posicionam, em
nome da boa família, como combatentes da moral e dos bons costumes por
meio de um olhar parcial sobre as questões nacionais sem enfrentar, de fato,
a educação racista e sexista que os levaram a posições tão limitadas de ser e
de compreender a diversidade humana e o fato de vivermos num país plu-
riétnico e multicultural, construído por negros e negras, escravizados por
quase quatro séculos.
Por fim, focar em formação para profissionais da educação, de estudantes,
de pais, de mães e de respectivos responsáveis durante toda a etapa básica
torna-se imprescindível para o combate ao racismo. Além disso, o Ensino
Superior precisa repensar o currículo a fim de que elementos da cultura não
somente dos bantu e dos iorubás, mas de outros grupos etnolinguísticos
possam ser pensados e refletidos em pesquisa, em atividades de extensão sem
serem desqualificados e demonizados. Para tanto, se faz necessário repensar
o currículo e colocar em prática leis e diretrizes já existentes.
Logo, a leitura da obra de Conceição Evaristo mostra-se reveladora e
provocativa por nos mostrar ser fundamental o estudo da cultura, da história
africana e afro-brasileira nas Redes Oficiais de ensino no Brasil.
101
“Kiusam de Oliveira: ‘No Brasil, Ensina-se a Ser Racista, Aprende-se a Ser Racista’”. Por Duan-
ne Ribeiro. Disponível em Revista Úrsula: https://revistaursula.com.br/filosofia/kiusam-de-o-
liveira-no-brasil-ensina-se-a-ser-racista-aprende-se-a-ser-racista/. Acesso em julho de 2022.
170 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
REFERÊNCIAS
AGUIAR, I. P.; SIQUEIRA, N. R.; NASCIMENTO, W. S. Vozes da Sanzala: Simbo-
logias Kimbundu e trânsitos religiosos em Angola e no Brasil. Revista Transversos,
Rio de Janeiro, v. 6, n. 6, p. 103-124, mar. 2016.
ALTUNA, R. R. A. A cultura tradicional banto. Luanda: Secretariado Arquidioce-
sano de Pastoral, 1985.
BRASIL. Lei nº. 11.645, de 10 de março de 2008. Disponível em: http://www.planal-
to.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm. Acesso em: julho de 2022.
BRASIL. Lei nº. 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Disponível em:<http://www.pla-
nalto.gov.br/ccivil/LEIS/2003/L10.639.htm>. Acesso em: julho de 2022.
BRITO, M. C. E. Poemas malungos: cânticos irmãos. Tese de doutorado. Universi-
dade Federal Fluminense. Rio de Janeiro, 2011.
CARNEIRO, E. Religiões negras: negros bantos. Rio de Janeiro: Civilização Bra-
sileira, 1981.
DAIBERT, R. A religião dos bantos: novas leituras sobre o calundu no Brasil colonial.
Revista Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 28, n. 55, p. 7-25, jan./jun., 2015.
DIONÍSIO, D. Ancestralidade Bantu na Literatura afro-brasileira: reflexões sobre
o romance Ponciá Vicêncio de Conceição Evaristo. Belo Horizonte: Nandyala, 2013.
DUARTE, R. A. L. O entre-lugar de Ponciá Vicêncio: O vazio como resistência.
Revista Philia: Filosofia, Literatura & Arte. v. 1. n. 1, p. 182-201, fev., 2019.
EVARISTO, C. Ponciá Vicêncio. Rio de Janeiro: Pallas, 2017.
FORD, C. O herói com rosto africano: mitos da África. São Paulo: Selo Negro
Edições, 1999.
GIROTO, I. O universo mágico-religioso negro-africano e afro-brasileiro: bantu
e nagô. 1999. Tese (Doutorado em Antropologia) – Faculdade de Filosofia, Letras e
Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999.
GOMES, N. L.; SILVA, P. B. G. O desafio da diversidade. In: GOMES, N. L.; SILVA,
P. B. G. (Orgs.) Experiências étnico-culturais para a formação de professores. Belo
Horizonte: Autêntica, 2011.
GOMES, N. L. Indagações sobre o currículo: diversidade e currículo. Brasília: Mi-
nistério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2007.
KARENGA, M. A função e o futuro dos Estudos Africana: reflexões crítica sobre
sua missão, seu significado e sua metodologia. In: NASCIMENTO, E. L. (Org.).
Afrocentricidade: uma abordagem epistemológica inovadora. São Paulo: Selo Negro,
2009. p. 333-359.
LOPES, N. Bantos, malês e identidade negra. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
171
MARINGOLO, C. C. B. Ponciá Vicêncio e Becos da Memória de Conceição Eva-
risto: construindo histórias por meio de retalhos de memórias. 2014. 132 f. Disser-
tação (Mestrado em Estudos Literários) – Faculdade de Ciências e Letras (Campus
Araraquara). Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, 2014.
PASSOS, L.; NIGRO, C. M. C. Racismo, gênero e mito atualizado no arco-íris de
“Ponciá Vicêncio”. Anuário de Literatura, Florianópolis, v. 24, n. 2, p. 30-41, 2019.
PINTO, M. O. B. S. A Amazônia e o imaginário das águas. In: Anais do Encontro
da Região Norte da Sociedade Brasileira de Sociologia, 1, Manaus, 2008. Manaus:
Programa de Pós-Graduação em Sociologia PPGS/UFAM,2008(Mesa-redonda).
PRANDI, R. Mitologia dos orixás. São Paulo, Companhia das Letras, 2001.
RODRIGUES, N. Os africanos no Brasil. São Paulo: Nacional, 1977.
ROMERO, S. História da literatura brasileira. Rio de Janeiro: José Olympio, 1953.
SILVA, L. (CUTI). Literatura negro-brasileira. São Paulo: Selo Negro Edições, 2010.
TODOROV, T. Introduction à la littérature fantastique. Paris: Editions du Seuil, 1970.
VIANNA, O. Raça e assimilação. Rio de Janeiro: José Olympio, 1959.
172 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
10
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
173
PUTAKARYY KAKYKARY: A LITERATURA
INDÍGENA E O SOPRO DA VIDA
DAVID DE SOUSA PEREIRA102
Introdução
Ao se falar sobre povos, sejam das florestas, estepes ou civilizações, é
praticamente impossível não se evocar o conceito de cultura. Partir-se-á
inicialmente das tentativas de se estabelecer sua definição. Mércio Pereira
Gomes afirma que:
Todo mundo tem sua ideia do que é cultura. [...] Hoje
contaríamos essas definições em milhares, mesmo por-
que cultura não é assunto circunscrito a antropólogos e
filósofos, mas está, por assim dizer, na boca do povo. To-
davia, podemos agrupar essas tantas definições em seis ou
sete categorias ou acepções [...]. Primeiramente, cultura
é vista como se fora sinônimo de erudição. Cultura seria
a substantividade de ser culto, e isso quer dizer possuir
conhecimento e demonstrar refinamento social, especial-
mente em literatura, filosofia, história, etc; o que seriam
os modos de comportamento? A etiqueta social como
atributo de classe social superior (GOMES, 2011, p. 33).
Esse conceito de cultura dá corpo à definição mais comum associada à
mentalidade popular.
102
Especialista na área de Antropologia (Estudos Amazônicos) pela Universidade de Brasília (UnB).
174 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
As tendências humanas em elencar, escalonar e, em última instância,
rotular os fenômenos das expressões da consciência coletiva em blocos, cas-
tas ou classes, indo da menor qualidade para a maior, constituem o modus
operandi de classificação das manifestações humanas. Isso ocorre seja na
música, da dita mais vulgar, de gueto, de favelas e comunidades, aos arranjos
complexos das escolas clássicas de concerto; seja na moda, em que se dita o
que é ou não elegante e apreciável; seja no gosto por filmes, das produções
comerciais mainstream hollywoodianas aos clássicos do cinema.
A cultura é, também, um fenômeno associado ao desenvolvimento das
classes sociais, nas quais as mais altas têm acesso aos entendimentos supos-
tamente mais eruditos assim como às tendências que descem como fluxos de
influência das áreas mais privilegiadas de produção da Indústria Cultural. Tal
fenômeno é, entretanto, depolarizado de acordo com as construções estéticas
dos períodos artísticos, bem como da reprodutibilidade da obra de arte, como
afirma Walter Benjamin (1936).
Theodor Adorno (1973), por exemplo, apresentou uma ferrenha crítica
ao Jazz como manifestação cultural; um estilo surgido nas ruas, influenciado
por elementos jamaicanos urbanos, que deixou os guetos e mergulhou na
elite social, marcando distintivamente um nicho de ouvintes.
Nessa perspectiva, tudo aquilo que é produzido externamente à indústria,
mas que se configura como cultura autêntica, isto é, produzida no seio de um
povo, longe das influências desses fluxos culturais, é tomado como exótico.
Aqui, pode-se incluir qualquer produção dita tradicional, que toma forma
por populações humanas as quais bebem de fontes antigas pelo seu folclore,
sua oralidade e seus ritos e rituais. Em outros termos, tudo aquilo que fuja
ao modismo. As culturas indígenas compõem esse grupo.
Aproveitando-se o prefixo grego exo, que vem de exterior, depreende-se
que os olhares para as culturas tradicionais vêm de fora para dentro, ou seja,
como exteriores – algo que permeia um mundo não humano, um olhar de
curiosidade e diferença. Muito da etnologia foi construída com base nesse
olhar externo, ajustando-se o foco, seja teórico ou das lentes das câmeras da
etnografia visual, para os povos ditos primitivos como seres extraculturais,
muitas vezes observados como em trânsito no espectro evolutivo de civilidade.
No Brasil, tomar a cultura indígena como exótica distancia as populações
tradicionais, à medida que cerceia suas expressões culturais, sociais e exis-
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
175
tenciais da própria identidade nacional, pátria e mosaica de brasilidade. O
imaginário empurra a figura do índio para dentro de um conjunto simbólico
de manifestações homogêneas, incorrendo na criação de bolsões étnico-cul-
turais que engolem e digerem a multiplicidade de povos e expressões. Histo-
ricamente, tal processo vem da percepção ontológica do homem americano.
1. Homens das Américas: o indígena na história e no imaginário
Com a descoberta da América, o europeu foi forçado a questionar o
próprio conceito de homem, à medida que o americano surge colocando em
evidência a relação entre as forças sociais moral-religiosa e étnico-cultural,
pois foram eles os caracterizados como povos sem religião (GROSFOGUEL,
2016). É nesse ponto da História que se pode observar o surgimento das dis-
cussões seminais da Antropologia Filosófica, na qual o índio como homem
primitivo é a peça-chave, como afirma Nelson Maldonado-Torres:
A referência aos indígenas como sujeitos sem religião
os remove da categoria humana. A religião é universal
entre os seres humanos. Entretanto, a alegada falta de
religiosidade entre os nativos não é tomada inicialmente
para indicar a própria falsidade da assertiva, mas, ao
contrário, serve para afirmar a existência de sujeitos não
completamente humanos no mundo (MALDONADO-
-TORRES, 2008, p. 217).
Com o processo de colonização das Américas surge, também, o contato
do europeu com culturas sobremaneira diversas, além das indianas ou oto-
manas. Culturas civilizadas, como dos Astecas, ou mesmo ditas primitivas,
colocaram o homem branco em contato com outras formas intelectuais de
conhecimento, provocando questões, então não só ontológicas, mas de cogni-
ção e capacidade. Esse fato aconteceu, pois, além dos indígenas transportados
ao continente, chegavam à Europa também as produções artísticas, os diários
de viagem de Colón e Cortez, os quais foram publicados por toda a Europa,
e os códices, o que impulsionava aqueles mais inclinados aos estudos huma-
nistas/iluministas da época a uma “lenta percepção antropológica do outro”
(Bernand y Gruzinski, 1988 apud TALADOIRE, 2018, p. 50). Lenta, pois
levou-se tempo até que se convenceu, mesmo a intelectualidade europeia, de
que se tratava de outro, semelhante em ser, mas diferente em cultura. Mesmo
176 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
Bernardino de Sahagún, que é tido como o primeiro etnólogo, apresentou
uma atitude etnocêntrica evolucionista em princípio (TALADOIRE, 2018).
Éric Taladoire (2018) afirma, inclusive, serem as percepções dos mate-
riais – alguns, incluindo Cortez, chegaram a chamar os códices de “livros que
não se compreendem” – importantes para a preservação desses registros em
bibliotecas ou gabinetes. O binômio registrar/narrar, manifestando-se tão
primitivo quanto seus produtores, fundamentou o cambaleante processo
quase etnológico, cimentando o pensamento científico do estudo do homem
mais à frente, como discorre Marcos Martins:
Em 1987, Afferghan publicou um estudo sobre os relatos
da descoberta da América e o nascimento da antropo-
logia. Investindo sua atenção na estrutura discursiva
desta literatura de viagem, o autor mostra uma dupla
passagem mediada pela transformação do ato de conhe-
cer que, se vinha impregnado pelos modos de apreensão
medievais por saberes difusos mergulhados na magia,
por outro lado desembocaria num processo científico
ordenador da racionalidade baseado na observação
e na comparação. Portanto, passagem da surpresa e
do inominável do encontro, transcrita em alegorias à
aceitação do status de homens aos seres exóticos nunca
dantes observados, ao processo metódico e utilitário
de dominação e exploração (MARTINS, 2014, p. 02).
As discussões teológicas sobre a legalidade da escravidão indígena cor-
reram, como se sabe, até o início do século XVI, com os julgamentos de
Valladolid, culminando na substituição do uso da mão de obra indígena
pela africana. Isso incorreu em um massivo tráfego humano da África para
as Américas, o que respaldou a copiosa vinda de negros escravizados para o
Brasil ainda na década de 1570 (GROSFOGUEL, 2016; MARCHANT, 1943).
É em função das controvérsias que os escritos de Bartolomé de Las Casas
sobre a natureza da escravidão se espalharam pela Europa, em traduções de
Benzoni. Em contato não só com esses, mas também outros trabalhos, é que
Michel de Montaigne se debruçou sobre o estudo filosófico-antropológico
dos povos americanos (TALADOIRE, 2018).
Os escritos de Montaigne percorreram o espectro observacional da antro-
pologia, do filosófico ao etnológico, e, principalmente, foi por meio deles que
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
177
a perspectiva sobre o indígena em seu ambiente cultural foi levada à Europa,
com suas produções sobre os tupinambás e suas práticas antropofágicas (TA-
LADOIRE, 2018). Um fato curioso é que esse contato não foi completamente
unilateral, ou seja, os índios, naquele momento, também puderam criticar a
sociedade europeia da época, criando assim, Montaigne, um relato filosófico
quase jornalístico, lançando luz às discussões comparativas sobre a cultura e
o olhar sobre o Outro. Trata-se de indagações que só viriam a tomar fôlego
nos estudos etnológicos, com os trabalhos de Franz Boas, já em meados do
século XIX; discorre Taladoire sobre a audácia das provocações ensaísticas
de Montaigne:
Sua curiosidade o levou a falar pessoalmente com vários
tupinambás, a escutar seus comentários e transcrever,
em seu capítulo “Des cannibales” (2007, livro I, cap.
XXI), sua perplexidade a propósito de seus estranhos
costumes e das injustiças da sociedade francesa mo-
derna de seu tempo (Bataillon, 1959). (...) O caráter
provocativo do texto de Montaigne, por sua “apologia”
ao canibalismo, visava sobretudo a criticar os vícios e
defeitos de nossas sociedades, contrastando a violência
dos conquistadores e as práticas alimentares dos tupi-
nambás (Chinard, 1911; Lafaye, 2001; Lestringant, 2005)
(TALADOIRE, 2018, p. 52, tradução nossa).103
A presença de indígenas na Europa do século XVI influenciou não apenas
o pensamento científico, mas também muitos dos escritores mais famosos
à época como Rousseau, Voltaire, Thomas Morus, William Shakespeare e
grandes autores da literatura espanhola, como Cervantes (HONOUR, 1975
apud TALADOIRE, 2018). Emma Martinell (1992) apresenta em sua obra
La Comunicación Entre Españoles e Indios: Palabras y Gestos um estudo sobre
as evoluções do espanhol em função dos contatos com as línguas ameríndias
e o idioma europeu, apresentando na literatura a inserção de palavras de
103
Su curiosidad lo llevó más tarde a hablar personalmente con varios tupinambá, a escuchar
sus comentarios y a transcribir, en su capítulo “Des cannibales” (2007, libro I, cap. XXI), su
perplejidad a propósito de sus extrañas costumbres y de las injusticias de la sociedad francesa
de su tiempo (Bataillon, 1959). (...) El carácter provocativo del texto de Montaigne, debido a su
“apología” del canibalismo, apuntaba sobre todo a criticar los vicios y los defectos de nuestras
sociedades, poniendo en contraste la violencia de los conquistadores y las prácticas alimenticias
de los tupinambá (Chinard, 1911; Lafaye, 2001; Lestringant, 2005) (TALADOIRE, 2018, p. 52).
178 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
origens tropicais na produção de grandes escritores como Tirso de Molina
(TALADOIRE, 2018).
Munne et Moringo (1979; 1985 apud TALADOIRE, 2018) explicam
que a quantidade de vernáculos apropriada pelo idioma espanhol foi tão
vasta que culminou na criação de dicionários de americanismos, apontando
a gama de palavras e expressões de origem alimentar, religiosa e descritiva
introduzidas ao idioma ibérico. Alguns exemplos são “cacique”, “canibal”,
“jaguar” e “tabaco”.
Ao longo do século XVI, e, por ventura, em alguns locais, até muito
após seu término, o índio constituiu-se figura dúbia no imaginário europeu.
Victor Leonardi (2016) explica que o ameríndio se apresentou de duas formas
aos olhos do homem branco. A primeira, que se projetou pela maioria dos
países da Europa, foi a que deu origem à personificação do bom selvagem.
Essa percepção aconteceu por uma proximidade entre as nações que ocupa-
ram o território americano de fato e aquelas que acompanharam o processo
colonial pelas “beiradas”, isto é, com investiduras isoladas na tentativa de
“abocanhar” territórios, caso da Holanda, por exemplo. A segunda imagem
vem antípoda à primeira, apresentando o indígena com a sorte mais desa-
gradável e desprezível dos adjetivos, corrompendo qualquer noção moral
atrelada àqueles povos. Essa segunda ideia é, em grande parte, conforme
explicado por Leonardi, reservada às mentes ibéricas.
Renomados autores, historiadores e críticos, os quais contribuíram à soli-
dificação da primeira e, até Gilberto Freyre, mais fundamental base intelectual
sociológica brasileira, inocularam suas doses do que mais tarde se chamaria
racismo, eugenia e frenologia, nas veias da historiografia do Brasil. Leonardi
(2016) aponta a importância de alguns desses autores, como Francisco Adolfo
de Varnhagen, que se situa como autor fundante de uma historiografia que
não apenas registrou o passado, mas moldou o futuro.
A obra História do Brasil, publicada no início do século XVII pelo Frei
Vicente de Salvador, é, segundo Leonardi, a primeira obra de história do
Brasil, e nela o autor afirma que os índios “carecem de fé, de lei e de rei” e que
“só se distinguiam em serem uns mais bárbaros que outros” (SALVADOR,
1975, p. 78 apud LEONARDI, 2016). Rocha Pombo, em sua versão de História
do Brasil, nomeia os indígenas, num capítulo sobre o regime colonial, como
“matilha de depredadores, dificilmente subjugáveis” (LEONARDI, 2016).
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
179
Mesmo aqueles que caminhavam na esteira da intelectualidade erudita
da classe crítica e letrada do Brasil também se dobravam às conquistas civili-
zatórias, vendo na destruição dos povos ameríndios uma mera consequência,
um preço a se pagar pelo progresso. A questão moral, ainda que evocada na
premissa de um debate humanístico sobre a medievalidade maquiavélica
dos meios necessários aos fins, foi soterrada pela glória e epopeia vistas nas
conquistas e desbravamentos dos sertões e matas. O progresso veio pelas
mãos daqueles heróis nacionais, como os bandeirantes (LEONARDI, 2016).
O Visconde de Taunay, do alto de sua destreza literária, enalteceu as missões
bandeiristas de apresamento e tomou suas consequências genocidas como
balanceadas por violências ainda mais cruéis cometidas por outros Estados:
O regime do homo homini lupus floresce até hoje e du-
rante a segunda conflagração mundial teve dias sobre-
modo gloriosos, como talvez jamais os contou, com o
extermínio de milhões de criaturas (...). Grande coisa,
pois, que no Brasil dos primeiros séculos haja existido
esse ciclo da preia ao índio que Handelmann chama
uma das mais negras manchas da história brasileira e
para a qual não há nenhuma desculpa (TAUNAY, 1975,
p. 20 apud LEONARDI, 2016, p. 24).
Entretanto, cabe ressaltar que a figura do índio vai, mesmo sob tais in-
fluências, sofrer diversas modificações ao longo da história do Brasil, por meio
da literatura e das mudanças sociais que o país, em busca de uma identidade
intelectual e artística autênticas, sofrerá.
A literatura como fonte historiográfica, que se apresenta, como afirma
Terry Eagleton (1978), como um reflexo documental da história, mostra a
causa indígena, assim como a antiescravista, como parte fundante dos dis-
cursos intelectuais que impactaram as correntes teóricas do estudo do belo
e seus desdobramentos sociais e políticos ao longo do Brasil Império e da
República Velha, principalmente.
A primeira geração romântica, assim chamada indianista, vociferou, nas
vozes de José de Alencar e Gonçalves Dias, contra diversas formas de opressão
aos índios. A própria busca pela identidade pátria fomentou nos primórdios
do movimento indigenista um fôlego de autenticidade que reverberou na
sociedade letrada por meio de muitos escritores, historiadores e críticos,
como Capistrano de Abreu, que chegou a afirmar:
180 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
O indianismo é um dos primeiros pródromos buscados
do movimento que enfim culminou na independência:
o sentimento de superioridade a Portugal. Efetivamente
era necessária mudança grave nas condições da socie-
dade, para que a inspiração se voltasse para as florestas
e íncolas primitivos, que até então evitara, mudança
tanto mais grave quanto o indianismo foi muito geral
para surgir de causas puramente individuais. A verda-
deira significação do indianismo é dada pelos contos
populares. [...] Esses contos, tendo por herói eterno o
caboclo e o marinheiro, são os documentos mais im-
portantes para a nossa história. [...] Nos contos satíricos
facilmente se reconhecem três camadas. Na primeira, o
marinheiro aparece em luta contra a natureza brasileira
[...]; na segunda aparece o caboclo em luta contra a civi-
lização [...]. Nestas duas correntes antagônicas pode-se
ver [...] sintomas e resíduos de resíduos e rivalidades.
[...] Na terceira camada o herói é ainda o caboclo; mas o
ridículo como que está esfumado, através, sente-se não
só a fraternidade como o desvanecimento. É a estes últi-
mos contos que se prendem ao indianismo, cujo espírito
levou [os dominados] a adotarem, vangloriando-se, o
nome com que os tentaram estigmatizar (ABREU, 1931,
p. 93-95).
Em suma, o índio foi apresentado ora como ser quase humano, ora como
selvagem de bom coração, mas que desconhece os princípios da criação cristã,
ora como objeto de estudos da etnologia, com sua voz, embora ouvida em
alguns aspectos, raramente estando em primeiro plano, ecoando por outras
bocas e por outras escritas.
2. Imaterialidade e cultura oral
Quando se fala nas culturas imateriais104 dos povos da floresta, alberga-se
num conjunto corpuscular, erigido nas beiradas hegemônicas, as vozes res-
104
Entende-se por patrimônio cultural imaterial ou cultura imaterial as práticas, representa-
ções, expressões, conhecimentos e técnicas - junto com os instrumentos, objetos, artefatos e
lugares culturais que lhes são associados - que as comunidades, os grupos e, em alguns casos,
os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural. Este patrimônio
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
181
sonantes não apenas em suas práticas epistemológicas, as quais atravessam o
espectro do primitivo, lançando-se como o saber que sustenta toda uma gente,
mas também como a arte, os ritos, os rituais, os costumes e as cosmogonias
que perpassam o tempo, seccionando-o, registrando suas vivências para além
do etnográfico. Sob uma égide malinowskiana, essas vozes contemplaram
as realidades brasileiras como objetos de análise, mas muito ansiaram por
serem ouvidas, como na própria construção do cânone, em que as páginas
eram palco dialógico da sociedade, no qual o índio era sempre coadjuvante,
mas nunca protagonista.
A cultura imaterial vem na contramão do processo homogeneizador
colonial de indissociabilidade que cai sobre as identidades indígenas, abrindo
caminhos para a difusão das múltiplas idiossincrasias humanas, suas mani-
festações individuais, sejam religiosas, linguísticas, estéticas ou simbólicas.
Pensar o trânsito imaterial, manifestado pelos costumes, as religiões, a
alimentação, os mitos e os ritos de um povo, perpassando o tempo muito
mais denso do que as construções as quais se prendem à realidade material,
estáticas, é olhar para a cultura oral como pedra fundamental de base da
antropologia de toda uma gente, como elucida Marta Rovai:
[...] a memória expressa por membros de grupos tradi-
cionais, no que diz respeito à produção e à apropriação
de seus saberes, fazeres e hábitos, permite uma noção
muito mais ampla de herança cultural do que a concep-
ção restrita de patrimônio atribuída aos monumentos
materiais (ROVAI, 2013, p. 08).
Hoje, procura-se entender os trânsitos dessa cultura imaterial, não dentro
dos círculos dos povos que dela produzem e consomem, mas fora de seus
epicentros, sua circulação por entre os municípios, cidades e estados; em
suma, na construção cultural da identidade brasileira em si.
Os êxodos culturais, que deixam as florestas em suas centenas de línguas
e se espalham e se materializam pelas páginas em um objeto texto, configu-
cultural imaterial, que se transmite de geração em geração, é constantemente recriado pelas
comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua
história, gerando um sentimento de identidade e continuidade e contribuindo assim para
promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana (UNESCO, 2003).
182 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
ram um novo fluxo cultural dentro das manifestações literárias brasileiras.
O índio, que aparece nas páginas dos livros desde a literatura jornalística do
Quinhentismo, abandona seu estado de personagem secundário, no sentido
de ter sua história contada pelas vozes coloniais, e passa a escrevê-la com seu
povo, suas tradições, costumes, crenças, contos e mitos.
É em Davi Kopenawa, com seu A Queda do Céu, Daniel Munduruku
e seus Contos Indígenas, Ailton Krenak e sua cosmovisão de mundo, Kaká
Jeré Jekupé, Kamuu Dan Wapichana — intimamente e com maestria — e
em muitas outras (escre)vivências, que a literatura rompe com o etnográfico,
costurando o índio na tessitura do real, lançando luz à estéril e destrutiva
realidade da pós-modernidade no antropoceno. Assim, o índio passa de
personagem para produtor de literatura, à medida que sua própria cultura
se integra, não mais de forma homogênea, mas na premissa de compor os
matizes que delimitam as linhas multiculturais da cultura brasileira.
Nesse fazer e refazer de suas histórias nas páginas, a composição indígena
mostra as relações dos povos originais com o seu meio e com suas espacialida-
des, isto é, sua conexão com a natureza, sua visão cosmogônica, a defesa de sua
cultura, sua língua e seu povo. Nota-se como temática recorrente nessas pro-
duções literárias o meio ambiente e a destruição do espaço natural – não à toa
a figura do índio virou inimiga do fascismo que atualmente ameaça o Brasil.
3. O Sopro da Vida
A literatura reverbera pela imaterialidade, oral e mitológica dos povos
haliêuticos, das matas e das serras, por suas (escre)vivências, residindo na
etnoprodução artística indígena a potente relação entre signos numa pers-
pectiva oral, literária, folclórica, plástica e etnográfica, mostrando a cone-
xão dialética, polissêmica e autopoiética entre a arte mitológica, totêmica
e antropomórfica das cosmogonias das florestas e a produção artística em
múltiplas vertentes.
O antropomorfismo é um elemento fantástico muito comum na literatura
indígena dos povos brasileiros. A figura do espírito que toma forma de um
animal ou que é encarnada nos saberes tradicionais por meio das gerações
compõe a forte relação binomial entre o antrópico, físico e presente, com o
totêmico, desencarnado, passado. Yeleazar Meletinski afirma que:
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
183
Encontra-se com frequência nos contos os motivos tí-
picos dos mitos totêmicos (...). É bem evidente a ampla
divulgação da ancestralidade mitológica do conto mara-
vilhoso sobre o casamento com o ser totêmico, mágico
que deixa temporariamente a forma de animal e assume
a aparência humana (MELETINSKI, 2020, p. 314).
Kamuu Dan Wapichana lança mão de uma literatura em que claramente
se nota esses aspectos dualísticos na formação do seu texto. Com seu O Sopro
da Vida — Putakaryy Kakyary, em Wapichana, língua do tronco Aruak —
Wapichana apresenta, num texto simples, suave e ao mesmo tempo reflexivo e
filosófico, as características mais marcantes da literatura daqueles que recebem
suas histórias pela boca do tempo, mas que ensaiam suas danças de vida nos
mesmos palcos que seus ancestrais: nas cabeceiras dos rios, no meio da mata,
pisando na mesma terra e bebendo da mesma água.
Ao se observar o conjunto de signos que compõe a obra O Sopro da
Vida, evidencia-se de sobressalto as inerentes e idiossincráticas caracterís-
ticas projetivas dos textos mitológicos e lendários. É em Wyn Dan, menino
Wapichana, jovem e ingênuo, que vive no Cerrado, procurando entender o
que adoece as plantas bebês — como ele chama as sementes — que se tem a
personificação da inocência, da curiosidade e da percepção do espaço que
marcam a literatura indígena. Ele busca a sabedoria que vem de seu povo para
curar as sementes do mundo, observando os pajés que chegam ao Cerrado
para tratar dos doentes.
É em Wyn Dan que também reside o início do processo literário da
lenda: a construção do herói. Primeiramente, tem-se que a distinção entre
conto, ou lenda, e mito é muito sutil. Meletinski esclarece que:
No folclore arcaico, a distinção mito e conto é difícil de
precisar. Os próprios nativos dividem as tradições em
duas formas [pynyl e lymnyl] entre os tchukotos; kheve-
nokho e khekho, entre os Benin; liliv e kukvanebu entre
os nativos de Kirtwina da Melanésia e assim por diante.
Entre os pesquisadores, não há dúvida de que a origem
do conto seja o mito (MELETINSKI, 2020 p. 314).
Para Cascudo (2001, p. 328), “as lendas são episódios heroicos ou senti-
mentais, com elemento maravilhoso ou sobre-humano, transmitido e conser-
184 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
vado na tradição oral e popular, localizável no espaço e no tempo.” Wyn Dan
aparece, então, para o leitor, ora como o herói de uma narrativa fantástica,
quando, ao invés de um percurso épico, como nas poesias clássicas, o que o
aguarda é o descascar de suas etapas de desenvolvimento, nas quais a forma-
ção da personagem, do total desconhecimento ao saber dialógico recebido por
seu povo, vai se formando perene e sábio sob o olhar do legente, enfrentando
a si mesmo ao longo do texto; ora ele surge como o construto mitológico de
explicação da perpetuação epistemológica que flui de sua gente, por meio dos
espíritos xamânicos que carregam os saberes já conquistados e que trazem
alimento e vida àqueles que os sabem ouvir.
A construção imagética do espaço natural também ocorre diante do olhar
do leitor, porém de forma tão sutil, que há uma ressonância entre o crescer do
indivíduo narrador e a sua espacialidade natural, como se pode observar no
trecho “Coletava folhas, flores, galhos, enfim uma variedade de coisas novas
pra sua memória. Escalava com propriedade pequenos arbustos e descobria
cada vez mais o seu universo.” (WAPICHANA, 2019, p. 14, grifo nosso). Seu
crescer e desenvolver acontece uníssono ao entendimento e percepção de seu
arredor. Aqui também é evocado o conceito de memória.
Numa perspectiva imaterial, oral, a memória fornece um tecido de rea-
lidade que permite a transmissão e assimilação da informação através do
tempo. Não é necessário demasiado esforço para perceber como ela é o motor
que sustenta os fluxos epistemológicos que cedem àqueles que lhes intercep-
tam, o viver e a progressão no andor de suas sobrevivências, pois somente
pela memória um indivíduo recupera facilmente o saber do seu antepassado.
Dentre os muitos conceitos teóricos de memória, tem-se que as caracte-
rísticas antropológicas dos povos das florestas são melhor entendidas numa
perspectiva que contemple paralelos entre aquelas histórias coletivas e indivi-
duais. Schmidt et Mahfoud (1993, p. 04) se baseiam em Maurice Halbwachs
(1988) para afirmar que “o indivíduo que lembra é sempre um indivíduo
inserido e habitado por grupos de referência; a memória é sempre construída
em grupo, mas é também, sempre, um trabalho do sujeito”. Portanto, quando
Wyn Dan constrói sua memória individual, está imbuída ali uma alegoria
representativa da materialização de um corpo social, passado, presente na
personagem, e futuro, construtor do porvir.
Esse ciclo de aprendizados e reaprendizados que encerra a memória
coletiva constitui a projeção abstrata da mente que armazena a episteme por
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
185
instrumento do tempo, e o acessar dessas memórias, mesmo que individual,
evoca o todo, o povo na pessoa de cada indivíduo, em todos os fluxos tem-
porais, pois, como afirma Halbwachs (1990):
Se nossa impressão pode apoiar-se não somente sobre
nossa lembrança, mas também sobre a de outros, nossa
confiança na exatidão de nossa evocação será maior,
como se uma mesma experiência fosse começada, não
somente pela mesma pessoa, mas por várias (HALB-
WACHS, 1990, p. 25).
Sobre a estética literária, sabe-se que a confluência das gênesis de ele-
mentos plásticos vai ao encontro de um conjunto de signos que se interrela-
cionam, mas que residem em espaços materiais distintos, isto é, a exploração
de objetos físicos, naturais do circundante, como sementes, galhos, folhas,
cabaças e plumas, na literatura, nada mais é do que a intersemiose entre as
plásticas materiais105 e imateriais. Sobre a natureza da expressividade material
dos povos indígenas, Ricardo Carvalho afirma que:
O sistema de técnicas dentro das sociedades indígenas
brasileiras a caracteriza como uma civilização vegetal.
Isto devido ao desconhecimento do uso de metais e à
parte da cerâmica e plumária, e a utilização de pedras
e ossos, fazendo uso principalmente de materiais de
origem vegetal: madeiras, embiras, cipós, palhas, fibras,
resinas, óleos, nozes, corcubitáceas, na fabricação de
seus objetos (CARVALHO, 2003, p. 12).
O lançar mão dos elementos físicos dentro da literatura indígena, impli-
cando a eles características místicas e/ou sencientes, como nas sementes que
Wyn Dan busca curar, decorre também da natureza ágrafa das sociedades
ameríndias do Brasil, em que o fazer e o refazer narrativo se completam pelo
105
Entende-se como material, cultural e antropologicamente falando, a produção física de um
povo, de suas matérias primas próprias, o amálgama de técnicas e epistemes produtivas que lhes
dão forma. A arte plástica, a vestimenta, a indumentária, a instrumentalidade, a arquitetura,
a visualidade, a tintura e tantas enumeráveis formas de construções físicas que tomam forma
pelas culturas humanas constituem materialidade.
186 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
grafismo pictoglífico que interage com o signo textual para completá-lo e
expandi-lo. Elisa Thiago assim afirma sobre o tema:
Quando se trata do texto multimodal de autoria indí-
gena, desenho volta-se à concretização de processos
não-lineares e complexos presentes no conhecimento
indígena centrado que é em lugar e toma a forma vi-
sual de desenhos figurativos e padrões geométricos nas
cartilhas indígenas. Já escrita, devido a sua dependência
na fala, vincula-se à concretização de processos linea-
res na forma de fonemas/grafemas. (...) A tradição oral
indígena tende a construir significados que superam
os princípios preponderantemente tipológicos da se-
mântica linguística, o que provoca uma demanda pela
integração desses significados com as modalidades mais
topológicas da semiótica visual (...) (THIAGO, 2007,
p. 195-196).
Assim, os desenhos que acompanham a narrativa, à mão de Marco An-
tonio Viana e Andrea Diogo, vêm na premissa de unir o texto à imagem na
construção do arquétipo literário indígena, que rompe muito com o utilita-
rismo do gráfico em seu quotidiano, como nos desenhos de seus utensílios
e em seus próprios corpos, fechando, assim, um encerro literário sensível e
ao mesmo tempo vibrante aos olhos.
Wyn Dyn, filho da chuva, em sua historieta, prende o leitor em seu es-
paço natural, mostrando o seu crescimento e a importância dos saberes de
seu povo. Kamuu Dan Wapichana escolhe com sabedoria e simplicidade as
palavras para recontar ao mundo essa história fantástica, singular e cativante,
e mostrar, assim, o poder da literatura da floresta.
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
187
REFERÊNCIAS
ADORNO, T. W. Introdução à Sociologia da Música: doze preleções teóricas. Tra-
dução de Fernando R. de Moraes Barros, São Paulo: Editora UNESP, 2011.
BENJAMIN, W. A obra de arte na época da sua reprodução mecanizada. In: Zeits-
chrift für Sozialforschung V, Paris, 1936 - cahier n. 1, Lib. Alcan. Tradução de João
Maria Mendes. Armadora: Escola Superior de Teatro e Cinema, 2010.
CARVALHO, R. A. P. Grafismo Indígena: Compreendendo a representação abstrata
na pintura corporal Asurini. Orientador: Luiz Antonio Coelho. 2003. 51 p. Trabalho
de Conclusão de Curso (Graduação) - Desenho Industrial, Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2003. Disponível em: https://www.ricar-
doartur.com.br/GrafismoIndigena.pdf. Acesso em: 22 de maio de 2022.
CASCUDO, L. C. Dicionário do folclore brasileiro. 10. ed. São Paulo: Global, 2001.
DA CONCEIÇÃO COSTA, L. A. Estudo Lexical dos Nomes Indígenas das Re-
giões de Aquidauana, Corumbá e Miranda no Estado do Mato Grosso do Sul: A
Toponímia Rural. Dissertação de Mestrado: Universidade Federal do Mato Grosso
do Sul, Três Lagoas: 2011.
HALBWACHS, M. A. Memória coletiva. Tradução de Laurent Léon Schaffter. São
Paulo, Vértice/Revista dos Tribunais, 1990. Tradução de: La mémoire collective.
LAGORIO, C. A.; REIRE, J. R. Bessa Aryon Rodrigues e as Línguas Gerais na histo-
riografia linguística. DELTA: Documentação de Estudos em Lingüística Teórica
e Aplicada [online]. 2014, v. 30, n. spe [Acessado 6 Dezembro 2021], pp. 571-589.
Disponível em: https://doi.org/10.1590/0102- 445008157345493422.
LEONARDI, V. P. B. Entre Árvores e Esquecimentos: A Modernidade e Os Povos
Indígenas no Brasil – História Social dos Sertões. Brasília: EDU-PARALELO 15, 2016.
MARTINELL GIFRE, E. La Comunicación entre Españoles e Indios: Palabras y
Gestos. Madrid. MAPFRE, 1992.
MARTINS, M. C. Os autos jesuítas no século XVI: elementos para o processo de
emergência do brasileiro. In: 29ª Reunião Brasileira de Antropologia, 2014, Natal.
Anais da 29ª Reunião Brasileira de Antropologia, 2014.
MALDONADO-TORRES, N. religion, conquête et race dans la fondation du monde
moderne/colonial. In: MESTIRI, M.; GROSFOGUEL, R.; SOUM, E. Y. (Eds.). Isla-
mophobie dans le monde moderne. Paris: IIIT, 2008.
MOTT, L. As amazonas: um mito e algumas hipóteses. In: VAINFAS, R. (Org.).
América em tempo de conquista. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1992, pp. 33-57.
NETO, C. A. M. Os principais grupos missionários que atuaram na Amazônia bra-
sileira de 1607 e 1759. In: HOORNAERT, E. História da Igreja na Amazônia. Pe-
trópolis: Vozes, 1992.
188 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
RODRIGUES, A. D. Línguas Indígenas: 500 Anos de Descobertas e Perdas. Delta, v.
07, n. 01, 1993, p. 83-103. Disponível em<:https://revistas.pucsp.br/index.php/delta/
article/view/45596/30129>. Acesso em dez. 2021.
ROVAI, Marta Gouveia de Oliveira. Tradição oral e patrimônio imaterial: o papel
da memória na luta por políticas públicas na Comunidade de Canárias, Maranhão.
Resgate: Revista Interdisciplinar de Cultura, Campinas, v. 21, n. 1, p. 7–16, 2013
SCHMIDT, M. L. S.; MAHFOUD, M. Halbwachs: memória coletiva e experiência. Psi-
col. USP, São Paulo, v. 4, n. 1-2, p. 285-298, 1993. Disponível em <http://pepsic.bvsalud.
org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-51771993000100013&lng=pt&nrm=-
iso>. Acesso em 22 maio 2022.
SILVA, O. B. O Sopro da Vida: Putakaryy Kakykary – uma história para colorir de
Kamuu Dan Wapichana. São Paulo: Expressão Popular, 2019.
TALADOIRE, E. Da América à Europa: Cuando Los Indígenas Descobrieran El
Viejo Mundo (1493 – 1892). Fondo de Cultura Economia: Ciudad de Mexico, 2017.
THIAGO, E. M. C. P. S. O texto multimodal de autoria indígena: narrativa linear e
interculturalidade. 2007. Tese (Doutorado em Estudos Linguísticos e Literários em
Inglês) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São
Paulo, São Paulo, 2007.
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
189
11
190 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
“SALT-WATER CITY”: A RACIALIZAÇÃO
DE VANCOUVER EM DISAPPEARING
MOON CAFÉ, DE SKY LEE E THE JADE
PEONY, DE WAYSON CHOY
DOMENIC BENEVENTI106
TRADUÇÃO DE MARCO AURELIO BARSANELLI DE ALMEIDA107
REVISÃO DE FERNANDO LUÍS DE MORAIS108
Walter Pache já sugeriu que “não há uma tradição homogênea de escrita
urbana, nem a escrita urbana tem atraído muita atenção das críticas até o
momento” (PACHE, 2002, p. 1149). Uma longa tradição de escrita inspirada
na natureza, o ritmo relativamente lento da urbanização e a “forte depen-
dência de Londres como metrópole imperial” (PACHE, 2002, p. 1149) são
responsáveis pela escassez da literatura urbana e sua recepção crítica neste
país. Se no fim do século XIX a cidade, tanto na Europa quanto na América,
era considerada um símbolo da rápida modernização do mundo ocidental, no
Canadá ela “desempenhou apenas um papel moderado e marginal” (PACHE,
2002, p. 1149). Isso porque o Canadá tem sido visto consistentemente como
periférico em relação à metrópole imperial, uma “incipiente cultura urbana
das margens” (PACHE, 2002, p. 1150), cujas idiossincrasias “provincianas”
106
Doutor em Literatura Comparada pela Université de Montréal, Canadá. Professor da Fa-
culdade de Letras e Ciências Humanas da Université de Sherbrooke, Canadá.
107
Doutor em Letras pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP).
Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas (IBILCE). São José do Rio Preto – SP – Brasil..
108
Doutor em Letras pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP).
Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas (IBILCE). São José do Rio Preto – SP – Brasil.
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
191
são descritas em benefício de um público europeu faminto pelo exotismo das
colônias. Onde escritores modernistas europeus e americanos construíram
a cidade como um espaço no qual a liberdade individual e a moralidade
eram negociadas contra um pano de fundo de adversidade social e conflito
de classes, escritores coloniais e nacionalistas canadenses ofereceram “uma
contranarrativa nostálgica”, um suplemento colonial ao ‘conto mestre’” (2002,
p. 1151) do Império. Tal fato se deu porque o Canadá foi mitificado como “não
urbanizado e não literário, como um interior britânico rural e leal” (PACHE,
2002, p. 1151) cujas cidades eram frequentemente “codificadas como exten-
sões urbanas da natureza” (PACHE, 2002, p. 1151). É somente na década de
1930, em meio ao movimento modernista, que escritores canadenses como
Morley Callaghan e Hugh MacLennan foram “atraídos para o vórtice” (PA-
CHE, 2002, p. 1151) do modernismo urbano. Atentos a Paris e Londres, esses
escritores deram uma interpretação “realista” da vida nas ruas de Montreal e
Toronto, e marcaram a transição de uma sensibilidade predominantemente
rural para uma sensibilidade predominantemente urbana.
Enquanto os imaginários de sociedades de colonizadores, como o Ca-
nadá, são “histórias profundamente especializadas” (RAZACK, 2002, p. 3),
os discursos da colonização e da construção da nação produziram um “não
lugar” aos sujeitos marginalizados. Relegar populações imigrantes a espaços
de gueto racializados e populações aborígines a reservas dentro do Canadá
evacua efetivamente a “alteridade” para um local periférico, “condenando-as
a um tempo e espaço anacrônicos” (RAZACK, 2002, p. 2). O fato de tais “cor-
pos estrangeiros” terem ocupado o território canadense desde o início de sua
história é negado ou apagado na criação do país como um espaço colonial
ostensivamente homogêneo. O conceito de “branquidade” tem sido consis-
tentemente um aspecto integral dos discursos nacionalistas no Canadá, desde
seu surgimento como um posto avançado do império colonial até seu status
como membro independente da Commonwealth britânica. Mesmo enquanto
Estado-nação moderno, a valorização relativamente recente da “diferença”
multicultural do Canadá depende da “autoridade” de uma história e uma
cultura europeia branca, em contraste com a qual as minorias são definidas.109
109
A raça e a racialização no discurso nacionalista canadense têm sido teorizadas por uma
série de estudiosos trabalhando a partir de uma variedade de disciplinas. A obra The Vertical
Mosaic, de John Porter (1965), indica que os anglo-saxões brancos e protestantes ocupavam
um lugar de privilégio na hierarquia socioeconômica canadense, enquanto minorias visíveis
e nativos ocupavam seus degraus mais baixos. Veja também Ethnicity in Canada: Theoretical
192 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
Em Geographies of Exclusion (1995), David Sibley descortina algumas das
práticas e discursos espaciais ocultos que passaram a dominar em sociedades
industrializadas ocidentais, argumentando a necessidade de “examinar as
suposições sobre inclusão e exclusão que estão implícitas no planejamento de
lugares e espaços” (SIBLEY, 1995, p. x). Levando em consideração a afirmação
de David Sibley de que “a paisagem humana pode ser lida como uma paisagem
de exclusão” (SIBLEY, 1995, p. ix), argumento que, na necessidade de definir
o espaço canadense como coexistente a uma identidade nacional coletiva
cujas raízes repousam em seu passado colonial inglês, o governo canadense,
por um lado, e a maioria branca dominante de Vancouver, por outro, empre-
garam discursos e práticas espaciais de exclusão para “expulsar”, tanto física
quanto simbolicamente, o outro sino-canadense desse espaço privilegiado.
Usando como exemplos as obras Disappearing Moon Café (1990), de Sky
Lee, e The Jade Peony (1995), de Wayson Choy, demonstro que mapeamentos
nacionalistas da paisagem canadense são uma tentativa de “evacuar” o outro
racial do corpo coletivo da nação. O olhar orientalizador não apenas define e
“fixa” corpos estrangeiros dentro dos limites do gueto étnico, como também
os exclui dos locais mais privilegiados da cidade, identificados com a classe
média branca dominante.110
Em Disappearing Moon Café, Sky Lee adota uma variedade de perspec-
tivas temporais e narrativas a fim de traçar a intricada história da família
Wong – desde os mais profundos recessos das primeiras comunidades mi-
neradoras da província, até o coração da Chinatown de Vancouver. Kae, o
narrador moderno, tenta “recuperar” uma árvore genealógica matrilinear que
começa com Chen Gwok Fai, um trabalhador itinerante que foi encarregado
da tarefa de recolher os ossos de Chinamen,111 pessoas de origem chinesa,
mortas ao longo da costa da Colúmbia Britânica na década de 1890. A árvo-
Perspectives (1981), de Anderson e Frideres; Ethnicity and Ethnic Relations in Canada (1980),
de Bienvenue e Goldstein; e Race and Ethnic Relations in Canada (1999), de Li.
110
Foucault demonstrou como várias formas de subjetividade foram criadas por meio da
institucionalização do poder. Em prisões, hospitais e asilos, um novo tipo de sujeito foi criado
mediante a aplicação de minuciosos processos de vigilância, disciplina, arregimentação e exa-
me, produzindo corpos subjugados e dóceis. O gueto étnico, como forma institucionalizada de
discurso espacial, também produz subjetividades encarnadas (o outro oriental, o estrangeiro
residente) por meio de várias formas de vigilância e controle.
111
Chinaman é um termo ofensivo e, em alguns casos, arcaico. NdT.
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
193
re genealógica é complicada não apenas pelos vários “parentes de papel”,112
contrabandeados ilicitamente para o Canadá, e pelo silenciamento das his-
tórias das mulheres, mas também pelas relações incestuosas dentro de uma
comunidade fortemente unida.
Enquanto o romance de Lee traça toda a história dos imigrantes em
Chinatown, a Vancouver de Wayson Choy é algo mais íntima, limitando-se
às percepções e experiências de três irmãos de uma família de imigrantes
chineses. O romance de Choy examina o processo de aculturação, racismo,
violência étnica e os diversos aparatos estatais (departamentos de imigração
e saúde, polícia) que moldaram a comunidade sino-canadense. Mais vívidas
no relato de Choy sobre suas experiências em Vancouver são as formas pelas
quais a percepção de cada criança acerca do desconcertante espetáculo urbano
é solidificada em categorias de conhecimento; os limites físicos do gueto que
delimitam comunidades e identidades; os dialetos polifônicos e os modos
verbais de tratamento que caracterizam suas hierarquias sociais, fofocas,
contos populares e superstições que dão cor às suas ruas e vielas. Por meio
de sua “leitura sutilmente desconstrutiva da etnia” (LEE, 1999, p. 21), Choy
demonstra que a identidade sino-canadense não é tanto uma máscara mul-
ticultural quanto o é a constante negociação de espaços fronteiriços – físicos,
culturais e linguísticos: “O sujeito sino-canadense deve sempre negociar essas
posições contraditórias, e a identidade racializada emerge como um local de
hibridismo e contaminação” (LEE, 1999, p. 25).
Na seção seguinte, examino a representação dos espaços rurais canaden-
ses nos romances em discussão, argumentando que enquanto os discursos
nacionalistas apagam o corpo oriental da paisagem canadense, os chineses
oferecem seus próprios modelos espaciais que refletem uma história única
de transitoriedade e marginalidade naquele espaço. Essas “espacialidades de
práticas culturais contra-hegemônicas” (KEITH, 1993, p. 6) questionam os
paradigmas espaciais que procuram evacuar ou, de alguma forma, “conter”
aqueles corpos étnicos que ameaçam a “mesmice” da política corporal.
Termo utilizado para se referir a pessoas de origem chinesa que falsificavam documentos
112
para simular legalidade ao entrar em outros países, passando-se por parentes de cidadãos dos
países de destino. NdT.
194 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
O corpo “residual” chinês no espaço colonial canadense
Tanto em Disappearing Moon Café quanto em The Jade Peony, o espaço
rural canadense é articulado de várias maneiras, aparentemente incalculá-
veis. Para o governo canadense, a paisagem representa uma oportunidade
econômica intocada – um recurso a ser dominado, pesquisado, construí-
do e explorado – como um espaço vazio que deve ser “preenchido” com o
gesto civilizador da colonização. O imaginário espacial de uma sociedade
colonizadora como o Canadá oferece um “não lugar” aos muitos trabalha-
dores migrantes chineses usados como mão de obra barata na conclusão da
ferrovia.113 O fato de tais “corpos estrangeiros” terem ocupado o território
canadense desde o início de sua história é negado ou apagado na criação do
Canadá como um espaço colonial branco:
Percepções particulares da ideologia colonial podem ter
sido inscritas em ideologias locais específicas do impé-
rio. Estas sublinharam as definições de “eu” e “outros”
que estavam no cerne de entendimentos espacialmente
diversos e contraditórios de nação, branquidade, po-
der, sujeição, Commonwealth, e que foram instalados
no coração da metrópole imperial (KEITH, 1993, p. 17).
No discurso colonialista, o novo mundo é visto como um espaço neutro
desprovido de sentido, um “estado de natureza” que carece do olhar estrutu-
rante da autoridade colonial europeia. Richard Cavell (1994) argumenta que
tal modelo espacial se torna crucial para a retórica expansionista do império:
“O espaço colonial foi representado como uma ausência [...] na medida em
que a terra foi configurada como Utopia, sua existência material foi desva-
lorizada, abrindo assim o caminho, ideologicamente, para sua exploração”
(CAVELL, 1994, p. 82). Se o centro do Império está ausente, então o Canadá
também está; sua “periferia” e qualquer esforço para reproduzir esse espaço
113
Se a ferrovia tem sido um mito fundacional da nação, cuja ligação do leste com o oeste
simboliza a industrialização canadense e o domínio sobre seu imenso território, seu significado
simbólico para os grupos excluídos é bem diferente. Para os nativos de The Ecstasy of Rita
Joe, de George Ryga, a ferrovia torna-se uma ameaça física que destrói o corpo “selvagem” do
indígena, enquanto que para os afro-canadenses que serviram como carregadores, as ferrovias
passaram a representar a precariedade econômica e a limitada mobilidade social.
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
195
periférico torna-se um exercício para restaurar a falta em seu centro, uma
tentativa de manter a legitimidade da autoridade colonial.
De fato, uma das ferramentas discursivas mais eficazes na representa-
ção e exclusão espacial é o mapeamento, sejam os extensos levantamentos
geológicos necessários para a conclusão da ferrovia, ou os mapas urbanos
que transformam os “pântanos” de Vancouver em uma grade de ruas e becos
facilmente negociável. Enquanto os mapas produzem um discurso espacial
que “procura impor uma ordem abstrata ao espaço material como parte de
um programa de apropriação” (CAVELL, 1994, p. 83), são os deslizes dentro
desses esquemas de representação que provam sua própria anulação. O mapa
“subverte sua própria autoridade ao negar sua capacidade de reapresentar o
mundo verdadeiro e real” (NASH, 1993, p. 52), e as inconsistências, as omis-
sões e os deslizes que ocorrem em tais representações reducionistas revelam
gritantemente o “desejo colonial de controlar a terra e colocar seus súditos
dentro de espaços dominados” (PILE, 1993, p. 5).
Em Disappearing Moon Café, o mapeamento como estratégia de conten-
ção e controle necessário ao projeto da nação é minado do ponto de vista dos
excluídos. Enquanto o espaço “vazio” do deserto canadense é transformado
em “lugar” por meio de sua segmentação e divisão em seções numeradas da
ferrovia, tais mapeamentos elidem a presença dos trabalhadores chineses que
construíram a ferrovia que estrutura esse espaço. Gwei Chang, um jovem
operário que viaja pelo interior da Colúmbia Britânica, é auxiliado por mapas
fornecidos a ele pela Canadian Pacific Railway enquanto procura os locais de
sepultura abandonados e os campos de trabalho daqueles que o precederam:
Ele tinha mapas, com trechos da ferrovia numerados.
Ele apontou os locais de sepultura, descritos ao acaso
no final de cada trecho. Tinha sido informado de que
haveria marcadores, ou moledros, ou algo assim. Quão
difícil poderia ser ...
“Ah! Você é um idiota!” O insulto de Chen o acertou em
cheio. “Venha comigo! Traga isso que vocês chamam de
mapas!” (LEE, 1990, p. 11).
É somente com a ajuda de Chen Gwok Fai, trabalhador
idoso que vive na periferia de um campo de trabalho
abandonado, que Gwei Chang consegue encontrar aqui-
lo que procura. O idoso “examinou os mapas e criticou
as informações” (LEE, 1990, p. 11) na busca por ossos,
196 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
ao se mostrarem inúteis, pois não continham nenhuma
informação sobre a presença chinesa no espaço cana-
dense. O “mapeamento cognitivo” de Chen dos campos
de trabalho e locais de sepultura sinaliza uma história
espacial alternativa do Canadá, que revela a dinâmica
do poder envolvido na representação espacial. Os cam-
pos de trabalho abandonados e os corpos deixados ali
podem ser vistos como um resíduo colonial, um traço
tardio de alteridade oriental na representação cartográ-
fica do espaço canadense. Com sua denúncia enfática
dos mapas oficiais, Chen está de fato envolvido em um
processo de “desnaturalização” que “pretende minar a
ideia de inocência do colonizador branco e descobrir as
ideologias e práticas de conquista e dominação” (RA-
ZACK, 2002, p. 5).114
A rejeição de Chen daqueles mapas que fixaram trabalhadores migrantes
chineses em seu lugar abjeto de descanso ressoa com o entendimento de que
“os mapas não são espelhos vazios, mas, a um só tempo, escondem e revelam
a mão do cartógrafo” (PILE, 1993, p. 48). Ao apagar a presença de sepulturas
e campos de trabalho chineses dos mapas oficiais, documentos e histórias, o
governo canadense, de fato, evacua o outro étnico do corpo coletivo da nação
e o constrói como um poluente que deve ser física e simbolicamente expulso.
Se a paisagem rural canadense é simbolicamente limpa do abjeto e restaurada
a um espaço purificado de privilégio branco, permanece, no entanto, que “a
ontologia do sujeito ocidental necessita e cria o outro: o subalterno silencioso”
(PROBYN, 1990, p. 183).
O mapeamento funciona, de modo parecido, como ferramenta de coloni-
zação em The Jade Peony. O “Nielson Chocolate Map of the World” notavelmen-
te exibido na frente da sala de aula da senhorita E. Doyle sinaliza o discurso do
multiculturalismo no qual os chineses e outros grupos de imigrantes, aquele
“bando misto de imigrantes e deslocados, desordeiros e sujos, legais ou não”
(CHOY, 1995, p. 180), são moldados em “algum coletivo ideal funcionando
como uma unidade militar com um propósito: conquistar o inglês do rei,
pertencer finalmente a um país que ela imaginava incluir todos nós” (CHOY,
114
Em Mapping Men and Empire: A Geography of Adventure (1997, p. 143), Richard Phillips
escreve que “unmap é desnaturalizar a geografia e, portanto, minar as visões de mundo que
sobre ela repousam”.
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
197
1995, p. 180). Este mapa de um Império sitiado na Segunda Guerra Mundial
torna-se mais vívido por meio das cartas da linha de frente que a senhorita E.
Doyle lê para seus alunos. As crianças imigrantes ficam extasiadas com “como
a fumaça subia em nuvens furiosas sobre um lugar chamado Pick-a-dill-lee
Square [...] ‘Nunca nos renderemos’, escreveu John Willard Henry, citando
um homem chamado Churchill, que, a Srta. Doyle enfatizou, era um amigo
leal do Rei e da Rainha” (CHOY, 1995, p. 176).
O mapa, assim como os retratos emoldurados do “Rei Jorge e sua Ra-
inha” que supervisiona as crianças, é uma “insígnia da autoridade colonial
e significante do desejo colonial e da disciplina” (BHABHA, 1994, p. 102)
que não só constrói o espaço canadense como um posto avançado do Im-
pério, mas envolve cada criança imigrante na defesa do próprio poder que a
marginalizou. Os mapas não são, portanto, representações transparentes do
“real”, mas uma forma de discurso espacial que procura controlar, delimitar e
definir os significados sociais, políticos e simbólicos ligados àqueles espaços;
eles regulam e controlam os corpos que ocupam esse espaço, definindo as
fronteiras entre espaços abjetos e privilegiados, tornando-se “tridimensionais
e fluidos, nos e através dos quais os corpos são os pontos de captação de
múltiplas relações de poder, herdadas em encontros simultaneamente reais,
imaginários e simbólicos” (PILE, 1993, p. 44).
Tanto Disappearing Moon Café quanto The Jade Peony revelam que os
modelos espaciais empregados pela comunidade de imigrantes chineses da
Colúmbia Britânica diferem de diversas maneiras daqueles utilizados nos
discursos de construção da nação. John Ralston Saul (1998) argumenta, por
exemplo, que “o fluxo natural no Canadá vai de leste a oeste” não apenas de-
vido à “criação artificial de iniciativas governamentais do século XIX, como
a Ferrovia e a Política Nacional”, mas também por causa dos movimentos de
exploradores, aqueles “pequenos grupos de homens que deram um salto para
o ocidente rumo ao desconhecido” (SAUL, 1998, p. 165), e as consequentes
relações econômicas laterais entre o Alto e o Baixo Canadá. Enquanto o térmi-
no da ferrovia é “um ato de heroísmo físico e determinação política” (SAUL,
1998, p. 174) que simboliza o domínio coletivo sobre a natureza e a imensidão
espacial, sua lógica espacial Leste-Oeste é desmedida em relação aos nós
transnacionais por meio dos quais a comunidade chinesa cresceu e prosperou.
Os movimentos sazonais de trabalhadores migrantes – suas conexões
com a China continental e com São Francisco (que contém a maior Chi-
198 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
natown da América do Norte) – figuram mais proeminentemente em suas
paisagens imaginárias do que a lógica espacial Leste-Oeste descrita por Saul.
Embora a Orla do Pacífico, como paradigma espacial, tenha sido central para
o surgimento da comunidade chinesa no Canadá, ela encontra-se pratica-
mente ausente do imaginário espacial dominante da nação.115 Para a diáspora
chinesa, a própria mobilidade conota significados espaciais e experiências
marcadamente diferentes das da maioria branca. A paisagem é equiparada a
deslocamento, transitoriedade, precariedade econômica e morte. Os trabalha-
dores chineses nos romances de Lee e Choy não veem a paisagem canadense
em termos de fronteiras fixas que delimitam o terreno sobre o qual a iden-
tidade coletiva é construída, mas como um espaço mais fluido de trânsito e
oportunidades econômicas sazonais. Após o Ato de Exclusão Chinês, imposto
pelo governo do Canadá em 1923, a paisagem canadense torna-se um espaço
de contenção, aprisionamento e divisão da família no exterior. Choy lembra
que “milhares vieram nas décadas anteriores a 1923, quando em 1 de julho
o Domínio do Canadá aprovou o Ato de Exclusão Chinês e fechou todo o
tráfego comum de homens solteiros entre o Canadá e a China, impediu a
chegada de quaisquer mulheres e dividiu famílias” (CHOY, 1995, p. 17). Cyn-
thia Wong sugere que para a classe média branca, “o movimento horizontal
através do continente norte-americano regularmente conota independência,
liberdade, uma oportunidade de realização individual e/ou renovação social
– em suma, extravagância” enquanto que para os asiáticos, a mobilidade está
“geralmente associada à subjugação, coerção, impossibilidade de realização
pessoal ou comunitária – em suma, necessidade” (WONG, 1993, p. 121).
Essas imagens contrastantes de fixidez e mobilidade espacial são evo-
cadas em uma cena de The Jade Peony na qual Jung-Sum recebe um casaco
como pagamento por sua ajuda na ironicamente chamada American Steam
Cleaners Shop. Enquanto Jung-Sum fica orgulhosamente parecendo “o jovem
115
A Orla do Pacífico, como um paradigma espacial de construção de nação, alcança breve-
mente a consciência nacional com o influxo de uma próspera comunidade empresarial chinesa
quando a Inglaterra cessa o controle político sobre Hong Kong. Senão, a Orla do Pacífico é
mais comumente entendida e construída como uma rede por meio da qual os “indesejáveis”
refugiados ilegais dirigem-se para as costas da Colúmbia Britânica. Glenn Deer examina a
recepção de “ilegais” asiáticos e sugere que “os asiáticos, na América do Norte, seja recém-saído
do barco enferrujado de um snakehead (contrabandista de pessoas), ou um descendente de
quarta geração de pioneiros asiáticos canadenses, continuam a ser interpelados como uma
alteridade estereotipada e simplificada, por uma narrativa histórica que inclui atos de exclusão,
internação, privação de direitos e tributação discriminatória” (DEER, 1999, p. 6).
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
199
generalíssimo Chiang Kai-shek” (CHOY, 1995, p. 101), é Poh-Poh, o “Velho”,
que revela o “rótulo britânico genuíno de três polegadas [que] retratava um
antigo veleiro navegando em mar tempestuoso” (CHOY, 1995, p. 102). En-
quanto a insígnia conota o poder naval do Império Britânico, literalmente
colonizando o corpo oriental ao cobri-lo, Poh-Poh oferece seu próprio con-
tradiscurso, revelando que “os primeiros chineses chegaram à Gold Mountain
amontoados no porão de carga fedorento de embarcações como esse antigo
veleiro” (CHOY, 1995, p. 102).
Assim como a paisagem canadense se torna significativa por meio de
diversas estratégias de mapeamento utilizadas na construção da ferrovia na-
cional e pela aplicação “racional” de princípios científicos na colonização de
uma paisagem “selvagem”, os “fantasmas” que habitam esse mesmo terreno
também estruturam seu espaço de forma significativa. Embora os trabalha-
dores migrantes chineses em Disappearing Moon Café sejam excluídos dos
modelos espaciais oficiais impostos pela retórica da construção da nação,
suas presenças permanecem marcadas de forma indelével na paisagem cana-
dense. Para Gwei Chang, a paisagem canadense não é apenas um “território
hostil, conduzido por brancos” (CHOY, 1995, p. 16), mas um lugar repleto
de fantasmas de trabalhadores chineses mortos há muito tempo, “sentados
nos dormentes, alguns de pé, sobre cintilante trilho de metal, esperando, res-
mungando. Eles ainda estavam esperando, meio século depois da cerimônia
de corte da fita pelos brancos, no fim da fila, esquecidos como os chineses
geralmente são” (CHOY, 1995, p. 6). Esses corpos e fantasmas “indisciplina-
dos” são os resíduos da construção da nação que se recusam a permanecer
adormecidos: sussurram seus segredos ao coletor de ossos, e os túmulos, que
teriam sido ostensivamente seus lugares de descanso final, são ainda assim
transitórios. Enquanto o espaço rural canadense é fisicamente transformado
pela labuta dos trabalhadores chineses, “suas vozes tiveram que abafar o corte
das iron chinks116 mecânicas nas fábricas de conservas de peixe, desafiando a
gritaria de serras transversais, de dois metros de altura” (CHOY, 1995, p. 201).
116
Máquina que processa peixe para ser enlatado. Inventada em 1903, por Edmund Augustine
Smith, foi nomeada como “Iron Chink” devido ao grande número de trabalhadores chineses
nas fábricas. Chink foi um termo racialmente depreciativo utilizado em referência aos traba-
lhadores chineses. NdT.
200 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
A elisão da presença chinesa em espaços rurais canadenses, assim como
a relegação das populações aborígines às reservas, evacua efetivamente a
“alteridade” a um espaço periférico. Na necessidade de identificar o espaço
canadense como coexistente à “nossa” identidade coletiva, a alteridade étnica
é apagada ou então relegada a um espaço de gueto etnicamente sobredeter-
minado. Essa evacuação do outro ameaçador torna-se o meio necessário
pelo qual a integridade do eu é mantida. “A heterogeneidade cultural do
campo ou da cidade”, assinala Sibley, “tem de ser negada nessas caracterizações
fictícias se de fato objetivam representar uma comunidade nacional imagi-
nada” (SIBLEY, 1995, p. 108). O paralelismo estabelecido entre o território,
tanto rural quanto urbano, e o corpo cultural, político e social hegemônico
é politicamente dinâmico, pois torna qualquer reivindicação sobre o espaço
canadense, por grupos marginalizados, suspeita aos olhos da maioria.
Chinatown: uma geografia de contenção
Em Vancouver’s Chinatown: Racial Discourse in Canada (1991), Kay An-
derson sugere que Chinatown é um terreno contestado, “um local importante
por meio do qual os conceitos da sociedade sobre os chineses foram consti-
tuídos e reproduzidos” (ANDERSON, 1991, p. 4). Por meio da valorização
e aplicação de várias teorias biológicas do século XIX sobre raça, a maioria
da população branca gerenciou os recém-chegados, apropriou-se de espaços
para exploração econômica e definiu uma cultura majoritária aversa às mi-
norias racializadas. Racialização é “o processo pelo qual atributos como cor
da pele, língua, local de nascimento e práticas culturais recebem significado
social como marcadores de distinção” (ANDERSON, 1991, p. 18). A cons-
trução da cidade e da nação foi, assim, permeada por categorias raciais: nos
arranjos territoriais contínuos de uma sociedade colonizadora emergente,
a raça torna-se o “conceito de autoridade” (ANDERSON, 1991, p. 20) em
torno do qual a lei, o governo e o discurso público são organizados. A teoria
racial assim distinguiu “Ocidente e Oriente, civilizado e incivilizado, cristão
e pagão, mestre e escravo. Esses dualismos nós/eles endureceram em torno
da expressão da cor em meados do século XVI e forneceram aos ocidentais e
não ocidentais uma visão de mundo sem a qual a expansão capitalista poderia
não ter sido tão extensa ou influente” (ANDERSON, 1991, p. 22).
Anderson sugere que a assembleia legislativa estabelecida na Ilha de
Vancouver em 1849 “assumiu, na colônia, os meios de controle conceitual
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
201
sobre a definição e o status de todos os colonos” (ANDERSON, 1991, p. 24).
Tal fato tem crucial importância, pois simultaneamente com a autoridade
para definir as políticas de colonização e imigração está a capacidade de
construir categorias raciais e impor seus significados: “Na ambição de cons-
truir uma identidade e comunidade ‘anglo’ dominante, o Estado procurou
assegurar a legitimidade popular, definindo pessoas de origem chinesa em
oposição a tudo o que poderia ser feito para representar o Canadá ‘branco’”
(ANDERSON, 1991, p. 26).
Os diversos modos de exclusão espacial que caracterizaram o discurso
público em Vancouver não só influenciaram, de formas práticas, o dia a dia
dos imigrantes chineses na cidade (em termos de políticas habitacionais,
emprego, cotas de imigração), mas também moldaram os significados sim-
bólicos atribuídos a esses espaços. Assim, enquanto o gueto de Chinatown
pode representar um “problema” administrativo para a cidade ou um espaço
exotizado de consumo étnico para seus cidadãos brancos privilegiados, para
os imigrantes chineses, ele é experimentado como um local de contenção,
mobilidade limitada, sigilo, rumores e mentiras. Isso sugere que o lugar é
experimentado de formas radicalmente distintas por sujeitos situados de
maneira diferente dentro de sua hierarquia social.
De acordo com Robert McDonald (1996), é impossível entender a alte-
ridade racial dos chineses em Vancouver sem considerar que tal guetificação
social e espacial foi resultado de ansiedades por parte da classe média de
empresários afluindo à Colúmbia Britânica na época, e definindo sua própria
predominância cultural e status social na província:
Ao relacionar baixo status com minorias étnicas, traba-
lhadores sazonais e população pobre, os membros tan-
to da “rica classe empresarial e profissional” quanto da
“moderadamente próspera classe de artesãos” procura-
vam assegurar suas próprias identidades como cidadãos
respeitáveis. Raça e etnia serviram como as fontes mais
significativas de diferenciação de status (MCDONALD,
1996, p. 201).
Essa estratificação, segundo as linhas étnicas/raciais e de classe, se mani-
festa concretamente nas diversas práticas de engenharia social e urbana nas
quais as oportunidades dos grupos marginalizados (incluindo outras mino-
202 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
rias visíveis, nativos, pobres, criminosos, prostitutas) são regulamentadas e
policiadas. É por meio da promulgação da legislação, que limitou em muito
ou baniu de forma completa os chineses de participar plenamente da vida
social, política e econômica canadense, que a maioria “utilizou a ideologia da
raça para garantir seu lugar como grupo dominante na Colúmbia Britânica”
(MCDONALD, 1996, p. 203). Alguns exemplos citados por McDonald in-
cluem restrições à votação, restrições ao ingresso dos chineses em profissões
de alto status como farmácia, direito e educação; limites à propriedade de ter-
ras, obtenção de licenças para bebidas alcoólicas, e emprego em obras públicas
(MCDONALD, 1996, p. 205). As formas mais evidentes de exclusão social
e espacial incluem o Ato de Exclusão Chinês de 1923 e o Chinese Head Tax.
As práticas espaciais utilizadas pela classe dominante e administrativa
em Vancouver em conjunto com a ideologia da “branquidade” relegaram o
outro oriental a espaços abjetos na cidade e, assim, mantiveram a visão do
Canadá como um posto avançado do império colonial britânico. Consequen-
temente, o ambiente urbano em que os trabalhadores migrantes chineses
viviam espelhava seu baixo status dentro da hierarquia social, econômica e
racializada da cidade. Isso acontece porque são encarados como elementos
residuais da sociedade colonial canadense propriamente dita – como uma
força de trabalho insignificante, abundante, barata e facilmente substituível –,
vivendo em áreas urbanas de pouca importância e que não se beneficiavam da
intervenção governamental, a menos que esse espaço fosse percebido como
uma ameaça ao bem público.
As leis contra a vagabundagem de fato criminalizavam as dezenas de
corpos chineses ociosos nas ruas de Vancouver, apesar de lhes ser negado
emprego devido ao preconceito racial. Em The Jade Peony, Choy narra que
durante os anos de depressão em que muitos estavam desempregados, “os
homens chineses foram postos de lado, ameaçados, esquecidos” (CHOY,
1995, p. 18), sendo suas condições de vida insuportáveis: “Nas casas lotadas
de Chinatown, até chegar a manhã, homens vivos dormiam em berços e no
chão, ao lado de homens mortos” (CHOY, 1995, p. 18). Mesmo várias gerações
após as primeiras chegadas dos chineses, os moradores do centro da cidade
viviam em condições difíceis:
Nossa casa de madeira de dois andares, que as pessoas
chamavam de “a atração chinoca”, tremia de frio. As
enormes fendas nas paredes haviam sido entulhadas,
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
203
uma geração antes, com jornais impressos em uma es-
tranha língua da Europa Oriental” (CHOY, 1995, p. 72).
Nas condições exíguas do gueto chinês, esses “estrangeiros” são interpe-
lados pelo olhar de exclusão da maioria branca; e os muitos casos de violência
racial/étnica que irromperam entre a classe média branca e os trabalhadores
migrantes chineses, pequenos empresários e trabalhadores sazonais antes
e depois da Vancouver da virada do século, foram indicativos das maiores
tensões sobre questões de moradia, emprego e saúde pública. Mediante po-
líticas como a evacuação forçada dos moradores de cortiços e inspeções de
saúde e imigração da área, Chinatown foi submetida à mão controladora do
Estado. Além disso, sua localização, no centro físico da cidade de Vancouver,
permitiu um policiamento mais fácil dos habitantes “estrangeiros”. Essa forma
de vigilância urbana, imagem recorrente nos romances de Lee e Choy, tem
impactado não apenas as construções étnicas do espaço urbano, mas tam-
bém a forma como a comunidade se constrói isolada, cercada, voltada para
si mesma, e presa pelo olhar invasivo e orientalizador da maioria.
Ao identificar uma parte da cidade com um outro racializado, o espaço
urbano de Chinatown é assim construído no discurso público dominante
como uma fenda preocupante na fantasia coletiva de uma nação canadense
branca, protestante e principalmente de classe média, cuja “bagunça” urbana
tem origem tanto em sua miséria física quanto na sensação de ser povoada
por indesejáveis estrangeiros. A chegada de um grande número de chineses
a Vancouver na virada do século suscitou uma forma de “pânico urbano” na
população de maioria branca, uma sensação de que sua cidade e seu modo
de vida estavam sob ataque direto. Em Disappearing Moon Café, Morgan
descobre que, no verão de 1924, o escandaloso assassinato de uma mulher
branca por um serviçal chinês repercutiu em toda a cidade, pois os residentes
de Chinatown estão expostos ao escrutínio de inspetores da polícia e multi-
dões de vigilantes que procuram “proteger” a integridade da ordem pública:
A ideia de um homem jovem, solitário e de pele amarela
em pé sobre o corpo inerte de uma mulher branca, de-
sencadearia neles um frenesi sanguinário. Os primeiros
instintos dos chineses lhes diziam para bloquearem as
entradas de seus negócios e barricar a Pender Street,
com peixe salgado e arroz em quantidade suficiente para
sobreviver a um cerco (LEE, 1990, p. 70).
204 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
O que se segue é um pânico generalizado no qual todos os imigrantes
chineses são retratados como potenciais criminosos. A penetração do corpo
feminino no ato sexual e no esfaqueamento assassino passam a simbolizar a
imundice da integridade do corpo coletivo e sua violação nas mãos de uma
sexualidade perversa e orientalizada. Tanto a pureza moral da mulher branca
quanto a pureza étnica do espaço branco são profanadas pelos “vermes de
olhos puxados” (LEE, 1990, p. 67) que espreitam as ruas de Vancouver.117
A construção do outro étnico como portador de doenças, como o abjeto
ou o impuro, é sinalizada também pelo incesto, forma de doença que “se
espalha dentro de uma comunidade marginalizada, forçada a se voltar para
seus próprios recursos” (HUGGAN, 1994, p. 40). Nesse caso, a doença é
vista como “uma condição autoinfligida – daí a percepção colonial branca da
Chinatown como intrinsecamente decadente, como emissária das sementes
de sua própria destruição” (HUGGAN, 1994, p. 40). O discurso racista da
contaminação, ao descrever a “febre amarela” introduzida no corpo coletivo
branco do Oriente exotizado, é uma tentativa de separar o eu do outro, de
afastar aquilo que ameaça. Vancouver torna-se, assim, um espaço policiado,
no qual todos os corpos orientais são vistos como possíveis sabotadores da
ordem urbana regulamentada.
É assim que os jovens Sek-Lung e Meiying são vistos enquanto caminham
por Chinatown após um toque de recolher imposto à cidade, posteriormente
aos ataques japoneses a Pearl Harbor durante a Segunda Guerra Mundial.
As crianças são interpeladas por “homens e mulheres voluntários que veri-
ficavam cuidadosamente cada janela e porta para ver se a lei estava sendo
rigorosamente obedecida”:118
“Vocês, japas?”, disse-nos um homem de casaco marrom.
117
“No discurso racista”, escreve Sibley, “animais representados como transgressores e, por-
tanto, ameaçando conjuntos incorruptos de coisas e grupos sociais, como ratos que saem dos
esgotos e espalham doenças, foram, por sua vez, usados para ameaçar grupos minoritários
[...] animalizar ou desumanizar um grupo minoritário, desta forma, naturalmente, legitima
sua perseguição” (SIBLEY, 1995, p. 10).
118
Ser “interpelado” é ser “chamado” como sujeito por um aparelho ideológico. Ashcroft,
Griffiths e Tiffin ilustram o processo da seguinte forma: “Quando um policial te saúda com o
chamado ‘Ei você!’, no momento em que você se vira para reconhecer que é o objeto de sua
atenção, você foi interpelado de uma forma particular, como um tipo particular de sujeito.
Os aparelhos ideológicos de Estado interpelam os sujeitos desta forma” (ASHCROFT et al.,
2001, p. 221).
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
205
Meiying mostrou-lhe os minúsculos botões pregados
em nossas lapelas nos quais havia a bandeira chinesa
orgulhosamente estampada. Kiam os tinha conseguido
para nós na escola chinesa. Eu também tinha um que
dizia “EU SOU CHINÊS”.
“Vão para casa”, disse o homem. “Parece que vai nevar”.
Não nos apressamos. Meiying caminhou como se ti-
véssemos todo o direito de estar caminhando assim,
lentamente (CHOY, 1995, p. 219).
As identidades étnicas das crianças devem ser literalmente fixadas em
suas mangas, pois o olhar orientalizante não só apaga a distinção entre japonês
e chinês, mas também as especificidades de classe, status, gênero e culturas
regionais dentro dessas comunidades. “Todos nós, homens da China” sob a
mira do olhar dos “demônios brancos” (CHOY, 1995, p. 18), comenta Wong
Bak. No encontro com o outro, “o objeto deve ser transformado em algo
familiar” (KEITH, 1993, p. 47). Essa estratégia é “radicalmente incapaz de
lidar com o estranho” (KEITH, 1993, p. 47) e, consequentemente, o outro é
construído como “fetiche e fobia” (KEITH, 1993, p. 47).
A abjeção funciona por meio do visual: ao decodificar o corpo asiático
como estranho, inadmissível, grotesco, o olhar branco estrutura uma dife-
rença entre o corpo próprio (branco) e o impróprio (oriental).119 Com essa
inspeção visual, o corpo torna-se “um ponto de captação, onde os densos
significados de poder são animados, onde os códigos culturais ganham sua
aparente coerência e onde as fronteiras entre os semelhantes e o outro são
instaladas e naturalizadas” (PILE; THRIFT, 1995, p. 41). O olhar regulador
controla corpos e movimentos, determinando quem pode ou não circular
no espaço público, e atribuindo valor moral a vários locais dentro da cidade.
O corpo está, assim, implicado na demarcação das fronteiras raciais, pois o
desejo europeu de “classificações raciais distintas” (RAZACK, 2002, p. 49)
exige que os brancos constantemente “(re)criem suas próprias identidades e
superioridade frente os corpos do outro racializado” (RAZACK, 2002, p. 49).
119
Michael Keith e Nigel Thrift (1995, p. 48) escrevem: “[...] codificado na estética e na ética
de encontrar o olhar de alguém/o eu, o regime escópico ainda persiste como um cenário de
ambiguidade, incerteza e conflito; transfixado pelo olhar interrogador, as pessoas são cons-
trangidas e desviam o olhar – para lugares diferentes”.
206 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
* * *
As paisagens do interior da Colúmbia Britânica e os bairros exíguos de
Chinatown são construídos como locais ambíguos de memória e identifica-
ção de imigrantes – espaços cujos limites físicos e simbólicos estão ligados
a noções de comunidade, história familiar e performance étnica. Enquanto
as tecnologias de vigilância, mapeamento e exclusão racial interpelam os
chineses como minorias visíveis e os enquadram a espaços abjetos, as hie-
rarquias internas de classe e gênero dentro de Chinatown atribuem lugares
e modos de apresentação a cada corpo. A cidade é assim construída como
um “terreno contestado”, como o local de intersecção de práticas e discursos
espaciais. Esses modelos espaciais não apenas questionam as suposições colo-
niais/nacionalistas estabelecidas sobre o espaço canadense, trata-se, antes, de
“disputas territoriais” que, como Huggan sugere, “apresentam um desafio ao
autoconhecimento ‘dominante’ da cultura metropolitana, às tendências hege-
mônicas dos discursos patriarcais e etnocêntricos” (HUGGAN, 1995, p. 408).
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
207
BIBLIOGRAFIA
ANDERSON, K. Vancouver’s Chinatown: Racial Discourse in Canada, 1875-1980.
Montréal: McGill-Queen’s Press, 1991.
ANDERSON, A. B.; FRIDERES, J. Ethnicity in Canada: Theoretical Perspectives.
Toronto: Butterworths, 1981.
ASHCROFT, B.; GRIFFITHS, G.; TIFFIN, H. Introduction. In: ASHCROFT, B.;
GRIFFITHS, G.; TIFFIN, H. (Eds.). The Post-Colonial Studies Reader. New York:
Routledge, 1995.
ASHCROFT, B.; GRIFFITHS, G.; TIFFIN, H. Post-Colonial Studies: The Key Con-
cepts. New York: Routledge, 2001.
BHABHA, H. The Location of Culture. New York: Routledge, 1994.
BIENVENUE, R.; GOLDSTEIN, J. Ethnicity and Ethnic Relations in Canada. To-
ronto: Butterworths, 1980.
CAVELL, R. Theorizing Canadian Space: Postcolonial Articulations. In: GOLDIE,
T.; LAMBERT, C.; LORIMER, R. (Eds.). Canada: Theoretical Discourse / Discours
théoriques. Selected Proceedings, Theoretical Discourse and the Canadian Intellec-
tual Community Conference, Saint-Jovite, Québec, 1992. Montreal: Association for
Canadian Studies, 1994, p. 75 -104.
CHANG, E. Where the ‘Street Kid’ Meets the City: Feminism, Postmodernism and
Runaway Subjectivity. Vancouver: Representing the Postmodern City. (Ed.). DELA-
NEY, P. Vancouver: Arsenal Pulp Press, 1994.
CHAO, L. Anthologizing the Collective: The Epic Struggles to Establish Chinese
Canadian Literature in English. Essays on Canadian Writing, n. 57, p. 145-170, 1995.
CHO, L. Rereading Chinese Head Tax Racism: Redress, Stereotype, and Antiracist
Critical Practice. Essays on Canadian Writing, n. 75, p. 62-84, 2002.
CHOY, W. The Jade Peony. Vancouver: Douglas and McIntyre, 1995.
CHOY, W. Paper Shadows: A Chinatown Childhood. Toronto: Penguin Books, 2000.
DEER, G. Asian North America in Transit. Canadian Literature, n. 163, p. 5-15, 1999.
DELANEY, P. Introduction: Vancouver as a Postmodern City. Vancouver: Represen-
ting the Postmodern City. (Ed.). DELANEY, P. Vancouver: Arsenal Pulp Press, 1994.
FERGUSON, P. P. The Flâneur On and Off the Streets of Paris. The Flâneur. (Ed.).
TESTER, K. New York: Routledge, 1994. 22-42.
FOUCAULT, M. Of Other Spaces. Diacritics, n. 16.1, p. 22-27, 1986.
GOLDBERG, D. Racist Culture: Philosophy and the Politics of Meaning. Oxford:
Blackwell 1993.
208 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
HUGGAN, G. Decolonizing the Map. In: ASHCROFT, B.; GRIFFITHS, G.; TIFFIN,
H. (Eds.). The Post-Colonial Studies Reader. New York: Routledge, 1995. 407-411.
HUGGAN, G. The Latitudes of Romance: Representations of Chinese Canada in
Bowering’s To All Appearances a Lady and Lee’s Disappearing Moon Café. Canadian
Literature, n. 140, p. 34-48, 1994.
KEITH, M.; PILE, S. (Ed). Place and the Politics of Identity. New York: Routledge, 1993.
KRISTEVA, J. Powers of Horror: An Essay on Abjection. New York: Columbia Uni-
versity Press, 1991.
LANE, P. The Unyielding Phrase. Canadian Literature, n. 122-123, p. 57-64, 1989.
LEE, C. Engaging Chineseness in Wayson Choy’s The Jade Peony. Canadian Litera-
ture, n. 163, p. 18-33, 1999.
LEE, D. Writing in Colonial Space. In: ASHCROFT, B.; GRIFFITHS, G.; TIFFIN,
H. (Eds.). The Post-Colonial Studies Reader. New York: Routledge, 1995. 397-401.
LEE, D. Civil Elegies and Other Poems. Vancouver: Anansi Press, 1972.
LEE, S. Disappearing Moon Café. Vancouver: Douglas and McIntyre, 1990.
LI, P. Race and Ethnic Relations in Canada. New York: Oxford University Press, 1999.
MANNING, E. Ephemeral Territories: Representing Nation, Home, and Identity
in Canada. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2003.
MARKOTIC, N. Reconstructing Self: Interior Landscape and Female Identity in Sky
Lee’s Disappearing Moon Café. In: (Ed.). BEELER, K. Diverse Landscapes: Re-reading
Place Across Cultures in Contemporary Canadian Writing. Prince George: UNBC
Press, 1996. 128-138.
MCDONALD, R. Making Vancouver: Class, Status, and Social Boundaries: 1863-
1913. Vancouver: UBC Press, 1996.
MIKI, R. Broken Entries: Race, Subjectivity, Writing. Toronto: Mercury Press, 1998.
PACHE, W. Urban Writing. In: (Ed.). NEW, W. H. Encyclopedia of Literature in
Canada. Toronto: University of Toronto Press, 2002. 1148-1156.
PHILLIPS, R. Mapping men and empire: a geography of adventure. New York:
Routledge, 1997.
PILE, S.; THRIFT, N. Mapping the subject: Geographies of cultural transformation.
London: Routledge, 1995.
PORTER, J. The Vertical Mosaic: An Analysis of Social Class and Power in Canada.
University of Toronto Press, 1965.
PROBYN, E. Travels in the postmodern. In: (Ed.). NICHOLSON, L. J. Feminism/
postmodernism. New York: Routledge, 1990, p. 176-189.
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
209
RAZACK, S. Introduction: When Place Becomes Race. In: (Ed.). RAZACK, S. Race, Spa-
ce, and the Law: Unmapping White Settler Society. Toronto: Between the Lines, 2002.
SAID, E. Orientalism. New York: Random House, 1978.
SENNETT, R. Flesh and Stone: The Body and the City in Western Civilization. New
York: Norton and Company, 1994.
SIBLEY, D. Geographies of Exclusion: Society and Difference in the West. London:
Routledge, 1995.
WONG, S. C. Reading Asian-American Literature: From Necessity to Extravagance.
Princeton UP, 1993.
YEE, P. Saltwater City: An Illustrated History of the Chinese in Vancouver. Vancou-
ver: Douglas and McIntyre, 1988.
210 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
12
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
211
UMA JORNADA TRANS DE
RESISTÊNCIA: VULNERABILIDADE E
RESILIÊNCIA NA NARRATIVA DISTÓPICA
DE MANJULA PADMANABHAN
ANTONIA NAVARRO-TEJERO120
TRADUÇÃO DE DAVI SILISTINO DE SOUZA E REGIANE CORRÊA DE OLIVEIRA RAMOS122
121
1. Introdução: contextualizando a saga distópica de
Padmanabhan
Há décadas muitas escritoras de ficção científica e fantasia vêm usando o
gênero utópico como uma estrutura para escrever sobre a identidade de gêne-
ro e suas limitações. Já em 1905, Begum Rokeya Sakhawat Hossain escreveu
“Sultana’s Dream”, retratando a Índia como um país com gênero invertido,
onde são os homens que praticam a purdah. Publicado na revista The Indian
Ladies Magazine, a história é uma ficção científica sobre assuntos sociais
das mulheres, na qual a autora inverte os papéis de gênero e é irônica sobre
as diferentes abordagens com relação ao desenvolvimento social e o avanço
científico. Poderíamos argumentar que o propósito do ativismo feminista e
da visão utópica é subverter a hierarquia de dominação social existente, como
é defendido em vários estudos (WAGNER-LAWLOR, 2013; SARGISSON,
1996; 2000, 2012; MCKENNA, 2001).
120
Professora do Departamento de Filologia Inglesa e Alemã na Universidad de Córdoba.
121
Doutor em Letras pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP).
Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas (IBILCE). São José do Rio Preto – SP – Brasil.
122
Professora adjunta da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS).
212 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
Um século depois da utopia feminista de Hossain, a aclamada escritora
sul-asiática Manjula Padmanabhan publicou o romance distópico Escape
(2008) e sua sequência The Island of Lost Girls (2015). Padmanabhan, nascida
em Delhi, é uma autora prolífica, que atualmente divide seu tempo entre a
Índia e os Estados Unidos. É jornalista, aclamada dramaturga e desenhista
de histórias em quadrinhos (criadora da personagem de desenho animado
popular Suki). É autora de muitos livros infantis, incluindo Mouse Attack, e
ilustradora de muitos outros. A autora obteve reconhecimento internacio-
nal como dramaturga após receber o prêmio grego Onassis por sua quinta
peça “Harvest”, a história futurista sobre a venda de órgãos e a exploração
de países em desenvolvimento pelos desenvolvidos, transformada em um
filme premiado intitulado Deham, de Govind Nihalani. Suas obras foram
publicadas recentemente em duas coleções em 2020. O primeiro volume,
Blood and Laughter, é uma coleção de peças que se concentra inteiramente
na ficção científica e em questões de compromisso social. Laughter and Blood
é o título da outra parte do compêndio, que reúne todas as suas peças curtas.
As poucas coleções de contos de Padmanabhan – Hot Death, Cold Soup:
Twelve Short Stories (1996), Kleptomania (2004) e Three Virgins and Other
Stories (2013) – exploram a ficção científica e os desdobramentos extrater-
restres como dramas distópicos, entre outros conflitos políticos e culturais
que infelizmente são urgentes e atemporais. Também publicou um romance
semiautobiográfico como uma jovem ilustradora, no qual observa outras
sexualidades na cidade de Delhi.
Não há dúvida de que as ficções científicas e especulativas recentemente
tomaram o rumo distópico e estão se tornando populares em todo o mundo.
Na saga distópica de Padmanabhan, as nações mundiais não existem mais e há
apenas um governo global, a União Mundial (UM), responsável por dividir o
planeta em quatro partes, entre as quais não são permitidos nenhum comér-
cio, comunicação ou viagens devido ao colapso da indústria do petróleo. O
mundo é dominado por uma porção central do território chamado “A Zona”,
“uma arena gigante para uma série contínua de jogos de guerra selvagens e
imensamente populares” (PADMANABHAN, 2015b, linha 182), servindo à
conveniência da economia global. A Zona localiza-se onde a África costumava
estar e agora encontra-se separada em inúmeras subdivisões, codificadas por
cores para as diferentes equipes que ocupam o território:
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
213
As equipes vivem e morrem baseadas na ilusão das Três
Liberdades: Entretenimento, Guerra, Comércio – a San-
ta Trindade. As equipes ganham para seus proprietários,
os quais injetam o capital de volta nas equipes. Os índi-
ces de aprovação dos telespectadores, (...) até mesmo a
qualidade dos suplementos alimentares para os Cam-
peões, tornaram-se todos parte da ecologia essencial da
Zona (PADMANABHAN, 2015b, linha 4947).
Os romances são ambientados principalmente em duas áreas radical-
mente opostas e na jornada de uma para outra cruzando a Zona: o País
Proibido (governado por generais misóginos que chamam suas terras de
Fraternidade, sendo isolado pela UM) e a Ilha (uma região secreta para o
País Proibido, governado por mulheres cis, as Mentoras, com financiamento
da UM para administrá-la de forma independente depois de aquelas que
projetaram a Zona terem se livrado da UM, quando a Cidade Suspensa na
Zona tornou-se uma potência econômica). No País Proibido, as mulheres
são exterminadas e os homens podem se autoclonar. Na Ilha, as mulheres
lideram um programa para resgatar mulheres vulneráveis e “restaurá-las”.
Escape começa com a história de Meiji, a única mulher sobrevivente na
Terra Proibida. Essa jovem é secretamente criada em uma propriedade admi-
nistrada pelos três tios, chamados de Mais Velho, Do Meio e Mais Novo. Meiji
fica sabendo que sua própria mãe se imolou publicamente (fazendo alusão à
prática de sati) para os Generais pensarem não haver mulheres sobreviventes
na família e para, portanto, salvar a vida dela. Conforme Meiji chega à pu-
berdade, os três tios decidem que ela precisa ser escoltada para fora do País
Proibido, a fim de não ser descoberta pelo General do Estado. Mais Novo a
leva por uma longa e perigosa jornada por uma terra devastada e pela Zona,
para finalmente chegar à Ilha, um lugar de experimento científico e relativa
segurança para as mulheres trans e cis mutiladas.
Em oposição à utopia, a distopia significa a realidade alternativa não
desejada, representando o pior cenário para os observadores moralistas. Essa
ideia geral foi profundamente examinada por Michael D. Gordin, Helen
Tilley e Gyan Prakash em sua introdução a Utopia, Dystopia: Conditions of
Historical Possibility, na qual afirmam a existência de uma “dialética entre
os dois imaginários, o sonho e o pesadelo” (2010, p. 2), pois, para eles, “toda
utopia vem sempre com sua distopia implícita – quer seja a distopia do status
214 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
quo, na qual a utopia é projetada para chamar atenção, quer seja uma distopia
encontrada na forma como essa utopia específica é corrompida na prática”
(2010, p. 2). Portanto, argumentam que uma distopia é “uma utopia que deu
errado ou uma utopia que funciona apenas para um segmento específico
da sociedade” (2010, p. 1). Nesse sentido, em nossa entrevista com a autora
Manjula Padmanabhan e com o escritor Prayaag Akbar, Akbar afirmou que
“a distopia de uma pessoa pode ser a utopia de outra” (NAVARRO-TEJE-
RO; DIEGO-SÁNCHEZ, 2020). Essa afirmação está relacionada à ideia de
Gregory Claeys da utopia de uma pessoa muitas vezes implicar e se tornar a
distopia de outra, o que, a longo prazo, propicia que esses dois termos sejam
estruturalmente inseparáveis (2013, p. 20). Na saga de Padmanabhan, a or-
dem mundial utópica dos Generais transforma-se em um pesadelo para os
vulneráveis. Ao mesmo tempo, a Ilha (a Laputa da própria Padmanabhan)
funciona como um gueto de resistência para “salvar e restaurar” os vulnerá-
veis, mas com hierarquias específicas de poder e códigos que tentam impor
a própria ideia do ser mulher.
A narrativa de Padmanabhan explora o aspecto distópico de duas ma-
neiras. Em primeiro lugar, a ficção apresenta a situação cultural específica da
autora dentro do gênero e, em segundo lugar, discute a questão fundamental
subjacente de como o feminicídio ocorre: o gênero seria baseado primor-
dialmente nos órgãos sexuais, na aparência ou no alinhamento percebido
com a masculinidade ou a feminilidade? As identidades trans são visíveis
na sociedade indiana e, embora sejam reconhecidas por lei, não gozam de
direitos humanos básicos. Esse é o mesmo cenário para as mulheres, pois
mesmo quando o aborto seletivo relacionado ao sexo, o dote, a prática do
sati, a exploração e o casamento infantil são proibidos por lei, as estatísticas
mostram o infanticídio feminino como um fato. Assim como as narrativas
distópicas alegóricas refletem os medos e as inseguranças do contexto cul-
tural do qual emergem, a ficção distópica de Padmanabhan canaliza a raiva
das mulheres do Sul asiático sobre a (trans)misoginia do presente e a sua
preocupação com um futuro negativo inevitável, no qual a reprodução é
instrumentalizada e a tecnologia toma o lugar da natureza e da humanidade.
Segundo Judith Butler (2004; 2009), a vida humana é condicionada pela
vulnerabilidade por causa de nossa corporificação. Entretanto, como Catriona
Mackenzie, Wendy Rogers e Susan Dodds argumentam, outra explicação é
por sermos seres sociais e eficazes, uma vez que somos emocional e psico-
logicamente vulneráveis a, por exemplo, negligência, abuso, ostracismo e
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
215
humilhação. Além disso, como seres sociopolíticos, “somos vulneráveis à ex-
ploração, manipulação, opressão, violência política e abusos de direitos, sendo
também vulneráveis ao meio ambiente natural e ao impacto no ambiente de
nossas próprias ações e tecnologias, individuais e coletivas” (MACKENZIE;
ROGERS; DODDS, 2014, p. 1). Com base nesta definição de vulnerabilidade,
podemos argumentar que os romances distópicos de Padmanabhan vão além
da preocupação básica com a opressão e a exploração de mulheres cis e trans
a partir de uma perspectiva paternalista e coercitiva – uma vez identifica-
das como um grupo vulnerável. Assim, traz-se uma hipótese universal da
interação entre o indivíduo (o aumento da vulnerabilidade experimentada
por alguns grupos sociais: mulheres trans e cis) e o Estado-nação, como
consequência da era da perfeição tecnológica e da globalização capitalista
corporativa, conforme argumentado nas ideias de Guy Standing sobre pre-
cariedade (2011) e em “Rethinking Vulnerability”, de Judith Butler (2016).
Assim, este capítulo explora como os conceitos de feminilidade cruzam-se
com os conceitos de vulnerabilidade e resistência nos romances distópicos de
Manjula Padmanabhan. Além disso, aborda como Padmanabhan traz à tona
a resistência de gênero às dimensões neocoloniais da cultura tecnológica no
contexto do genocídio feminino na Índia, ao analisar a violência sexual por
meio do conceito de resiliência como uma ferramenta analítica, em que as
vítimas alcançam a cura e o empoderamento.
2. As mulheres como o Sexo Ameaçado e o deslocamento da
natureza pela tecnologia
O mundo, como os leitores o conhecem, agora é referido na saga como
o “Tempo Anterior”, perdido em uma explosão. O ecossistema é devastado
pela poluição, na medida em que as costas marinhas foram destruídas, o
gelo derreteu e a vida selvagem pereceu. Rupali Palodkarn (2011, p. 60-61)
resume a preocupação social ecofeminista envolvendo uma ruptura sinistra
e sórdida no mundo ecológico pesquisado por Padmanabhan, afirmando
que, na sociedade indiana, a posse do corpo e da sexualidade das mulheres,
além da terra e da natureza, cabe aos homens desde os tempos antigos: “na
Índia os abortos seletivos pelo sexo do feto são praticados em larga esca-
la... É necessário encontrar uma alternativa para a exploração da terra pelos
homens... e descobrir um modo de vida ecologicamente correto que não
ameace a existência nem da terra nem das mulheres”. Para ela, esta é a razão
216 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
pela qual escritoras como Manjula Padmanabhan estão se voltando para o
pensamento ecofeminista e escrevendo sobre as consequências da degradação
da natureza e das mulheres.
Os romances apresentam um futuro como projeção distorcida e apavo-
rante da política contemporânea e do desastre ecológico. Em ambas as obras, a
política de identidade entrelaça-se com a forma como os fundamentalistas no
País Proibido concebem um mundo sem mulheres, já que os homens podem
se autoclonar, e como o capitalismo global voraz usa as mulheres como mer-
cadorias a serem exploradas e consumidas. A vida na Zona é extremamente
problemática para as mulheres, pois são vergonhosamente usadas “como
recompensas, troféus, entretenimento” (PADMANABHAN, 2015b, linha
4938). O uso generalizado do espetáculo deve ser entendido como parte do
modo de produção e consumo em uma época em que os seres humanos são
controlados por dispositivos mecânicos variados, muitos dos quais exercem
sua autoridade por meio de recursos visuais. O grupo dominante na Zona usa
espetáculos para subjugar as classes menos privilegiadas: mulheres em con-
dição vulnerável e precária como subalternas, ou seja, quem não tem poder.
Para Sarah Bracke (2016), a resiliência subalterna fornece a infraestrutura
para processos globais de produção e consumo econômicos, e um sujeito
resiliente é aquele que pode absorver o impacto das medidas de austeridade
e continuar sendo produtivo. Como exemplo tem-se o depoimento de uma
personagem nascida em uma família de trabalhadoras do sexo e forçada
a manter relações sexuais com as equipes: “[q]uando eu tiver um ano, ela
[minha mãe] me oferece pra ser usada pelo Grande Homem e ele me usa
de três jeitos, depois ele me passa pros seus amigos. [...] Minha mãe me dá
drogas em vez de leite [...] me faz mamar os cachorros. Os porcos. No palco.
Pra fazer as equipes da Zona rir. Depois a gente consegue comida pra toda a
família” (PADMANABHAN, 2015b, linha 3924).
Ambos os romances precisam ser contextualizados em um país onde
encontramos um declínio na razão sexual, principalmente como resultado
do forte preconceito social contra as meninas e do uso indevido da ampla
tecnologia disponível (embora proibida por lei) para descobrir o sexo do
bebê, e cometer o feticídio feminino. Por meio de perguntas provocadoras
sobre a violência (trans)sexual generalizada, a misoginia e a destruição dos
direitos civis, Padmanabhan alerta os leitores de sua ficção distópica sobre as
consequências extremas do sexismo e fascismo institucionalizados, desafiando
as noções prevalecentes de superioridade masculina e genocídio feminino.
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
217
Na verdade, de acordo com Surya Monro, se “estratégias focadas em eliminar
o gênero forem realizadas, os grupos de gênero minoritários, como hijras,
kothis, pessoas intersexo e andróginos irão provavelmente ficar em desvan-
tagem porque o predomínio padrão de homens e de pessoas não transexuais
permanecerá incontestado. Além disso, a degeneração, se perseguida de um
modo prescritivo, negará às pessoas a escolha de se identificarem de forma
sexuada e gendrada” (2010, p. 246).
O General do Estado é representado nos romances como um sádico,
o qual se vê como um escultor reformulando a realidade, de modo que sua
atitude em relação às, agora extintas, mulheres cis e trans é sintomática da
morte da individualidade na terra governada por ele despoticamente. Tre-
chos de uma série de entrevistas com ele aparecem em intervalos regulares
no primeiro romance, pois deseja que sua mensagem chegue aos ouvintes
fora do País Proibido: “O déficit de mulheres existente em nosso mundo
ajudou enormemente nossa tarefa” (PADMANABHAN, 2015a, linha 3582).
O declínio da proporção de crianças por sexo na Índia, de acordo com o
The National Institution for Transforming India (900 em 2013-2015 e 906 em
2009-2011), prova um déficit real de mulheres em um país onde muitas vezes
não é permitido o nascimento de meninas. Mesmo depois do nascimento,
muitas meninas sofrem abandono e discriminação; as noivas às vezes são
“importadas” de regiões mais pobres do país e as mulheres são perseguidas
ou assassinadas pelo dote. Na verdade, Rita Patel (1996) afirma que a causa do
feticídio feminino na Índia, aumentado dramaticamente desde os anos 1970
devido à tecnologia dos métodos de determinação sexual no pré-natal, ao lado
de uma taxa de mortalidade infantil altamente anormal, provém do sistema
de dote ilegal e da cultura da preferência do filho homem. Este genocídio
gerou uma vasta literatura explorando as causas principais (BHATNAGAR,
2005; GEORGE, 2006; KISHWAR, 1995; MENON, 1995; MOAZAM, 2004;
PATEL, 2007; PUREWAL, 2010; SEN, 2003).
As mulheres nas terras distópicas descritas nos romances são chamadas
de Tribo Vermin. Como está posto no Concise Oxford English Dictionary,
vermin (verme) significa mamíferos selvagens e pássaros prejudiciais às plan-
tações, aos animais de fazenda ou aos animais de caça, ou ainda que carregam
doenças e vermes ou insetos parasitas, mas também pessoas muito desagra-
dáveis ou destrutivas (2011, p. 1607). Randal Rauser explica que o descritor
desumanizador “verme” tem uma história horrível na era moderna, assim
como no século XX: “genocidas muitas vezes se referem aos grupos externos
218 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
que eles procuraram aniquilar como vermes, mais notoriamente no caso
dos nazistas e da propaganda antissemita” (2015, p. 19). Em um dos muitos
manuais escritos pelos generais para orientar os cidadãos, pode-se ler que
“Os drones são o que a Tribo Vermin deveria ter sido: servis, mudos e surdos”
(PADMANABHAN, 2015a, linha 3131). Rauser continua explicando que “esta
prática de desumanizar grupos externos rotulando-os como criaturas, vermes
ou alguma outra forma de pestilência tem sido uma característica comum dos
genocídios ao longo da história” (2015, p. 19). Além disso, o General explica
em uma entrevista ao repórter horrorizado do mundo exterior que “as fêmeas
são movidas por imperativos biológicos que as levam a competir por direitos
de reprodução” e, “para controlar a tecnologia de reprodução e estabelecer a
ética coletiva, tivemos que eliminar as mulheres” (PADMANABHAN, 2015a,
linha 3582). A autora incluiu a metáfora dos vermes usada pelos nazistas no
tratamento dos judeus como desumanos e parasitas a fim de serem temidos,
destruídos e exterminados.
De fato, as mulheres foram totalmente exterminadas e a espécie feminina
está supostamente extinta no País Proibido. Mesmo as palavras, as imagens ou
os símbolos relacionados às mulheres são proibidos por leis. A propaganda
espalhada pelo General do Estado elogiou a superioridade da tecnologia de
clones em oposição à reprodução feminina, pois acreditam que seus corpos
estão poluídos. Em seu manual The Generals: A Plural Life, o General afirma
que “Tiramos a Mãe da Natureza” (PADMANABHAN, 2015a, linha 4021) e
os cidadãos nem mesmo se lembram de quando existiam mulheres: “É difícil
acreditar no que nos dizem sobre o Tempo Anterior” (PADMANABHAN,
2015a, linha 3351). A noção de reprodução é lugar-comum na ficção cien-
tífica distópica, levando, uma vez sendo a clonagem possível, a uma guerra
dos sexos (um sexo inteiro teria que morrer), supondo que existam apenas
dois sexos, embora existam milhões de pessoas não binárias na Índia. As
visões do General sobre as mulheres são impostas às massas, deixando-as
com um conceito distorcido de mulher, evidente nas falas de Pigeon quando
diz: “Qual é a necessidade de ter uma raça especializada só para dar à luz
a homens? Seria o mesmo que ter partes corporais específicas para escalar
árvores ou cortar madeira.” (PADMANABHAN, 2015a, linha 3368). Isso fica
ainda mais evidente nas observações feitas sobre as mulheres por Blackson:
“Me contaram uma história completamente diferente. Quando cresci, diziam
que, há um tempo atrás, existia uma raça distinta do Homem e essa raça era
conhecida como “Wi-Men”. O único propósito das Wi-Men era ter filhos.
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
219
Eram pequenas e estúpidas, incapazes de cuidar de suas necessidades fora
de casa e obrigadas a buscar a proteção e supervisão constantes dos homens”
(PADMANABHAN, 2015a, linha 3378).
A princípio, poderíamos interpretar que os romances tratam sobre o
bildungsroman de Meiji, isto é, sobre seu crescimento como mulher cis e
o esforço valente de Mais Novo para salvar sua jovem pupila. No entanto,
Padmanabhan problematiza essas personagens, questionando os binarismos
rígidos de gênero. Por um lado, Meiji é a única mulher sobrevivente crescida
com a administração de hormônios masculinos e está vestida de menino, para
que não seja morta se sua genitália feminina for descoberta e, por outro lado,
Mais Novo é o protagonista masculino tentando salvá-la e coercivamente sub-
metendo-se a uma vaginoplastia para o prazer do General. Do País Proibido
à Ilha, na busca pela libertação, as duas protagonistas precisam negociar a sua
própria identidade de gênero à medida em que seus corpos se transformam.
Manjula Padmanabhan parece estar comprometida com esta saga em
romper o hetero-patriarcado e as prescrições biológicas da feminilidade, na
qual os leitores são alertados sobre as implicações políticas do feminicídio
aliado à tecnologia e sobre a violência e a marginalização com relação a
transexuais, duas das questões mais importantes sobre a Índia contemporâ-
nea, indicando a performance e a fluidez das identidades de gênero e sexo
na sociedade global contemporânea. Portanto, é muito significativo que os
romances retratem personagens não secundárias na narrativa com ambos os
espectros transfemininos e transmasculinos.
3. Transmasculinidade e Transfeminilidade: Histórias de
Resistência
Há muitas evidências na narrativa que descrevem Meiji como um homem
trans. Por exemplo, a cena em que Meiji fica horrorizado com o crescimento
de seus seios e tenta autoadministrar uma mastectomia baseia-se nas expe-
riências disfóricas de muitas pessoas trans masculinas e na narrativa do “corpo
errado” (BETTCHER, 2014; SRYKER, SULLIVAN, 2009; STONE, 1992). Ou
quando Meiji recebe um pênis sintético, um dispositivo que “combinava com
sua pele e se encaixava perfeitamente na região pélvica, fazendo-o sentir-se
confortável com seu corpo (PADMANABHAN, 2015b, linha 1960-1). Meiji
se sente confortável no corpo de um menino. Foi assim que cresceu, sempre
220 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
vestido de menino, considerado pelos demais como um menino afeminado.
Com dezesseis anos, Meiji ouve de seus tios: “Você está diferente do que
deveria ser (...). Queremos ajudá-la a entender o necessário para se tornar
o que deve ser” (PADMANABHAN, 2015a, linha 1156). Agora, ao fugir do
País Proibido, está sob o disfarce de um jovem menino, protegido de olhos
vigilantes.
A autora está preocupada em como, repetidamente, focamo-nos na apa-
rência externa, tratando o gênero como fundamentalmente a maneira como
alguém é percebido e reconhecido. Quando Meiji é levado para a Ilha, terra
administrada por mulheres cis para proteger e preservar outras mulheres, com
a esperança de ser salvo da sentença de morte no País Proibido, é considerado
uma mulher sem consciência da identidade de gênero. Em The Island, não
há a menor possibilidade de ele ser identificado como não binário, mesmo
afirmando para o resto das mulheres resgatadas (as Candidatas): “Eu não sou
igual a vocês. Nenhuma de vocês” (PADMANABHAN, 2015b, linha 2354).
As pessoas na Ilha ficam preocupadas com seu posicionamento seja como
homem ou mulher. Meiji reclama sobre isso: “Você me chamou de... uma...
uma... mulher” (PADMANABHAN, 2015b, linha 2387), “Eu não sou uma
mulher” (PADMANABHAN, 2015b, linha 2387). Mas, ao mesmo tempo,
Meiji afirma não ser um homem quando seu colega Messina gargalha: “Oh!
É aquela salsichinha engraçada balançando entre as pernas dela! Ela pensa
que é um homem!” (PADMANABHAN, 2015b, linha 2387). Particularmente,
Meiji continua a resistir ao controle autoritário das mulheres da ilha, recu-
sando-se a se conformar com um gênero. Segundo Butler, em tais práticas de
resistência não violenta, a agência permite mobilizar “a vulnerabilidade com
o propósito de afirmar a existência” (2016, p. 27). Quando Messina grita “Se
você não é homem e não é mulher, (...) o que você é?” (PADMANABHAN,
2015b, linha 2397), Meiji afirma: “Eu sou uma... pessoa!” (PADMANABHAN,
2015b, linha 2397). Dessa forma, Meiji tenta resistir a todos os avanços sobre
ele, ao contrário do senso de gratidão de outras candidatas com relação às
Mentoras, que impõem regras e regulamentos a elas a fim de empoderá-las
e ironicamente fazer valer seus direitos. O narrador diz que Meiji enten-
de, intelectualmente, que Rahm estava correta ao se referir a ele como uma
mulher: “ela tinha seios, a fenda dupla dobrada entre as pernas e os órgãos
internos. No entanto, não usa conscientemente essa palavra para se descrever.
O fato teve de ser levado a público como uma declaração feita por outros”
(PADMANABHAN, 2015b, linha 2628).
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
221
Esse relato evidencia a dicotomia entre mulher/feminino/vulva x homem/
masculino/pênis reforçada e hegemonizada pelo discurso biomédico, defensor
de uma noção essencialista de afirmação de gênero. Por outro lado, Butler afir-
ma que “gênero é a estilização repetida do corpo, um conjunto de atos repeti-
dos dentro de um quadro regulatório altamente rígido, que solidifica ao longo
do tempo para produzir a aparência de substância, de uma espécie de ser na-
tural” (1990, p. 43-44). Se o gênero é constituído performativamente por meio
de atos repetidos, podemos entender a transmasculinidade de Meiji como
uma repetição das práticas constituintes da feminilidade masculina, e não
como a mente masculina no corpo feminino encontrada na inversão sexual.
As Mentoras na Ilha insistem em fazer dele uma mulher e apagar qual-
quer característica queer: “ela é uma joia rara, uma garota pura, perfeita e
imaculada (…), é, de fato, tão marcada quanto qualquer uma de nossas ga-
rotas. Pelo menos sabem o que são. Ela não. Quando começou a falar após
se recuperar, nem sabia usar pronomes femininos. Continuou usando elx em
vez de ela” (PADMANABHAN, 2015b, linha 1983). Como consequência, as
Mentoras têm o propósito de ensinar Meiji a se tornar uma mulher: “Ela irá se
preparar para ser uma Portadora Sagrada. Aprenderá a tradição clássica de dar
à luz, incluindo a gestação completa de nove meses. E irá, com as bênçãos de
toda a nossa comunidade nas Ilhas, desfrutar da experiência da maternidade
verdadeira e natural” (PADMANABHAN, 2015b, linha 2260). Isso ressoa com
o que Sandy Stone explicou a respeito dos profissionais médicos em clínicas
de gênero a fim de cumprir suas agendas (as construções sociais de sexo e
gênero estão enraizadas no essencialismo biológico), ou seja, precisavam
fornecer “evidências” de que uma transição completa cirúrgica, médica e
social de gênero acabaria com a síndrome de disfunção de gênero com a qual
seus pacientes (candidatos ideais ao tratamento) foram diagnosticados. De
acordo com Stone, as mulheres trans, “que se apresentavam como querendo
ser mulheres, nem sempre se ‘comportavam como’ mulheres”; portanto, os
profissionais daquelas clínicas preferiam que suas candidatas fossem para a
escola de etiqueta a fim de cumprir os papéis de gênero e características que
eram esperadas de mulheres na época (1991, p. 290).
Meiji é forçadx a ter suas memórias apagadas, de acordo com sua colega
e também candidata Alarie, para seu “próprio bem” (PADMANABHAN,
2015b, linha 2354). Entretanto, Meiji rebela-se: “levaram nossa memória sem
autorização! Agora não tenho nada a não ser meu nome. Não sei de onde sou,
de onde venho” (...) o que significa estar segurx? Quando estranhos podem
222 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
entrar em minha mente e levar o que querem?” (PADMANABHAN, 2015b,
linha 2354). Até mesmo depois disso, Meiji associa segurança e proteção
não por estar no quarto de Recuperação da Ilha, mas por estar usando o
pênis sintético. É possível sugerir, então, que a recuperação dessas memórias
permite o realinhamento de uma individualidade que, nos dois romances,
tem sido, até agora, retratada como transmasculina ou sem identidade de
gênero. Podemos argumentar que esse pode ser um exemplo de homens
transexuais considerados traidores por feministas radicais e, de acordo com
alguns autores, nas suas transições, denunciaram suas políticas feministas
em prol do privilégio masculino (HINES, 2005, 2007; MONRO, WARREN,
2004; HALBERSTAM, 1998). Certamente, os binarismos gênero/sexo são
desestabilizados pela fluidez gênero/sexo, de modo que o fato de Meiji ser uma
protagonista trans significa um passo importante em termos de representação,
pois é uma personagem queer nunca antes ensinada, durante a infância, que
seu corpo traz marcas como vítima ou demonstrava um destino biológi-
co claro. No caso de mulheres transexuais, encontramos duas personagens
“transies” (na terminologia desse mundo futurista) como protagonistas. Mais
Novo, forçado pelo General do Estado a submeter-se a uma vaginoplastia e,
portanto, a se passar por uma mulher chamada Yasmine, e Alia, voluntaria-
mente submetida à transição transexual para a feminilidade, tornando-se
companhia de Yasmine em sua jornada pelas terras opostas. A diferença se
torna clara quando Alia diz a Yasmine: “eu sou uma transie. Talvez isso explica
o porquê tenho sentimentos. Mais do que você, porque você é realmente um
homem, não uma transie” (PADMANABHAN, 2015b, linha 1065). Monro cita
Seabrook (1997) para explicar como, com o advento do colonialismo britâ-
nico, a posição social estabelecida para pessoas transgêneros e intersexos foi
prejudicada como consequência, por exemplo, dos britânicos terem proibido
os seus direitos à propriedade. Dessa forma, Monro afirma: “a maioria das
hijras pertencem a castas e classes mais pobres, e a marginalização econômica
estrutura fortemente suas experiências” (2010, p. 250). Além disso, a autora
também visualiza que elas ilustram a interseccionalidade: “suas operações são
um produto de casta, classe e colonialismo relacionado a desigualdades, bem
como desigualdades de gênero e sexualidade as quais permeiam a sociedade
indiana” (2010, p. 251). Os romances descrevem bem os abusos sexuais sofri-
dos por Alia nas mãos do General do Estado, deixando claro todos os pesares
suportados para posteriormente usar da posição subalterna para derrotar o
monstro que tão sadicamente abusa dela.
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
223
Alia conta a Yasmine o fato de seu pai costumar estuprá-la e a odiar
porque “ele sabia que, diferente de outros garotos, os quais se tornavam tran-
sies por dinheiro, eu era um transie na minha essência. No meu sangue, na
minha alma” (PADMANABHAN, 2015b, linha 1065). Alia parece representar
as comunidades khoti na Índia. Embora esse seja um grupo heterogêneo, o
julgamento implementado pelo Supremo Tribunal da Índia em 2014 utiliza
essa palavra para se referir a marcas biológicas que mostram diferentes graus
de efeminação ou outras variedades de pessoas transgêneras na categoria de
“terceiro gênero” (National Legal Services Authority v. Union of India). O
relacionamento de Alia com seu pai é de subjugação, semelhante à relação
das hijras com seus gurus abusivos. Ele abusa verbalmente de sua filha, usan-
do-a como empregada em todos os sentidos e agredindo-a brutalmente. Há
também descrições explícitas da maneira como o General, mais a frente, usa
Alia como escrava sexual, sendo um reflexo da transmisoginia na Índia e das
condições precárias em que elas se encontram, pois a sociedade recusa dar ao
terceiro gênero qualquer espaço. Padmanabhan empenha-se em denunciar
o tratamento que as pessoas transexuais recebem em seu país, onde, embora
o terceiro gênero seja legalmente reconhecido, essa questão permanece sem
resolução, pois ainda existe o comércio, a exploração sexual e as humilhações
constantes. Precisamos esclarecer que, após a publicação da saga, alguns
direitos foram conquistados. Depois de vários debates controversos para,
finalmente, tornar-se um ato do Parlamento da Índia, foi aprovado o Trans-
gender Persons (Protection of Rights) Act, 2019, o qual, no entanto, foi muito
criticado por pessoas trans por incluir disposições retrógradas do julgamento
do Supremo Tribunal de 2014, o qual negligenciou as recomendações feitas
pelo comitê e pela comunidade transgênera. Por exemplo, as hijras podem
se autoidentificar como mulheres, mas são desqualificadas como tal quando
disputam eleições ou cotas.
Depois da transição, Yasmine ficou marcada como “uma transexual da
indústria do prazer” (PADMANABHAN, 2015b, linha 41) com hijab azul-
escuro. De fato, a vida para as transies na saga é limitada a “exercer sua
profissão” (PADMANABHAN, 2015b, linha 1213), denunciando, dessa forma,
o destino dessas comunidades na Índia. No País Proibido, homens transam
com outros homens e os Generais podem escolher certos homens para serem
transformados em transexuais, por meio da vaginoplastia, para o prazer da
classe dominante. O General do Estado conta a Alia sobre Mais Novo: “ele é,
no fim das contas, irresistível, não uma feem, como você, mas um verdadeiro
224 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
reversi. É um termo que cunhei: um homem que, contra sua vontade, é forçado
a transformar o corpo em... bom, eu os chamo de Vermin. Não homens.
Aqueles nascidos na natureza, mas ainda inaptos a pertencerem ao ranking
dos homens” (PADMANABHAN, 2015b, linha 1350). Até Alia, quando se
encontraram pela primeira vez, descreveu Yamine: “ela não é estúpida. Ou
melhor, ‘ele’. Acho que ele está mais para um ‘ele’ –” (PADMANABHAN,
2015b, linha 434). Mesmo Amir, o pai abusivo de Alia, concorda: “você não
é transie. Você é um homem. Certo?”, ao qual Yasmine responde que “Tenho
um corpo de mulher” e Amir diz: “mas não a mente (...) A forma como se
move, como fala (…), a forma como se mantém de pé e se sustenta: é com
orgulho, com dignidade. A dignidade de um homem” (PADMANABHAN,
2015b, linha 513). Eis o porquê de os Mentores na Ilha tentarem também
ensinar Mais Novo a se tornar Yasmine para além do corpo, usando tecnologia
avançada e deixando para trás o legado masculino, como o prazer sexual,
possivelmente interpretado como outro mecanismo abusivo de controle.
O mundo todo na saga é descrito como sendo tecnologicamente avança-
do, não havendo espaço para democracia. Uma das principais características
da vida em toda essa terra futurística é o uso de mecanismos de vigilância e
comunicação (uma variação distópica do panóptico de Foucault) – táticas de
vigilância, tais como chips de áudio permanentemente embutidos na parte
superior das mandíbulas, pequenas câmeras robóticas acima das multidões,
monitores de parede, etc. – a fim de controlar todos, adotando uma for-
ma panóptica de disciplinar indivíduos como feitos por regimes totalitários
(FOUCAULT, 1995; FRIEDMAN, 2011). Os receptores dominantes, isto
é, os Generais do País Proibido e as Mentoras da Ilha, usam esses aparatos
tecnológicos para alcançar dois objetivos principais: a subordinação pelo
constante monitoramento e a diminuição do ímpeto pela resistência.
Entretanto, as protagonistas trans suportam pesares devido à vulnera-
bilidade, que é transformada em resistência, realizada por meio da condi-
ção resiliente. Marianne Hirsh afirma que, como espécies corporificadas,
“compartilhamos uma vulnerabilidade emergente da condição de viver em
corpos no passar do tempo. Porém, mais do que isso, a vulnerabilidade é
também socialmente, politicamente e economicamente criada e desigual-
mente imposta” (2014, p. 337). De modo preciso, o reconhecimento da vul-
nerabilidade, tanto compartilhada quanto produzida, pode “abrir tanto um
espaço de interconexão quanto uma plataforma para capacidade de resposta
e resistência” (2014, p. 337). No raciocínio de Hirsch, as personagens trans
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
225
Alia, Yasmine e Meiji mostram uma flexibilidade que possibilita adaptação
às circunstâncias, permitindo-as desenvolver mudanças que as dão poder
enquanto se tornam mais fortes e mais conectadas às outras. Duas delas são
apresentadas como vítimas vulneráveis de abuso sexual, mas promovem
subversão por meio da resiliência. Dessa forma, as personagens trans são
retratadas como agentes – sujeitos que assumem riscos, nos termos de Nive-
dita Menon (2004, p. 142-143). Segundo Bracke (2016), a sobrevivência pode
estar ligada à transformação coletiva e à revolta social, enquanto a rebelião
envolve subversão. Portanto, a resiliência conduz a uma mudança, a criação de
uma nova estrutura social com rupturas a estruturas de controle e limitação.
Na natureza de trânsito nas margens por parte das protagonistas, enquanto
são semelhante e violentamente abusadas pelo General, forjam um grupo
de solidariedade isolado, com o objetivo de garantir a própria sobrevivên-
cia e, após um desfecho dramático, a saga termina com uma tênue nota de
esperança. Como Peter Hall e Michèlle Lamont (2013, p. 2) postulam, essa
resiliência pode ser interpretada como “a capacidade de grupos de pessoas
se vincularem em uma organização, classe, grupo racial, comunidade, ou
nação para sustentar e avançar o bem-estar diante dos desafios”. Portanto,
a partir da resiliência subalterna (na qual a posição subalterna é mantida),
as protagonistas avançam à resiliência da vulnerabilidade (na qual o grupo
vulnerável resiste ao mesmo tempo em que é transformado).
A autora fornece histórias de resiliência e resistência, as quais permitem
a possibilidade de integrar mudanças a fim de desafiar estruturas de abuso e
dominação sexual e transformar a situação do vulnerável. Os Generais são
apresentados como inimigos, pois odeiam (matam e/ou estupram) mulheres
trans e cis. Os próprios planos utópicos dos Generais contribuíram na criação
de um lugar para resistência (a Ilha), também essencialista, pois a ideia de
“restauração” não acolhe opções não binárias. As Mentoras agem de forma a
tornar as candidatas, na sua maioria, incapazes de resistir a qualquer “avan-
ço” sobre seus corpos e suas vidas, tendo elas de expressarem gratidão pela
melhora repentina do estilo de vida e das instalações (graças a tecnologias
avançadas). Esse sentimento de gratidão as faz seguir de forma submissa as
regras e os regulamentos, tornando-as, finalmente, incapazes de exigirem
seus direitos. Entretanto, Meiji tenta resistir a todos os “avanços” contra ele,
representando uma personagem não binária poderosa, a qual exibe um forte
senso de resistência a todas as formas de dominação. Por outro lado, Alia
consegue reverter o controle do General do Estado sobre ela ao matá-lo (em-
226 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
bora haja mais Generais clones) e ao revelar os planos dele de tornar global o
genocídio de mulheres cis e pessoas intersexo. Podemos, então, argumentar
que as personagens trans, sendo sujeitos subalternos, empregam estratégias
de resistência para se tornarem agentes de suas próprias histórias.
Conclusões: Solidariedades Femininas
Em termos gerais, a autora parece criticar as dimensões da desigualdade
social que cria uma condição humana na qual o aparato tecnológico está à
disposição das classes sob o poder (sejam os homens no País Proibido ou as
mulheres na Ilha). Os romances analisados neste capítulo sugerem implica-
ções dessa situação ao apresentar a extensão do sofrimento pelo qual aqueles
afetados pelas mudanças passam e como se rendem a fim de sobreviver e,
posteriormente, resistir e fazer uso de sua condição vulnerável para unir
forças e transformar suas realidades precárias. Padmanabhan tenta estabe-
lecer que essa relação é engendrada pela transformação na ordem mundial,
tendo em vista a proibição de movimentos transnacionais e o controle do
comércio internacional pela governança global; o surgimento de novos meios
de comunicação; e a ocorrência da desterritorialização cultural, devido a
tendências globalizadoras. As premissas para a criação da União Mundial
não funcionam na saga, criando condições ainda mais precárias de grupos
vulneráveis do que no Tempo Anterior.
A crença essencialista dos governantes em sua supremacia sexual (os
binários opostos homens e mulheres cis, primordiais em suas próprias regiões,
como na batalha dos sexos bem representadas na Zona) lembra os leitores
das restrições com relação a um futuro horrível, no qual gêneros fluidos são
perseguidos e a existência de mulheres não é permitida. Essa situação, de
acordo com Tabish Khair (2016, p. 3-4) e Sara Ahmed (2004, p. 64-84) pode
criar um senso de divisão e alinhamento que exclui alguns e valida discursos
e ações de ódio e violência. Assim, apresentada como uma narrativa de segre-
gação – invertida desde o preconceito do País Proibido contra as mulheres e
a feminilidade até o preconceito da Ilha contra os homens e tudo associado
à masculinidade, e complexificada pelo próprio determinismo –, a presença
de personagens trans nas obras não apenas reafirma a inevitável violência
existente entre o binário estabelecido, mas também simboliza um forte desejo
de escapar da tirania governamental que promove categorias rígidas.
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
227
Enquanto o regime do General limita qualquer dissidência mantendo
os cidadãos em estado de ignorância – o General conclama: “ignorância
é poder” (PADMANABHAN, 2015a, linha 3669) – com mentiras, desin-
formação e propaganda, a Mentora Vane afirma: “Conhecimento é poder”
(PADMANABHAN, 2015b, linha 5477). Como consequência, as Mentoras
mudam de tática ao tentar unir forças com Alia, Meiji e Yasmine a fim de
reunir todo o conhecimento obtido sobre a Terra Proibida com um propósito
duplo: dar um fim à violência contra todas as mulheres por uma intervenção
na Zona e por uma interrupção do plano do General. Isso deve transformar
completamente a forma como a Ilha funciona, reverter o uso da tecnologia
e gerar um acordo democrático que pode garantir a possibilidade de se rea-
lizar algo de bom para o mundo, apesar da utopia dos Generais de uma terra
sem mulheres, do tráfico neocapitalista de mulheres da União Mundial e o
sacrifício do próprio sexo de Mais Novo – mas esses elementos ficam ina-
cabados, podendo servir de ponte para o próximo romance da saga, o qual
Padmanabhan anunciou que está escrevendo (NAVARRO, DIEGO, 2020).
Chandra Mohanty (2003) realizou uma crítica firme ao feminismo ocidental e
à globalização na tentativa de um feminismo sem qualquer tipo de fronteira.
Tendo isso em mente, podemos concluir sugerindo que uma vez exposto o
essencialismo de dois mundos opostos na saga em uma atmosfera distópica,
o final do segundo romance convida os leitores a pensar que há esperança
na resistência coletiva. Sugere-se que intervir juntos em solidariedade com
um propósito comum propicia que protagonistas trans resilientes, represen-
tantes de gêneros fluidos, exponham características queer, as quais precisam
ser incluídas em uma agenda feminista plural totalmente engajada com as
realidades de cada comunidade.
228 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
REFERÊNCIAS
AHMED, S. The Cultural Politics of Emotion. Edinburgh: Edinburgh University
Press, 2004.
BHATNAGAR, R. D.; DUBE, R.; DUBE, R. Female Infanticide in India: A Feminist
Cultural History. New York: State University of New York Press, 2005.
BETTCHER, T. M. Trapped in the Wrong Theory: Rethinking Trans Oppression
and Resis-tance. Signs: Journal of Women in Culture and Society, v. 39, n. 2, p.
383-406, 2014.
BRACKE, S. Bouncing Back: Vulnerability and Resistance in Times of Resilience.
In: BUTLER, J; GAMBETTI, Z.; SABSAY, L. (Eds.). Vulnerability and Resistance.
Durham: Duke University Press, 2016, p. 2-75.
BUTLER, J. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York:
Routledge, 1990.
BUTLER, J. Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence. London: Verso, 2004.
BUTLER, J. Frames of War: When is Life Grievable? London: Verso, 2009.
BUTLER, J. Rethinking Vulnerability and Resistance. In: BUTLER, J.; GAMBETTI,
Z.; SABSAY, L. (Eds.). Vulnerability and Resistance. Durham: Duke University
Press, 2016, p. 12-27.
CLAEYS, G. News from Somewhere: Enhanced Sociability and the Composite De-
finition of Utopia and Dystopia. History, v. 98, n. 330, 1-33, 2013.
FOUCAULT, M. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. Tradução de Alan
Sheridan. New York: Vintage Books, 1995.
FRIEDMAN, D. Future Imperfect: Technology and Freedom in Uncertain Worlds.
London: Cambridge University Press, 2011.
GEORGE, S. M. Millions of Missing Girls: From Fetal Sexing to High Technology
Sex Selection in India. Prenatal Diagnosis, v. 26, n. 7, p. 604-609, 2006.
GORDIN, M. D.; TILLEY, H.; PRAKASH, G. Utopia, Dystopia: Conditions of His-
toryical Possibility. Princeton: Princeton University Press, 2010.
HALBERSTAM, J. Female Masculinity. Durham: Duke University Press, 1998.
HALL, P.; LAMONT, M. Introduction: Social Resilience in the Neoliberal Era. In:
HALL, P.; LAMONT, M. (Eds.). Social Resilience in the Neoliberal Era. London:
Cambridge University Press, 2013, p. 1-32.
HINES, S. ‘I am a Feminist but…’: Transgender Men, Women and Feminism. In:
(Ed.). REGER, J. Different Wavelengths: Studies of the Contemporary Women’s
Movement. London: Routledge, 2005, p. 57-78.
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
229
HINES, S. TransForming Gender: Transgender Practices of Identity and Intimacy.
Bristol: Policy Press, 2007.
HIRSCH, M. Presidential Address: Connective Histories in Vulnerable Times. Mo-
dern Language Association of America, v. 129, n. 3, p. 330-348, 2014.
KHAIR, T. The New Xenophobia. Oxford: Oxford University Press, 2016.
KISHWAR, M. When Daughters are Unwanted: Sex Determination Tests in India.
Manushi, v. 86, p. 15-22, 1995.
MACKENZIE, C.; ROGERS, W.; DODDS, S. Introduction: What is Vulnerability
and Why Does it Matter for Moral Theory? In: MACKENZIE, C.; ROGERS, W.;
DODDS, S. (Eds.). Vulnerability: New Essays in Ethics and Feminist Philosophy.
Oxford: Oxford University Press, 2014, p. 1-29.
MCKENNA, E. The Task of Utopia: A Pragmatist and Feminist Perspective. Lanham:
Rowman & Littlefield Publishers, 2001.
MENON, N. The Impossibility of ‘Justice’: Female Foeticide and Feminist Discourse
on Abortion. Indian Sociology, v. 29, n. 1 & 2, p. 269-392, 1995.
MENON, N. Recovering Subversion: Feminist Politics Beyond the Law. Champaign:
University of Illinois Press, 2004.
MINISTRY of Law and Justice, Legislative Department. The Transgender Persons
(Protection of Rights Act. The Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 1,
2019. Acesso em: 1 abr. 2021. Disponível em: http://socialjustice.nic.in/writereaddata/
UploadFile/TG%20bill%20gazette.pdf
MOAZAM, F. Feminist Discourse on Sex Screening and Selective Abortion of Female
Fetuses. Bioethics, v. 18, n. 3, p. 205-220, 2004.
MOHANTY, C. T. Under Western Eyes Revisited: Feminist Solidarity through An-
ticapitalist Struggles. Signs: Journal of Women in Culture and Society, v. 28, n. 2, p.
499-535, 2003.
MOHANTY, C. Feminism without Borders: Decolonizing Theory, Practicing So-
lidarity. Durham: Duke University Press, 2003.
MONRO, S. Towards a Sociology of Gender Diversity: The Indian and UK Cases. In:
HINES, S.; SANGER, T. (Eds.). Transgender Identities: Towards a Social Analysis
of Gender Diversity. London: Routledge, 2010, p. 242-258.
MONRO, S.; WARREN, L. Transgendering Citizenship. Sexualities, v. 7, n. 3, p.
345-362, 2004.
NAVARRO-TEJERO, A; DIEGO-SÁNCHEZ, J. Conversation with Manjula Pad-
manabhan and Prayaag Akbar about the Dystopian World, 2020. Acesso em: 1
abr. 2021. Disponível em: https://youtu.be/PeH- Ddkm5fw
PADMANABHAN, M. Escape. Gurugram: Hachette India ebook, 2015a.
230 DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
PADMANABHAN, M. The Island of Lost Girls. Gurugram: Hachette India ebook, 2015b.
PALODKAR, R. P. Ecofeminism in India: Disappearing Daughters in Padmanabhan’s
Escape. The Quest, v. 25, n. 1, p. 55-61, 2011.
PATEL, R. The Practice of Sex Selection Abortion in India: May you Be the Mother of
a Hundred Sons. The Center for Global Initiatives, v. 7, 1996. Acesso em: 1 abr. 2021.
Disponível em: http://cgi.unc.edu/up- loads/media_items/the-practice-of-sex-se-
lective-abortion-in-india-may-you-be-the-mother-of-a- hundred-sons.original.pdf
PATEL, T. Sex-Selective Abortion in India: Gender, Society and New Reproductive
Technologies. New Delhi: Sage Publications, 2007.
PUREWAL, N. K. Son Preference: Sex-Selection, Gender and Culture in South Asia.
Oxford: Berg, 2010.
RAUSER, R. Is the Atheist My Neighbor?: Rethinking Christian Attitudes toward
Atheism. Eugene: Wipf and Stock Publishers, 2015.
SARGISSON, L. Contemporary Feminist Utopianism. London: Routledge, 1996.
SARGISSON, L. Utopian Bodies and the Politics of Transgression. London: Rout-
ledge, 2000.
SARGISSON, L. Fool’s Gold? Utopianism in the Twenty-First Century. New York:
Palgrave Macmillan, 2012.
SEN, A. Missing Women: Revisited. British Medical Journal, v. 327, n. 7427, p.
1297-1298, 2003.
STONE, S. The Empire Strikes Back: A Posttransexual Manifesto. Camera Obscura,
v. 10.2, n. 29, p. 150-176, 1992.
STRYKER, S.; SULLIVAN, N. King’s Member, Queen’s Body: Transsexual Surgery,
Self Demand Amputation and the Somatechnics of Sovereign Power. In: MURRAY,
S.; SULLIVAN, N. (Eds.). Somatechnics: Queering the Technologisation of Bodies.
Farnham: Ashgate Publishing Ltd, 2009, p. 49-63.
STANDING, G. The Precariat: The New Dangerous Class. London: Bloomsbury
Academic, 2011.
SEABROOK, J. Not Straight, Not Gay. The Pioneer, September 30, 1997.
THE NATIONAL INSTITUTION FOR TRANSFORMING INDIA AAYOG. Sex
Ratio Females / 1000 Males. Acesso em: 1 abr. 2021. Disponível em: https://niti.gov.
in/content/sex-ratio-females-1000-males.
WAGNER-LAWLOR, J. A. Postmodern Utopias and Feminist Fictions. New York:
Cambridge University Press, 2013.
DECOLONIZANDO SABERES INTERSECCIONADOS NA LITERATURA E NA EDUCAÇÃO
231
ISBN 978-85-93646-43-0
Você também pode gostar
- Tendências e Perspectivas nos Estudos Sobre as Relações Étnicas e Suas InterfacesNo EverandTendências e Perspectivas nos Estudos Sobre as Relações Étnicas e Suas InterfacesAinda não há avaliações
- Metafisicas Sexuais Canibalismo e DevoraDocumento24 páginasMetafisicas Sexuais Canibalismo e DevoraÉlio Corin LimaAinda não há avaliações
- O Uso Da Judicialização Como Forma de Conquista de Direitos para A População LGBTQIA+ Pelo Grupo MatizesDocumento307 páginasO Uso Da Judicialização Como Forma de Conquista de Direitos para A População LGBTQIA+ Pelo Grupo MatizesOlivia Cristina PerezAinda não há avaliações
- TESSITURAS EDUCATIVAS NA ATUALIDADE: ENTRELAÇANDO OLHARESNo EverandTESSITURAS EDUCATIVAS NA ATUALIDADE: ENTRELAÇANDO OLHARESNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Miolo - Compreender o Feminismo - 0102Documento94 páginasMiolo - Compreender o Feminismo - 0102Lara BarrosAinda não há avaliações
- Trabalho, Escravidão e Liberdade - Volume IDocumento8 páginasTrabalho, Escravidão e Liberdade - Volume IMetanoia EditoraAinda não há avaliações
- Professoras/ES em Disputa: Um Estudo de Caso na Rede Municipal de Ensino de Manaus Sobre o Trabalho com Gênero e Diversidade Sexual nas EscolasNo EverandProfessoras/ES em Disputa: Um Estudo de Caso na Rede Municipal de Ensino de Manaus Sobre o Trabalho com Gênero e Diversidade Sexual nas EscolasAinda não há avaliações
- Sexualidade Antiga e ModernaDocumento291 páginasSexualidade Antiga e ModernaCronopialmenteAinda não há avaliações
- V Colóquio Internacional de Literatura e GêneroDocumento759 páginasV Colóquio Internacional de Literatura e GênerogeisyydiasAinda não há avaliações
- Capítulo de ApresentaçãoDocumento8 páginasCapítulo de ApresentaçãoMárcio Neman PandaAinda não há avaliações
- Estudos QueerDocumento350 páginasEstudos QueerLuiz Carlos Martins de SouzaAinda não há avaliações
- Letramentos e Práticas de EnsinoDocumento202 páginasLetramentos e Práticas de EnsinokelishiiAinda não há avaliações
- Diálogos Com Os Guarani-Ebook-4nov2021Documento246 páginasDiálogos Com Os Guarani-Ebook-4nov2021Andrea FrancoAinda não há avaliações
- Congresso de Literatura e GêneroDocumento387 páginasCongresso de Literatura e GêneroAnonymous Syhm81TgraAinda não há avaliações
- 2023_10_05_tese_versão_depósitoDocumento224 páginas2023_10_05_tese_versão_depósitoRodrigo Lins BarbosaAinda não há avaliações
- Revista PluralistasDocumento108 páginasRevista PluralistasMasaaki Alves FunakuraAinda não há avaliações
- RAU Vol10n2Documento300 páginasRAU Vol10n2Ana LuAinda não há avaliações
- Corpos em Aliança. Ana Cláudia Aymore Martins Elias Ferreira Veras (2020)Documento305 páginasCorpos em Aliança. Ana Cláudia Aymore Martins Elias Ferreira Veras (2020)Fabiani Figueiredo CaseiraAinda não há avaliações
- CRIAS EXTRA MUROS Final-1-10Documento10 páginasCRIAS EXTRA MUROS Final-1-10andreaszAinda não há avaliações
- Marighella TeseDocumento231 páginasMarighella TeseYggysAinda não há avaliações
- Desafios Da Alteridade Antropologia Na Universidade Federal de SergipeDocumento283 páginasDesafios Da Alteridade Antropologia Na Universidade Federal de SergipeRonaldo Araújo100% (2)
- Sujeitos de Gênero - Escritos e Outras LinguagensDocumento676 páginasSujeitos de Gênero - Escritos e Outras LinguagensSimone Xavier Moreira100% (1)
- Gênero e Sexualidade em Perspectiva SocialDocumento306 páginasGênero e Sexualidade em Perspectiva Socialtyrone_melloAinda não há avaliações
- PENELU, Larissa. TeseDocumento348 páginasPENELU, Larissa. TeseArtur SantanaAinda não há avaliações
- Livro A Entrevista CompletoDocumento204 páginasLivro A Entrevista CompletoMariana Braga100% (1)
- CIPIAL 2019: Índios e CidadesDocumento1.356 páginasCIPIAL 2019: Índios e CidadesMarcelo BogadoAinda não há avaliações
- Livro de ResumosDocumento193 páginasLivro de ResumosMárcio CarvalhoAinda não há avaliações
- Amazônias sob novos olharesDocumento288 páginasAmazônias sob novos olharesMariah Torres Aleixo100% (1)
- Raça e nação em Xavier MarquesDocumento241 páginasRaça e nação em Xavier Marquesthiago calligaAinda não há avaliações
- A caça Kanindé: saberes e resistênciaDocumento120 páginasA caça Kanindé: saberes e resistênciaCarolinne MeloAinda não há avaliações
- Potências do ‘sentirfazerpensar’ com gestos e histórias em tempos de pandemiaDocumento22 páginasPotências do ‘sentirfazerpensar’ com gestos e histórias em tempos de pandemiaCatia LindemannAinda não há avaliações
- TCC RoselyDocumento45 páginasTCC RoselyMateus Meneses CampeloAinda não há avaliações
- Mulheres Direção Cinema RetomadaDocumento215 páginasMulheres Direção Cinema RetomadaNaiade BianchiAinda não há avaliações
- Indígenas na antropologia: desafios da afirmação do protagonismo acadêmicoDocumento28 páginasIndígenas na antropologia: desafios da afirmação do protagonismo acadêmicoAmilton LimaAinda não há avaliações
- Generos e Práticas de SubjetivaçãoDocumento188 páginasGeneros e Práticas de SubjetivaçãoGustavo BarrionuevoAinda não há avaliações
- Oliveira - E - A - & - Sathler - C - N - Por Entre Sangue, Pus e Suor - EbookDocumento223 páginasOliveira - E - A - & - Sathler - C - N - Por Entre Sangue, Pus e Suor - EbookluciofsgAinda não há avaliações
- Interfaces IndígenasDocumento306 páginasInterfaces IndígenasSandra MattosAinda não há avaliações
- Grau+Zero v11 n1Documento260 páginasGrau+Zero v11 n1jaime netoAinda não há avaliações
- Dissertação Barbara AriolaDocumento131 páginasDissertação Barbara AriolaAmanda CândidoAinda não há avaliações
- Trabalho, Escravidão e Liberdade - Volume IIDocumento8 páginasTrabalho, Escravidão e Liberdade - Volume IIMetanoia EditoraAinda não há avaliações
- Literatura, Homoerotismo e Expressões Homoculturais Mitidieri-9788574554426Documento295 páginasLiteratura, Homoerotismo e Expressões Homoculturais Mitidieri-9788574554426Santana Glícia MaiaAinda não há avaliações
- BAGOAS07Documento362 páginasBAGOAS07Rodrigo Costa de OliveiraAinda não há avaliações
- Altivo - Rosário Dos Kamburekos Espirais de Cura Da Ferida Colonial Pelas Crianças Negras No ReinadinhoDocumento314 páginasAltivo - Rosário Dos Kamburekos Espirais de Cura Da Ferida Colonial Pelas Crianças Negras No ReinadinhoSueli OliveiraAinda não há avaliações
- MulheresLivres EDUFBA PDF 230619 080251Documento133 páginasMulheresLivres EDUFBA PDF 230619 080251dolorescristinaAinda não há avaliações
- 2011 Dis SmvsantosDocumento152 páginas2011 Dis SmvsantosEudes SousaAinda não há avaliações
- UntitledDocumento347 páginasUntitledRodrigo Sousa FialhoAinda não há avaliações
- Diálogo Com Os Guarani E-BookDocumento258 páginasDiálogo Com Os Guarani E-BookLuisa Magaly100% (1)
- Psicologia Desenvolvimento Contexto BrasileiroDocumento315 páginasPsicologia Desenvolvimento Contexto BrasileiroFabio Pinheiro PachecoAinda não há avaliações
- A CORPOREIDADE NA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA - Roberta Jardim CoubeDocumento83 páginasA CORPOREIDADE NA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA - Roberta Jardim CoubeVaneska CostaAinda não há avaliações
- Pelas Veredas Do Fantastico PDFDocumento368 páginasPelas Veredas Do Fantastico PDFAlfredo PalacioAinda não há avaliações
- Buzato - Sentido Informação e Precariedade Da Vida Como É o Rosto Do Pós HumanoDocumento29 páginasBuzato - Sentido Informação e Precariedade Da Vida Como É o Rosto Do Pós HumanombuzatoAinda não há avaliações
- E-Book Discurso e Crise SocietáriaDocumento336 páginasE-Book Discurso e Crise SocietáriaCíntia AbreuAinda não há avaliações
- Atualizar o Mito - Práticas Indígenas Na UniversidadeDocumento107 páginasAtualizar o Mito - Práticas Indígenas Na UniversidadeEduardo NunesAinda não há avaliações
- Mulheres, Gênero e RaçaDocumento306 páginasMulheres, Gênero e RaçaLarissa Almeida100% (1)
- Glossário - Maria Antonia de SousaDocumento166 páginasGlossário - Maria Antonia de SousaFani SwiillerAinda não há avaliações
- ArquivototalDocumento232 páginasArquivototalJUNIOR SILVAAinda não há avaliações
- Livro Africanidades - 2021 - Digital - ProntoDocumento302 páginasLivro Africanidades - 2021 - Digital - ProntoSandra MattosAinda não há avaliações
- Oya BethaniaDocumento158 páginasOya BethaniaOlavo NetoAinda não há avaliações
- (Désirée Motta-Roth) Escrita AcademicaDocumento103 páginas(Désirée Motta-Roth) Escrita AcademicaStephanie Vasconcelos100% (4)
- Modelo - Como Elaborar Um Projeto de PesquisaDocumento10 páginasModelo - Como Elaborar Um Projeto de PesquisaPedro IvoAinda não há avaliações
- Mestrado Versao Definitiva Sofia SoaresDocumento121 páginasMestrado Versao Definitiva Sofia SoaresPedro IvoAinda não há avaliações
- Poesia Nao Eh Um Luxo Audre Lorde2Documento2 páginasPoesia Nao Eh Um Luxo Audre Lorde2Thiane NevesAinda não há avaliações
- PEDAGOGIA - 2015 - LISTu00C3O 02 - TEORIASDocumento5 páginasPEDAGOGIA - 2015 - LISTu00C3O 02 - TEORIASPedro IvoAinda não há avaliações
- Stonewall 40 Cult9 RIDocumento288 páginasStonewall 40 Cult9 RIProfessorRoneyAinda não há avaliações
- Livro Oduns PDFDocumento55 páginasLivro Oduns PDFAndersonAguiarOdéIfé100% (2)
- Fitoterapia indígena ciclos femininosDocumento12 páginasFitoterapia indígena ciclos femininosWesley Avante100% (3)
- (Humanidades e Tecnologias) Publicação - Formação Humana e DCERERN-243-270Documento28 páginas(Humanidades e Tecnologias) Publicação - Formação Humana e DCERERN-243-270Pedro IvoAinda não há avaliações
- Aula LiteraturaDocumento6 páginasAula LiteraturaPedro IvoAinda não há avaliações
- Bonnici Thomas-Teoria e Critica Pós-ColonialistasDocumento29 páginasBonnici Thomas-Teoria e Critica Pós-ColonialistasSérgio MassagliAinda não há avaliações
- Texto - Palavra e VocábuloDocumento4 páginasTexto - Palavra e VocábuloPedro IvoAinda não há avaliações
- Conceição Evaristo - PoemasDocumento1 páginaConceição Evaristo - PoemasPedro IvoAinda não há avaliações
- Leitura de Literatura Na Formacao de Pro PDFDocumento7 páginasLeitura de Literatura Na Formacao de Pro PDFPedro IvoAinda não há avaliações
- Histórias de Vida de Negros Homossexuais - MasculinidadesDocumento13 páginasHistórias de Vida de Negros Homossexuais - MasculinidadesPedro IvoAinda não há avaliações
- Sepe - Semipe - Anais - 2016Documento11 páginasSepe - Semipe - Anais - 2016Pedro IvoAinda não há avaliações
- Dissertacao PortaisBauCavalo PDFDocumento106 páginasDissertacao PortaisBauCavalo PDFPedro IvoAinda não há avaliações
- Política Linguística - Fundamentação TeóricaDocumento18 páginasPolítica Linguística - Fundamentação TeóricaPedro IvoAinda não há avaliações
- Insubmissão e Resistência PDFDocumento12 páginasInsubmissão e Resistência PDFPedro IvoAinda não há avaliações
- Integração Cultural No MercosulDocumento8 páginasIntegração Cultural No MercosulPedro IvoAinda não há avaliações
- Template para Comunicacao OralDocumento2 páginasTemplate para Comunicacao OralPedro IvoAinda não há avaliações
- A EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NEGRAS NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DO CURSO DE LETRAS: Vivências e PerspectivasDocumento2 páginasA EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NEGRAS NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DO CURSO DE LETRAS: Vivências e PerspectivasPedro IvoAinda não há avaliações
- Afroqueer Existência - EncartesDocumento9 páginasAfroqueer Existência - EncartesPedro IvoAinda não há avaliações
- Abeh - Resumo Trabalho Narrativas (Afrobixas)Documento7 páginasAbeh - Resumo Trabalho Narrativas (Afrobixas)Pedro IvoAinda não há avaliações
- Modelo Do Resumo CEPE 2015Documento1 páginaModelo Do Resumo CEPE 2015Pedro IvoAinda não há avaliações
- Políticas Linguísticas para o Ensino de Português Língua Estrangeira em Países Do MercosulDocumento1 páginaPolíticas Linguísticas para o Ensino de Português Língua Estrangeira em Países Do MercosulPedro IvoAinda não há avaliações
- Educação Das Relações Étnico-Raciais Negras Na Escola: Uma Experiência de Formação DocenteDocumento12 páginasEducação Das Relações Étnico-Raciais Negras Na Escola: Uma Experiência de Formação DocentePedro IvoAinda não há avaliações
- Narrativas de Formação Humana - Resumo Expandido Pub. v.3 2016Documento7 páginasNarrativas de Formação Humana - Resumo Expandido Pub. v.3 2016Pedro IvoAinda não há avaliações
- Narrativas de Formação Humana de Negros HomossexuaisDocumento1 páginaNarrativas de Formação Humana de Negros HomossexuaisPedro IvoAinda não há avaliações
- Ensino da Antiguidade: experiências e reflexõesDocumento161 páginasEnsino da Antiguidade: experiências e reflexõesAlessandro GregoriAinda não há avaliações
- Apresentação Matriz de RiscoDocumento24 páginasApresentação Matriz de RiscoCarlos Cassiavillani100% (1)
- Matemática PDFDocumento39 páginasMatemática PDFCharlesAlbertAlbert100% (1)
- Os deuses da antiga MesopotâmiaDocumento34 páginasOs deuses da antiga MesopotâmiaNataniel MendesAinda não há avaliações
- Fundamentos Sobre Sistemas de InformaçãoDocumento5 páginasFundamentos Sobre Sistemas de InformaçãoEricson DeysonAinda não há avaliações
- Os Sete Choros de JoséDocumento3 páginasOs Sete Choros de JoséAlessandro Cardoso Cardoso0% (1)
- Eric Voegelin Historia Das Ideias Politicas Vol IV Renascena e ReformaDocumento367 páginasEric Voegelin Historia Das Ideias Politicas Vol IV Renascena e ReformaAdeilson TorresAinda não há avaliações
- Código de Ética de Conciliadores e Mediadores JudiciaisDocumento2 páginasCódigo de Ética de Conciliadores e Mediadores JudiciaisIvana Lima RegisAinda não há avaliações
- Resoluo N 150 2019-ConsepeDocumento71 páginasResoluo N 150 2019-ConsepeGabriela BonAinda não há avaliações
- Controle de Medição de ContratoDocumento23 páginasControle de Medição de ContratoPaulo DinizAinda não há avaliações
- Novos Limiares Da Fé-3 - 142Documento69 páginasNovos Limiares Da Fé-3 - 142Alexandre FonsecaAinda não há avaliações
- Zonas de visualização da página impressaDocumento4 páginasZonas de visualização da página impressaNosreffej OjuaraAinda não há avaliações
- TCC Auditoria em EnfermagemDocumento20 páginasTCC Auditoria em EnfermagemNarielly Galvão100% (3)
- Ética profissional: individualismo vs coletivoDocumento20 páginasÉtica profissional: individualismo vs coletivoagostinhomarinhoAinda não há avaliações
- Estudo Dirigido - Sistema LinfáticoDocumento6 páginasEstudo Dirigido - Sistema LinfáticoThaísUrbinati100% (2)
- A Senhora Igreja de Laodiceia Rica e o o Reino Dos Céus Pr. George R. KnightDocumento134 páginasA Senhora Igreja de Laodiceia Rica e o o Reino Dos Céus Pr. George R. KnightRegerson MolitorAinda não há avaliações
- Você Tem 4 Tipos de Almas GêmeasDocumento3 páginasVocê Tem 4 Tipos de Almas GêmeasVirgilio PettriAinda não há avaliações
- Relatorio Difração de Raio X 2Documento11 páginasRelatorio Difração de Raio X 2IgorPeixotoAinda não há avaliações
- Estereótipos de gênero e influência nas práticas corporais na Educação FísicaDocumento4 páginasEstereótipos de gênero e influência nas práticas corporais na Educação FísicaAlice MelloAinda não há avaliações
- Marketing EsportivoDocumento90 páginasMarketing EsportivoMiller MillerAinda não há avaliações
- Tratado de Demonolatria e Magia NegraDocumento2 páginasTratado de Demonolatria e Magia NegraDanilo PestanaAinda não há avaliações
- Prova Do Senai 2008Documento11 páginasProva Do Senai 2008thethiago100% (1)
- Guia Prático Da ReconquistaDocumento77 páginasGuia Prático Da ReconquistaMagno CardosoAinda não há avaliações
- Ficha de Trabalho 1Documento3 páginasFicha de Trabalho 1dorarocha68Ainda não há avaliações
- Escola Bíblica de Férias - Eco-MissãoDocumento99 páginasEscola Bíblica de Férias - Eco-MissãoNelmo Monteiro PintoAinda não há avaliações
- Manual de Chefia e LiderançaDocumento94 páginasManual de Chefia e LiderançaIode Carlos O ResilienteAinda não há avaliações
- Avaliação Cultura Segurança Cuidados Saúde PrimáriosDocumento5 páginasAvaliação Cultura Segurança Cuidados Saúde PrimáriosLusa Roxo CoutoAinda não há avaliações
- INSTITUTO NEUROSABER. DSM5 e o Diagnóstico No TEA.Documento4 páginasINSTITUTO NEUROSABER. DSM5 e o Diagnóstico No TEA.Laelson Miranda100% (1)
- Apostila 1.1. - Introdução À SociologiaDocumento3 páginasApostila 1.1. - Introdução À SociologiaPré-Universitário Oficina do Saber UFFAinda não há avaliações
- Justificação de Inadimplemento de Pensão - Reinaldo SantosDocumento9 páginasJustificação de Inadimplemento de Pensão - Reinaldo Santosfelipe zanonAinda não há avaliações
- Carnavais, malandros e heróis: Para uma sociologia do dilema brasileiroNo EverandCarnavais, malandros e heróis: Para uma sociologia do dilema brasileiroNota: 4 de 5 estrelas4/5 (1)
- Piaget, Vigotski, Wallon: Teorias psicogenéticas em discussãoNo EverandPiaget, Vigotski, Wallon: Teorias psicogenéticas em discussãoNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (21)
- Contos que curam: Oficinas de educação emocional por meio de contosNo EverandContos que curam: Oficinas de educação emocional por meio de contosNota: 5 de 5 estrelas5/5 (8)
- O homem é aquilo que ele pensa: Saúde, Felicidade e Abundância Através do Domínio do pensamentoNo EverandO homem é aquilo que ele pensa: Saúde, Felicidade e Abundância Através do Domínio do pensamentoNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (16)
- Introdução a Sociologia: Marx, Durkheim e Weber, referências fundamentaisNo EverandIntrodução a Sociologia: Marx, Durkheim e Weber, referências fundamentaisNota: 5 de 5 estrelas5/5 (3)
- O racismo, a cruz e o cristão: A nova linhagem em CristoNo EverandO racismo, a cruz e o cristão: A nova linhagem em CristoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Racismo Algorítmico: Inteligência artificial e discriminação nas redes digitaisNo EverandRacismo Algorítmico: Inteligência artificial e discriminação nas redes digitaisNota: 5 de 5 estrelas5/5 (9)
- Jogo e civilização: História, cultura e educaçãoNo EverandJogo e civilização: História, cultura e educaçãoAinda não há avaliações
- Superando o Ciúme Retroativo: Um Guia Para Superar el Passado da Sua Parceira e Encontrar a PazNo EverandSuperando o Ciúme Retroativo: Um Guia Para Superar el Passado da Sua Parceira e Encontrar a PazNota: 5 de 5 estrelas5/5 (7)
- Limite zero: O sistema havaiano secreto para prosperidade, saúde, paz, e mais aindaNo EverandLimite zero: O sistema havaiano secreto para prosperidade, saúde, paz, e mais aindaNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (21)
- Freud e o casamento: O sexual no trabalho de cuidadoNo EverandFreud e o casamento: O sexual no trabalho de cuidadoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Opressão De Mulheres E Meninas Baseada No Sexo Biológico FemininoNo EverandOpressão De Mulheres E Meninas Baseada No Sexo Biológico FemininoAinda não há avaliações
- Pense Como Um Gênio: Os Sete Passos Para Encontrar Soluções Brilhantes Para Problemas ComunsNo EverandPense Como Um Gênio: Os Sete Passos Para Encontrar Soluções Brilhantes Para Problemas ComunsNota: 4 de 5 estrelas4/5 (27)
- Feminismos e interseccionalidade: Mulheres negras, protagonistas de suas históriasNo EverandFeminismos e interseccionalidade: Mulheres negras, protagonistas de suas históriasNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Pensamento Positivo: a arte de transformar seu pensamento negativo em positivoNo EverandPensamento Positivo: a arte de transformar seu pensamento negativo em positivoAinda não há avaliações
- Guia prático para negócios de impacto socialNo EverandGuia prático para negócios de impacto socialNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- Neoliberalismo E Criminalização Da PobrezaNo EverandNeoliberalismo E Criminalização Da PobrezaAinda não há avaliações
- A nova morfologia do trabalho no serviço socialNo EverandA nova morfologia do trabalho no serviço socialNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Atletismo: Desenvolvimento Humano e Aprendizagem EsportivaNo EverandAtletismo: Desenvolvimento Humano e Aprendizagem EsportivaAinda não há avaliações
- Preso na Gaiola: A Criminalização do Funk Carioca nas Páginas do Jornal do Brasil (1990-1999)No EverandPreso na Gaiola: A Criminalização do Funk Carioca nas Páginas do Jornal do Brasil (1990-1999)Ainda não há avaliações
- Dê um salto quântico na sua vida: Como treinar a sua mente para viver no presente e fazer o mundo conspirar a seu favorNo EverandDê um salto quântico na sua vida: Como treinar a sua mente para viver no presente e fazer o mundo conspirar a seu favorNota: 3.5 de 5 estrelas3.5/5 (8)
- Cultura de paz e educação para a paz: Olhares a partir da complexidadeNo EverandCultura de paz e educação para a paz: Olhares a partir da complexidadeAinda não há avaliações
- Cosmopolítica do cuidado: percorrendo caminhos com mulheres líderes quilombolasNo EverandCosmopolítica do cuidado: percorrendo caminhos com mulheres líderes quilombolasAinda não há avaliações
- Ideologia de gênero: E a crise de identidade sexualNo EverandIdeologia de gênero: E a crise de identidade sexualNota: 2 de 5 estrelas2/5 (4)