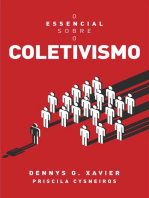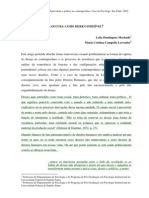Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
679-Texto Do Artigo-1202-1-10-20170424
Enviado por
mauro gomesTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
679-Texto Do Artigo-1202-1-10-20170424
Enviado por
mauro gomesDireitos autorais:
Formatos disponíveis
O problema da 145
monstruosidade *
Artefilosofia, Ouro Preto, n.7, p. 145-151, out.2009
Helmuth Plessner
Deveríamos ser mais econômicos no uso das palavras “monstro” e
“monstruoso”. A elas adere um pathos que, de toda forma, não com-
bina bem com as excepcionalidades do cotidiano. Desde sempre a es-
fera do humano é marcada por um esgotamento desumano, e aquilo
que o homem provocou ao longo de todas as épocas não ultrapassa
esta esfera mesmo quando o rito assim o prescreve. O sacrifício hu-
mano dos astecas só era uma atrocidade aos olhos dos cristãos. O
canibalismo, não menos ritualizado, vive da idéia de que se pode
incorporar a força do inimigo. E quanto à vingança de sangue? Na
sua noite de núpcias, um médico siciliano descobre que não se casara
com uma mulher virgem. Antes de cortar-lhe o pescoço, ele a obriga
a revelar o nome do sedutor, e, no dia seguinte, não o tendo encon-
trado, mata-lhe a irmã. Um monstro? Mas teremos de denominar
monstruosos, de maneira enfática, ao menos o assassino de crianças
Haarmann1 e os atos do Terceiro Reich. Entretanto: sob quais crité-
rios? De que possibilidades do ser humano, de negar-se e negar a seus
semelhantes, se fala quando se emprega o atributo “monstruoso”? As
atrocidades da Inquisição, da caça às bruxas e da industrialização dos
assassinatos em massa são perdoáveis a nosso ver por terem detrás de *
Título original: “Das Problem
si a Igreja ou o Estado? O arsenal de representações dos monstros der Unmenschlichkeit”.
Extraído de Helmuth Plessner.
cinematográficos como Caligari, Mabuse e Frankenstein se livra do Gesammelte Schriften
veredicto da monstruosidade pelo fato de o espectador poder tran- VIII. Frankfurt am Main:
qüilizar-se com o psiquiatra? Suhrkamp, 1983, p. 328-
337. Optamos por traduzir
Hoje em dia colocamos a questão com ainda mais urgência que o termo Unmenschlichkeit
há tempos atrás, visto que só temos uma concepção ainda muito vaga por “monstruosidade”. A
tradução mais cômoda seria
do que é o Humano. Num mundo marcado pelo rápido desgaste da “desumanidade”. O problema
moralidade tradicional e pela exigência sempre renovada de se dar desta opção é que ela nos afasta
conta do imprevisível, estamos obrigados a compreender os critérios da intensidade do termo original,
sobretudo quando o substantivo
da humanidade de forma ainda mais ampla e imprecisa do que teria empregado é Unmensch,
parecido admissível para a geração dos europeus vitorianos. Aquela para a qual “o desumano” não
oferece um correspondente
geração não foi melhor que a nossa, no entanto ela era mais segura e adequado. Por razões estilísticas,
auto-confiante. As concepções sobre a humanidade, sem dúvida mais porém, empregou-se o adjetivo
numerosas e marcadas por preconceitos de tipo estamental, eram, em “desumano” em algumas
passagens. Agradecemos às
todo caso, bem estabelecidas, mesmo que em grande medida ilógicas, preciosas sugestões feitas
insinceras e farisaicas. Todavia, eram claras e – com ou sem referência pelo parecerista anônimo da
Artefilosofia, a maior parte das
à Bíblia ou aos ideais clássicos – pensadas para a eternidade. A orien- quais incorporamos (NT).
tação que elas proporcionavam não está mais disponível para nós. Por 1
Fritz Haarmann, famoso serial
um lado, sabemos o suficiente sobre a diversidade dos povos e o po- killer alemão da década de 1920.
der da história para acreditar ainda em uma única norma, e por outro Calcula-se que entre 1923 e
1924 Haarmann tenha matado
aceitamos demasiado prontamente o que a nossa época exige de nós. e esquartejado pelo menos 25
Ou seja: para melhorar a capacidade de adaptação às condições exi- pessoas (NT).
gidas por viagens interplanetárias de longa duração, seríamos capazes
146 de substituir partes do aparelho digestivo dos astronautas por órgãos
artificiais, ou de manter o metabolismo num nível baixo por meio
de períodos de hibernação artificial. E então a opinião pública reage,
Helmuth Plessner
quando muito, com surpresa e admiração diante das possibilidades da
medicina; entretanto a ninguém perturba a idéia de que o homem
deva se tornar uma máquina. Em todo o caso, ainda é o homem
que alimenta o computador com informações. Ou a bioquímica dos
medicamentos para distúrbios psíquicos: alguém duvida seriamente
que com sua ajuda se elevará nosso grau de refinada influência sobre
os estados mentais e seu substrato físico? Ou a bioquímica do meca-
nismo da hereditariedade: com o crescente conhecimento a respeito
não se aproxima a visão de que seu controle nos passará às mãos?
O Brave New World de Huxley e o 1984 de Orwell não têm de ser
realizados ao pé da letra. Para tanto há demasiados fatores em jogo, e,
contudo, eles permitem vislumbrar o caminho rumo à monstruosi-
dade vindoura.
Ou isso tudo não significaria – algo que os panegiristas de épo-
cas passadas adorariam ouvir – que nós levamos a cabo uma desuma-
nização geral, uma reconstrução da sociedade graças a uma recons-
trução do homem, e que se estendeu até mesmo ao plano biológico?
Mas se sua capacidade de dispor sobre aquilo que ele próprio realiza
– capacidade essa que pode ser suscetível de uma grande dose de
auto-engano – o torna igualmente capaz tanto de afirmação quanto
de negação de si mesmo, onde então, em um mundo que funciona
assim, encontramos a monstruosidade?
A arte é um sismógrafo para abalos das profundezas. A fascina-
ção que sobre nós exerce atualmente qualquer forma de alienação no
teatro, no cinema, em todo o espectro de transmissões óticas ou acús-
ticas, não é apenas uma reação aos horrores do passado, não apenas
um acerto de contas com ele, mas a tentativa de fazer tabula rasa, de
liquidá-lo (um dos gestos preferidos de nossa época) com o objetivo
de estar livre para o vindouro, que por sua vez só é reconhecível
enquanto tendência. Só que não há mais qualquer sentido moral em
colocar-se o problema da monstruosidade a partir deste cenário de
abertura ilimitada. Este sentido moral precisa de um contraponto re-
ligioso e estaria dado somente sob a forma de uma convenção social.
Em nossa sociedade experimental tudo é auto-evidente, à exceção
da moral. Esta insegurança reflete-se na questão sobre o que é, num
sentido específico, a natureza humana – e do que ela é capaz.
Desde sempre o homem compreende-se como um ser duplo
(Zwischenwesen), metade animal, metade espírito; uma condição de
incompletude que, articulada, está na origem de sua força e de sua
fraqueza. Ele se vê como pessoa, ou seja, ele é, segundo uma formula-
ção de Kant, o único ser vivo na terra capaz de dizer “eu” para si mes-
mo. Esta capacidade de desdobramento para dentro de si mesmo de-
termina uma reciprocidade para fora: ele descobre coisas, seres vivos e
seus semelhantes como centros de ação autônomos. O companheiro
com que vivo também está absorto em si, fechado e, simultaneamen-
te, aberto para mim. Um espelho do espelho, para usar as palavras de
Jean Paul. Aplica-se aí, ou antes, daí resulta a caracterização da situa- 147
ção estruturante do ser humano em comparação com a situação do
animal, e que é dada por Kant em sua Idéia para uma história universal
Artefilosofia, Ouro Preto, n.7, p. 145-151, out.2009
de um ponto de vista cosmopolita: “O homem tem uma inclinação para
associar-se porque se sente mais como homem num tal estado, pelo
desenvolvimento de suas disposições naturais. Mas ele tem também
uma forte tendência a isolar-se, porque encontra em si ao mesmo
tempo uma qualidade insociável que o leva a querer conduzir tudo
simplesmente em seu proveito, esperanto oposição de todos os lados,
do mesmo modo que sabe que está inclinado a, de sua parte, fazer
oposição aos outros”.2 Os indivíduos têm de se impor nesta forma
social de sociedade insociável, o que, diferentemente das comunida-
des animais – reguladas, em larga medida, através de instintos –, sabi-
damente só as leva a uma normatização artificial e nunca duradoura
de fato. Por isto há tantos sistemas sociais heterogêneos que nunca
nos satisfazem completamente, mantidos à custa da tradição e que
precisam exigir uma total obediência; isto é, que nunca sobrevivem
sem a ameaça de sanções. Quando muito, quadrilhas, hordas e ban-
dos quebram momentaneamente uma hierarquia por meio da força.
A forma de socialização destes tem, neste particular, determinadas
semelhanças superficiais com a forma predominante de ordenação e
subordinação (que será mantida, mas também quebrada). Graças à sua
personalidade, o homem foi capaz de se distanciar de tudo e de todos.
Ele se espelha em outros. Ego e alter ego estão entrecruzados.
O homem deve ser capaz de suportar tal forma de socialização:
arriscada e não exatamente apropriada, frágil, sedutora e sujeita a
constante transformação.Tanto como um ser dotado de entendimen-
to, quanto de instintos e necessidades físicas. Como a divisão entre
ambos os aspectos não pode ser pensada através do modelo mítico
do centauro (na frente o humano, atrás le beau reste) mas constitui
uma existência em que ambas as coisas estão entrelaçadas, e todo o
Ser acha-se à luz de uma originalidade sempre traída, o humano é
também, e sempre, a modificação infame e depravada de si mesmo.
Pretendeu-se ver as esferas do demasiado humano e do desu-
mano numa mesma linha, ainda que não necessariamente equipará-
las. O uso cotidiano da palavra não é nem exato nem coerente, o que
não deveria impedir que as metamorfoses da infâmia pudessem susci-
tar tanto interesse científico quanto as (também raramente levadas a
sério) passions de l’âme. Para Hobbes, por exemplo, aquelas se reduzem
ao egoísmo e ao medo da morte. Elas são forças motoras que, em si
mesmas, conduzem à anarquia e à autodestruição. Por exemplo: a in-
veja e o ciúme (se bem que não sejam estranhas aos animais em dadas
situações), crescem no homem, devido a seu caráter auto-centrado 2
Trecho da quarta tese.
(Ichhaftigkeit), não apenas em proporção mas tornam-se constantes Utilizamo-nos aqui da
tradução feita por Rodrigo
nas relações sociais, constantes estas que devemos levar em conta. Naves e Ricardo Terra: KANT,
Por outro lado, a avareza e tudo o que se relaciona ao status social Immanuel. Idéia de uma história
universal de um ponto de vista
são exclusivos do homem, já que pressupõem consciência quanto ao cosmopolita. São Paulo: Martins
futuro e quanto às normas sociais. Também a atrocidade é especifica- Fontes, 2004, p. 8 (NT).
mente humana (a despeito de todas as ridículas análises feitas, por
148 exemplo, sobre o comportamento dos predadores). A atrocidade
desdobra-se em uma dupla participação na vida do outro, uma
participação objetivante e que ao mesmo tempo se manifesta, e
Helmuth Plessner
cujo desdobramento está atrelado à possibilidade de objetivação. O
animal só é capaz de matar (para se proteger e para sobreviver), o
homem assassina porque conhece o significado da finitude.
O caráter vital do homem, em comparação com o do animal,
é dual porque ele tem de se imaginar em qualquer situação: eu
estou aqui, lá está o outro. Mas este desdobramento não significa
apenas inibição da pulsão, ele significa também a chance de sua
transformação. Como a estruturação do ambiente humano produz
focos de iniciativa e interesse plenamente caracterizados e isolados
entre si, os quais são articulados de forma rigorosamente recíproca
e espelhada, e como um indivíduo sempre se iguala a outro, isto
significa que, graças a essa igualdade, tal estruturação não se har-
moniza com as necessidades vitais do homem senão ao custo de
ruptura e transformação sempre que um deles se opuser e tornar-
se inacessível a outro. Assim, diríamos com Freud que esse homem
comum já estaria fracassado diante da alternativa que se coloca
entre neurose e sublimação. Não apenas a atmosfera erótica da
época de Schnitzler, não apenas a repressora cultura puritana dos
anglo-saxões: nenhuma sociedade humana se adequa inteiramente
ao equipamento pulsional de seus membros. Para um ser que, dis-
pondo de uma “interioridade”, é capaz de dissimular, a mentira e a
perfídia se tornam instrumentos. Os animais não têm esta dimen-
são interior e conhecem o “querer” desenvolver reações defensivas
por meio de efeitos enganadores em relação ao seu meio (quando
extenuados e diante do perigo), mas não o enganar em si.
Por isso é possível atribuir uma ação infame a um indivíduo,
mas não ao genus humanum. De fato, nenhum figurino social assen-
ta totalmente nele, apenas enquanto mero figurino. Sem tal figuri-
no o ser humano seria somente um ser humano no nível estrutural,
e isso a despeito de todas as utopias sentimentais relativas ao seu
caráter natural, ao seu caráter originário e à sua indivisibilidade. O
homo faber que transforma um pedaço de madeira numa flauta fará
também dos homens instrumentos quando lhe der na cabeça.
O que é demasiado humano manifesta sua fraqueza e sua for-
ça dissimulada – o requinte indireto da espécie Homo – mas com
certeza nenhuma monstruosidade. Como muitos animais, nós po-
demos nos tornar viciados em alguma coisa, porém a transmutação
de vício em paixão só é possível ao homem porque ele é dotado de
um Eu ilimitado, de uma insaciabilidade, de um agonizar de desejo
prazerosamente desfrutado. Sua vantagem em relação a todas as de-
mais criaturas – a sua personalidade – é sua prisão. Infelizmente, é
destituída de fundamento a tola comparação de Spengler, segundo
a qual o homem seria um animal de rapina. Se o fosse, poder-se-ia
domá-lo. Entretanto, o homem não é um produto passível de do-
mesticação, nem mesmo por si mesmo. Ele não se presta a tornar-se
uma só coisa, embora muitos tenham apostado na idéia de auto-
domesticação, como se o homem primitivo tivesse aberto mão de 149
sua liberdade. O animal de rapina vive limitado por seus instintos,
ele se mede pela satisfação de suas pulsões. Somente em livros in-
Artefilosofia, Ouro Preto, n.7, p. 145-151, out.2009
fantis se pode querer ilustrar fenômenos como imperialismo, desejo
de conquista e guerras sangrentas com a imagem da rapina. Apenas
o homem desconhece limitações, somente ele se torna vítima de
seus sonhos e das conseqüências de seus sonhos. A ausência de limi-
tes é o estigma do homem, pois lhe falta a força diretriz e protetora
dos instintos. A ausência de limites pode arruiná-lo, mas, como diz
Bollnow, nem por isso ela implica em monstruosidade.3 Vício e fú-
ria destroem o homem: ele não se reconhece mais, ele torna-se “um
animal” – uma metáfora erradamente escolhida para a perda de si
mesmo –, todavia não chamamos de monstruosa esta queda, uma
vez que ele, mesmo quando talvez se queira autodestrutivo, perma-
nece atado a si mesmo, incapaz de tornar-se algo que não é.
Há, antes, uma outra forma de ausência de limites que se
tornou estranha à nossa cultura e que se pode chamar de mons-
truosa: a presunção. Ali onde os deuses ainda governam, ali onde
um deus guia a história, ali onde ainda há segredos com os quais o
homem não deve entrar em contato, ou mesmo fronteiras entre ca-
madas sociais – ali existe ainda o sacrilégio da presunção. Para nos-
so mundo prometeico e democrático, porém, a arrogância perdeu
o sentido. Com a conquista do espaço, o desvendar dos segredos
da vida e dos mecanismos da hereditariedade, colocamo-nos num
caminho cuja perspectiva nem o fim do século XIX nem o início
do XX teriam visto com horror se lhes fosse dado, num só instante,
realizar coisas tão fantásticas. Pois os supermen da ficção científica
têm muito pouco a ver com o Übermensch de Nietzsche, que foi
pensado como um ponto último, um objetivo e uma realização fi-
nal, o coroamento de uma infinitude positivamente concebida, não
uma eternidade fantasmagórica. Somente onde há limites pode ha-
ver arrogância. Mas uma civilização prometeica não conhece nem
medidas, nem tremendum. Ela vive sob a lei da ilimitada capacidade
de realização e de vitória sobre quaisquer obstáculos, um princípio
que há muito deixou para trás seus fáusticos primórdios. O eros da
vontade de saber por saber, somente para poucos ainda uma pul-
são, é substituído pelo desejo de produção em escala industrial e
continua a se manifestar por meio da produção e do consumo, uma
continuidade garantida, porém, sob a forma de interesse industrial.
O efeito de tudo isso sobre a vida inevitavelmente pareceria aos
homens educados na época do classicismo e do romantismo uma
perda de todos os ideais de “humanidade” e delicadeza, de respeito
e nobreza. Mas pensamos atualmente saber melhor que as gerações
que viveram entre 1814 e 1914 que toda transformação social de-
pende do abandono das limitações até então veneradas, e que toda
queda traz consigo a chance do recomeço. Mesmo o marxismo 3
Otto Friedrich Bollnow. Mass
pensou a alienação do homem em relação a si mesmo apenas como und Vermessenheit des Menchen.
uma fase de transição. Göttingen, 1962, p. 33.
A monstruosidade não está ligada a nenhuma época específica,
150 independentemente de sua grandeza ou ausência de grandeza histó-
rica, mas sim a uma possibilidade dada ao homem: a de negar a si e
a seu semelhante. Esta possibilidade não precisa se manifestar apenas
Helmuth Plessner
em atos de extrema violência. Há pouco tempo noticiou-se que uma
família de operários gregos, mãe, filha e filho, juntos, decapitaram o
pai por ter ele abusado da filha – para expiar a desonra. Não a he-
diondez do crime (próximo aos praticados na Antigüidade, pois que
fiel à vetustíssima norma do ter de pagar um crime com a própria
vida), mas precisamente o rigorismo da norma, avesso a qualquer
sentimentalismo, é que torna o crime monstruoso. Abraão, pronto
a sacrificar seu filho, o cônsul romano que manda executar o seu, o
príncipe no livro Prinz von Homburg de Kleist, que quer condenar o
vencedor após uma batalha vitoriosa por causa de sua desobediência
– todos eles transformam coerência em monstruosidade porque que-
rem honrar unicamente a Deus e suas próprias consciências. A auto-
negação que destrói aos outros se manifesta até mesmo em motivos
sublimes e, assim, demonstra ao homem que ele é incapaz de viver
sem rupturas com o que há nele de mais elevado, aquilo com que ele
está comprometido e que ele tem de ser: humano.
Entretanto, a fórmula acima utilizada, negar-se a si e seus seme-
lhantes, tem de ser ainda corrigida. O suicida é aquele que fustiga a si
mesmo, independentemente de seus motivos, simultaneamente apaga,
com sua existência e seu crime, a monstruosidade que ele comete em
relação a si próprio. O aspecto irreconciliável do seu agir é minorado,
embora não revogado, na medida em que se volta contra si mesmo.
Só se pode ser monstruoso em relação a outros e a tudo aquilo que
não tem valor: animais, crianças, prisioneiros, seres capazes de per-
ceber sua impotência. Por outro lado, não acredito que seja decisivo
para o fenômeno da monstruosidade que o poder que se desfruta so-
bre outros, mesmo o rigorismo, possa ser usufruído com prazer. Com
a consciência limpa do dever cumprido, fazer alguém se dar conta de
estar indefeso, e da sacralidade da ordem uma fonte de prazer pessoal
para o subalterno, nada disso, em sua paradoxal baixeza, acrescenta o
que quer que seja à essência da monstruosidade. O requinte estético e
o sadismo genuíno com o qual o detentor do poder (e quisera existir
ele apenas no reino das palavras – um escritor, um artista, um ator)
desfruta sua superioridade e extrai o néctar de qualquer fleur du mal
é apenas a recompensa pelo medo dos outros e o estímulo que, na
maior parte dos casos, permite a transgressão do alto e penoso limiar
que nos separa da autêntica monstruosidade.
É precisamente esta delimitação que garante ao conceito o seu
pathos específico. O fato de que o uso cotidiano da palavra, super-
lativamente rebaixado, não observe tal delimitação e evoque mons-
truosidade e super-humanidade em qualquer ocasião não pode ser-
vir de motivo para tornar irrelevantes determinadas especificidades
e obscurecer os limites do fenômeno. As formas usuais da infâmia,
as monstruosidades de todos os tipos – eufemisticamente tomadas
como degenerações – como caçadas humanas e humilhações (com
ou sem invocação da razão de Estado), a eterna carnificina da história
mundial constituem, não nos iludamos, o inventário do demasiado 151
humano. Para que se possa falar em monstruosidade é necessária uma
frieza acima da média, que raramente (pelo menos mais raro do que
Artefilosofia, Ouro Preto, n.7, p. 145-151, out.2009
se imagina) é inata ou originada numa degradação das emoções pro-
duzida pelo meio, mas num desejo de eliminação de toda forma de
fraqueza. O Diabo não entraria em cena se tal eliminação também
não pudesse ser feita em nome do Altíssimo.
“O homem pode ser oposto a si mesmo de duas maneiras:
como selvagem, quando seus sentimentos imperam sobre seus prin-
cípios, ou como bárbaro, quando seus princípios destroem seus sen-
timentos. O selvagem despreza a arte e reconhece a natureza como
sua soberana irrestrita; o bárbaro escarnece e desonra a natureza, mas
continua sendo escravo de seu escravo por um modo freqüentemente
mais desprezível que o do selvagem. O homem cultivado faz da natu-
reza uma amiga e honra sua liberdade, na medida em que põe rédeas
a seu arbítrio”. Se não concordamos com a maneira como Schiller,4
evidentemente visando ao recurso reconciliador da arte e guiado por
seu ideal classicista, formula o caráter duplo e contraditório do ho-
mem, então é o caso de nos perguntarmos se não haveria um indício
do que pode ser a humanidade justamente na exposição deste duplo
estar-contra-si-mesmo.
Hoje em dia, ironicamente, coloca-se de lado o ideal de forma-
ção (Bildung) porque qualquer um sente-se culto e, na ausência de
um ideal cultural compulsório, ninguém sabe ao certo o que tal coisa
significa. Se, porém, a humanidade deve ser uma questão de postura
e um dever, e que pouco se desenvolve na atmosfera dos superlati-
vos industriais do catch as catch can por não ter mais qualquer ideal a
partir do qual possa se orientar (seja ele cristão ou profano, seja ele
fundamentado religiosa ou esteticamente), a humanidade só se atesta
e pode atestar através de um despertar e um cultivar daquelas quali-
dades do coração que contradizem toda lógica e toda institucionali-
zação. O nobre poder que se exerce, sem o recurso à força, sobre os
mais fracos, o ser capaz de compadecer-se ante a fraqueza, o perdão
que desarma, o ouvir as pessoas, são modalidades de reconciliação de
que dispõe o Humano (essa forma de vida carente de meios natu-
rais), graças à sua capacidade de tornar-se senhor até mesmo de seu
dilaceramento interno, e que o tornam capaz de provar-se humano
ao abrir mão do próprio poder.
Tradução: Sérgio da Mata
4
Friedrich Schiller. Über
die ästhetische Erziehung des
Menschengeschlechtes, 4ª carta
[utilizamo-nos aqui da tradução
brasileira: A educação estética do
homem. São Paulo: Iluminuras,
1995, p. 33. Tradução de Márcio
Suzuki e Roberto Schwarz -
NT].
Você também pode gostar
- O Lado Negro Do Cúpido.Documento92 páginasO Lado Negro Do Cúpido.Anonymous CYOt5R8YrG70% (10)
- O Paradigma Perdido Edgar MorinDocumento27 páginasO Paradigma Perdido Edgar MorinLiliana Sofia Silva80% (5)
- Chaim Perelman - Lógica Jurídica PDFDocumento132 páginasChaim Perelman - Lógica Jurídica PDFjakethejake100% (1)
- Nietzsche: Sobre Verdade e Mentira No Sentido Extra-Moral (1873)Documento4 páginasNietzsche: Sobre Verdade e Mentira No Sentido Extra-Moral (1873)kid_ota121850% (2)
- A figura do servo sofredor como humanidadeDocumento16 páginasA figura do servo sofredor como humanidadeFernando PocahyAinda não há avaliações
- A figura do servo sofredor como humanidadeDocumento16 páginasA figura do servo sofredor como humanidadeNatália NuñezAinda não há avaliações
- JHerculano Pires OMisteriodo Serantea Dorea MorteDocumento101 páginasJHerculano Pires OMisteriodo Serantea Dorea Morteibnquasa11Ainda não há avaliações
- 03 - A Natureza de Nossa PrisãoDocumento94 páginas03 - A Natureza de Nossa PrisãoJunior ViniciusAinda não há avaliações
- A Existencia Encarnada de MounierDocumento17 páginasA Existencia Encarnada de MounierRubensAinda não há avaliações
- A quarta ferida narcísica: a pós-humanidadeDocumento8 páginasA quarta ferida narcísica: a pós-humanidadeFabiola LimaAinda não há avaliações
- Canguilhem A Monstruosidade e o Monstruoso PDF FreeDocumento10 páginasCanguilhem A Monstruosidade e o Monstruoso PDF FreeVinicius SamuelAinda não há avaliações
- Dramas Da Obsessão - Yvonne PereiraDocumento100 páginasDramas Da Obsessão - Yvonne PereiraCléoma Moro100% (2)
- Antropologia Filosofia DireitoDocumento30 páginasAntropologia Filosofia DireitoMartinho PedroAinda não há avaliações
- O monstro à mostra: a presença do monstruoso na história e culturaDocumento6 páginasO monstro à mostra: a presença do monstruoso na história e culturaBruno VasconcelosAinda não há avaliações
- O Enigma HumanoDocumento20 páginasO Enigma HumanoNelson CervejaAinda não há avaliações
- Ecce Homo - NietcheDocumento11 páginasEcce Homo - NietcheAlexandre FatorelliAinda não há avaliações
- A educação após Auschwitz e os mecanismos psicológicos por trás do genocídioDocumento9 páginasA educação após Auschwitz e os mecanismos psicológicos por trás do genocídioMonica BrandaoAinda não há avaliações
- A sobrenatureza da catástrofeDocumento23 páginasA sobrenatureza da catástrofearthurmAinda não há avaliações
- O Monstro À Mostra: MostruárioDocumento264 páginasO Monstro À Mostra: MostruárioEduardo S. Pereira100% (2)
- Ortega Y Gasset - Mocinnho SatisfeitoDocumento9 páginasOrtega Y Gasset - Mocinnho SatisfeitoAlvaro LuisAinda não há avaliações
- O Conceito de Risco Na Modernidade Reflexiva: Uma Nova Forma de Descaracterização Do Trágico?Documento14 páginasO Conceito de Risco Na Modernidade Reflexiva: Uma Nova Forma de Descaracterização Do Trágico?Claudio Luis Gastal100% (2)
- Coletânea de Textos de João Pereira CoutinhoDocumento37 páginasColetânea de Textos de João Pereira CoutinhoBruno Faria Carvalho100% (1)
- Todos os monstros da Terra: Bestiários do cinema e da literaturaNo EverandTodos os monstros da Terra: Bestiários do cinema e da literaturaAinda não há avaliações
- Cinema Da Cidade 06 ArtisticoDocumento382 páginasCinema Da Cidade 06 ArtisticoMarcelo Peron PereiraAinda não há avaliações
- Em Busca Do Paraíso PerdidoDocumento71 páginasEm Busca Do Paraíso Perdidorogeriozaia2009100% (1)
- O Lado Negro Do CupidoDocumento92 páginasO Lado Negro Do CupidoTatiane PerfeitoAinda não há avaliações
- Crítica de duas questões sobre anti-realismoDocumento19 páginasCrítica de duas questões sobre anti-realismoMilena ClementeAinda não há avaliações
- Breve História Do Corpo e de Seus MonstrosDocumento159 páginasBreve História Do Corpo e de Seus MonstrosLouise Carvalho50% (2)
- O racismo à brasileira: a fábula das três raças na perspectiva da antropologia socialDocumento16 páginasO racismo à brasileira: a fábula das três raças na perspectiva da antropologia sociallucas rodriguesAinda não há avaliações
- BARBOZA, Jair O Acerto de Schopenhauer e A Compaixão Com Os AnimaisDocumento7 páginasBARBOZA, Jair O Acerto de Schopenhauer e A Compaixão Com Os AnimaisMauro BaladiAinda não há avaliações
- Mark Fisher (2009) Realismo Capitalista Como Trabalho Onírico e Distúrbio de MemóriaDocumento12 páginasMark Fisher (2009) Realismo Capitalista Como Trabalho Onírico e Distúrbio de MemóriaJosneiAinda não há avaliações
- A Morte e a Imortalidade da AlmaDocumento326 páginasA Morte e a Imortalidade da AlmaEmmanuel AlvesAinda não há avaliações
- Traducao de O TRAGICO de Karl JaspersDocumento52 páginasTraducao de O TRAGICO de Karl JaspersNeilianeSilvaAinda não há avaliações
- Medo da alteridade nas sociedades amazônicasDocumento25 páginasMedo da alteridade nas sociedades amazônicaspaz_carlos9309Ainda não há avaliações
- Dagon, o Inominável e o InsólitoDocumento6 páginasDagon, o Inominável e o InsólitoEdu CostaAinda não há avaliações
- Celas de Vidro para Peixes Com AsasDocumento5 páginasCelas de Vidro para Peixes Com AsasFranco Alexandre DeFariaAinda não há avaliações
- Verdade e mentira em NietzscheDocumento5 páginasVerdade e mentira em NietzscheKlebulosoAinda não há avaliações
- PENSAMENTO_TENTACULAR_Antropoceno_CapitaDocumento19 páginasPENSAMENTO_TENTACULAR_Antropoceno_CapitaPaula JurgielewiczAinda não há avaliações
- NIETZSCHE F. Obras Incompletas Os Pensadores 49 58Documento10 páginasNIETZSCHE F. Obras Incompletas Os Pensadores 49 58luliAinda não há avaliações
- Crônicas de Um Novo Tempo - Jan Val EllanDocumento277 páginasCrônicas de Um Novo Tempo - Jan Val EllanNelson Sá50% (2)
- Artigo - Ficção Científica e Realidade - Por Hamilton Neves JRDocumento3 páginasArtigo - Ficção Científica e Realidade - Por Hamilton Neves JRMagal SantosAinda não há avaliações
- Mente CosmicaDocumento10 páginasMente CosmicaFernando SilvaAinda não há avaliações
- Ancestrofuturismo Cosmogonialivre Rituaisfac3a7avocc3aamesmoDocumento16 páginasAncestrofuturismo Cosmogonialivre Rituaisfac3a7avocc3aamesmojonas estevesAinda não há avaliações
- O niilismo europeuDocumento7 páginasO niilismo europeuCamila BittencourtAinda não há avaliações
- A Criança Do Júbilo OK PDFDocumento16 páginasA Criança Do Júbilo OK PDFRafaela PaixãoAinda não há avaliações
- LATOUR, Bruno. Reflexão Sobre o Culto Moderno Dos Deuses Fe (I) TichesDocumento53 páginasLATOUR, Bruno. Reflexão Sobre o Culto Moderno Dos Deuses Fe (I) TichesLucas RodriguesAinda não há avaliações
- Capítulo2 - Do Sexto Sentido - BORIS CYRULNIK - O Homem e o Encantamento Do MundoDocumento49 páginasCapítulo2 - Do Sexto Sentido - BORIS CYRULNIK - O Homem e o Encantamento Do MundoMaria Joana CasagrandeAinda não há avaliações
- Anos PerdidosDocumento5 páginasAnos PerdidosMarcelo Alexandrino da Costa SantosAinda não há avaliações
- UntitledDocumento228 páginasUntitledFernandoP65Ainda não há avaliações
- Gustavo Coelho - A Juventude Nos Suburbios Cariocas - Uma Complexa Rede de Práticas Raramente Narradas.Documento17 páginasGustavo Coelho - A Juventude Nos Suburbios Cariocas - Uma Complexa Rede de Práticas Raramente Narradas.coelhogugaAinda não há avaliações
- (Zen Budismo para Todos Vol. 2) Daniel Abreu de Queiroz - Zen Budismo para Todos Vol. II. 2 (2019)Documento229 páginas(Zen Budismo para Todos Vol. 2) Daniel Abreu de Queiroz - Zen Budismo para Todos Vol. II. 2 (2019)Marcos Vinicius Cieri de Moura100% (1)
- Vulnerabilidade e Autossuficiencia 0101Documento17 páginasVulnerabilidade e Autossuficiencia 0101EL PesAinda não há avaliações
- D&D 5E - Ficha de Personagem Automática - Biblioteca ÉlficaDocumento3 páginasD&D 5E - Ficha de Personagem Automática - Biblioteca Élficamauro gomesAinda não há avaliações
- Modelo Seminário CI - IIDocumento3 páginasModelo Seminário CI - IImauro gomesAinda não há avaliações
- Modelo Seminário CI - IIDocumento3 páginasModelo Seminário CI - IImauro gomesAinda não há avaliações
- Modelo Seminário CI - IIDocumento3 páginasModelo Seminário CI - IImauro gomesAinda não há avaliações
- Hermenêutica 02Documento39 páginasHermenêutica 02Ivan Tadeu Panicio JuniorAinda não há avaliações
- Prova 2 AnoDocumento4 páginasProva 2 AnoMaria Clara Rodrigues RochaAinda não há avaliações
- Falácias criacionistas e a evoluçãoDocumento35 páginasFalácias criacionistas e a evoluçãoanaliceeeAinda não há avaliações
- René Descartes - Biografia e IntroduçãoDocumento3 páginasRené Descartes - Biografia e IntroduçãoFelipeAinda não há avaliações
- Desrazão e criação na experiência da loucuraDocumento13 páginasDesrazão e criação na experiência da loucuraEterno RetornoAinda não há avaliações
- ESCOBAR, Carlos Henrique. Quem Tem Medo de AlthusserDocumento12 páginasESCOBAR, Carlos Henrique. Quem Tem Medo de AlthusserLucasReginatoAinda não há avaliações
- Tese - Rodrigo Oliveira Marquez - 2017Documento202 páginasTese - Rodrigo Oliveira Marquez - 2017Pedro AugustoAinda não há avaliações
- VideodançaDocumento15 páginasVideodançaJúliaAinda não há avaliações
- Cabala Nilton Schutz PDFDocumento30 páginasCabala Nilton Schutz PDFCatiaAinda não há avaliações
- Boas e o culturalismoDocumento5 páginasBoas e o culturalismoDik Grace M. MulliganAinda não há avaliações
- O Significado de o Justo Viver Pela FéDocumento85 páginasO Significado de o Justo Viver Pela FéSilvio DutraAinda não há avaliações
- O CivismoDocumento2 páginasO CivismoCatarina BaptistaAinda não há avaliações
- Observação em Psicologia Clínica: Uma importante técnica de coleta de dadosDocumento10 páginasObservação em Psicologia Clínica: Uma importante técnica de coleta de dadosLusineideAinda não há avaliações
- Registos e Notariado: Temas Jurídicos e Desafios AtuaisDocumento332 páginasRegistos e Notariado: Temas Jurídicos e Desafios AtuaisFlo100% (3)
- A Construção Da Memória A Partir Das Lendas Marajoaras No Imaginário SourenseDocumento25 páginasA Construção Da Memória A Partir Das Lendas Marajoaras No Imaginário SourenseLid SantosAinda não há avaliações
- Teorias da Ética de Habermas resumidasDocumento6 páginasTeorias da Ética de Habermas resumidasTiago Castelo BrancoAinda não há avaliações
- Danielle Fonseca e Sua Linguagem Poetica-Maritima - SOBRAL Keyla e MANESCHY Orlando PDFDocumento9 páginasDanielle Fonseca e Sua Linguagem Poetica-Maritima - SOBRAL Keyla e MANESCHY Orlando PDFJosé VianaAinda não há avaliações
- Religião Babilônica e AssíriaDocumento2 páginasReligião Babilônica e AssíriaFelix D. CanaparroAinda não há avaliações
- MANTOAN, Maria Teresa. (2003) Cap - 1 - Inclusão Escolar - o Que ÉDocumento1 páginaMANTOAN, Maria Teresa. (2003) Cap - 1 - Inclusão Escolar - o Que ÉTommySantos100% (1)
- Metodologia Pesquisa CientíficaDocumento224 páginasMetodologia Pesquisa CientíficaSandra MattosAinda não há avaliações
- Como Obter Vairagya - SivanandaDocumento68 páginasComo Obter Vairagya - SivanandaPâmelaOliveiraGomesAinda não há avaliações
- MITOS, EMBLEMAS, SINAISp2Documento43 páginasMITOS, EMBLEMAS, SINAISp2Ismarina MouraAinda não há avaliações
- Arte sacra e a perda da compreensão simbólicaDocumento4 páginasArte sacra e a perda da compreensão simbólicadezembre100% (1)
- Vidal Marciano Etica Da SexualidadeDocumento127 páginasVidal Marciano Etica Da SexualidadeMarcos Frutuoso100% (1)
- De Pitágoras e Os Pitagóricos.Documento5 páginasDe Pitágoras e Os Pitagóricos.Juliano Gustavo OzgaAinda não há avaliações
- Ubuntu para a reconciliação em MoçambiqueDocumento9 páginasUbuntu para a reconciliação em MoçambiqueSaide IussufoAinda não há avaliações
- RESUMO INFORMATIVO Período Antropocêntrico Da AntiguidadeDocumento4 páginasRESUMO INFORMATIVO Período Antropocêntrico Da AntiguidadeDaniella BezerraAinda não há avaliações
- Filosofia Da BiologiaDocumento675 páginasFilosofia Da BiologiaBiólogo Rodrigo Zucaratto100% (2)