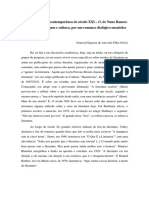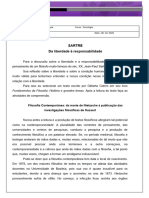Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A MORTE DO AUTOR de Roland Barthes - Fragmento
Enviado por
Viviane GuellerTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A MORTE DO AUTOR de Roland Barthes - Fragmento
Enviado por
Viviane GuellerDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A MORTE DO AUTOR1
Roland Barthes
Uma vez o autor afastado, a pretensão de «decifrar» um texto torna-se totalmente inútil. Dar
um Autor a um texto é impor a esse texto um mecanismo de segurança, é dotá-lo de um significado
último, é fechar a escrita. Esta concepção convém perfeitamente à critica, que pretende então
atribuir-se a tarefa importante de descobrir o Autor (ou as suas hipóstases: a sociedade, a história, a
psique, a liberdade) sob a obra: encontrado o Autor, o texto é «explicado», o critico venceu; não há
pois nada de espantoso no fato de, historicamente, o reino do Autor ter sido também o do Critico,
nem no de a critica (ainda que nova) ser hoje abalada ao mesmo tempo que o Autor. Na escrita
moderna, com efeito, tudo está por deslindar, mas nada está por decifrar; a estrutura pode ser
seguida, «apanhada» (como se diz de uma malha de meia que cai) em todas as suas fases e em todos
os seus níveis, mas não há fundo; o espaço da escrita percorre-se, não se perfura; a escrita faz
incessantemente sentido, mas é sempre para o evaporar; procede a uma isenção sistemática do
sentido; por isso mesmo, a literatura (mais valia dizer, a partir de agora, a escrita), ao recusar
consignar ao texto (e ao mundo como texto) um «segredo», quer dizer, um sentido último, liberta
uma atividade a que poderíamos chamar contra-teológica, propriamente revolucionária, pois recusar
parar o sentido é afinal recusar Deus e as suas hipóstases, a razão, a ciência, a lei.
Regressemos à frase de Balzac. Ninguém (isto é, nenhuma «pessoa») a disse: a sua origem,
a sua voz não é o verdadeiro lugar da escrita, é a leitura. Um exemplo, bastante preciso, pode fazê-
lo a compreender: investigações recentes (J.-P. Vernant) trouxeram à luz a natureza
constitutivamente ambígua da tragédia grega; o texto é nela tecido com palavras de duplo sentido,
que cada personagem compreende unilateralmente (este perpétuo mal-entendido é precisamente o
«trágico»); há contudo alguém que entende cada palavra na sua duplicidade, e entende, além disso,
se assim podemos dizer, a própria surdez das personagens que falam diante dele: esse alguém é
precisamente o leitor (ou, aqui, o ouvinte). Assim se revela o ser total da escrita: um texto é feito de
escritas múltiplas, saídas de várias culturas e que entram umas com as outras em diálogo, em
paródia, em contestação; mas há um lugar em que essa multiplicidade se reúne e esse lugar não é o
autor, como se tem dito até aqui, é o leitor: o leitor é o espaço exato em que se inscrevem, sem que
nenhuma se perca, todas as citações de que uma escrita é feita; a unidade de um texto não está na
sua origem, mas no seu destino, mas este destino já não pode ser pessoal: o leitor é um homem sem
história, sem biografia, sem psicologia; é apenas esse alguém que tem reunidos num mesmo campo
todos os traços que constituem o escrito. É por isso que é irrisório ouvir condenar a nova escrita em
nome de um humanismo que se faz hipocritamente passar por campeio dos direitos do leitor. O
leitor, a critica clássica nunca dele se ocupou; para ela, não há na literatura qualquer outro homem
para além daquele que escreve. Começamos hoje a deixar de nos iludir com essa espécie de
antifrases pelas quais a boa sociedade recrimina soberbamente em favor daquilo que precisamente
põe de parte, ignora, sufoca ou destrói; sabemos que, para devolver à escrita o seu devir, é preciso
inverter o seu mito: o nascimento do leitor tem de pagar-se com a morte do Autor.
1968, Manteia
1
BARTHES, Roland. O Rumor da Língua. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
Você também pode gostar
- LOPES, Silvina Rodrigues Lit Defesadoatrito - CompletoDocumento75 páginasLOPES, Silvina Rodrigues Lit Defesadoatrito - CompletoVeronica Dellacroce50% (2)
- Curso Preparatório SEDU 2018 - 100 questões pedagógicasDocumento22 páginasCurso Preparatório SEDU 2018 - 100 questões pedagógicasGladys Reis100% (2)
- Allan Sekula - Fish Story - Notas Sobre A ObraDocumento3 páginasAllan Sekula - Fish Story - Notas Sobre A ObraViviane GuellerAinda não há avaliações
- Estudo de Caso Rede GiraffasDocumento5 páginasEstudo de Caso Rede GiraffasCOMUNIDADE EVANGÉLICA MINISTÉRIO FONTE DE ÁGUA VIVA100% (1)
- BARTHES, Roland - A Morte Do AutorDocumento6 páginasBARTHES, Roland - A Morte Do AutorfelipeuerjAinda não há avaliações
- FOUCAULT O Que e Um AutorDocumento4 páginasFOUCAULT O Que e Um Autorcolabor100% (1)
- GUMBRECHT - Atmosfera, Ambiencia Stimmung (Cap. 1) PDFDocumento27 páginasGUMBRECHT - Atmosfera, Ambiencia Stimmung (Cap. 1) PDFjpbaianoAinda não há avaliações
- Rousseau: Escritos sobre a política e as artesNo EverandRousseau: Escritos sobre a política e as artesNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homensNo EverandDiscurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homensAinda não há avaliações
- BARTHES, Roland. O-Imperio-dos-signos PDFDocumento170 páginasBARTHES, Roland. O-Imperio-dos-signos PDFAriane SilvaAinda não há avaliações
- Tudo sobre a Conferência COM O ESCRITOR Wayne JacobsenDocumento20 páginasTudo sobre a Conferência COM O ESCRITOR Wayne JacobsenpholiverAinda não há avaliações
- A Morte Do Autor de Roland BarthesDocumento8 páginasA Morte Do Autor de Roland BarthesCibele Alcântara100% (1)
- Barthes - A Morte Do AutorDocumento4 páginasBarthes - A Morte Do Autorrobson.britoAinda não há avaliações
- A morte do autorDocumento8 páginasA morte do autorMatheus MullerAinda não há avaliações
- Roland Barthes A Morte Do AutorDocumento4 páginasRoland Barthes A Morte Do AutorJúlia Gabriela BalbinotAinda não há avaliações
- A Morte Do Autor - Roland Barthes PDFDocumento6 páginasA Morte Do Autor - Roland Barthes PDFrilane telesAinda não há avaliações
- A morte do autor emDocumento8 páginasA morte do autor emHypia SanchesAinda não há avaliações
- Blanchot e a literatura como impossibilidadeDocumento22 páginasBlanchot e a literatura como impossibilidadeJuliana FalcãoAinda não há avaliações
- Roland Barthes - DA MORTE DO AUTOR AO PRELÚDIO DA VOLTADocumento11 páginasRoland Barthes - DA MORTE DO AUTOR AO PRELÚDIO DA VOLTAJoice RochaAinda não há avaliações
- Estranhamento e heterotopia em contos de Teolinda GersãoDocumento15 páginasEstranhamento e heterotopia em contos de Teolinda GersãogeisyydiasAinda não há avaliações
- Retrato Do Autor Como LeitorDocumento20 páginasRetrato Do Autor Como LeitorMarcio Augusto Ferreira Moura CostaAinda não há avaliações
- Foucault O Que É Um Autor ResumoDocumento4 páginasFoucault O Que É Um Autor ResumoPollyanna ZatiAinda não há avaliações
- Natalia, Livia. A Poética Da Fome e A Escrita Da Precariedade - Sobre Carolina Maria de Jesus. (2017)Documento12 páginasNatalia, Livia. A Poética Da Fome e A Escrita Da Precariedade - Sobre Carolina Maria de Jesus. (2017)luaneAinda não há avaliações
- A questão do sujeito na narrativa autobiográficaDocumento16 páginasA questão do sujeito na narrativa autobiográficaedgarcunhaAinda não há avaliações
- O Espectro Da Morte em MBDocumento14 páginasO Espectro Da Morte em MBMauricio Salles de VasconcelosAinda não há avaliações
- Essa Estranha Instituição Chamada Literatura Uma Entrevista Com Jacques Derrida EdiçãoDocumento7 páginasEssa Estranha Instituição Chamada Literatura Uma Entrevista Com Jacques Derrida EdiçãoRafael TelesAinda não há avaliações
- Literatura e Autobiografia - A Questão Do Sujeito Da NarrativaDocumento16 páginasLiteratura e Autobiografia - A Questão Do Sujeito Da NarrativaHerman MarjanAinda não há avaliações
- ANÁLISE DE OBRAS LITERÁRIASDocumento7 páginasANÁLISE DE OBRAS LITERÁRIASHenrique Junio FelipeAinda não há avaliações
- A CONSCIÊNCIA HÍBRIDADocumento6 páginasA CONSCIÊNCIA HÍBRIDAluan_47Ainda não há avaliações
- Utopia, Octavio Paz PDFDocumento15 páginasUtopia, Octavio Paz PDFBruno FariasAinda não há avaliações
- Anonimato ou alterização na obra de RimbaudDocumento8 páginasAnonimato ou alterização na obra de RimbaudLucas Silvestre CândidoAinda não há avaliações
- Literatura, loucura e a paixão pelo fora em FoucaultDocumento26 páginasLiteratura, loucura e a paixão pelo fora em Foucaultglgn100% (1)
- Metodologia Do Trabalho CientíficoDocumento6 páginasMetodologia Do Trabalho CientíficoaytallosilveiraAinda não há avaliações
- 1576-6518-1-PBDocumento13 páginas1576-6518-1-PBEdinília CruzAinda não há avaliações
- O narrador suspeito na literatura brasileira contemporâneaDocumento39 páginasO narrador suspeito na literatura brasileira contemporâneaJosé da FonsecaAinda não há avaliações
- A morte e retorno do autorDocumento13 páginasA morte e retorno do autorPamella OliveiraAinda não há avaliações
- Sítio cético de FlusserDocumento3 páginasSítio cético de FlusserAlberto RochaAinda não há avaliações
- Cad132 - Ranciere - o Pensamento Das Bordas 1Documento18 páginasCad132 - Ranciere - o Pensamento Das Bordas 1Patrícia CunegundesAinda não há avaliações
- Além da literatura: universalismo e direitos culturais em Antonio CandidoDocumento47 páginasAlém da literatura: universalismo e direitos culturais em Antonio CandidoLarissaAinda não há avaliações
- Morrer, Pensar, EscreverDocumento12 páginasMorrer, Pensar, EscreverManuela BarretoAinda não há avaliações
- A morte do autor e o nascimento do leitorDocumento3 páginasA morte do autor e o nascimento do leitorcamila Gandra100% (1)
- Kafka sem abrigo: a literatura como buraco sem fundoDocumento144 páginasKafka sem abrigo: a literatura como buraco sem fundoJosi BroloAinda não há avaliações
- Resenha - A Morte Do AutorDocumento2 páginasResenha - A Morte Do AutorRose MoraesAinda não há avaliações
- A Prosa Brasileira Contemporânea Do Século XXI - Ó, de Nuno RamosDocumento10 páginasA Prosa Brasileira Contemporânea Do Século XXI - Ó, de Nuno RamosMatheus Reiser MullerAinda não há avaliações
- APORIADocumento6 páginasAPORIAjorgmarta2952Ainda não há avaliações
- A identidade de Lovecraft segundo seus fãsDocumento15 páginasA identidade de Lovecraft segundo seus fãsCaliel Vinicius Braga CostaAinda não há avaliações
- Silviano Santiago - Anotações de Fisiologia Da ComposiçãoDocumento6 páginasSilviano Santiago - Anotações de Fisiologia Da ComposiçãoPedro Beja AguiarAinda não há avaliações
- Artigo Sobre Literatura e IdentitarismoDocumento14 páginasArtigo Sobre Literatura e IdentitarismoGabriel SantanaAinda não há avaliações
- LyotardDocumento12 páginasLyotardTrojaikeAinda não há avaliações
- Clarice GrotescoDocumento9 páginasClarice GrotescoVinicius ItoAinda não há avaliações
- O Ser da escrita no texto llansolianoDocumento11 páginasO Ser da escrita no texto llansolianoNaiade Daniel RodriguesAinda não há avaliações
- Aula 2Documento40 páginasAula 2Marcia PinheiroAinda não há avaliações
- Verdades de Autobiografias e Diários ÍntimosDocumento21 páginasVerdades de Autobiografias e Diários ÍntimosDirtskullmanAinda não há avaliações
- Literatura Comparada e GlobalizaçãoDocumento17 páginasLiteratura Comparada e GlobalizaçãoElielson FigueiredoAinda não há avaliações
- O surrealismo como projeto romântico de superação da contradição entre sujeito e objetoDocumento19 páginasO surrealismo como projeto romântico de superação da contradição entre sujeito e objetoDiogo CardosoAinda não há avaliações
- Sartre, da liberdade à responsabilidadeDocumento6 páginasSartre, da liberdade à responsabilidademichellemakuch97Ainda não há avaliações
- A morte do autor e o fim do sujeito na linguagemDocumento6 páginasA morte do autor e o fim do sujeito na linguagemLara Leal100% (1)
- Agora sou eu que falo, eu, o leitor: uma poética da leitura em PepetelaNo EverandAgora sou eu que falo, eu, o leitor: uma poética da leitura em PepetelaAinda não há avaliações
- Legentes: desconstrução e caminhos outros para ler em Direito e LiteraturaNo EverandLegentes: desconstrução e caminhos outros para ler em Direito e LiteraturaAinda não há avaliações
- As theocracias litterarias Relance sobre o estado actual da litteratura portuguezaNo EverandAs theocracias litterarias Relance sobre o estado actual da litteratura portuguezaAinda não há avaliações
- Ranciere-SERÁ QUE A ARTE RESISTE ADocumento14 páginasRanciere-SERÁ QUE A ARTE RESISTE AmostratudoAinda não há avaliações
- Infra or Dina RioDocumento19 páginasInfra or Dina RioLetícia BertagnaAinda não há avaliações
- Poiesis - 12 - Dispositivoexperiencia - Victa de CarvalhoDocumento12 páginasPoiesis - 12 - Dispositivoexperiencia - Victa de Carvalhocamila_falconiAinda não há avaliações
- Traços Da Vida Comum e Do Homem Ordinário No Movimento Da Nouvelle MangaDocumento176 páginasTraços Da Vida Comum e Do Homem Ordinário No Movimento Da Nouvelle MangasusyecfAinda não há avaliações
- GT Historia Da Midia Visual Regina JohasDocumento15 páginasGT Historia Da Midia Visual Regina JohasViviane GuellerAinda não há avaliações
- Cotidiano e experiência na fotografia de Wall e diCorsiaDocumento15 páginasCotidiano e experiência na fotografia de Wall e diCorsiaViviane GuellerAinda não há avaliações
- OSMAR FILHO - Videoarte A Arte Do Vago PDFDocumento13 páginasOSMAR FILHO - Videoarte A Arte Do Vago PDFViviane GuellerAinda não há avaliações
- Chantal Akerman DossieDocumento188 páginasChantal Akerman DossieViviane GuellerAinda não há avaliações
- Poéticas da alteridade no vídeo de Mauricio Dias e Walter RiedwegDocumento13 páginasPoéticas da alteridade no vídeo de Mauricio Dias e Walter RiedwegViviane GuellerAinda não há avaliações
- Chantal Akerman DossieDocumento188 páginasChantal Akerman DossieViviane GuellerAinda não há avaliações
- Chantal Akerman DossieDocumento188 páginasChantal Akerman DossieViviane GuellerAinda não há avaliações
- Site specificity: da arte enraizada ao desafio institucionalDocumento19 páginasSite specificity: da arte enraizada ao desafio institucionalViviane GuellerAinda não há avaliações
- A estética relacional no Palais de TokyoDocumento20 páginasA estética relacional no Palais de TokyoBrunacamargos07Ainda não há avaliações
- Henri Lefebvre - O Direito A Cidade PDFDocumento72 páginasHenri Lefebvre - O Direito A Cidade PDFgirasoisAinda não há avaliações
- Infra-mince: o conceito secreto de DuchampDocumento20 páginasInfra-mince: o conceito secreto de DuchampLuciana GrizotiAinda não há avaliações
- Jacques Racnière - A Estética Como PolíticaDocumento24 páginasJacques Racnière - A Estética Como PolíticaRogério MattosAinda não há avaliações
- As Armas Secretas - Julio Cortazar PDFDocumento90 páginasAs Armas Secretas - Julio Cortazar PDFHeitor Dantas100% (1)
- Esculpir o Tempo - Andrei TarkovskiDocumento303 páginasEsculpir o Tempo - Andrei TarkovskiCarolina Guimarães RibeiroAinda não há avaliações
- O Abecedário de Gilles Deleuze (Transcrição Completa)Documento92 páginasO Abecedário de Gilles Deleuze (Transcrição Completa)api-3825195Ainda não há avaliações
- A Performatividade Da Documentação de PerformanceDocumento15 páginasA Performatividade Da Documentação de PerformanceGiammatteyAinda não há avaliações
- Algumas Palavras Sobre A Arte Do VídeoDocumento10 páginasAlgumas Palavras Sobre A Arte Do VídeoAlanaBraunAinda não há avaliações
- Paulo Freire e a Pedagogia pela Justiça SocialDocumento38 páginasPaulo Freire e a Pedagogia pela Justiça SocialendrioAinda não há avaliações
- Procedimentos CEODocumento2 páginasProcedimentos CEOJoao Carvalho Da Cunha FilhoAinda não há avaliações
- A Eudaimonía Aristotélica A Felicidade Como Fim ÉticoDocumento20 páginasA Eudaimonía Aristotélica A Felicidade Como Fim ÉticoAgata AmandaAinda não há avaliações
- Press Release Do Resultado Da Lojas Americanas Do 2t21Documento33 páginasPress Release Do Resultado Da Lojas Americanas Do 2t21Matheus RodriguesAinda não há avaliações
- MATERIAL - COMPLEMENTAR - QuestoesCOMENTADAS 6ed Orcamento AFODocumento25 páginasMATERIAL - COMPLEMENTAR - QuestoesCOMENTADAS 6ed Orcamento AFOEdleuza Oliveira da HoraAinda não há avaliações
- Inicios Da Literat MoçambicananDocumento12 páginasInicios Da Literat MoçambicananAlberto Cuambe100% (1)
- FICHA CADASTRAL - JamesDocumento9 páginasFICHA CADASTRAL - Jamesfrancisco mateusAinda não há avaliações
- Legião de MariaDocumento3 páginasLegião de MariaAndré Luciano ClaretAinda não há avaliações
- Monetizze - o Que É - Como Funciona e Como Ganhar DinheiroDocumento5 páginasMonetizze - o Que É - Como Funciona e Como Ganhar DinheiroClaudio Gomes Silva LeiteAinda não há avaliações
- Adoção no Brasil: perfis buscados e realidade das criançasDocumento1 páginaAdoção no Brasil: perfis buscados e realidade das criançasNicola AlfayaAinda não há avaliações
- Conexões com o passado na feiraDocumento218 páginasConexões com o passado na feiraMarco Antonio Araujo SantosAinda não há avaliações
- Guia de descarte de resíduos no Instituto ButantanDocumento56 páginasGuia de descarte de resíduos no Instituto ButantanNicodemos de Jesus100% (1)
- Gestão de Pessoas: Evolução e Visão ContemporâneaDocumento29 páginasGestão de Pessoas: Evolução e Visão ContemporâneaGilson José da SilvaAinda não há avaliações
- Curva ABC - EngetelesDocumento63 páginasCurva ABC - EngetelesRodrigo AlbertiniAinda não há avaliações
- Porter e Matriz SwotDocumento18 páginasPorter e Matriz SwotAlegainoAinda não há avaliações
- 2Crônicas: História dos Reis de JudáDocumento4 páginas2Crônicas: História dos Reis de JudáAldivam SilvaAinda não há avaliações
- Simulador Habitacional CAIXA e Crédito Real Fácil CAIXA: Dados IniciaisDocumento3 páginasSimulador Habitacional CAIXA e Crédito Real Fácil CAIXA: Dados IniciaisTaís OliveiraAinda não há avaliações
- Entre Homem e Cavado - Monografia Do Concelho de Amares - Vol IDocumento278 páginasEntre Homem e Cavado - Monografia Do Concelho de Amares - Vol Isinaisdefumooutlook.ptAinda não há avaliações
- Ensino híbrido na REE-MSDocumento20 páginasEnsino híbrido na REE-MSElismar BrunetAinda não há avaliações
- Passo A Passo - Um Guia Espiritual para A Realização de Seu ObjetivoDocumento110 páginasPasso A Passo - Um Guia Espiritual para A Realização de Seu ObjetivoHector RochaAinda não há avaliações
- Prova Teste 1Documento12 páginasProva Teste 1Sol AsenAinda não há avaliações
- Formulário de solicitação de acesso para microgeração distribuída acima de 10kWDocumento5 páginasFormulário de solicitação de acesso para microgeração distribuída acima de 10kWJuarez FaustinoAinda não há avaliações
- A Língua Portuguesa, Pessoa e a PsicanáliseDocumento100 páginasA Língua Portuguesa, Pessoa e a PsicanáliseScheherazade PaesAinda não há avaliações
- Gerenciamento de Aquisições em ProjetosDocumento22 páginasGerenciamento de Aquisições em ProjetosJones carlos Ferreira100% (1)
- CertificadoDocumento1 páginaCertificadoeduardo eduAinda não há avaliações
- VERSÃO - B - Questão Aula - Fernando Pessoa - Poesia Do Ortónimo - 2ºPDocumento4 páginasVERSÃO - B - Questão Aula - Fernando Pessoa - Poesia Do Ortónimo - 2ºPInês MatosAinda não há avaliações
- Aplicando Emoção No Seu Conteúdo.-2Documento15 páginasAplicando Emoção No Seu Conteúdo.-2Maria Nizete Bou AbbasAinda não há avaliações