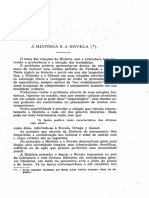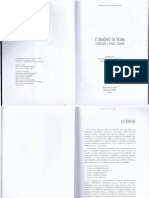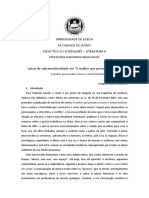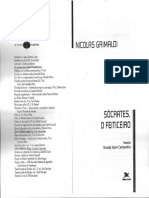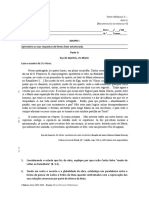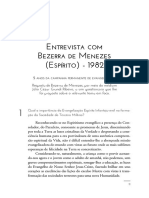Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A questão do sujeito na narrativa autobiográfica
Enviado por
edgarcunhaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A questão do sujeito na narrativa autobiográfica
Enviado por
edgarcunhaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
LITER RAE
AUTOBIOGRAFIA:
a questo
do suj eito na narrativa*
objetivo deste artigo levantar algu
questes sobre a posio do
sujeito na produo de narrativas
autobiogrdfcas A relao do escritor com
aquilo que Coi no passad , a reconstituio
da experincia vivida numa construo
"para a leitura"jc as diferentes posies
atualizadas pelo sujeito no ato de escrever
so algumas das preocupaes deste traba
lho,'
Como pano de fndo para o desenvol
vimento da questo, definimos, de infcio, o
espao do "literrio" em nossa cultura, in
vestigando de que Conna se relaciona com
a questo do "sujito modero", Isto por
que, se no se pode dizer que autobiogafia,
literatura e mesmo os relatos de viagem
constituem "novidade" na cena "modera"
- uma vez que se tem notcia de produes
anlogas desde a Antiguidade -, de outro
Verena Alberti
,
lado, a possibilidade mesma de constituio
de tais narrativas est fortemente vinculada
8 existncia de um "indivduo" sujeito da
criao, origem legtima da produo do
discurso.
L que pretendemos ressaltar desde j,
entretanto, que tal ancaramento ao "indi-
-
vfduo" -que em princpio se destaca ainda
mais no caso da autobiografia -Eo implica
uma posio "monoltica" e "linear" do su-
o eito da criao, uma vez que o escritor, no
processo de produo da narrativa, se move
continuamente entre o ue "" e o que
"poderia ser", E essa ambigidade chega a
+
ser to profnda a ponto da "alteridade"
criada ganhar estatuto de "realidade", tor
nando possvel, por exemplo, chorar e tre
mer pela morte de algum que no existe:
"Sim, eusabia que, num dado momento,
tinha que mat-Jo e no ousava. L
Ete ltigo re qUCl de wdstcnaQdcmtmdoAmmWgrmoq&lito:
==qoe/mdcdwm>J=cOlw4o, defendda MProgal de p.raduo
Antrodo'. Soa dMueu Nacona | dc 1&, qual Clw elpiciaa de Mroo N e Eiane Macid
Q prouQdcM IUlobop6u e VI rWea de fco. AadW o inontivo c o pllhaelo de Agade
Cto GO mlc dHo dv|hLwzdL ot,Gi l bo Vdho c IdViverO de
CSIO bmw mbmmabWIluv m imllntC que llotnoblho oiaN.
LtwHu/ro,Riodc Janeiro, va, 4,n.1, 1,.-8I
UAnAEAUBIORA T
coronel j estava velho, fazendo os seus
peixinhos de ouro. E uma trde pensei:
4Agora sim que no tem mais jeito!'
Tinha que ma-lo. Quando terminei o
captulo, subi temendo para o segundo
andar da casa, onde estava a Mercedes.
Soube o que havia ocorrido quando viu
a mina cara. `L coronel j morreu"
disse. Deitei-me ra cma e fquei cho
rando duas horas" (Garcia Mrquez,
1982:37).
L techo anterior, apesar de deslocado
no que diz respeito autobiografia - onde
o "personagem" que morre efetivamente
existiu -, ilustra, no universo amplo da cria
o literria (e,. seria possvel dizer, da .
ciao artstica em geral), a dimenso da
relao de contigidade ente IImador" e
I
Ucriatura", cmo se esta ltima fosse to
real quanto o primeiro. o esses udesliza
mento" entre a Uidentidade" do autor e sua
-
.
aiao que aqui nos interam e que ire-
mos discutir no caso especifico da autobi9-
\
gaf'Antes, prm, gostaramos de levan
tar algumas questes sobre o lugar da
literatura na moderidade.
l. LHPUHPNPMLHNlP
"Que , pis, tal linguagem, que nada
diz, jamais se cala e a que se chama
'literatura '?"
(Foucault, 1966:399).
A pergunt feita por Foucult parece
condensar aquilo que, aos olhos dos pensa
dores contemporneos, diz respeito ilitera
tura: algo difcil -ou impossvel-de def
nir e que, ao mesmo temHo, diz e no diz.
( Uma linguagem esjecfi_a que se voltam
escritores e leitores, que precisa do ulivro",
atravesa a editora, as livrarias, objeto de
circulao, levanta questes, ou passa ao
laro delas, e parte constituinte da cultura
acumulada pelos homens.
Comecemos a investigar a questo a r
partir de um texto de Walter Benjamin,
sobre a "narrao" e o 'Iromance" (1969).
De acordo com Benjamin, o surimento do
romance est estreitamente vinculado ao
contexto de consolidao da burguesia,
momento em que a narrao teria comea-
do lia retroceder bem devagar para o arcai-
co' (Benjamin, 1969:60), sendo uma das
razes dessa tansformao a instaurao
do domnio da imprensa, que retira da nar
rao a funo de informar e explicar acon
tecimentos de forma plausvel,.e do narra-
dor, a atribuio de difundir (e ensinar)
experincias para serem apropriadas pelos
ouvintes (como na tadio oral, no conto
de-fadas, na saga e em outras fonnas de
"gnero" pico). Essa lenta tansfonnao
ucria", segundo Benjamin, uma nova situa-
o, reserada ao romancista, que Usegre
gou-se. L local de nascimento do romance
o indivduo na sua solido, que j no
consegue exprimir-se exemplarmente", co-
mo exemplo de ensinamento usobre seus
interesses fundamentais, pois ele mesmo
est desorientado e no sabe mais aconse-
Ibar. Escrever um romance significa levar o
incomensurvel ao auge na representao
da vida humana. Em meio 8 plenitude da
vida e atavs da representao dessa pleni-
tude, o romance d noticia da profunda
desorientao de quem vive" (Benjamin,
1969:60).
Lque esta caracterizao do romance e
do romancista tem de comum com a idia
que fazemos de literatura e lIescritor"? So
aquela linguagem de que fala Foucult e o
sujeito que a cria constues especfcas da
"moderidade", produzidas e consumidas
pelo "indivduo" em sua solido?
claro que a designao "literatura"
no se aplica apenas a llromance", e mesmo
o aparecimento deste ltimo no significou
um corte irreversvel que inviabilizasse o
desenvolvimento de outro tipo de "gnero"
-
6. ETHTRC-1W\
literrio, ou de '4glers anteriores" lque1e
que ento se institua.
'
Mas o simples apa
recimento da idia do individuo-sujeito
aia dor j no convida a etabelecr um
paralelo cm a posibil idade emergSncia
desse individuo solitirio em sua ciao (e
n leitura).
Poe-se flar de "literatura" fora da to
cntovertida "modcmidade' Ou sen que
em relao a clturs nlo marcdas pelo
"individualismo" seria mais apropriado D-
lar de "namo": a (in)frao dos ou
vintes atav& de relatos que do conta de
experincias, acontecimentos, explica-
?
V
? Historcamente, segundo Alain Viala
(1985), a "literatura" tria surido apenas
em meados do sculo XV,com a criao
das principais academias, o surimento dos
direitos autorais e o creciment do comr
cio de obras, quando ento a arte de ecre
ver cmeo1 8 separr-se do saber erdito
e as expreses gens de Lettres ou homme
d Lears ji nio eram sufcientes para ex
pressar diferena ento esboada. A dis
tino lexicl mais imediata foi dada ento
plo
.
.. tennota que se diferenciava do
letado ou especalista do sabr, mas se
aplicva a toos o "mete da fonna'\
fossem eles autores de obras em verso ou
em prosa, de literatura de arte ou de entre
tenimento. Asubstituio dessa designao
abrangente plo ermoresaitor parece lo
clizar-se ainda no sculo 7, quando
"esaitor" comea a ganhar o sentido de
ciador de oras com obetivo esttico, o
qual passou a se impr sobre a aplicao em
vigor at ento, de '4ecriba", "copista".
interessante obserar a sobrepoio
do tenno uesaitor' 8O de "autor", Viala
chama ateno para a etimologia do segun
do lermo, que rene as aceps grega e
latina de "criador" "autoridade" e "aumen- ,
tr" (aquele que taz alguma coisa a mais),
formando um sistema semntico onde a
autoridade. do autor se apia sobre sua qua
lidade de originalida4c, concluindo-se, cn-
to, que aquele que copia no c lutor. Por
outro lado, se o "escritor" era at ese mo
mento o "copista' , cma novl acpo se
tomar trmo laudatrio para designar o
aiadores de literatur de are, ultapsn-
do ou memo suplantndo o "autor" cmo
tro referente a um prestigio. Asim, se
"autr" manm-se como autoridade, origi
nalidade e autria |esator' pas a ser
- .
reerado apenas aos "autores" que tm um
valor a mais, ueles que juntam l aia
-
o
a arte da forma
.
"L 'cril aecide em ce tempo a rang d
valeur culturelle majeure en m2me
temps que Mqualu d'crivain accd
au rang de tUre de digna. Ne pou"a
tre ditigu comme tel que celui qui
aura pris le rique de ser au ju
gemem public, de mettre son nm Wjeu
sur le march littrair"" (ViaJI,
1985:278).
Da porno, a forte seleo daqueles
que tm aces o a essa condio.
nessa poc tambm que Viala locali
z o incio da emancipao da "literatura",
. - -
que, apesar de cnstar nos dicion'rio cmo
sinnimo de Udoutrina" e "erudio" -isto
, sabr daqueles que leram muito e muito
retiveram das leituras; saber dos "letados"
enfm -, comea a aproximar-se das bell9
Lettre em opsio s Lettrs savantes.
Entretnto, essa muto iniciada em
meados do sculo XVIIno deve levar-nos
a inferir a existncia do "Jitcr6rio" nl socie
dade clsica: o autor sublinba que sua au
tonomia estava apnas se esbando, no
conjunto de contIito e efeitos de um movi
mento que s6 seria consumado no sculo
seguinte. A produo "literria" do sculo
XVIIain a seria marcada pela ambigida
de de duplicidade e da "cnsagrao con-
A EAUBU8A ,
fiscada", OU seja, a consagao do escritor
confscada pelo Etado, a censura e copta
es diversaQ
Uma segunda interpretao do nasci
mento da literatura - a de Foucault - situa
esse momento ainda mais prximo de n,
especificamente no sculo ,coinciden
te com o que, para este autor, foi o surgi
mento do "homem" (Foueaull, 1966):
"( ... ) desde Dante, desde Homero,
existiu, realmente, no mundo ocidental
uma fora de linguagem que n6s outos,
agora, denominamos 'literatura'. Mas a
palavra de fesca data, como recente
tambm na nossa cultura o isolamento
de uma linguagem particular cuja moda
lidade prpria ser 'litenria'. que, no
inicio do sculo 7,na poca em que
a linguagem se entranhava na sua espes
sura de objeto e se deixava, de parte a
parte, atravessar por um saber, reconsti
tua-se ela alhures, sob uma fonua inde
pendente ( ... ) inteiramente referida ao
ato puro de escrever" (Foucault,
1966:393).
.
Aliteratura, assim, teria surgido como a
principal compensao ao nivelamento da
liuagem - e aqui o nivelamento corres
ponde sua fagmentao em dominios
-
como ftlologia, fonnalismo, exegese e a
prpria literatura -, o qual, apesar de seme
lhante ao esfacelamento ocorrido com a
histria natural e anlise das ri
.
uezas,
diferencia-se destes ltimos por impdir al
guma forma de reagrupamento: para Fou
caul!, a unidade da linguagem foi imposi
vel de ser restaurada. E s
.
ua fagento
em domnios mltiplos, torando-se objeto
de conhecimento, , para o autor aquilo
pennitiu O parecimento do uhomc' co
mo objeto dilIcil e sujeito soberano de todo
conhecimento. Sendo assim, ara Foucaul
a literatura e o homem so coetneos, o
ltimo tendo surgido do nivelamento-da
linguagem, e a primeira como compensa
o desse nivelamento.
Com efeito, a opinio de Foucaul!, ape
sar de perconer um caminho diverso do de
Viala e de sugerir um marco mais recente
para a contituio do "literro", refora a
idia de que, se a "moderidade" pode no
deter exclusivamente a "pateridade" da
literatura, ao meno nela que nossa repre
sentao do "literrio" se cnsubstancia,
coincidindo com aquilo que, segundo Ben-
-
jamin, caracterizaria o romance: indiv
duosujcito da criao, o livro e o leitor em
- -
sua solido (em oposio narao, que se
atualiza no "ouvinte", prescindido do livro
e da solido da leitura), e alm disso e
articularmente, uma "nova" modalidade
de criao, cuja especfcidade ada pla
atua aao de uma linguagem singular, a
Uliterria", fzendo de seu autor um uescri-
tor".
J. Uteratura e "Indivduo"
A oposio entre "narrao" e "roman
ce" desenvolvida por Benjamin sugere uma
correlao do tpo narrao : soiedade ::
romance: indivduo, na medida em que o
romance, ao contrrio da na nao, seria o
lugar do indivduo revelar-se independent
de uma sociedade que (in)fora, aconse
lha, difunde e resguarda a tradio. O I
mancista, condicionado pelo contexto his
trico em que suriu, no poderia falar de
outra coisa a no ser de sua desorientao,
tendo a sociedade, os acontecimentos pi-
cos, e os conselhos para a esfera
pblica da contudo, que
uma das ucria-
c"~on= - stituda a partir
de um "contrato social" entre indi
vduos iguais e autnomos, diferenciando
se, assim, cmo sacie/as, da Imiversitas,
modelo de sociedade derivado do princpio
70 1HTMO-1HU
de bienrquia (Viveiros de Casto Aaj o,
1977:139). Sendo assim, num primeiro n-
- vel, ni sslvel pensar o indivldu9 como
2P
osto sociedade, uma vez que tal "COI
tato" pressupe sua existncia e autonomia
anteriore, sendo frmado cm base nos
direits e devere do indivlduos como su
jeito morais e pollticos. Entetanto, como
bm mostam Viveiro de Casto e Arajo,
ao lado do ser moral autnomo, sigalro
do rontt socid, a moderidade tmbm'
&
cia o individuo nic e singular, o ser
*
~
icl lco, quaquando o social
S se vito como estatal, o ofci.,
cntal, aquilo que essencalmente exte
rior 1 dimensio intera dos indivrauos, on-'
o amor e senbmentos_
cit.:161), peritindo
nos, ento, num segundo nvel, flar de
oposilo ente individuo e soiedade.
. em grande parte a ete "individuo" que
se pode relacionar o espao da literatura na
moderdade; e no M O deI., como tam
m o da arte como um todo, da genialidade
e da loucur. LgEnio, o louco, o artista e o
escrtor destcm-se, por assim dizer, do
"too" social e podem flar alm dele, fora
dele, sobre ele C principalmente, com mais
"sabdoria" "razo" e "originalidade". do
que os indivduos comuns. Se, num primei
D movimento, contituem expresse de
um "desvio" nona, nio se oe esquecr
que esse mesmo "desvio" vem aCO :
do de elevada valorizao em nossa cultura,
. ~ .
que, ao mesmo temp em que prvilegia a
segmentao/individualizalo,7paradoxal
mente promove o "pluralisllP': - a Ualter
natva" a umudanCl cultural" a udiferen-
,
g
, pan preerar o valor encmpssa
dor do individualismo (Duare, 1980:8 e
12).
Lespao da literatura, da criao liter
ria, em nossa cultun, ento, encontrria
paralelo com aquilo que cnfere ao indivi
duo, como ser nico e singular, lugar esp
cial e privilegiado, detacado da sqiedade.
E no c em outa dirlo que caminham
algumas das idias sobre a are de escrever
da moderidade: ciaio solilAria, envol
vendo uma "psicologia" dos gnagens e
uma "psicologia" do .utor, axiada sobre o
tema da "inspiralo Intima", devendo br
tar das profndezas do indivlduD-lutor
(Duarte,1981:43); alm disso e espcifica
mente, uma lguagem pr6pria ao individuo
ciador (e, pornto, cntria nora), de
fnlo expressiva (e no estritamente c
municativa), onde se privilegia a polisse
mia (em detimento da clareza) e efeitos de
deloamento; linguagem esta que por mui
to tempo foi assoiada Uconotaio", em
opsio "denoto", utilida na comu
nicalo ctidiana, no "ptic", da socie
dade (Cota Lima, 1973:3-6) im, .alm
de solitria e tamm na
& .
eifeidade -o
a are de esc=v er
:
::
,
nosa cltura, revela seu ancoramento ao
primeiro termo da dicotomia indio x
soeiedad
E, se fonnos um pouc adiante, veremos
que, se no "ldlo" (sujeito ciador ou
sujeito leitor)
q
ue a literatura se consJs-
lneia nele tamm .ue ela pYa; ou seja:
se o desvio valorizado como manifestio
da individualidade nica em sua plenitude,
s6 o enquanto limitado dimenso indi
viduai; enquanto escitor e soiedade pari
Ibarem "da mesma conviclo quanto
'noralidade' do no-ptic, isto , da
sociedade" (Cota Lima, 1973:7) e a cia
o Iiter4ria nio incidir sobre objetos udo_
tado de poncia modifcadora" (id., ibid.).
Asim, uma vez valorzada e enquadrada
--
como desvio, a literatura adquire legitimi-
-
da de pr6pria, queJbe confere plena liberl!-
aede .
-
e
por isso mesmo e nestes re-
velar sociedade sua loucur, propor ques
tes, prmitindo o prazer na dvida (COSi
Lima, 1972:65; 1984:71): "Discurso do
desvio, por exclncia ( ... ), a literatura pode
s-lo sob o preo de nunca m tomar o
A1AAULOKA 71
`
0SCBtS0 08 S0Cc080c [L0Sl8 Lm8,
1972:65). m8SBm8 Vc2, VctC8-Sc O-
m0 0 cSg8g0 08 llct8IBt8 B8 m00cm080c
MZ gcS8t 0 gtmct0 Ictm0 08 0C0I0m8
B0V0B0 XS0Cc080c, 8 clcSc 8lBb8B00.
Z. P literatura como "valor"
PtccX80cmgtccB0088l8gB S0btc 0
c8g8g008llct8IBt8B8m00cD080cgctm-
0B0cBlC8tcSSccSg8Q C0m8gBclcOB-
\
Rt00 80 R0V0B0 BC0 c SBgBl8t, 0 SB-
Bc Sc CBgBt0B_
0IC0cm0t8l
P-
c80mcSm0lcmg08Cm808S0Cc080c,gBc
Sc0c tcl8C0B8t 8 lIct8IBt8 0 cSCtI0t,
0lcI0t c8 gtgt8 Ct8g80 Com0 cXgtcS-
S80 0cSV8Blc c Vtc, B80 m8S "B8tt8g80
0c B0D8QcS c 08 080Q0, m8S O8g80
BIm8 0cg0SSbl080cS BC0mcBSBt8VcS
B80 m8S "tcSg0m8bl080c S0C8l, c Sm
) ug8t08 gBcSM0c08 0BV08.
J8 Ict8 S00 g0SSVcl VctC8t gBc cSIc
"B0V0B0 cm gBcSl80 8gBclc gBc 0V-
0c, C0m ScB "b0mBmo- gB8BIl8IV0, 0S
08SI00tcS00"g8t800X0S08m0cm08-
0c.LBScj8,cSl8m0SB0Stcg0tI8B00B8080
B0V0B0 "gB8lgct8BIc Io00S, S@8l8t0
00"g8CI0S0C8l,cSmgBclcgBc g8tl-
CBl8tcmSB80ctcBg8[C.bmmcl, 1902).
C8t0 gBc 8mDS S80 Cocl8Bc0Sc 08 8
"gt8g8 c 8 BSIC8IV8 00 g8t800X0 , c
R80g0cm0B0Stcctt8BmScm mcBC0-
B8tScB ComglcmcBIo[0c gBcRClBSVcB0S
ScDm0S g8t8 0c1t 0 gDmct0]. \ gBc
r mg0tl8tcgSlt8t8gB0gBcI8l"B0V0B0
`
c I8lVcZ, C0m0 IcBC0B8m0S, 8 gtgtI8
lIct8IBt8 C0BSllB 0 cSg8go 08"l0l8l08-
g0c cm oM CB Iut8.
o
0 gtBCg8lmcBIc 8 g8tlt 08 0bt8 0c
LBSLBm0Bl,0HcmcBIcBSgt808B0lt8-
b8lb0 g0Bct0 0c N8tCc N8BSS, gBc 8
8Blt0g0l0g8S0C8lc0BIwS0SCglB8S08S
CBC8SbBm8B8S 8IcBMt8mg8w 8cSgcC-
C080c0 0cBl080c08 mS08 8CBlIBt8
0C0cBUl m0cm8, m8tC808 gcl8 08 0c
Bm B0V0B0 B0cgcB0cBIc c 8BIB0m0.
bB@8 cBM0 8 BcOSS080c 0c 0SIBgBt
cBItc0B8SB cS0cR0V0B0.0Sctcm
-
-
tC0,mcmbt008cSgCcbuR8,cBC0BIt8-
00 cm I008S 8S S0Cc080cS c O R0V0B0
-
C0m0 "V8l0t, SBSIcBI800 gl0S 0c8I8 dc
-
lbct080c c gB8l080c gtgtm m00cm-
080c. SIc llm0 0SIBgB8-Sc, cBl80, 08
"gcSS08 C0m0C8lcg0t80c0cBl080cgt0-
gt8 8CBllut8Sb0lSI8S,B8S gB8Sgtc00m-
B8V8m8 bct8tgB8c8 0IctcB@.
P0gcBS8mcBI00Bm0BI8B0,8OIcg0t8
'W8l0t VBCBl8-Sc cS0cl8mcBlc bct8t-
C0BbcC000cSS8tcl8-
g80Sct8008bct8tgB8cB!tc 8m800tcl8
c 8 cSgBct08 [cSlB0800 g0t 1cH2, 1960, c
LBm0Bl, 1983): 8tcl8g80 cBltc 8mb8S B80
0 Bm8 tcl8g80 0c gB8l080c gBc 0cg0S
Sct88CtcSC00BmV8l0t,l0H8B00-8bct8t-
gBC8 80 C0B08t0, 0 V8l0t ]8 B8SCcBBI0
C0m 8Sm80S c8tcl8g80 cBltc8S0B8S t0c
anlemdo m8tO08 gcl0 cBC0mg8SS8mcBI0
08cSgBct08gcl8
.
Bm0Bl 0 BcB088 tc8
-
0bct8t B-
C8 8 gB8l, B0 cBl8BI0, IcB0cm0S8 0cSC0B-
S0ct8t cm VtIB0c 08t8C0B8l080c0tm8l
gtgt8 m00cm080c: 80BVS0c bct8t-
gB8,gtcSSBg0m0S8gB8l080c 80BV0S0c
V8l0t, gtcSSBg0m0S8cXSlBC8008I0,08
"B8IBtcZ8,gBc g8wBIc8gB8l0#0cgtmc-
t8cB0cm80 0tcl8cm80cSgBct08.
B0cI8BI0,8gcS8t 0cB0S8 t8C0B8l08-
0c cXClBt bct8tgB8 c V8l0t, g8w00X8l-
mcBIcg0SSVcltcctt-Sc8Bmvalor B0-
0BD cm Bm8 CBllBt8 000c 0 g Sc
tcSSBc 0 clc Sct Bmfato Bc m8Bl0m
Bm8 tcl8g80 0c gB8l080c C0m0BIt0S8!0S
gB8S 8 clc. gt0V8VclmcBlc cm Vt!B0c
0cSS8 t8C0B8l080c 0tm8l, gBcB0S C0B0-
C0B8 8 Scg8t8t8I0 0c V8l0t, gBc Sc l0H8
72 E1 ITRC -1W1/
difcil considerar que om o nascimento do
"individuo" ocidental moero deu-se a
-
ao fto, com que aprendemos a concber o
mundo.
E, se possvel reconhecer neste "indi_
vduo" o espao da totalidade em nossa
cultura, acreditamos poder avanar um
pouco e supor que tl espao seja tambm,
ocupado pela literatura.
Em primeiro lugar, isso ocorre porque a (
I
literatura constitui uma das modalidades de
expresso e operao daquela totlidade:
seja porque, no processo de criao, o es
critor procure, em seu "foro {ntimo", n
completude da solido, uma lgica csmica
que rena ao mesmo tempo sua exprincia
de vida, a exprincia do mURdo e o inc
mensurvel, dando-lhe sentido e conferin
do uma totalidade prpria quilo que antes
parecia fragmentado; seja porque uma tota
lizao semelhante operada pelo leitor,
na solido da leitura, e a partir de uma
experincia de vida distint; seja ainda, por
que a prpria obra impressa, independente
e solitria, guarda em si uma totalidade
secreta, possvel identificar na literatura
uma vontade .e totlizao, articulada
que se deposita no indivJ
como valor.
Em segundo lugar, porque no deve ser
,
por acaso que conferimos literatura atri- .
bUlaS "sagados", emprestados, portnto,
ao domnio da religio, "categoria de nossa
cultura segmentada com que procur[amos)
entender o espao da totalidade" (uarte,
1980:5). L escritor tocado pela inspirao
atinge um estado sublime, pura levitao de
esprito, a que o leitor E tambm levado,
numa espcie de sagrao purifcdora do
que nele h de mais ntimo. Nesse "culto"
a que chamamo literatura, a obra literiria,
se consagrada, transforma-se em uma espE
cie de "escritura", e o escritor, assim como
os deuses, toma-se um imortal, porque de
tm, indecifrvel, um dom especial: "Ela [a
criao artstica) no se reduz (00') a uma
transcrio dos aspectos formais ou fora
lizado da experincia de vida do artista, ela
se enriquece da expresso de alguma quali-
LA LAUBUBA 73
080c mg8g8Vcl S0DIc Cu[8S C8I8ClcISl-
CS l8Rl0S Sc 0clcI80, 8RS0S0S 08 0SScC8-
g0 0cSSc IcS0u0 sagrado 08 RSgI8g80
[...] [Lu8Hc 1981:43; @0 R0SS0].
bc,Rum0B8IRC8lg8I88m00cH08-
0c 0 guc Vcm0S 8 m8IC8 00 ``R0V0u8-
Sm0[cm0g0Sg080``B0Sm0],0muR-
00 fagmentado cm 0VcIS0S 00mR0S 8
CcRC8 0V008 cm 0SCglR8S 8 I8C0-
R8l080cC8I8ClcIZ808g0ILcSCIlcS8S0-
Cc080c C0mglcX8 cRm, um Sc_uR00
') 0b8I m8S 8gI0R0800 c 8_0 cSguZ0-
cRC0, R0S cV8 RcOSS8I8mcRlc g8I8 0
IcIR0088mD_u080c.LRcSlclcIIcR0cm
- -
guc IR0V0u0 ``llcI8luI8 c 8 gI0gI8
'
``m00cIR080c 80guIcm C0R_uI8gcS
m8S C0mglcX8S guc lcRC0R8m0S RVcSl -
_8I 8 gucSl80 00 Su[cl0 R8R8II8lV8 8ul0-
D0@8C8.
. LUdLL NP NPMMPVP
PULlLMPflLP
tXSlcumclcmcRl0mul0 01C 0c
ScIC8gl800 g0Ium lcl0Im00.
0 R8II800I 0cum8 bSl0I8R80 RuRC8
08u!0I. ScmgIc um8 RVcRg80.
N8I_8Sl0S8 {8gu08V8, 1986:5).
8II8lV8CcRlI808R0 Su[cl0guc8CII8,
Smul8Rc8mcRlc g0Rl0 0c g8Il08c 0D[cl0
00 lcXl0, 88ul0D0@88 8Ic ScI8 8lu8-
lZ8_80 00 R0V0u0 m00cH0R0 cg8g0
08 lcI8luI8. C0m0 Sc,80 800 08 g0cS8
.--
00 I0m8RCc, 08 gcg8 lc8lI8l, 08 CIRC8
cRlR, Sc IcScIV8SSc 8guclc R0V0u0 8
- -
Su8S IccXS c cXgcIcRC8S g8IlCul8IcS
um _cRcI0 llcI8I0 cSCIC0 guc gcI-
mlSSc 8 cXgIcSS80 0cSu8 uR080c c 8ul0-
R0m8.
Sl0IC8mcRlcRCluSVc8SRl0R8 cR-
lIc 8ul0D0_I88 c Su[cl0 m00cO0
C0RDR808gcl0m8IC0 mC88gucScC0S-
lum8 8lIDuI 0 R8SCmcRl0 08 8ul0D0-
_I8I8!8S Con[ls6es 0c0uSSc8u,lcXl0R0
gu8l gcl8 gImcI8 VcZ, 0 cu Sc 88 R8
Rlm080c c Sc gc 8 Ru, 8 0SQSIg80 00
[ul_8mcRl0 00S cl0IcS.
bc Icl0m8DR0S cRlIcl8Rl0 8 0g0Sg80
0c cR[8mR cRlIc I0m8RCc c R8II8-
g80lcmDI8R00guc 0I0m8ROl8mDm
R8SCcu R0 C0RlcXl0 0c Scg8I8_8000 R-
0:V0u0 08 S0Cc080c ScR00 g0Il8Rl0
C0cl8Rc08 8ul0D0_I88lcIcm0Sum8gI-
mcI8Ic8lVZ8_8000lu_8I0cSl8llm8R8
m00cH080c. CcIl0 guc 8 8ul0D0_I88
808l8I00Su[cl0cmSu80mcRS80Rlm8
l8mDm 08 R0lC8, C0m0 0 I0m8RCc
08 gI0uR08 0cS0IcRl8_80 0cgucmVIVc
[cR[8mR 1969:60). Lc 0ulI0l800C0Rlu-
00 cl8 l8mDm 0WR0c c cXcmglC8 8
cXgcIcRC8 00 8ul0I 8 g8IlI 0c Scu g0Rl0
0cVSl8SR_ul8Ic RcSScScRl\00,l8 gu88
R8H8g0 8C0RScB8 ccRSR80
um8 m008-
080c 0SCuISV8 uc Sc_uR00 cR[8mR,
- M 'W
l8I8IclI0Cc0cR00 8I808 IC
C0 . c
8RlcS 8 R8II8_80 cXglC8V8 8 lI80_0
c 0S 8C0RlcCmcRl0S 00 0Rl0 0c VSl8 08
-
-
-
C0muR080c guc lBc 0 l0m808
gcl8 0
m00cH080c. R80m8S 8 universitas c Sm
0 dd cm Su8 0mcRS80 RC8 c
8 u l R 0m 8 .
LSSc gu80I0 g8I800X8 cm guc C0RV-
Vcm um8 m8RcSI8g80 0SCuISV8 IgC8
08m00cH080c~8 8ul0D0_I88-c0ulI8
0cRlC808C0m0``8IC8C0-8 ``R8II8g80
-, g00c ScI cXgC00 8U8VS 00 guc Sc /
C0RVcRC0R0uCb8m8I0c`8I800X008m0- |
0cH080c! Sc 8 8ul0D0_I88 0 cSg8g0
g0I cXCclcRC8, 0c cXgIcSS80 00 R0V1-
0u0R80Sc0cVccSgucCcIguccSScmcSm0
1R0V0u0, 8RlcS 0c ScI um l8l0 um
V8l0I,8gI0Xm8R008m00cD 080cm8I-
C808 gcl0 R0V0u8Sm0, 00 8IC8C0,
m8IC800 gcl8``BcI8Igu8.
74 ESHTRCS -1HI0
J. Lsujeito na fico
Para chcarmos mais pcrto da qucsto
do sujcito na nerrativa autobiorca, c
ncccssrio cstabcIcccr uma comparago
com a namtiva ccionaI. Lcmbrcmo-nos
dorcIatodcGarcaMrquczsobrcamortc
do coroncI AurcIiano Bucnda: no incio
dcstc artio rcssaItamos ofato dcquc, na
autobiorafia, o "pcrsonacm" quc morrc
cfctivamcntc cxistiu, ao contrrio do quc
oconcnacgo,qucnofaIadaquiIoquc,
para cscritorc Icitor, pcrtcncc csfcra do
"rcaI". Ncssc scntido,ananativaficcion!
c@istinc da autobior por no sc
rcfcrcnciar a uma "rcaIidadc" antcrior c
cxtcrior ao tcxto (a vida doautorjc sim
_roduzir um "ouuo mundo", imaInrio,
ondcscmovimcnta,atuacmorrcAurcIiano
Bucndfa.
Vcjamos aora comoaprodugodcssc
"ouuo mundo" incidc sobrc a posigo do
sujcito nanarratva ficcionaI.Tcndocomo
cncriaconstitutivajustamcntcoimain-
ro,a oiago dc cgo sc caractcrza, sc-
undoIscr(!7,poruansfomar,atravcs
dos "atosdcfmir",cssc mcsmoimain-
rio, dciniciaImcntcdifusona"mainago"
docsoitor,cm determinado (cmaIoquc,
pIoproccssomcsmodacriao, passaascr
dorcaIquantoo"rcaI",diramos,"rrcaIi-
zando-o".
contudo,dcacordocom
scrtomadopor"fa-
tesia",porquentocsteItima"fundamcn-
uImcntcumaatvidadccompcmatria"(sc
sntoscdc,fantesioumcopod'ua,"pcr-
tcnccntc mcsmaordcmdarcaIidadcvivi-
da",setisfazcndocxpcctativasscmofcrcccr
"Iuarparaoqucstionamcntocacriticida-
dc"(CostaLma,!84a:22Jc224.Lima-
inrio,aocontrrio,"supcairrealizado
doquctoce;aaniquiIagodascxpcctativas
habituais"(p. 224-5, rifodoautorc no
corrcspondcaumasubmissoamparmc-
uosda"rcaIidadc",mas,antcs, sualrans-
" .
gressao(p. 226
AIm disso,cnquanto afanusia,mmo
atividadc compcnsatria, scconura cm
umavontadc dc"csqucccrarIidadc"(p.
I5,o _@riocIaborascm
_rcumaten-
sdo, umavczquca"incaIizago"dc"outra
coisa"nao anula o plano da realidade (p.
!4-5. Ncssc scntido, o "ouuo mundo"
produzidonacgonoscopc "rcaIida-
,dc","fcgo",scundoCosuLima,no-
comosccosmmadcnir~smpIcsmcntco
"avcsso"darcaIidadc, not"mcntra",ao
conurIo:"opIanodarcaIidadcpcncuano
joo ccionaI (..., porquanto o quc ncIc
cstsc mcscIacomoqucpodcratcrhavi-
do,oqucncIchsccombinacomodcscjo
do quc cstivcssc, c qucpor iso passa a
haver e a estar" (p.!5;rifonosso.
Noqucdizrcspcitoaocsoitor,taItcnso
cntrcoimaInriocorcaIsofrcumrcbati-
mcntoparaopIanodo"cu".Aindascundo
CostaLima,oimainriotcmrcIagodircu
comapossibiIidadcdcampIiaroqucchama
dc "nuIo dc reaa0" das cxpcrincias
pcssoaisdocscritor(!84a:228,cxprcsso
usada paracontcstaranogodcrcdupIica-
go cspccuIar, scundo a quaI as fiuras
composuspcIocscritorscrammcrosrefe
xos ouprojcgcsdcscucu(p.2J2.Assm,
aomcsmotcmpocmqucoimainropcr-
mitca''transfomao"docscritorcmpcr-
sonacns quc nada tm a vcr com cIc, taI
uansformago c aIimcntada pcIa rfaao
dcsua cxpcrinciapcssoaI(csta,vividano
pIanoda"rcaIidadc", onuIodcrcfrago
scndoocspagonointcriordoquaIsccsta-
bcIcccalendo cntrcocuimanriococu
"rcaI":
"LfccionaI,portanto,impIiceuma dis-
sipagotantodcumaIcisIagocncra-
IIzada,"(cIcnorcfIctcumavcrdadcdc
ordcm craI "quanto da cxprcsso do
cu"(norcfIctctampoucoosvaIorcsdo
cscritor."NcIc,o eu se lOrna m6ve ou
scja,scmscfxarcmumponto,assumc
L1KA rE AUUUKA
divcrszs nucIczgcs, scm dvidz,con-
tudo, possibiIiudzs pcIo ponto quc o
zutorcmpricoocupz.zcszmovnciz
do fccionzI quc, simuIunczmcntc,
impIi a dissipaao do eu e afirma os
limites da reaao dcscusprpriosvz-
Iorcs~quctcmoschzmzdodcangulo de
refaao. Assm, tal dissiaao do eu
n40 o torna meistente, mmosccscrc-
vcrcgofosscznuIzrscusprpriosvz-
Iorcs,normzsdccondutzcscntimcntos.
Aimaginaao permite ao eu irrealizar
se enquanto sujeito, pzrzqucscrcaIizc
cm umz propostz dc scntido ( ... PcIz
cgo,opoctase inventa possibiliades,
sabendo-se nao confndido com nenhu
ma delas; possiblidzdcs contudo quc
_ . . , -
nzo tnvcntznzm scm umz mottvzao
biorce"(Costz Limz, !84z: rfos
nossos.
Dcssc modo,o"cu"docscritor nz nzr-
rztivzficcionzIscdisipa nocspzgozbcrto
pcIonuIodcrczgo,pcrmitndozocs-
oitor"irrczIizzr-sc cnquzntosujcito", "in-
vcntzr-semItiplzspossibiIidzdcs",imagi
nar-se, cnEm,"outro dcsi mcsmo". E,no
cxtrcmodcssz"movnciz"docu,cdzdzzo
cscritor (c zo Icitor, quc tzmbcm sctrzns-
portepzrzoimzinriozpossibiIidzdcdc
chorarpcIzmortcdcumpcrsonzcm,como
sc cstivcssc scndo "possudo" por, ou sc
"mctzmor!osczndo"cmsuzoizgo
Z. Pconstruo autobIogrfica
!nvcstiucmoszorz,comocontrzponto
zcsszmodzIidzdcdc"posscsso"do sujci-
to modcmo,o quc ocorrc com o "cu" do
cscritor nz crizgo zutobiorficz. Eg
p inc!g io,podcr-sc-izdizcrquc,nzrccons-
tituigo dc suz cxpcrInciz dc vidz,_
cabczozutor c"rrcz-
-
t'umpcrsonz scntido,zzu-_
tobiorzfiz,zo invcs dcsuscitar zdissipz-
godocucmmItipIos"outros",pzrco,zo
mntrtrio,reafrmar suz
Pzre U qucce-
rzctcrzzzzutobiorzfz zidcntidzdccn-
ucnznzdorczutor,cxprcsszdzzuzvsdo
acro aurobio rt /Co cstzbcIccido mm o
Ic:tor,cscicdcdccIzrzgodoupo"istoc
zutobiorzfiz".
PpzrtirdcumzdcfmigoinicizIdczu-
tobiorzz - "Rcir rerrospecti en prose
qu'une personne rellle [air de sa prpr
existence, lorsqu'elle mel ('accent sur sa
vie individueI/e, en parriculier sur I'hisroir
de sa personalir" (175:14 , Lcjcunc
procurzin!criroquc,ncstzdcuigo, pcr-
mznccc rcsuito zutobiorzfz, sc z com-
pzrzrmoscom
curso
co, o c o zuto-rctrztooucn-
_ . -
szio. compzrzo rcsuItzquc zzuto-
biorz!z tprincialmente umz nzrrztivz
(rcir), compcrspcctivzrctrospcctivzcC
'.
jo zssunto trztzdo c z vidz individuzI c
impIicznecessariamente zidcntidzdccntrc
zutor,nzrrzdorcpcrsonzcm(p. 4-5.
P rzdzgo sucridz pcIos zdvrbios
ri!zdossigidizcrqucostrscIcmcn-
tospcmnoconstzrcmtodzszsptinzs
dcumzzutobiorzz,scndozpnzsprcdo-
minzntcs,mzsquc
non
nopacto zidcntidzdccntrc
onomccxpostonzcepzcnz!oIhzdcrosto
(umnomcquccquivzIczumzzssinzturzc
onomcquconzrrzdorscdmmopcrsonz-
cm principzI, zcrcscidz nz mzioriz dzs
vczcs dz indiceo, nz capz,nz foIhz dc
rosto, nzs orcIhzs cnz conuzcepz, dc quc
sc trztzdc umz zutobiorzfiz.O pzcto zu-
tobior!ico sc d, cnto,quzndoz idcnti-
dzdccntrc zutor, nzrrzdor c pcrsonzcm c
zssumidzctomzdzcxpIIcitz pcIozutor,zo
contrrio do p z
;
c
to_ ro _ m znsc", dccIzrz-
76 ET HWMO-1H1/l
o de negao daquela identidade e ates
tado do carter de fco.
por isso tambm' que uma autobiogra
fa nunca pode ser annima, porquanto Ibe
fltaria assim o nome do autor, daquele que
atualiza o pacto. .
E, como contaprova dessas afrmaes,
Ljeune apnta o fato do leitor muitas vezes
procurar a ruptura de tais contatos: por um
lado, julga encontr, na fco, semelhan
as ente o texto (os persongens, as situa
es) e a vida do autor e, por outo, na
autobiografa, busca defonaes e ufuros"
que atestem a no corespondncia ente
autor, narrador e personagem (p. 2_7.4
_
Entretnto, se o pacto autobiogrfco
confere identidade ente autor, narrador e
prsonagem um cdter manifesto, iso no
signifc, ainda segundo
nvel do discuro, n
:
o
teto, narador e
prsoagem remetem, respectivamente, ao
sujeito da enunciao e ao sujeito do enun
ciado: o narador nara a histria e o perso
nagem o sujeito sobre o qual se fala.
Abo, porm, remetem ao autr, que pas
b ento a ser o referente,fora do texto.
Do ponto de vista da relao entre autor
e narrador, tedamos uma ientidade clara,
assumida, que se mani esta no presente da
enunciao: c o autor que esceve aquelas
linhas; ele que narra, no momento presen
te, a histria. l ente autor
S
e personagem,
o que teriamos no constitui identidade,
mas, antes, uma relao de
uma vez que o sujeito do enunciado (pero
nagem), apesar de inseparvel da pessoa
.'
que produz a narao (o autor-narador
esU flando dele mesmo), dela est afasta
do, o que se compreende principalmente ao
verificar.a distncia t 9pre
.Qda enunjaio e
a
D
mento passados: o personagem com a ida-
e de trs anos assemela-se ao autor com
a idade de trs anos. por isso que, do ponto
de vista do enunciado, o pacto autobiogr
fco prev e admite falhas, erros, esqueci-
mentos, omisses e deformaes na ml0-
ri do personagem; posibilidades, alih,
que muitas vezes o autor mesmo - num
movimento de sinceridade prprio auto
biografia -levant: esaever sobre sua vi
da aquilo que lhe peritido, seja em fun
o de sua memria, de sua posio soial,
ou mesmo de sua posibilidade de conheci
mento.
W espcie de ueclarao d princl-
Rios", mesmo no expressa, fz' pare do
cntato autobiogrfc cm o leitor e dife
rencia a autobiogafa do demais textos
referenciai, uma vez que a exime da seme
Ihana estita ao referente,
TAEAUBU8M T
cao do sujeito coincide com a prpria
significao da autobiogrfa, uma vez que
"on n peut assumer sa vie san d'une cer
taine maniere en {rxer le sen; ni I'englober
suns en [ave M synthese; exliquer qui on
lai4 san dr qui on esl (. 174) ..
Asim. se algum se p a escrever uma
autobiografl l, prque tem emmeote fxar
.um sentido em sua vida e dela operar uma
sntese. Sntese que envolve omisss. se
eo de acontecimento a serem relatados
e desequilbrio ente o relatos (uns adqui
rem maior peso, so namdo mais longa
mente do que outos), operaes que o autor
s6 capaz de fzer na medida em que se
orienta pela busca de uma significao:
busca essa que lhe dir quais acontecimen-
tos ou refexes devem ser omitidos e quais
(e como) devem ser narrado. essa busca
tambm que prevalece na estutura do tex
to, os relatos ganbando sentido medida
que vo sendo narrados, acumulando-se
uns aos outos, de modo que a significao
se constri no momento mesmo em que o
autor esceve a autobiografa.
Asim, s na "irealizao" da fico
ocorre uma dissipado do eu, na "significa
o" da autobiografia pode-se dizer que o
que ocorre sua fIXao. Pois, se, na pri
meira, possvel imaginar alteridades e
concretizar fonnas de vida diversas ("ou
tas"), na segunda, ao contrrio, a movncia
do sujeito se circunscreve ao espao da
semelhana, resultando na construo de
uma "imagem" .de si mesmo, qual se
cnlere \ ese f,a) um seritldo ..
Dito assim, no difcil supor a relao
entre a constuo autobiogrfica e um mo
vimento "mtico,6 do eu do autor, na medi
da em que a "energia constitutiva" da auto
biogafa parece ser, no o imaginrio, e
sim o signifICado.
o que faz o escritor de autobiografa
seno imprimir descontinuidades sua vi
da, selecionando episdios "significativos"
que se encaixem na "etrutura" do texto,
para elaborar (no texto e de si mesmo) uma
sntese (um concebido)? Isso acontece num
movimento tal que esse "semelhante" de si
mesmo toma-se um "indivduo" nico e
totalizado, o sujeito "psicolgico", cuja
constituio "mtica" j foi inclusive suge
rida por Lvi-Strauss ao final de sua anli
se sobre a cura xamanftica: "sabe-se bem
que todo mito uma proura do tempo
perdido.
Eta forma modera da tcica xamans
tia, que a psicanlise, tira, pois, seus
cracteres particulares do fato de que, na
civilizao mecnica no h mais lugar
para o tempo mEico; seno no prpri h-
mem" (Lvi-Strauss, 1949:236; grifo nos
so). Ou seja, sobre o pano de fundo da
modernidade, possvel dizer que o esforo
autobiogrfico, anlogo ao psicanaltico,
cnstitui tambm a "procura do tempo per
dido", expresso e atualizao do tempo
mtico, localizado, na "civilizao mecni
c
"
, no "prprio homem".
esse quadro que tambm sugerimos
no incio deste item, ao aproximar a auto
biografia da "narrao" nos tennos de Ben
jamin: como se na moderidade, de modo
anlogo ao que ocorreu com o "tempo m
tico", s6 tenha restado lugar para a IInarra-
o" que fala de, e sobre, o "eu".
E tomando-se o prprio lexlO autobio
grfico, possvel supor que, omo texto,
tambm se aproxime do relato mtico: uma
histria narada, na qual se justapem con
tradies, que 'caminha em direo a uma
soluo 'final, es cie de alvi para a con-
w
tradio antes experimentada entre o que
"fui" e o que "sou":
"Pois memrias e autobiografas so
substitutos dos espelbos. Se estes, met
icos e implacveis, assinalam o desgas
te dos traos, o torpor dos olhos, a
redondez do ventre, fechamo-nos contra
a maldade dos espelhos e procuramos
nos rever no que fomos, cmo se o per
curso da antiga paisagem nos capacits-
-
78 TKTRO~1HV
se 8 nos explicar ante ns mesmos"
(Cot Lima, 1985:244).
Histria M"ad, na medida em que
consllda tmbm para a leitur, porque o
autor nlo se signifca apenas para si mes
mo, mas tambm para os outos, capaz de
contar sua hit6ria, tnsmitir sua experien
cia -no que a conslio autobiogfc se
aproxima da noo de "projeto" desenvol-
vida por Gilbrto Velho, como sendo uma
elaborio cnsciente, psslvel de ser co
municda, d. tentativa "de dar um sentido
ou uma coerncia" "experiencia fagmen
tadora" do individuo nas soiedades com
plexas (Velho, 1981:31).
por esse ato de conlar, justmente,
que o projeto autobiogrfco parece tomar
se paslvel, na medida em que exige do
escritor o esforo d tomar inleleg(vel para
o outos sua experincia "fagmentada",
L8contrrio, se teria, no limite da busc
de sentido para a prpria vida, um "veto
comunicao", uma "radicalizao do au
tobiogrfco, implicando a imposibilidade
de partilhar os seus sigifcdos" (Cost
Lima, 1985:307), uma vez que s6 o autor
seria cpaz de signfcr-se a si mesmo, no
dando condie ao leitor de "partilbar o
que ali se oferece" (. 306).
Nesse sentido, talvez, a fnio da narra
tiva na autobiografa seja anloa Aquela
que adquire na cncpo moder de his
tria: a de elaborar uma ex Iic o (um
concbido) para o pasado, na qual o tempo
linear fnalmente pra, acitando uma con-
cluso: "o tempo narativo parce trabalhar
paralelamente a etas ciencias "(naturais)"
- e ao mtodo crtic - complementndo
as, pis enquanto elas se obrigam a um
progresso contnuo, equivalente ao inces
sante movimento do temp linear, 8 nara
tiva confecciona um real no qual este tem
p, eta Oecha, fnalmente pra, acitando
uma concluso" (Aajo, 1986:49).
3. L8limIte. de expre Ao do "eu"
Se no Iintdo epao da seme/aa
que se move o "eu" autbiogr'fco e se,
nesa movencia, ele produz uma imQem
mtic de si memo, fixando-se como "eu
para si" e "eu para os outos'1 de outo lado,
cntudo, essa conslUio da identidade nio
se fz sem ambigidades. se mose pode
dizer que o ecritor de autobiografa "g-
sudo" por, ou se "metmorfoseia" no ima
ginrio, de alguma fora psslvel reco
nhecr, em seu af de expressar e regatar 8
experiencia de vida, uma nttiva de su
plantar as descontinuidades que o separam
do sujeito do enunciado .
Ao analisar a prouio de autobiogra
fas na terceira pessoa, em que o autor refe
re-se a si mesmo como se fora outro, Phi
lippe Ljeune (1980) adverte que tl fgur
(a terceira pessoa) mo deve ser tida como
uma forma "indireta" de falar de si mesmo,
em opoio ao crter "direto" da primeira
pesoa, pois "elle uI U manire de rali
ser sous Mforme d'un doublement ce
que Mpremire personne ralise sos M
forme d'une confsion: I'inluclable dU
l d la 'ersonne'gramalicale. Dire 'je' UI
plus Iubituel (dne p/s 'nalurl') que dir
'dquan on prle d so mai n'eSI pas
plus simple" (Lejeune, 1980:34; grifos do
autor).
Ist acontece porque "eu" sempre uma
fgura aproximativa nos discuros (1 exce
io do enunciados performativos), por
que, nela, se confundem e se mascaram as
distincias e as divises da identidade ml
tipla do sujeito que fala: a ditincia ente o
sujeito da enuncaio e o sujeito do enun
ciado, que, como vimos, marca a espcif
cidade do texto autobiorfco. Nete, a
dualidade da voz narativa corresponde, se
gundo Lejeune (198:37), As distincias de
perspectiva ente o narrador e o persona
gem, que fzem com que coexistam diver
sos jogos de focalizao e de voz, como a
A 11E AU BUKA
1
restio 8O prsonagem, ou a intso do
nanador, que pode comentar acontecimen
tos com ironia, por exemplo, ou trat-los
liricamente etc. Compensando ou mesmo
mascarando essas distincias, tenss e mu
dans constantes de perspectiva, o empre
go da primeira pessoa, mais comum na
autobiografa e quando se fala de si mesmo,
apenas estaria promovendo a ilus40 da
unidde d eu, de que, parece, necessita
mos, haja visto o incmodo e a sensao
artifcial que provoca a leitura de uma au
tobiografa em terceira pessoa. Assim, a
anlise do emprego da terceira pessoa na
narrativa autobiogrifica conduz quilo que
se esconde detrs do emprego do "eu" e
profunda tenso inerente a todo esforo au- .
tobiogrfico:
"Tom se passe comme si dans l'aUlobio
graphi2, aucune combinaison du syste
me ds personnes dan J'noncialion ne
pouvait de maniere salisfaisante 'expri
mer totalement' la personne. Ou pllltt,
pour dire le choses moins nafvement,
tomes les combinaisons imaginables r
velent plus ou moins clirement ce qui
et le propre de la personne: la tension
entre I 'ipossible unit et I 'intolrable
division, et la coupure fondamentale qlli
fait du sujet parlant un Rtre d fie" (p.
38; grifos nossos).
Sendo assim, aquilo que havfamos situa
do como sendo prprio do "eu" autobiogr
fco - a fixao de uma significao do.
sujeito - antes de constituir a totalizao
mitica da identidade do autor, toma-se, pelo
olhar "esquizofnico", uma iluso de uni
dade, com a qual o escritor se depara duran
te a constro de seu texto autobiogrfico,
experimentando a distncia entre o sujeito
do enunciado e o sujeito da enunciao, a
pluralidade de perspectivas da voz narrati
va e as divises interas ao eu que se pro
clama nico.
Isso no leva a supor que, se efetivamen
te o escritor de autobiografia no estabele
ce, como o de fcio, uma continuidade
com o Uimaginrio", tal continuidade, D
verdade, buscada em relao ao "vivido",
experincia de vida que o autor tent
reconstrir, prourando, sem sucesso, C~
primer tota/ement /personne". como se
os diveros de
fossem
por divi-'
mento da continuide vivido: como tal
expressodo
eu emsua "inteireza" impos
svcl, o mito construdo pelo sujeito 8Uto
biogrfico deixa sempre um residuo que
no se "encaixa" na estrutura concebida, de
modo que, no fora sua construo para a
leitura (sua narrao), a Oecha do tempo
vivido no parava e se teria um j'veto 8
comunicao".
se antes haviamos localizado a especi
ficidade da autobiografia justamente na
identidade entre autor e narrador, agora esse
mesmo nanador, incapaz de ser a expresso
do autor em sua "inteireza", deslocase,
como o peronagem, para o plano da cons
tuo: passa 8 ser uma imagem do autor,
constuida e gravada nas linhas do livro.
Desse modo, possvel dizer, como Vargas
Llosa, que o narrador de uma histria
sempre uma inveno, mesmo que essa his
tria seja aquela do "microtempo fnda
mentaI" que o autor protagoniza.
NOWS
l. Um dos exemplos desa pssibilidade p-
de ser encontrado em Csta Lima, "Mito e pro
vrbio em Guimares Rosa" (1972), onde s
verifica que a afta incidncia de provrbios n
80 HTRO -1H1D
obra d Guimare Ros levou o autor a aproxi
m-Ia da narrao e do relato mtic.
2. Sobe o "surgimento" da autobografa e
as Co.s de Rouu, ver Csta Lima,
1985:250-95, e Ljeune, 1975:13, 49-263 e 340.
w Ct Uma, 19848 e 1985, encntram-se
tamm referncias CofssudoAgstinho,
que mer detqueD "gneloga" do "g
nro' autobiogrfc, na medida em que tmm
cntl\ narrativa sb a exprinca do au
tr diante d "algo cpitl' - su convero
(Csta Lima, 1984a:237). Etetnt, de acrdo
cm J. Weintraub, citdo pr Cta Uma.
embr Agostinh "crmente etivese 00-
cent d i4ios incsia g al, no a via cmo
algo Ce valor em si memo ou merecdora de
cltvo' (Cst Lima, 1985:257), de moo que
8 "singulardde" da exprnca "individul"
no entava a( em queto.
.
3. analogia entre a omovnca" do sujei
to e fenmeno de "p$ o" ou "metamoro
s" foi dnvolvida em nosa disertao de
metrado a parir do cncito de "ritual" e "sa
aUco" de Lvi-Straus. Para um aprofunda
ment da queto, induindo a relao entre, de
um lad, a litratura e, de outr, a opsio
'vistrausian entre "mito" e "ritua'', ver A
br, 199.
4. A respito desa identidade, ver, tambm,
Csta Lima (1985:252-3).
5.Em sua anlis, Ljeune lan mo d uma
quarta fgura, o modlo, aquilo ao qual o enun
dado prtende assmelbarse, cmo forma de
instrumentlizr a ontrpsio d autobiogr
fa biografia. Cmo,entetanto, modelo eautor
se confundem na autobiografia (Lejeune,
1975:40), optmo pr adtr a fgur "autor"
quando s trt d rlao de semelhan no
nvel do enuncado.
6. Utilizamos aqui princpalmente a noo de
"mito" desnvolvida pr Lvi-Straus, que' re
mete 8 ordem do "pnsado", da "etrutura", do
"cncbido" e do "deontnuo", pla qual ela
bramos o que o autor cama de "texto" do nl
(c. principalmente Lvi-Strus, 1970).
7. Sugro aqui a relao entre tal "ontinui
dade" e a noo de "ritual" deLvi-Strauss, que,
opndo-se ao "mito", cnstitui uma outra mo
dlidade de elabrao d "texto' do real, da
ordem do "vivido", do "acnteimento", do
"cntnuo" (cf. principalmente Lvi-Straus,
1970).
Blbllografa
ALBERTI, Verena. 190. No gir d calids
cpi: a queto da ietidde na cia40
literria. Rio de Janeiro, PPGAS Musu Na
aonal.
,
AUO, Ricrd Benzaqun de. 198. "Ron
da notura: nanativa, atia e verdade em
Cpistno de Abreu.' Esudos Hist6rios.
Rio d Janir, Aao d Peuis e
|
Docmentao Histric, (1):28-54, 1988.
. BENJAMIN, Walter. 1969. "0 narador. Ober
va sbre a obra de Nikolai LskoW, em
BENJAMIN, W. el alii, Tto escolhids.
So Paulo, Abil Cltural, 1980. (O Pens-
dore)
.
COST LIMA, Lu. 1972. "Mito e prvrbio
em Guimares Rosa" emA mdamor do
si/ncio. Rio de Janeiro, Eldorado, 1974.
(Enfoque)
_. 19T. "Potica da denotao", emA mela
morfose do silncio. Rio de Janei to,
Eldorado, 1974. (Enfoque)
-' 1984. "Literatura e scieade na Amric
Hispnia", em Soiedde e discursa pcci
nal. Rio de Janeiro, Guanabara, 1986,
_. 1984a, "Doumento e fico", em Socieda
de e discurso ficcional. Rio de Janeiro,
Guanabara, 1986.
_. 1985. "Jbilos e misrias do pueno eu",
j em Sociedade e dicuro fccionL Rio de
Janeiro, Guanabara, 1986.
DUARTE, Luiz Ferando. 1980. "O clto do eu
no templo da razo", em "menaio sobre
p a e modernidade", Bolelim do Muse
NacionaL Rio de Janeiro, (41):2-27, 1983.
(N. Srie-Antroploga.)
_. 1981. "A onstruo soial d memria
modera-, em "m ensios sbr ps oa e
moderidade". Boldim do Mueu Nacional.
Rio de Janeiro, (41):28-54, 1983. (N. Srie
Antroplogia.)
_' 1982. "Pluralidde rel igios nas socedade
cmplexas e 'religiosidad' dase t
balhadoras urbnas", em "densaios sobr
ps a e modernidade'. Boletim do Museu
Nacional. Rio de Janeiro, (41):559, 1983.
(N. Srie-Antroplogia)
_ o 1986. Da vida nervosa ns clases Iraba
Ihadoras urbanas. Rio de Janeiro; Jorge
Zhar; Brasflia; CNPq. (Antoplogia So
eal.)
L8A 8AEAUBJO8A1A 81
DUMONT. Louis. 983. Essais sur " inividua
lisme: une perspcliv anllrropologique sur
I'idologie moderne. Paris, Seuil.
FOUCAULT, Michel. 1966. As palavras e as
coias: uma arqueologia das cincias huma
nas. Lisba, Portuglia, 1968.
- GARCiAMRQUEZ, Gabrel. 1982. Cloeirode
goiaba: convrsas com PlinioApuleoMen-
doza. 31 ed., Rio de Janeiro, Record.
HER1Z. Robrt. 1960 . A preeminncia da mo
direita: um estudo sobre a plaridade religio
sa". Religio e Sociedade. Rio de Janeiro,
Temp e Presena, (6}:99-128, 1980.
ISER, Wolrgang. 1979. L atos de fingir ou o
que fictcio no texto ficconal", em COSTA
UMA (org.) Teoria da literatura em SUQS
fOnles. 2' ed. rcv. e ampl. Rio de Janeiro.
Francisc Alves, 1983. v.2.
LEJEUNE, Philipp. 1975. Le paclo aUlobit
graphique. Paris, Sui!. (Polique.)
. 1980. le el un Qulre: ['Qulobiograplzie, de
m liurolure oux mdias. Paris, Seui!. (Po
tique.)
LVI-STRAUSS, Claude. 1949. -A eliccia
simblic", em A nlrpologia tStruluroJ. Rio
dJaneiro, Tempo Brasileiro, 1975.
1970. "Finale", em L'homme n. Paris,
Plon, 1971.
PAlV, Marcelo Rubn. ) 986. Blecaule. 71 ed.
So Paulo. Brasiliense.
SIMMEL, Georg. 1902. "A metrple e a vida
mental, em VELHO, Otvio G. (org.).
fenmeno urbano. 31 m., Rio de Janeiro,
Zhar, 1976.
'VELHO, Gilbrto. 1981. "Projeto, emoo e
orientao em sociedde cmplexas", em
Individali smo e cultura: ntas para uma
anJropolog;a da soiedade cotempornea.
Rio de Janeiro, Zahar. (Antroplogia 50-
ci aI .)
VIALA. AJain. 1985. Naissance de /'criva;n:
sociologie de la liuralure d I'gt classiqe.
Paris, Les Eilions de Minuit. (Le Sens Cm
mun.)
VIVEIROS DE CASTRO, Edu .. do A
JO, Ricrdo Benzaquen de. 1977. "Romeu e
Julieta e a origem do Estado". em VELHO,
Gilbrto (org. ). Arte e soiedade: etto;os
sociologia da arte. Rio de Janeiro, Zahar.
(Antroplogia Socal)
Verena AJbcrti mestre em antroplogia so
cal pla UFRJ e pquisadora do Cpdoc.
-
Você também pode gostar
- Diálogo Entre Um Filósofo e Um Jurista - HobbesDocumento54 páginasDiálogo Entre Um Filósofo e Um Jurista - Hobbescamilaxxe100% (2)
- Pensar é crerDocumento19 páginasPensar é crerChristina FarrellAinda não há avaliações
- Lins, Osman - Nove, NovenaDocumento123 páginasLins, Osman - Nove, Novenameeee2011100% (2)
- Introdução aos Estudos LiteráriosDocumento11 páginasIntrodução aos Estudos LiteráriosEusebio Bernardo Fortunato100% (2)
- Questões de Provas - Crimes em Espécie 2Documento6 páginasQuestões de Provas - Crimes em Espécie 2Livio SousaAinda não há avaliações
- Literatura e Autobiografia - A Questão Do Sujeito Da NarrativaDocumento16 páginasLiteratura e Autobiografia - A Questão Do Sujeito Da NarrativaHerman MarjanAinda não há avaliações
- 1 PB PDFDocumento4 páginas1 PB PDFDejair MartinsAinda não há avaliações
- A História e A NovelaDocumento33 páginasA História e A NovelaCílio LindembergAinda não há avaliações
- Literatura e Realidade (Conferência)Documento7 páginasLiteratura e Realidade (Conferência)gutoleiteAinda não há avaliações
- 113970-Texto Do Artigo-206696-1-10-20160406Documento7 páginas113970-Texto Do Artigo-206696-1-10-20160406lorenaverliAinda não há avaliações
- A Prosa Brasileira Contemporânea Do Século XXI - Ó, de Nuno RamosDocumento10 páginasA Prosa Brasileira Contemporânea Do Século XXI - Ó, de Nuno RamosMatheus Reiser MullerAinda não há avaliações
- Teolit IiiDocumento7 páginasTeolit IiiRafaella CardosoAinda não há avaliações
- Retrato Do Autor Como LeitorDocumento20 páginasRetrato Do Autor Como LeitorMarcio Augusto Ferreira Moura CostaAinda não há avaliações
- Roland Barthes - A Morte Do Autor PDFDocumento6 páginasRoland Barthes - A Morte Do Autor PDFmlcrsoaresAinda não há avaliações
- CAMPOS, Haroldo de - O Sequestro Do BarrocoDocumento61 páginasCAMPOS, Haroldo de - O Sequestro Do BarrocoNil Castro Nil100% (9)
- Cultura e Dominação: (Mestrado)Documento5 páginasCultura e Dominação: (Mestrado)Mab BrazAinda não há avaliações
- Literatura, Paraliteratura e Cânone Literário: uma análise da valorização e consagração da escrita ao longo do tempoDocumento11 páginasLiteratura, Paraliteratura e Cânone Literário: uma análise da valorização e consagração da escrita ao longo do tempoAna Luiza de Souza MacedoAinda não há avaliações
- Ludmer, Literatura Pós-AutônomasDocumento4 páginasLudmer, Literatura Pós-AutônomasElivelton MelloAinda não há avaliações
- Afinal, o Que É LiteraturaDocumento11 páginasAfinal, o Que É LiteraturaGabriel Luca ZolkiewiczAinda não há avaliações
- Notas sobre o gênero épicoDocumento62 páginasNotas sobre o gênero épicosantiagodelavorágineAinda não há avaliações
- ARTIGO6 SECAO LIVRE Deise ZandonaDocumento14 páginasARTIGO6 SECAO LIVRE Deise ZandonaJoão Rafael S. RebouçasAinda não há avaliações
- Ensaio de (Não) Interpretação Sobre - A Quinta História - de Clarice Lispector, Por Jade Helena Da SilvaDocumento4 páginasEnsaio de (Não) Interpretação Sobre - A Quinta História - de Clarice Lispector, Por Jade Helena Da SilvaJade HelenaAinda não há avaliações
- A Morte No Imaginário de Um Poeta Do Ultrarromantismo - Uma Leitura Da Obra Poética de Alvares de AzevedoDocumento25 páginasA Morte No Imaginário de Um Poeta Do Ultrarromantismo - Uma Leitura Da Obra Poética de Alvares de AzevedoTalita FernandaAinda não há avaliações
- Anonimato ou alterização na obra de RimbaudDocumento8 páginasAnonimato ou alterização na obra de RimbaudLucas Silvestre CândidoAinda não há avaliações
- Estranhamento e heterotopia em contos de Teolinda GersãoDocumento15 páginasEstranhamento e heterotopia em contos de Teolinda GersãogeisyydiasAinda não há avaliações
- Vocación de ProustDocumento19 páginasVocación de ProustSilvia Alvarez AranaAinda não há avaliações
- Texto de Wilberth Salgueiro - Literatura e Testemunho II - UFES e UFPRDocumento12 páginasTexto de Wilberth Salgueiro - Literatura e Testemunho II - UFES e UFPRWilberthSalgueiroAinda não há avaliações
- A autobiografia como discurso de poder e autoconstrução do euDocumento7 páginasA autobiografia como discurso de poder e autoconstrução do euYasmin NogueiraAinda não há avaliações
- A Peste de Camus: revolta coletiva e solidariedadeDocumento15 páginasA Peste de Camus: revolta coletiva e solidariedademsnorbertoAinda não há avaliações
- Além da literatura: universalismo e direitos culturais em Antonio CandidoDocumento47 páginasAlém da literatura: universalismo e direitos culturais em Antonio CandidoLarissaAinda não há avaliações
- História e Ficção RomanescaDocumento11 páginasHistória e Ficção RomanescaPaulo FranchettiAinda não há avaliações
- Estética da recepção e formação do cânon literárioDocumento6 páginasEstética da recepção e formação do cânon literárioAdilson Dos SantosAinda não há avaliações
- Sensibilidade Da Exclusão & LoucuraDocumento18 páginasSensibilidade Da Exclusão & LoucuraMirella Martina Barros Dos SantosAinda não há avaliações
- Blanchot e a literatura como impossibilidadeDocumento22 páginasBlanchot e a literatura como impossibilidadeJuliana FalcãoAinda não há avaliações
- A construção da influência pessoanaDocumento303 páginasA construção da influência pessoanaFulano de TalAinda não há avaliações
- Fronteiras do Erótico: O espaço e o erotismo n'O CortiçoNo EverandFronteiras do Erótico: O espaço e o erotismo n'O CortiçoAinda não há avaliações
- Evolução Semântica do Conceito de LiteraturaDocumento9 páginasEvolução Semântica do Conceito de LiteraturaCarlos BulaundeAinda não há avaliações
- Jornalismo e literatura em convergênciaDocumento3 páginasJornalismo e literatura em convergênciaHeloisa Imada100% (1)
- Conceito de LiteraturaDocumento11 páginasConceito de LiteraturaAline Cristina MazieroAinda não há avaliações
- O religioso e o satírico em O asno de ouro e Lúcio ou o asnoDocumento13 páginasO religioso e o satírico em O asno de ouro e Lúcio ou o asnoFernanda Lemos de LimaAinda não há avaliações
- Literaturas Pós-AutônomasDocumento4 páginasLiteraturas Pós-AutônomasNuna MedeirosAinda não há avaliações
- Verossimilhança e Determinação em Cheque: o Insólito em El Impostor Inverosimil Tom Castro de BorgesDocumento8 páginasVerossimilhança e Determinação em Cheque: o Insólito em El Impostor Inverosimil Tom Castro de BorgesMarcio Gregório SáAinda não há avaliações
- Literatura Engajada PDFDocumento12 páginasLiteratura Engajada PDFCleitonq VicentinAinda não há avaliações
- Metaficção HistoriográficaDocumento9 páginasMetaficção HistoriográficaRayner LacerdaAinda não há avaliações
- A Idade Média Revisitada Por Umberto EcoDocumento16 páginasA Idade Média Revisitada Por Umberto EcoIvani AlbertoAinda não há avaliações
- ANTOINE COMPAGNON E O CONCEITO DE LITERATURADocumento10 páginasANTOINE COMPAGNON E O CONCEITO DE LITERATURAbidaborgesAinda não há avaliações
- Diana KlingerDocumento13 páginasDiana KlingerMirnagac23100% (1)
- Aula Inaugural de Clarice - SilvianoSantiago PDFDocumento6 páginasAula Inaugural de Clarice - SilvianoSantiago PDFRafael FortesAinda não há avaliações
- Minha Vida Daria Um Romancen Maria Rita KehlDocumento32 páginasMinha Vida Daria Um Romancen Maria Rita KehlJuliana LoureiroAinda não há avaliações
- Morte Do LeiteiroDocumento15 páginasMorte Do Leiteiroaportela1205Ainda não há avaliações
- Romance histórico sobre Rosa Maria EgipcíacaDocumento9 páginasRomance histórico sobre Rosa Maria Egipcíacabruno gaiaAinda não há avaliações
- Sombras Que Iluminam - Jogos Barrocos em Contos FantásticosDocumento142 páginasSombras Que Iluminam - Jogos Barrocos em Contos FantásticosCezar TridapalliAinda não há avaliações
- O MundoDocumento42 páginasO MundoBloco Pega na MinhaAinda não há avaliações
- Artelogie 8422Documento21 páginasArtelogie 8422Renata Aguiar NunesAinda não há avaliações
- Laivos de Sobremodernidade em A Mulher Que Prendeu A ChuvaDocumento7 páginasLaivos de Sobremodernidade em A Mulher Que Prendeu A ChuvaJoaquim ChamorroAinda não há avaliações
- Aula 2Documento40 páginasAula 2Marcia PinheiroAinda não há avaliações
- Resenha - Foco Narrativo JHONATA AQUINODocumento14 páginasResenha - Foco Narrativo JHONATA AQUINOJHONATA AQUINOAinda não há avaliações
- O Romance de Adultério e o Realismo Trágico: Um Estudo de Madame Bovary e Anna KariêninaNo EverandO Romance de Adultério e o Realismo Trágico: Um Estudo de Madame Bovary e Anna KariêninaAinda não há avaliações
- BORGES PEREIRA, João Batista - Emilio Willems e Egon SchadenDocumento5 páginasBORGES PEREIRA, João Batista - Emilio Willems e Egon SchadenedgarcunhaAinda não há avaliações
- Notícia Joao - RapazoteDocumento2 páginasNotícia Joao - RapazoteedgarcunhaAinda não há avaliações
- Notícia Jose - AlbertoDocumento3 páginasNotícia Jose - AlbertoedgarcunhaAinda não há avaliações
- Noticia Ana Flavia LesnovskiDocumento2 páginasNoticia Ana Flavia LesnovskiedgarcunhaAinda não há avaliações
- Notícia Rossana - RovereDocumento1 páginaNotícia Rossana - RovereedgarcunhaAinda não há avaliações
- AGAMBEN, Giorgio - Notas Sobre o Gesto PDFDocumento14 páginasAGAMBEN, Giorgio - Notas Sobre o Gesto PDFedgarcunha0% (1)
- Fabiana BrunoDocumento19 páginasFabiana BrunoGilson Goulart CarrijoAinda não há avaliações
- 22 O Fora e o SignoDocumento24 páginas22 O Fora e o Signoramayana.lira2398Ainda não há avaliações
- Experiencias de Ensino e Pratica Da Antropologia No Brasil Livro AbaDocumento108 páginasExperiencias de Ensino e Pratica Da Antropologia No Brasil Livro AbaestevaofernandesAinda não há avaliações
- M Coelho Conhec Indig - Patrm ImaterialDocumento26 páginasM Coelho Conhec Indig - Patrm ImaterialRenato Martelli SoaresAinda não há avaliações
- Glauber Rocha CatalologoDocumento78 páginasGlauber Rocha CatalologoedgarcunhaAinda não há avaliações
- O Que o Velho Araweté Pensa Dos BrancosDocumento15 páginasO Que o Velho Araweté Pensa Dos BrancosedgarcunhaAinda não há avaliações
- ALTMANN, Eliska - O Autor EtnográficoDocumento16 páginasALTMANN, Eliska - O Autor EtnográficoedgarcunhaAinda não há avaliações
- BRUNO, Fabiana - Poeticas Das Imagens DesdobradasDocumento11 páginasBRUNO, Fabiana - Poeticas Das Imagens DesdobradasedgarcunhaAinda não há avaliações
- MACHADO, Arlindo - O Cinema CientíficoDocumento15 páginasMACHADO, Arlindo - O Cinema CientíficoedgarcunhaAinda não há avaliações
- A Dificuldade Do Documentario - Joao Moreira Salles PDFDocumento8 páginasA Dificuldade Do Documentario - Joao Moreira Salles PDFClaryssa AlmeidaAinda não há avaliações
- BACHUR, João - Assimetrias Da Antropologia de LatourDocumento21 páginasBACHUR, João - Assimetrias Da Antropologia de LatouredgarcunhaAinda não há avaliações
- 109 331 1 PBDocumento27 páginas109 331 1 PBedgarcunhaAinda não há avaliações
- MACHADO, Arlindo - O Cinema CientíficoDocumento15 páginasMACHADO, Arlindo - O Cinema CientíficoedgarcunhaAinda não há avaliações
- 2613032Documento27 páginas2613032edgarcunha100% (1)
- 26325224020Documento5 páginas26325224020edgarcunhaAinda não há avaliações
- v10n1 Part4Documento83 páginasv10n1 Part4edgarcunhaAinda não há avaliações
- 289 513 1 SMDocumento19 páginas289 513 1 SMedgarcunhaAinda não há avaliações
- Albert Pós-Malinowisk PDFDocumento15 páginasAlbert Pós-Malinowisk PDFAmilton MattosAinda não há avaliações
- Desenhando A NacaoDocumento316 páginasDesenhando A NacaoIzenete NobreAinda não há avaliações
- JulieCavignac MuseologiaDocumento29 páginasJulieCavignac MuseologiaedgarcunhaAinda não há avaliações
- 2271 3750 1 PB 2Documento7 páginas2271 3750 1 PB 2Igor SarmentoAinda não há avaliações
- CATÁLOGO Cinusp - Cinema Vídeo e Lutas SociaisDocumento250 páginasCATÁLOGO Cinusp - Cinema Vídeo e Lutas SociaisedgarcunhaAinda não há avaliações
- CCSP - Catálogo Da Sociedade de Etnografia e Folclore PDFDocumento88 páginasCCSP - Catálogo Da Sociedade de Etnografia e Folclore PDFedgarcunhaAinda não há avaliações
- ALVARENGA, Clarisse - Os Arara As Imagens Do ContatoDocumento16 páginasALVARENGA, Clarisse - Os Arara As Imagens Do ContatoedgarcunhaAinda não há avaliações
- Incidentes processuais: questões prejudiciais e procedimentos incidentesDocumento7 páginasIncidentes processuais: questões prejudiciais e procedimentos incidentesLaura TrimaltiAinda não há avaliações
- Indicador 59 CDDocumento299 páginasIndicador 59 CDBartolomeu Silva0% (1)
- Ética - A Questão Da ÉticaDocumento6 páginasÉtica - A Questão Da Éticazlma225100% (1)
- Revista PGBC Vol1 n1 Dez2007Documento337 páginasRevista PGBC Vol1 n1 Dez2007JOSEDIKAIONAinda não há avaliações
- Sócrates, o Feiticeiro by Nicolas GrimaldiDocumento39 páginasSócrates, o Feiticeiro by Nicolas GrimaldiAndré GomesAinda não há avaliações
- Liberdade, Igualdade e Fraternidade: os pilares da maçonaria e da democraciaDocumento3 páginasLiberdade, Igualdade e Fraternidade: os pilares da maçonaria e da democraciaCynthia BertoAinda não há avaliações
- Dízimo: expressão de fé e gratidãoDocumento8 páginasDízimo: expressão de fé e gratidãoDc Claudio Viana Gonçalves VianaAinda não há avaliações
- Simulado da 1a fase do XXVI Exame de OrdemDocumento18 páginasSimulado da 1a fase do XXVI Exame de OrdemAndressa Bárbara NogueiraAinda não há avaliações
- ASA - NovosPercProf - TESTE Mod.5Documento9 páginasASA - NovosPercProf - TESTE Mod.5ivoneProfAinda não há avaliações
- Contestação trabalhista sobre demissão por justa causaDocumento8 páginasContestação trabalhista sobre demissão por justa causaRenata Daniele Barros50% (2)
- A importância da Evangelização Espírita Infantojuvenil na formação da nova sociedadeDocumento9 páginasA importância da Evangelização Espírita Infantojuvenil na formação da nova sociedadeEduardo HenriqueAinda não há avaliações
- Por Que Deus Odeia o Divórcio - Revista Ultimato (Edição 341)Documento1 páginaPor Que Deus Odeia o Divórcio - Revista Ultimato (Edição 341)Lucas MachadoAinda não há avaliações
- Identificação da psicopatia através da P-Scan em reclusos portuguesesDocumento88 páginasIdentificação da psicopatia através da P-Scan em reclusos portuguesesAnonymous jH2v0B100% (1)
- O Plano Simples de Deus para a SalvaçãoDocumento3 páginasO Plano Simples de Deus para a SalvaçãoElizabeth Angela Rivelino MendonçaAinda não há avaliações
- Direito Previdenciário INSSDocumento20 páginasDireito Previdenciário INSSMarquinho MouraAinda não há avaliações
- Ficha de Trabalho - A Ação HumanaDocumento2 páginasFicha de Trabalho - A Ação Humanahelenabray100% (1)
- Idade PenalDocumento12 páginasIdade PenalEduardo Fonseca DarmarosAinda não há avaliações
- Lua Cheia Cancion Letra ArmandinhoDocumento6 páginasLua Cheia Cancion Letra Armandinhomel oneAinda não há avaliações
- PMTO Convoca Candidatos para 2a Etapa de Capacidade FísicaDocumento15 páginasPMTO Convoca Candidatos para 2a Etapa de Capacidade FísicaOdilon Nascimento da SilvaAinda não há avaliações
- Ética, Moral e Valores no Ensino MédioDocumento5 páginasÉtica, Moral e Valores no Ensino MédioPaula Barroso da CostaAinda não há avaliações
- Pedagogia Da ConvivenciaDocumento6 páginasPedagogia Da Convivencial_eehh6010Ainda não há avaliações
- UTANGA - Universidade Técnica de Angola PDFDocumento5 páginasUTANGA - Universidade Técnica de Angola PDFFrancisco M Da CostaAinda não há avaliações
- Simone e SartreDocumento11 páginasSimone e SartreleticiafassuncaoAinda não há avaliações
- Nos Lugares Celestiais PDFDocumento773 páginasNos Lugares Celestiais PDFMoura MouraAinda não há avaliações
- 3 - Ética e Democracia - Exercicio de Cidadania PDFDocumento21 páginas3 - Ética e Democracia - Exercicio de Cidadania PDFMateus SonntagAinda não há avaliações
- A Invencao Ecologica Textolivro 2008 Parte1-10Documento10 páginasA Invencao Ecologica Textolivro 2008 Parte1-10Leonidas Descovi FilhoAinda não há avaliações
- Afastar-se de Pessoas Conflituosas Melhora Saúde Mental e FísicaDocumento3 páginasAfastar-se de Pessoas Conflituosas Melhora Saúde Mental e FísicaBenzinaAinda não há avaliações