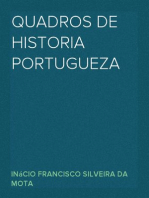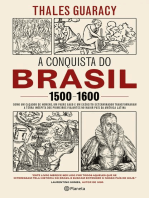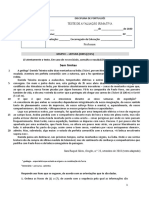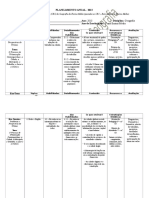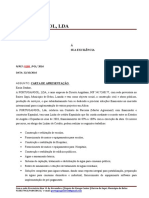Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Batalha - Texto 10ano
Enviado por
Sónia Faria0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
2 visualizações2 páginasTítulo original
A batalha - texto 10ano
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
2 visualizações2 páginasA Batalha - Texto 10ano
Enviado por
Sónia FariaDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 2
A batalha
Lembrando Aljubarrota, lembremos também o que a falta de sensibilidade à História e à
memória, a desatenção ao povo e a aceitação passiva da “legitimidade reinante” podem
trazer.
Toda a gente sabe que as identidades nacionais não são graníticas nem estão fechadas a
interpretações e a reinterpretações; mas ninguém parece saber, ou querer saber, que o
processo que está em curso não é a sua “reinterpretação”: é a sua estratégica desconstrução
e diluição num tolerante todo transnacional, mediante o contrito cancelamento de um
“passado de opressão e violência”. Ora, daqui, poderá vir tudo menos a anunciada “libertação
do jugo das pertenças” e a insinuada paz na Terra entre “a população” de boa vontade.
Num tempo de leviandade e ignorância em que, em nome de grandes e fluidos
princípios humanitários, se faz uma guerra silenciosa mas impiedosa à História e às
identidades nacionais – um tempo particularmente permeável à ilusão de que as declarações
universais das Nações Unidas ou o crescente rol de direitos da União Europeia são mais
importantes para a defesa das liberdades e dos interesses dos cidadãos do que a
independência das nações – a memória da História, da nossa História tornou-se num bem
essencial.
Conhecer, reconhecer, recordar, os momentos de nascimento, de risco e de
consolidação da nossa independência não será, por isso, um exercício fútil.
Para nós, Portugueses, Aljubarrota é um desses momentos fundacionais, um momento
de risco e de consolidação do que somos, ou do que também somos e também nos
determina. Ou do que não quisemos então ser.
Nos finais do século XIV, com a independência em risco depois da morte de D.
Fernando, o momento era de crise.
Como quase todas as crises de poder medievais, a crise de 1383-1385 começava por ser
uma crise de legitimidade e de sucessão dinástica. D. Fernando não tinha herdeiro varão, mas
tinha, do seu casamento com Leonor Teles, uma filha, D. Beatriz, prometida ao rei de Castela,
D. João I. O Tratado de Salvaterra de Magos, de 2 de Abril de 1383, ratificava a promessa e,
numa série de cláusulas conformes com correção político-jurídica do tempo, entregava
Portugal a Castela.
E recomeçou a guerra entre Portugal e Castela, embora a guerra quase fosse o estado
natural das coisas entre os Estados medievais e, dentro deles, entre feudos e clãs.
No reinado de D. Fernando, as guerras com Castela tinham sido sucessivas e a terceira
correra mal para Portugal; daí o Tratado de Salvaterra – uma tentativa de reequilíbrio,
negociada na mó de baixo. D. Fernando morre em Outubro de 1383, pouco depois do Tratado,
e Leonor Teles, a viúva, fica regente.
O Conde de Andeiro, principal conselheiro da Rainha-Regente e pró-castelhano, é então
morto por D. João, Mestre de Aviz, e por outros patriotas. D. João de Castela volta a invadir
Portugal em 1384.
Em Coimbra – com o apoio político e jurídico de João das Regras – funcionou a dupla D.
João Mestre de Avis/Nuno Álvares Pereira, dupla que vai ser decisiva para a vitória.
Quando o Rei de Castela vem reivindicar os seus direitos pela força, invadindo Portugal
na Primavera de 1385, A avançada castelhana pela Beira Alta sofre a derrota de Trancoso, mas
é em Aljubarrota que tudo se joga.
Aljubarrota foi o choque da determinação portuguesa com a ambição castelhana de
unificar a Península. (…).
Lembrando hoje Aljubarrota, lembremos também que a falta de sensibilidade à
memória e à História, a falta de coragem e de liderança e a aceitação passiva e acrítica da
dependência, da “legitimidade reinante” e da “modernidade transnacional” costumam
anteceder tudo o que é invasão, saque, ocupação, cancelamento.
https://observador.pt/opiniao/a-batalha/
https://observador.pt/especiais/lisboa-judaica-a-segregacao-a-perseguicao-e-por-fim-a-inclusao-dos-
judeus-lisboetas/
Você também pode gostar
- Crónica D Joao IDocumento16 páginasCrónica D Joao ISandra AmeixinhaAinda não há avaliações
- Resumos de História de Portugal Moderno - 1 FrequênciaDocumento44 páginasResumos de História de Portugal Moderno - 1 FrequênciaCarolina GONÇALVESAinda não há avaliações
- Crises e Revoluçoes Portugal Século XIV PDFDocumento4 páginasCrises e Revoluçoes Portugal Século XIV PDFAnita CordeiroAinda não há avaliações
- O Valor Da Raça: Introdução A Uma Campanha NacionalNo EverandO Valor Da Raça: Introdução A Uma Campanha NacionalAinda não há avaliações
- Cronica de D. João IDocumento16 páginasCronica de D. João IJoãoAinda não há avaliações
- Crise DinásticaDocumento8 páginasCrise DinásticaGonçalo OliveiraAinda não há avaliações
- Crise DinásticaDocumento8 páginasCrise DinásticaGonçalo OliveiraAinda não há avaliações
- A Revolução de 1383-1385Documento24 páginasA Revolução de 1383-1385Ana Pereira100% (2)
- A Conquista de Ceuta ImagensDocumento23 páginasA Conquista de Ceuta ImagensNobume SanAinda não há avaliações
- Crónica D. João IDocumento15 páginasCrónica D. João IGuilherme RodriguesAinda não há avaliações
- A Crise Dinástica de 1383Documento5 páginasA Crise Dinástica de 1383Jacelina LopesAinda não há avaliações
- Crise DinasticaDocumento3 páginasCrise Dinasticamarianabarbosa8065Ainda não há avaliações
- História de Portugal - Volume 3 - A Epopeia Dos DescobrimentosDocumento46 páginasHistória de Portugal - Volume 3 - A Epopeia Dos DescobrimentosJG BrandonAinda não há avaliações
- Capítulo 115 (Excerto) Da Crónica de D. João IDocumento4 páginasCapítulo 115 (Excerto) Da Crónica de D. João IMagda CardosoAinda não há avaliações
- História e Geografia 5º Ano - Crises e Revoluções Portugal Século XIV.Documento4 páginasHistória e Geografia 5º Ano - Crises e Revoluções Portugal Século XIV.Esperança Marques100% (2)
- Batalha AtoleirosDocumento11 páginasBatalha AtoleirosantjbramalhoAinda não há avaliações
- A Batalha de TrancosoDocumento16 páginasA Batalha de TrancosoAugusto FolqueAinda não há avaliações
- Crónica de D. João I - ResumoDocumento5 páginasCrónica de D. João I - ResumoMarianaAinda não há avaliações
- Portugal No Século XIVDocumento14 páginasPortugal No Século XIVNélio AraújoAinda não há avaliações
- A Crise de 1383Documento2 páginasA Crise de 1383Joana SantosAinda não há avaliações
- Beatriz de PortugalDocumento4 páginasBeatriz de PortugalescolaandreresendeAinda não há avaliações
- 1383 85Documento21 páginas1383 85Carla TeixeiraAinda não há avaliações
- 1383-1385 Um Tempo de RovoluçãoDocumento5 páginas1383-1385 Um Tempo de RovoluçãoBárbara NevesAinda não há avaliações
- 2º Resumo HistóriaDocumento16 páginas2º Resumo HistórianonoblourencoAinda não há avaliações
- Crise de 1383 1385 ResumoDocumento2 páginasCrise de 1383 1385 ResumoMaria DiasAinda não há avaliações
- EENP22Documento118 páginasEENP22João PereiraAinda não há avaliações
- EENP22 (Recuperado)Documento157 páginasEENP22 (Recuperado)João PereiraAinda não há avaliações
- A fundação da monarchia portugueza narração anti-ibericaNo EverandA fundação da monarchia portugueza narração anti-ibericaAinda não há avaliações
- Cópia de Fernão LopesDocumento8 páginasCópia de Fernão Lopestswz2nfkgjAinda não há avaliações
- Crónica de D. João IDocumento2 páginasCrónica de D. João Imartarb2008Ainda não há avaliações
- Crise de 1383Documento3 páginasCrise de 1383Sandra CardosoAinda não há avaliações
- A Crise de 1383Documento5 páginasA Crise de 1383Ana PereiraAinda não há avaliações
- Crise de 1383-85Documento2 páginasCrise de 1383-85GabrielaCosteiraAinda não há avaliações
- IM. Crónica de D. João I - SistematizaçãoDocumento6 páginasIM. Crónica de D. João I - SistematizaçãoinespdemagalhaesAinda não há avaliações
- A Crise Do Sec. XIV em Portugal e A Revolução de 1383-1385Documento3 páginasA Crise Do Sec. XIV em Portugal e A Revolução de 1383-1385Tiago BritoAinda não há avaliações
- 1º de Dezembro de 1640Documento9 páginas1º de Dezembro de 1640PedroLinaresAinda não há avaliações
- Expansão Ultramarina Portuguesa (ESA)Documento8 páginasExpansão Ultramarina Portuguesa (ESA)Eyshilla Dias MoraesAinda não há avaliações
- A CRISE DE 1383-1385 Alberto DiazDocumento3 páginasA CRISE DE 1383-1385 Alberto DiazAlberto DiazAinda não há avaliações
- O thesouro do rei Fernando historia anecdotica de um tratado ineditoNo EverandO thesouro do rei Fernando historia anecdotica de um tratado ineditoAinda não há avaliações
- A Crise Do Século XIV em PortugalDocumento16 páginasA Crise Do Século XIV em PortugalSónia GonçalvesAinda não há avaliações
- Guerra Restauracao (SARAIVA 1999 P209a216)Documento8 páginasGuerra Restauracao (SARAIVA 1999 P209a216)vitoria heck frolichAinda não há avaliações
- Entendendo A Transferência Da Corte Portuguesa Para O BrasilNo EverandEntendendo A Transferência Da Corte Portuguesa Para O BrasilAinda não há avaliações
- Perguntas - HGP - IDocumento5 páginasPerguntas - HGP - IAnaAinda não há avaliações
- SistematizaçãoDocumento1 páginaSistematizaçãoInês SaraivaAinda não há avaliações
- A Dinastia de Avis e A Construção Da Memória Do Reino Português - Uma Análise Das Crônicas OficiaisDocumento25 páginasA Dinastia de Avis e A Construção Da Memória Do Reino Português - Uma Análise Das Crônicas OficiaisGirleney AraújoAinda não há avaliações
- Fernão Lopes, Crónica de D. João IDocumento4 páginasFernão Lopes, Crónica de D. João ILeonor VeríssimoAinda não há avaliações
- A Dinastia de AvisDocumento103 páginasA Dinastia de AvisLuciano CarraraAinda não há avaliações
- Crise Do Sec XivDocumento4 páginasCrise Do Sec XivAna Paiva100% (1)
- A Dinastia de Avis e A Construcao Da MemDocumento25 páginasA Dinastia de Avis e A Construcao Da Memblockchaininfo4youAinda não há avaliações
- Ae nvt5 Aula Revisoes7Documento14 páginasAe nvt5 Aula Revisoes7Patricia Almeida AlvesAinda não há avaliações
- Cronica de D.João VDocumento8 páginasCronica de D.João VAluno Daniela Santos CostaAinda não há avaliações
- Teste de História 5. Crise em Portugal No Seculo XIV ResumosDocumento3 páginasTeste de História 5. Crise em Portugal No Seculo XIV ResumosCarla Carvalho80% (5)
- Objetivos para o Teste 5Documento2 páginasObjetivos para o Teste 5Paula FernandesAinda não há avaliações
- HGP - 5ºanoDocumento14 páginasHGP - 5ºanoFrancisco Martins NogueiraAinda não há avaliações
- Ficha GramaticaDocumento4 páginasFicha GramaticaAna HortaAinda não há avaliações
- Sugestão de Tarefas - 9º AnoDocumento1 páginaSugestão de Tarefas - 9º AnoSónia FariaAinda não há avaliações
- Diario 20 MarçoDocumento2 páginasDiario 20 MarçoSónia FariaAinda não há avaliações
- Síntese - Níveis de DesempenhoDocumento2 páginasSíntese - Níveis de DesempenhoSónia FariaAinda não há avaliações
- SUGESTÃO DE TAREFAS 8ºanoDocumento1 páginaSUGESTÃO DE TAREFAS 8ºanoSónia FariaAinda não há avaliações
- Texto C - ModeloDocumento2 páginasTexto C - ModeloSónia FariaAinda não há avaliações
- Ficha Sintese OraçõesDocumento1 páginaFicha Sintese OraçõesSónia FariaAinda não há avaliações
- Excertos Do Diário de Anne FrankDocumento1 páginaExcertos Do Diário de Anne FrankSónia FariaAinda não há avaliações
- Dossie Do Professor Mensagens 329 332Documento4 páginasDossie Do Professor Mensagens 329 332Paula SantosAinda não há avaliações
- Cenário de Resposta Apreciação CríticaDocumento1 páginaCenário de Resposta Apreciação CríticaSónia FariaAinda não há avaliações
- Texto ExpositivoDocumento1 páginaTexto ExpositivoSónia FariaAinda não há avaliações
- Teste de C Oral - ReportagemDocumento3 páginasTeste de C Oral - ReportagemSónia FariaAinda não há avaliações
- Auto Da Barca Do Inferno DIDASCÁLIA INICIALDocumento3 páginasAuto Da Barca Do Inferno DIDASCÁLIA INICIALSónia FariaAinda não há avaliações
- Correção Da Ficha de Verificação de Leitura de O ANO DA MORTE de RICARDO REISDocumento1 páginaCorreção Da Ficha de Verificação de Leitura de O ANO DA MORTE de RICARDO REISSónia FariaAinda não há avaliações
- Lab7 Rubrica Avaliacao Escrita ComentarioDocumento1 páginaLab7 Rubrica Avaliacao Escrita ComentarioteresamirandaAinda não há avaliações
- Fernando PessoaDocumento12 páginasFernando PessoasandraAinda não há avaliações
- Teste 7º Ano 2º Período Cavaleiro Da DinamarcaDocumento9 páginasTeste 7º Ano 2º Período Cavaleiro Da DinamarcaMaria João Costa100% (2)
- Fernandp Pessoa HeterónimosDocumento11 páginasFernandp Pessoa HeterónimossandraAinda não há avaliações
- chave-FICHA DE LEITURA GATO MALHADODocumento2 páginaschave-FICHA DE LEITURA GATO MALHADOSónia Faria100% (2)
- Ae pt8 Guiao Jorge AmadoDocumento5 páginasAe pt8 Guiao Jorge AmadoSónia FariaAinda não há avaliações
- Ae pt8 Guiao Jorge Amado SolDocumento1 páginaAe pt8 Guiao Jorge Amado SolSónia FariaAinda não há avaliações
- Crónica D. João IDocumento15 páginasCrónica D. João IGuilherme RodriguesAinda não há avaliações
- Ficha Sintese OraçõesDocumento1 páginaFicha Sintese OraçõesSónia FariaAinda não há avaliações
- EX Port639 F1 2021 CC VD - NetDocumento15 páginasEX Port639 F1 2021 CC VD - NetJMTCSilvaAinda não há avaliações
- EX Port639 F1 2019 CC VD - NetDocumento14 páginasEX Port639 F1 2019 CC VD - Netsbpaz2197Ainda não há avaliações
- Aula PortuguesDocumento2 páginasAula PortuguesSónia FariaAinda não há avaliações
- Ficha Revisões 11Documento7 páginasFicha Revisões 11Sónia FariaAinda não há avaliações
- Página 40 Manual11Documento1 páginaPágina 40 Manual11Sónia FariaAinda não há avaliações
- Teste Global - Eça de Queirós - ''Os Maias'' (Teste Com Correção)Documento126 páginasTeste Global - Eça de Queirós - ''Os Maias'' (Teste Com Correção)Sónia FariaAinda não há avaliações
- CD Junto As AguasDocumento13 páginasCD Junto As AguasCelso Magalhães100% (1)
- Código de Ética FebrapilsDocumento5 páginasCódigo de Ética FebrapilsFernando Parente Jr.Ainda não há avaliações
- Ficha LiteráriaDocumento3 páginasFicha LiteráriaLuanaAinda não há avaliações
- A Construção Da Autoridade Docente... Silva e AbudDocumento22 páginasA Construção Da Autoridade Docente... Silva e AbudDaniele AlvarengaAinda não há avaliações
- Planta 2023 - Digital Planner 2023Documento73 páginasPlanta 2023 - Digital Planner 2023Flores Pro MundoAinda não há avaliações
- Grafotecnico 07.06Documento33 páginasGrafotecnico 07.06Arley Perito100% (3)
- .Documento112 páginas.editormiranda2537100% (2)
- Cura InteriorDocumento20 páginasCura InteriorThalita CristinaAinda não há avaliações
- Avaliação - A História Da SaúdeDocumento2 páginasAvaliação - A História Da SaúdeAdiene MansoAinda não há avaliações
- Ava HisDocumento9 páginasAva HisSimone RibeiroAinda não há avaliações
- Janaína Azevedo - Tudo o Que Você Precisa Saber Sobre Umbanda Vol. II PDFDocumento128 páginasJanaína Azevedo - Tudo o Que Você Precisa Saber Sobre Umbanda Vol. II PDFVanessa BanderaAinda não há avaliações
- 02 Padarie - 1Documento10 páginas02 Padarie - 1Jamila Mancilha100% (1)
- A História de FlamelDocumento11 páginasA História de FlamelWilson SantosAinda não há avaliações
- Planejamento Anual Geografia 3º Ano Ensino MédioDocumento21 páginasPlanejamento Anual Geografia 3º Ano Ensino Médiofatimatiradentes100% (2)
- Financia Men ToDocumento3 páginasFinancia Men ToRichardson VasconcellosAinda não há avaliações
- Whitelist DestinyDocumento3 páginasWhitelist DestinyArthur araujoAinda não há avaliações
- A Luta Contra A Ditadura - em QuadrinhosDocumento61 páginasA Luta Contra A Ditadura - em QuadrinhosGuizo VermelhoAinda não há avaliações
- Orando Com EficáciaDocumento36 páginasOrando Com EficáciaGilberto ChiouAinda não há avaliações
- Caderno AgenciamentosDocumento476 páginasCaderno AgenciamentosMarcio LuzoAinda não há avaliações
- Tes2 PDFDocumento35 páginasTes2 PDFJoao FerreiraAinda não há avaliações
- Jonathan Henrique Esquibel Da SilvaDocumento3 páginasJonathan Henrique Esquibel Da SilvaJonathan Henrique Esquibel da SilvaAinda não há avaliações
- Simulado 2 Ano AtualizadoDocumento2 páginasSimulado 2 Ano AtualizadoElanne ReginaAinda não há avaliações
- Modelo de Holerite Recibo Gratis 2Documento6 páginasModelo de Holerite Recibo Gratis 2dayane santosAinda não há avaliações
- Calendários Maçônicos - Kennyo IsmailDocumento7 páginasCalendários Maçônicos - Kennyo IsmailCláudio LaraAinda não há avaliações
- Dissertação Naum GaboDocumento339 páginasDissertação Naum GaboPedro Felizes0% (1)
- África No Quadrinho, Nos Cinemas e Nos Jornais. Ivaldo MarcianoDocumento19 páginasÁfrica No Quadrinho, Nos Cinemas e Nos Jornais. Ivaldo MarcianoAlissonAinda não há avaliações
- Planos de Celular Tim Família 3 Linhas Ou Mais - Maio 2023Documento1 páginaPlanos de Celular Tim Família 3 Linhas Ou Mais - Maio 2023Marcela LoboAinda não há avaliações
- A Bíblia Do Treino de Braços - Parte IDocumento3 páginasA Bíblia Do Treino de Braços - Parte Ihotwrists100% (1)
- Relações PrecocesDocumento6 páginasRelações PrecocesDiogo PitaAinda não há avaliações
- Gerenciamento de NiveisDocumento3 páginasGerenciamento de NiveisAnderson RodriguesAinda não há avaliações