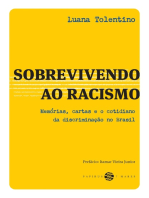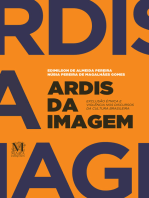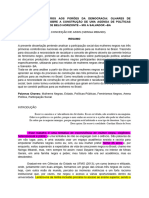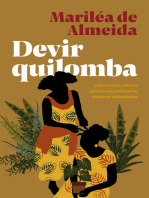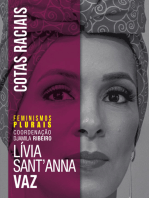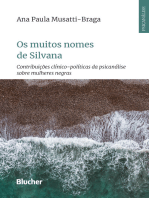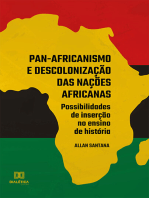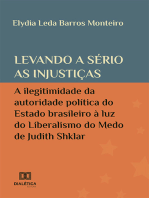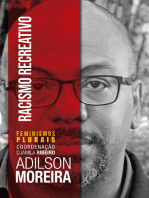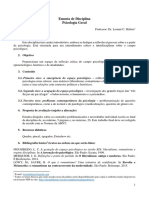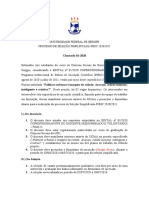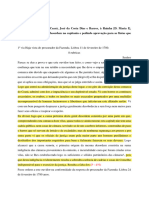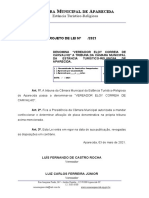Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
CARTA ABERTA À COMUNIDADE DA UFS Leomir Hilário
Enviado por
Leomir Hilário0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
3 visualizações4 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
3 visualizações4 páginasCARTA ABERTA À COMUNIDADE DA UFS Leomir Hilário
Enviado por
Leomir HilárioDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 4
CARTA ABERTA
Escrita por Leomir Hilário (DPS-UFS)
São Cristóvão, 25 de março de 2024
A linguagem opressiva faz mais do que representar
violência; é violência; faz mais do que representar os
limites do conhecimento; limita o conhecimento. Seja a
língua obscurecedora do Estado ou a linguagem falsa
da mídia irracional; seja a orgulhosa, porém
petrificada linguagem da academia, ou a linguagem da
ciência conduzida por commodities; seja a linguagem
maligna da lei-sem-ética, ou língua projetada para o
estranhamento das minorias, escondendo sua pilhagem
racista em sua face literária – ela deve ser rejeitada,
alterada e exposta. É a língua que bebe sangue,
abandona vulnerabilidades, enfia suas botas fascistas
sob as crinolinas de respeitabilidade e patriotismo
enquanto se move implacavelmente em direção ao final
das contas e às mentes que já não dão mais conta.
Linguagem sexista, linguagem racista, linguagem teísta
– todas são típicas das linguagens policiais de domínio
e não podem, não permitem novos conhecimentos ou
encorajam a troca mútua de ideias (Toni Morrison).
Desde 2017, sou professor da Universidade Federal de Sergipe, locado
no Departamento de Psicologia, primeiro como substituto e depois como
efetivo. Defendo uma universidade pública e aberta, de modo que as minhas
aulas sempre tiveram presença de pessoas não matriculadas na disciplina,
bem como de gente que nem da UFS era. Todos sempre tiveram direito à
fala. A única proibição ética que imponho em sala de aula é em relação à
manifestação de violência, opressão ou desrespeito.
A partir de 2019, atendendo a um chamado ancestral enquanto homem
negro numa sociedade estruturalmente racista como a brasileira, ocupando o
lugar privilegiado de servidor público federal, decidi incluir nas minhas
disciplinas um momento dedicado à questão racial, promovendo uma
reflexão sobre os impactos do racismo na subjetividade das pessoas negras.
Nas disciplinas obrigatórias e optativas, para o público interno e externo ao
meu departamento, foram constantes os momentos de desconforto,
esvaziamento, resistência e questionamento quando esse debate se
apresentou. Muitas vezes, pensei em retirá-lo do conteúdo programático,
mas fui encorajado a continuar, sobretudo pelos alunos negros que cada vez
mais povoam a universidade, bem como entre os alunos brancos que se
somam à luta contra o racismo.
As coisas tomaram uma outra proporção no dia 12 de março de 2024,
enquanto ministrava uma aula de introdução à psicologia social sobre o tema
do racismo (tema clássico dessa disciplina, ao lado de preconceito,
estereótipo e discriminação). Na ocasião, um grupo de sete alunas
apresentava o livro “Tornar-se Negro”, da psiquiatra e psicanalista Neusa
Santos Souza (1948-2008). Depois de cerca de 15 minutos, uma mulher, mãe
e idosa entrou na sala de aula para auxiliar sua filha, Pessoa com Deficiência
(PcD) e cadeirante, que é aluna matriculada da disciplina. Ela me perguntou
se poderia ficar para acompanhar a aula e eu consenti.
Pouco menos de cinco minutos depois, essa mulher interrompe uma
mulher negra que estava apresentando o texto e diz que gostaria de falar o
que pensa a respeito do tema. Ela iniciou a intervenção dizendo que não há
raça pura no Brasil, de modo que não existem brancos em nosso país.
Defendeu que esse debate não deveria ser feito, porque seríamos todos
iguais. Disse que não existe racismo no Brasil e que o racismo é muitas vezes
produzido pelo povo negro, de forma que o racismo começaria pelo próprio
negro. Repetiu que não existiria raça pura no Brasil, e que inclusive a mãe
dela era negra. Comentou também o caso de um homem negro que foi
agredido, pois ele não teria apanhado porque era negro e sim porque era
ousado, e, se ela pudesse, teria participado dessa agressão. Repetiu que não
existiria nem negro nem branco no Brasil, que ela se considera negra, porque
a avó é negra, e que por isso ela também não é racista. Durante esse discurso,
alguns alunos já tinham se retirado da sala de aula, o que gerou mal-estar na
mulher, ao perceber o descontentamento geral. Antes mesmo de que pudesse
haver alguma conversa, ela se retirou da sala rapidamente ao terminar de
falar. Poucos minutos depois, ela abriu a porta da sala, interrompendo a aula
novamente, repetiu o que disse e pediu desculpas se por acaso tivesse sido
mal interpretada. Disse que talvez não tivesse usado as palavras certas. Disse
que aquela era a opinião dela e que aquilo que tinha dito permanecia. E que
pedia que aquilo não atingisse a filha. Fechou a porta novamente sem ouvir
ninguém.
Diante de tal discurso, não consegui cumprir a minha promessa ética
com os alunos de não tolerar opressões. Fiquei atônito e paralisado. Me
limitei a fazer sinais para alguns alunos negros não se exaltarem, pois temi,
enquanto professor, que as coisas saíssem mais ainda do controle e o
descontentamento geral fosse direcionado agressivamente à mulher idosa e
a sua filha, PcD. Após a segunda saída da mulher, houve uma explosão de
emoções dentre a turma. Em especial, um aluno negro me relatou que já
havia passado por situações assim em vários lugares, mas nunca imaginaria
passar por isso na Universidade Pública. Disse que sentia raiva, que queria
ter insultado a mulher. Acolhi a dor dele, articulei o ocorrido no interior dos
textos que já tínhamos lido e no final da aula lhe dei um forte abraço.
No mesmo dia, a mãe e a aluna entraram em contato comigo e com a
turma. A mãe pediu desculpas, disse não ser racista. Falou estar preocupada
com a filha dela, pois não deseja que a filha sofra. Assumiu ter usado
palavras erradas, disse que, do fundo do coração, não é racista. Disse que é
mãe, que errou e que não foi a intenção dela ser racista. Pediu por paz, por
carinho. No entanto, muitos alunos ficaram magoados e ressentidos,
buscando formas de reparar o que havia ocorrido, evitando o contato, real ou
virtual, com a mãe e com a filha.
De minha parte, as desculpas foram aceitas. Como disse Martin Luther
King Jr., o perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma
nova partida, para um recomeço. Não desejo mal a essa mulher idosa, que
trava sua batalha todos os dias auxiliando a sua filha, uma Pessoa com
Deficiência. Não cobro que essa filha se volte contra a mãe, contra a pessoa
que cotidianamente está junto com ela e nunca a abandonou, contornando as
inúmeras dificuldades de se viver numa sociedade capacitista como a nossa.
Sou pai, tenho um filho pequeno e conheço esse amor. E, não por acaso, o
nome dele é Martin.
Como homem negro, não posso negar que me senti violentado,
desrespeitado. Não posso deixar de dizer que nem mesmo o fato de eu ter
um doutorado e de ser professor efetivo me protegeu de ter minha aula
interrompida com tamanha demonstração de agressividade racial. Não posso
deixar de lembrar da dor e do trauma causados nos alunos negros da turma,
provocado por aquele discurso. Porém, como também ensinou Luther King
Jr., precisamos desenvolver um método de resolução de conflitos que rejeite
a vingança, a agressão e a retaliação.
Perdoar não é esquecer e desculpar não é silenciar. Escrevi essa carta
aberta com dois objetivos. Primeiro o de expor o ocorrido, para que se
produza um mínimo de constrangimento em pessoas que tem o costume de
reproduzir opressões no interior da universidade, causando dor e sofrimento.
Espero que essas pessoas entendam que, a partir de algum momento, e não
demorará muito, o silêncio já não será mais possível e o enfrentamento será
inevitável, caso insistam em permanecerem na defesa da branquitude,
agredindo e violentando pessoas negras. Segundo o de reparar o dano
causado a mim e aos meus alunos negros, demarcando publicamente uma
posição contrária ao ocorrido e me colocando em solidariedade com eles.
Diferente da minha geração negra, que aprendeu que o racismo é parte do
jogo, essa geração mais nova quer viver num mundo antirracista. Ela não
tolera mais o racismo. E ela está certa. Como professor, aprendi com meus
alunos e alunas que também não devo mais silenciar diante do racismo.
Fraternalmente,
Leomir Hilário.
Você também pode gostar
- Memória e violência contra a mulher: o feminicídio como último ato da dominação masculinaNo EverandMemória e violência contra a mulher: o feminicídio como último ato da dominação masculinaAinda não há avaliações
- O discurso de ódio, o silêncio e a violência: lidando com ideias odiosasNo EverandO discurso de ódio, o silêncio e a violência: lidando com ideias odiosasAinda não há avaliações
- I My Me! Strawberry Eggs: uma discussão de gênero a partir de uma série de animação japonesaNo EverandI My Me! Strawberry Eggs: uma discussão de gênero a partir de uma série de animação japonesaAinda não há avaliações
- Em briga de marido e mulher não se mete a colher?: um estudo sobre violência de gênero em jornais do MaranhãoNo EverandEm briga de marido e mulher não se mete a colher?: um estudo sobre violência de gênero em jornais do MaranhãoAinda não há avaliações
- Garimpando pistas para desmontar racismos e potencializar movimentos instituintes na escolaNo EverandGarimpando pistas para desmontar racismos e potencializar movimentos instituintes na escolaAinda não há avaliações
- Racismo Linguístico - Os Subterrâneos Da Linguagem e Do Racismo - Gabriel NascimentoDocumento107 páginasRacismo Linguístico - Os Subterrâneos Da Linguagem e Do Racismo - Gabriel NascimentoLUMENA100% (1)
- Sobrevivendo ao racismo: Memórias, cartas e o cotidiano da discriminação no BrasilNo EverandSobrevivendo ao racismo: Memórias, cartas e o cotidiano da discriminação no BrasilAinda não há avaliações
- Ninguém sabia o que fazer: educação sexual no combate à violência contra a mulherNo EverandNinguém sabia o que fazer: educação sexual no combate à violência contra a mulherAinda não há avaliações
- Na Boca Do Povo A Coisa Esta PretaDocumento3 páginasNa Boca Do Povo A Coisa Esta PretaAna NascimentoAinda não há avaliações
- Direitos Humanos e Decolonialidade: interpretação do conceito na América Latina a partir da Justiça de TransiçãoNo EverandDireitos Humanos e Decolonialidade: interpretação do conceito na América Latina a partir da Justiça de TransiçãoAinda não há avaliações
- Ardis da imagem: Exclusão étnica e violência nos discursos da cultura brasileiraNo EverandArdis da imagem: Exclusão étnica e violência nos discursos da cultura brasileiraAinda não há avaliações
- 4285-Texto Do Artigo-482496986-1-10-20210415Documento13 páginas4285-Texto Do Artigo-482496986-1-10-20210415Júlia VasconcelosAinda não há avaliações
- Unidades Temáticas - TCC Edenize SantosDocumento78 páginasUnidades Temáticas - TCC Edenize Santosedenize silva santosAinda não há avaliações
- Devir quilomba: antirracismo, afeto e política nas práticas de mulheres quilombolasNo EverandDevir quilomba: antirracismo, afeto e política nas práticas de mulheres quilombolasAinda não há avaliações
- Os Usos Da RaivaDocumento8 páginasOs Usos Da RaivaMarina Leonel SoaresAinda não há avaliações
- Palavra Encontro Posicionamento - CorrigidaDocumento19 páginasPalavra Encontro Posicionamento - CorrigidaAttilio Domingues Soares e SilvaAinda não há avaliações
- DISSERTAÇÃO - A Solidão Da Mulher Trans, Negra e Periférica - Ariane Moreira de SennaDocumento188 páginasDISSERTAÇÃO - A Solidão Da Mulher Trans, Negra e Periférica - Ariane Moreira de SennaLarissa TeixeiraAinda não há avaliações
- Desafios e Descobertas do Universo Surdo: quem disse que eu não aprendo?No EverandDesafios e Descobertas do Universo Surdo: quem disse que eu não aprendo?Ainda não há avaliações
- Interfaces do discurso de violência em livros Atas EscolaresNo EverandInterfaces do discurso de violência em livros Atas EscolaresAinda não há avaliações
- EXCLUSÃO ESCOLAR RACIALIZADA: IMPLICAÇÕES DO RACISMO NA TRAJETÓRIA DE EDUCANDOS DA EJANo EverandEXCLUSÃO ESCOLAR RACIALIZADA: IMPLICAÇÕES DO RACISMO NA TRAJETÓRIA DE EDUCANDOS DA EJAAinda não há avaliações
- Os muitos nomes de Silvana: Contribuições clínico-políticas da psicanálise sobre mulheres negrasNo EverandOs muitos nomes de Silvana: Contribuições clínico-políticas da psicanálise sobre mulheres negrasAinda não há avaliações
- Amauri Rodrigues Da Silva - Presença e Silêncio Da Colônia À Pós-ModernidadeDocumento218 páginasAmauri Rodrigues Da Silva - Presença e Silêncio Da Colônia À Pós-ModernidadeTatiana CardosoAinda não há avaliações
- Pan-africanismo e descolonização das nações africanas: possibilidades de inserção no ensino de históriaNo EverandPan-africanismo e descolonização das nações africanas: possibilidades de inserção no ensino de históriaAinda não há avaliações
- O Corpo Ferido e a Feminilidade na Violência de GêneroNo EverandO Corpo Ferido e a Feminilidade na Violência de GêneroAinda não há avaliações
- As origens das discriminações reversas: revisionismo históricoNo EverandAs origens das discriminações reversas: revisionismo históricoAinda não há avaliações
- Decoloniality and Language Teaching: Perspectives and Challenges For The Construction of Embodied Knowledge in The Current Political SceneDocumento22 páginasDecoloniality and Language Teaching: Perspectives and Challenges For The Construction of Embodied Knowledge in The Current Political SceneWellington RuanAinda não há avaliações
- AUDRE LORDE - Os Usos Da RaivaDocumento14 páginasAUDRE LORDE - Os Usos Da RaivaalineAinda não há avaliações
- Levando a sério as injustiças: a ilegitimidade da autoridade política do Estado brasileiro à luz do Liberalismo do Medo de Judith ShklarNo EverandLevando a sério as injustiças: a ilegitimidade da autoridade política do Estado brasileiro à luz do Liberalismo do Medo de Judith ShklarAinda não há avaliações
- Audre Lorde - Usos Da Raiva Mulheres - Respondendo Ao RacismoDocumento8 páginasAudre Lorde - Usos Da Raiva Mulheres - Respondendo Ao RacismoGabrielle Freitas ChavesAinda não há avaliações
- Leitura da HQ Angola Janga no ensino de história: uma reflexão sobre o racismo e a escravidãoNo EverandLeitura da HQ Angola Janga no ensino de história: uma reflexão sobre o racismo e a escravidãoAinda não há avaliações
- Colonialidade e direitos humanos das mulheres: uma análise da Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW/ONU) no contexto brasileiroNo EverandColonialidade e direitos humanos das mulheres: uma análise da Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW/ONU) no contexto brasileiroAinda não há avaliações
- Sobre A PRETAGOGIADocumento7 páginasSobre A PRETAGOGIAKriaKar Karla MenezesAinda não há avaliações
- O TSE e o "kit gay": respostas do Direito à desinformação sobre questões LGBTQIA+No EverandO TSE e o "kit gay": respostas do Direito à desinformação sobre questões LGBTQIA+Ainda não há avaliações
- Jovem de 20 Anos, Estudante de Direito Da UERJ, É Perseguida Por Professor No Rio de Janeiro, Com A Ajuda Da Veja e Da GloboDocumento5 páginasJovem de 20 Anos, Estudante de Direito Da UERJ, É Perseguida Por Professor No Rio de Janeiro, Com A Ajuda Da Veja e Da GloboCarlos Antonio GuimarãesAinda não há avaliações
- Slide Sobre Marcos Bagno O LIVRODocumento23 páginasSlide Sobre Marcos Bagno O LIVROVanusia SantanaAinda não há avaliações
- Ana Paula de Santana Correira PDFDocumento206 páginasAna Paula de Santana Correira PDFAndréia FábiaAinda não há avaliações
- Literatura infantil afrocentrada e letramento racial: Uma narrativa autobiográficaNo EverandLiteratura infantil afrocentrada e letramento racial: Uma narrativa autobiográficaAinda não há avaliações
- Entre o Encardido, o Branco e o Branquíssimo: Branquitude, Hierarquia e Poder na Cidade de São PauloNo EverandEntre o Encardido, o Branco e o Branquíssimo: Branquitude, Hierarquia e Poder na Cidade de São PauloAinda não há avaliações
- Henrrique - DjalmaDocumento6 páginasHenrrique - DjalmaBeatriz PereiraAinda não há avaliações
- A História LGBTQ+ Um Desafio Pedagógico Contra A IntolerânciaDocumento28 páginasA História LGBTQ+ Um Desafio Pedagógico Contra A Intolerâncialeob80Ainda não há avaliações
- Reflexos: Leituras de um tempo em (Re) ConstruçãoNo EverandReflexos: Leituras de um tempo em (Re) ConstruçãoAinda não há avaliações
- Marília CalderónDocumento26 páginasMarília CalderónMariana SavioAinda não há avaliações
- Olhos negros atravessaram o mar: O corpo negro em cena na análise corporal: Bioenergética e BiossínteseNo EverandOlhos negros atravessaram o mar: O corpo negro em cena na análise corporal: Bioenergética e BiossínteseAinda não há avaliações
- Por trás das cortinas: Gritos de silêncioNo EverandPor trás das cortinas: Gritos de silêncioAinda não há avaliações
- Aristeu Portela Junior - A Nação em DisputaDocumento611 páginasAristeu Portela Junior - A Nação em DisputaVIVIANE SOUZA DE ALMEIDAAinda não há avaliações
- Trabalho Sobre Racismo - Psicologia SocialDocumento8 páginasTrabalho Sobre Racismo - Psicologia SocialThiago MichelAinda não há avaliações
- "O CTG Tiarayu é a nossa casa": caminhos possíveis para práticas antirracistas, através do Saber TradicionalistaNo Everand"O CTG Tiarayu é a nossa casa": caminhos possíveis para práticas antirracistas, através do Saber TradicionalistaAinda não há avaliações
- Atividade 3 de ERER - Relatoria III COPENE SudesteDocumento2 páginasAtividade 3 de ERER - Relatoria III COPENE SudesteRômulo PossatteAinda não há avaliações
- A cor do inconsciente: Significações do corpo negroNo EverandA cor do inconsciente: Significações do corpo negroNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- Vera Rodrigues, Afeto, Teoria e PolíticaDocumento5 páginasVera Rodrigues, Afeto, Teoria e PolíticaPatrice SchuchAinda não há avaliações
- Guerra As Drogas 145Documento21 páginasGuerra As Drogas 145Leomir HilárioAinda não há avaliações
- Ementa Optativa 2021.1 COMUMDocumento1 páginaEmenta Optativa 2021.1 COMUMLeomir HilárioAinda não há avaliações
- Ementa Intro. Psi. Social 2020.2Documento1 páginaEmenta Intro. Psi. Social 2020.2Leomir HilárioAinda não há avaliações
- Ementa Optativa 2021.1Documento1 páginaEmenta Optativa 2021.1Leomir HilárioAinda não há avaliações
- Ementa Intro. Psi. Social 2020.2Documento1 páginaEmenta Intro. Psi. Social 2020.2Leomir HilárioAinda não há avaliações
- Cronograma FinalDocumento2 páginasCronograma FinalLeomir HilárioAinda não há avaliações
- Marxismo, Psicanálise e o Feminismo Brasileiro - Tomo IIDocumento309 páginasMarxismo, Psicanálise e o Feminismo Brasileiro - Tomo IIEmerson Duarte MonteAinda não há avaliações
- Garcia-Roza Psicologia Espaço Dispersao Saber 20190311 0001Documento7 páginasGarcia-Roza Psicologia Espaço Dispersao Saber 20190311 0001Leomir HilárioAinda não há avaliações
- Ementa Optativa 2021.1Documento1 páginaEmenta Optativa 2021.1Leomir HilárioAinda não há avaliações
- Ementa Conceitos Contemporâneos 2021.1Documento2 páginasEmenta Conceitos Contemporâneos 2021.1Leomir HilárioAinda não há avaliações
- Ementa Psicologia Geral 2021.1Documento1 páginaEmenta Psicologia Geral 2021.1Leomir HilárioAinda não há avaliações
- Ementa Psicologia Social (Alunos)Documento2 páginasEmenta Psicologia Social (Alunos)Leomir HilárioAinda não há avaliações
- Ementa Disciplina Leomir 2020.2Documento1 páginaEmenta Disciplina Leomir 2020.2Leomir HilárioAinda não há avaliações
- Ementa Psicologia Geral 2021.1Documento1 páginaEmenta Psicologia Geral 2021.1Leomir HilárioAinda não há avaliações
- Ementa Psi Geral 2020.2Documento1 páginaEmenta Psi Geral 2020.2Leomir HilárioAinda não há avaliações
- Ementa Conceitos Contemporâneos 2021.1Documento2 páginasEmenta Conceitos Contemporâneos 2021.1Leomir HilárioAinda não há avaliações
- Ementa Psicologia Social III 2019.2Documento2 páginasEmenta Psicologia Social III 2019.2Leomir HilárioAinda não há avaliações
- (Resenha Zamiatin) Do Futuro Distante Ao Presente PerpétuoDocumento5 páginas(Resenha Zamiatin) Do Futuro Distante Ao Presente PerpétuoLeomir HilárioAinda não há avaliações
- 1225 4312 1 PBDocumento31 páginas1225 4312 1 PBLeomir HilárioAinda não há avaliações
- Ementa Primeiro Encontro Razão InstrumentalDocumento1 páginaEmenta Primeiro Encontro Razão InstrumentalLeomir HilárioAinda não há avaliações
- Ementa Psi Geral 2020.2Documento1 páginaEmenta Psi Geral 2020.2Leomir HilárioAinda não há avaliações
- (Disciplina) Psicologia Geral (Saúde)Documento2 páginas(Disciplina) Psicologia Geral (Saúde)Leomir HilárioAinda não há avaliações
- Chamada - Processo Seletivo Simplificado-Pibic 2020-2021Documento2 páginasChamada - Processo Seletivo Simplificado-Pibic 2020-2021Leomir HilárioAinda não há avaliações
- V2proposta Lina e Leomir GT ABRAPSODocumento3 páginasV2proposta Lina e Leomir GT ABRAPSOLeomir HilárioAinda não há avaliações
- Artº Guerra Aos Vagabundos - ML BotelhoDocumento8 páginasArtº Guerra Aos Vagabundos - ML BotelhoLeomir HilárioAinda não há avaliações
- A Questão Da Cientificidade Novos Paradigmas Ariane EwaldDocumento5 páginasA Questão Da Cientificidade Novos Paradigmas Ariane EwaldLeomir HilárioAinda não há avaliações
- (Debate) Psicologia e DemociaDocumento1 página(Debate) Psicologia e DemociaLeo YancoAinda não há avaliações
- CandidoDocumento5 páginasCandidoLeomir HilárioAinda não há avaliações
- Artº Suicídio Classe Média - ML BotelhoDocumento3 páginasArtº Suicídio Classe Média - ML BotelhoLeomir HilárioAinda não há avaliações
- (Disciplina - Planos) Psicologia GeralDocumento3 páginas(Disciplina - Planos) Psicologia GeralLeomir HilárioAinda não há avaliações
- Trabalho de SocioDocumento15 páginasTrabalho de SocioFernanda RossiniAinda não há avaliações
- Homens Do Ouro - Simone Cristina de FariaDocumento198 páginasHomens Do Ouro - Simone Cristina de FariaLucas SouzaAinda não há avaliações
- CAPITULO 01 - Introdução e Educação Moral e Civica / MANUAL DE SOBREVIVÊNCIA DO SEGURANÇA MODERNODocumento19 páginasCAPITULO 01 - Introdução e Educação Moral e Civica / MANUAL DE SOBREVIVÊNCIA DO SEGURANÇA MODERNOAnderson CABRAL Avelino100% (3)
- Manual Agorista - 73 Maneiras de Se Livrar Do Estado PDFDocumento14 páginasManual Agorista - 73 Maneiras de Se Livrar Do Estado PDFPedro VarellaAinda não há avaliações
- TVU Canal 11: A Primeira TV Educativa Do BrasilDocumento299 páginasTVU Canal 11: A Primeira TV Educativa Do BrasilLaryssa ThaisAinda não há avaliações
- Atividade Empresarial IDocumento11 páginasAtividade Empresarial ILeonardo SilvaAinda não há avaliações
- Rosas, 2001 O Salazarismo e o Homem NovoDocumento24 páginasRosas, 2001 O Salazarismo e o Homem NovoGonçalo VeigaAinda não há avaliações
- Da Experiência Do Cinema Novo Ao Cinema Brasileiro Do Séc. XXI - Uma Abordagem Sociológica e Política Filme BacurauDocumento26 páginasDa Experiência Do Cinema Novo Ao Cinema Brasileiro Do Séc. XXI - Uma Abordagem Sociológica e Política Filme BacurauGabriela CoutinhoAinda não há avaliações
- CMS Bloco LiDocumento763 páginasCMS Bloco LiBancaAinda não há avaliações
- Ação de DespejoDocumento11 páginasAção de DespejoFagnerXavierAinda não há avaliações
- Tutorial MapaDocumento24 páginasTutorial MapaIvan BlandeAinda não há avaliações
- Modelo 8 Folheto Lares 20160712 PDFDocumento2 páginasModelo 8 Folheto Lares 20160712 PDFjasam67Ainda não há avaliações
- 1779, Junho, 25, AquirazDocumento20 páginas1779, Junho, 25, AquirazGuilherme OliveiraAinda não há avaliações
- Você Conhece o Trem IntercidadesDocumento3 páginasVocê Conhece o Trem IntercidadesAnonymous KCES2oAinda não há avaliações
- 5 - Projeto de Lei - Denomina DENOMINA "VEREADOR ELOY CORREIA DE CARVALHO" A TRIBUNA DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICO-RELIGIOSA DE APARECIDADocumento3 páginas5 - Projeto de Lei - Denomina DENOMINA "VEREADOR ELOY CORREIA DE CARVALHO" A TRIBUNA DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICO-RELIGIOSA DE APARECIDATiago VendraminiAinda não há avaliações
- Arte Historia Da Arte e Historiografia A PDFDocumento16 páginasArte Historia Da Arte e Historiografia A PDFmm857Ainda não há avaliações
- História Da SociologiaDocumento9 páginasHistória Da SociologiaJoelma MatiasAinda não há avaliações
- Descolonizacao PortuguesaDocumento18 páginasDescolonizacao Portuguesaadjunto2010Ainda não há avaliações
- Expressões MnemônicasDocumento27 páginasExpressões MnemônicasramonalloAinda não há avaliações
- MORAES WICHERS & BOITA - 2020 - Patrimônio Cultural LGBTDocumento5 páginasMORAES WICHERS & BOITA - 2020 - Patrimônio Cultural LGBTCamila MoraesAinda não há avaliações
- 03 - Políticas Públicas No Brasil (Gilberto Hochman, 2007)Documento214 páginas03 - Políticas Públicas No Brasil (Gilberto Hochman, 2007)Leonardo Correia50% (2)
- Pós Abolição No Sul Do Brasil PDFDocumento298 páginasPós Abolição No Sul Do Brasil PDFMarcelo LoboAinda não há avaliações
- Estratégias de Leitura e Gêneros Textuais Na Formação Do Leitor CríticoDocumento10 páginasEstratégias de Leitura e Gêneros Textuais Na Formação Do Leitor CríticoTereza MaiaAinda não há avaliações
- Lista de Classificação Geral Final Atualizada - Categoria O e Candidatos À Contratação 2020 - DER TaquaritingaDocumento50 páginasLista de Classificação Geral Final Atualizada - Categoria O e Candidatos À Contratação 2020 - DER TaquaritingaLorena Santos NovaesAinda não há avaliações
- Portaria 511Documento8 páginasPortaria 511Bárbara M. EckertAinda não há avaliações
- Almeida (2006)Documento17 páginasAlmeida (2006)Eduardo GarciaAinda não há avaliações
- PDF Conhecimentos Gerais - ParanaDocumento42 páginasPDF Conhecimentos Gerais - ParanaPhelps MunizAinda não há avaliações
- INFORMEX #012 - Nomeação de Comandantes e Chefes Organizações Militares, Nível Subunidade - 2014Documento6 páginasINFORMEX #012 - Nomeação de Comandantes e Chefes Organizações Militares, Nível Subunidade - 2014englagraAinda não há avaliações
- Resumo Expandido de Ilana Costa RamosDocumento5 páginasResumo Expandido de Ilana Costa RamosIlana CostaAinda não há avaliações
- Lucrando Com Os TubarõesDocumento198 páginasLucrando Com Os TubarõesMarcos AngeloAinda não há avaliações