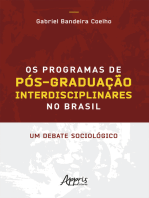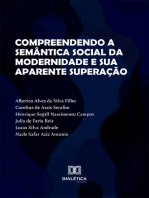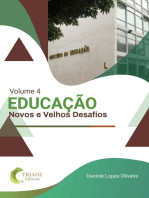Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Revistaagora, 7-14
Revistaagora, 7-14
Enviado por
jandrago9900Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Revistaagora, 7-14
Revistaagora, 7-14
Enviado por
jandrago9900Direitos autorais:
Formatos disponíveis
Algumas palavras sobre giro ético-
político e história intelectual*
Fabio Muruci dos Santos*1
Marcelo de Mello Rangel*2
Resumo: Este artigo apresenta uma introdução às discussões contemporâneas sobre ética
e história e sua importância para uma melhor compreensão das discussões recentes sobre
teoria e história da historiografia e história intelectual. Procuramos oferecer uma breve
explanação sobre os contextos históricos que permitiram a emergência de novas abordagens
do conhecimento histórico nos tempos modernos, destacando suas consequências para o
pensamento ético, a teoria e história da historiografia e a história intelectual.
Palavras-chave: Ética; História da Historiografia; História Intelectual.
Abstract: This article is an introduction to the contemporary discussions about ethics and
history and their importance to a better understanding of the recent discussions about theory
and history of historiography and intellectual history. We intend to offer a brief explanation 7
about the historical contexts that allowed the emergence of new approaches to historical
knowledge in modern times, highlighting its consequences to ethical thinking, theory and
history of historiography and intellectual history.
Keywords: Ethics; History of Historiography; Intellectual History.
C
omeçaremos por uma definição inicial do que estamos chamando de giro
ético-político. Em seguida trataremos das condições de possibilidade de sua
emergência. Então, discutiremos uma relação possível entre o que estamos
chamando de giro ético-político e a história intelectual.
__________________________________
*
Artigo submetido à avaliação em 11 de março de 2015 e aprovado para publicação em 13 de abril de 2015. Este texto
é resultado parcial de projeto de pesquisa financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais
(Fapemig), pelo programa de apoio a grupos emergentes que financia o projeto coletivo de pesquisa “Variedades do
Discurso Histórico” no âmbito do Núcleo de Estudos em História da Historiografia e Modernidade (NEHM).
*1
Doutor em História pela UFRJ. Professor do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em História da
Ufes. Membro do Laboratório de Estudos em História Política e História das Ideias – LEHPI - da Ufes. E-mail:
fmuruci@yahoo.com.br.
*2
Doutor em História pela PUC-RJ. Professor do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em História da
Ufop. E-mail: mmellorangel@yahoo.com.br.
Revista Ágora Vitória n. 21 2015 p. 7-14 ISSN: 1980-0096
• • • • •
Algumas palavras sobre giro ético-político e história intelectual
Definição inicial
Isto que estamos chamando de giro ético-político se trata, mais especificamente, da
compreensão de que parte significativa dos historiadores, hoje, também se dedica a pensar
o mundo contemporâneo, suas determinações próprias, problemas e possibilidades.
Ainda mais, compreendemos que há uma palavra chave que vem orientando
estas tematizações do\no mundo contemporâneo que é a da diferença. Falaremos
melhor deste problema mais à frente, mas, adiantando, trata-se de uma preocupação
que se tornara ampla (geral) nos séculos XX e XXI, uma espécie de “palavra simples”
deste horizonte histórico, para usar um termo caro a Heidegger. A preocupação de
garantir espaço para outros modos de ser, etnias, perspectivas, histórias, etc.
E por que giro ético-político?
Ético significa, aqui, próximo à origem grega – ethos, algo como o espaço que
se habita, no interior do qual nos comportamos. De modo que a ética aparece como
sendo, ao menos neste sentido, uma preocupação com o âmbito no interior do qual
vivemos, a saber, o mundo contemporâneo.
Política quer dizer, aqui, uma atuação mais decisiva no que podemos chamar de
“esfera pública”, a partir de um conjunto de orientações mais específica (sistemática)
tendo em vista transformações num curto ou médio espaço de tempo.
8 Neste sentido, e próximo ao que explicita Paul Ricoeur, ética e política possuem
autonomia, ou seja, possuem regras, protocolos, tempos próprios, mas podem também
ser pensadas juntas. Ainda em outras palavras, quando pensamos num giro ético-político
no interior do mundo contemporâneo estamos dizendo que se trata ou 1) de reflexões
dedicadas a pensar este mundo, suas determinações próprias, questões específicas e
possibilidades no interior da teoria, da história da historiografia e da historiografia em
geral ou 2) de intervenções mais delimitadas no interior deste mundo a partir da teoria,
da história da HH em geral, orientadas por um conjunto bem-definido de ideias, as quais
buscam transformações também específicas num curto ou médio espaço de tempo, ou
ainda, 3) de tematizações do mundo contemporâneo a partir da teoria, da HH e da
historiografia em geral, que sejam orientadas por 1 e por 2 a um só tempo.
Sublinhamos, ainda, que o giro ético-político é uma tendência mais geral, a
qual também desponta em outras disciplinas como a filosofia, a teoria da literatura,
a antropologia, a sociologia etc., e isto porque, como já mencionamos, o giro é
determinado pelo horizonte histórico contemporâneo, pela necessidade deste
horizonte no que tange a organizar-se a partir da palavra-chave – diferença. Deste
modo, gostaríamos ao menos de registrar que parte considerável dos filósofos dos
séculos XX e XXI também podem ser interpretados a partir deste giro ou tendência,
entre eles Martin Heidegger, Walter Benjamin, Hannah Arendt, Paul Ricoeur, Jacques
Revista Ágora Vitória n. 21 2015 p. 7-14 ISSN: 1980-0096
• • • • •
Fabio Muruci e Marcelo de Mello Rangel
Derrida e Michel Foucault, a despeito, é claro, de suas determinações específicas. E que,
por conseguinte, pesquisas que tematizem o giro a partir da relação de intimidade e
de diálogo entre as disciplinas teoria, HH e a historiografia em geral, por um lado, e
filosofia, por outro, são muito adequadas e bem-vindas.
Condições de possibilidade
A primeira condição de possibilidade para o giro ético-político no interior do
mundo contemporâneo é própria à modernidade, mais especificamente aos séculos
XVIII e XIX. Ou, em outras palavras, a modernidade constrange o mundo contemporâneo
a se dedicar ao que estamos chamando de orientação ético-política, e isto a partir da
“palavra simples” que é a da diferença.
Os séculos XVIII e XIX se constituíram a partir do que Koselleck chama de
aceleração radical da história. Ou ainda em outras palavras, a modernidade se constitui
a partir de “acontecimentos” históricos radicais, os quais liberaram entes, desafios e
possibilidades inéditas para as quais os homens e mulheres em geral não possuíam
chaves de inteligibilidade. Por conseguinte, temos o que podemos chamar de “anomia”
ou de uma instabilidade significativa.
9
O que ocorre de imediato? Ocorre que todos os enunciados são pelo menos
questionados (Descartes), ou seja, se tornam objeto de desconfiança, merecedores de
novas investigações, e isto a partir de métodos específicos e sofisticados - se trata dos
Iluminismos e dos Historicismos em geral. No entanto, e para acompanhar Octávio
Paz e Hans Ulrich Gumbrecht, o que ocorre é que estas investigações vão produzindo
ainda mais instabilidade na medida mesmo em que vão negando incessantemente e
liberando enunciados distintos para os mesmos objetos. Neste caso, os séculos XVIII e
XIX chegam a uma espécie de intuição geral, a de que todo e qualquer juízo produzido
mesmo no interior de espaços de investigação rigidamente controlados é determinado
pelo mundo próprio ao sujeito do conhecimento (“crise da representação”, Foucault).
Pois bem, é justamente esta compreensão que colocará em questão o poder de
determinação ou de imediatidade (convencimento) próprio às ciências em geral, mais
especificamente às ciências humanas, em nosso caso a História. Ou ainda melhor, as
investigações produzidas no interior dos Iluminismos e dos Historicismos acabaram
liberando a possibilidade de críticas significativas à historiografia, e, ainda, uma
espécie de questionamento decisivo de seu caráter orientador. Em outras palavras:
como acreditar que a historiografia possa orientar, tendo em vista que todo e qualquer
enunciado produzido em seu interior é determinado pelo mundo que é o do sujeito do
conhecimento, por mais controlada que seja a sua investigação?
Revista Ágora Vitória n. 21 2015 p. 7-14 ISSN: 1980-0096
• • • • •
Algumas palavras sobre giro ético-político e história intelectual
A pergunta seguinte, uma espécie de consequência lógica da que acabamos de
anotar é: para que se faz história? Esta é uma herança que os séculos XVIII e XIX deixam
aos séculos XX e XXI.
Neste sentido, o século XX, e também o XXI, são espaços no interior dos
quais estas questões se tornaram protagonistas, forçando parte dos historiadores a
pensar em sua atividade e a buscar compreendê-la para além de justificativas apenas
epistemológicas ou gnosiológicas. Trata-se da primeira condição de possibilidade
para que a ética e\ou a política ou a orientação ético-política se constituam como um
espaços cada vez mais comuns também aos historiadores.
A segunda condição de possibilidade é própria ao século XX. Se trata de seus
“acontecimentos” (no sentido foucaultiano) radicais, “traumáticos”, no sentido proposto
por Jörn Rüsen ou mesmo Hayden White e Dominick LaCapra, ou ainda, da constituição
de um espaço no interior do qual a linguagem não é mais capaz de explicar a “realidade”.
Ou, junto a Benjamin, do que podemos chamar de “pobreza da experiência”. Estamos
nos referindo aqui a “acontecimentos” como as duas grandes guerras, os fascismos em
geral, os campos de concentração nazistas e stalinistas, a “solução final”, as lutas pela
descolonização na África e Ásia, enfim, de eventos capazes de provocar conjunturas em
relação às quais os homens e mulheres em geral emudeceram.
A partir e no interior destes “acontecimentos”, surge uma compreensão explicativa
10 forte, geral, a de que os séculos XVIII e XIX foram os grandes responsáveis por todas estas
tragédias. A despeito de concordarmos ou não, o que está em questão aqui é que o século
XX se convenceu de que seu passado imediato era responsável, neste caso culpado, pelos
seus “traumas”. Se trata, mais especificamente, da culpabilização e posterior negação do
par identidade e racionalismo\verdade num sentido forte e correspondentista.
De modo que, a partir desta compreensão, os séculos XX e XXI procuraram negar
seu passado imediato, constituindo e intensificando um outro par fundamental, a saber, a
diferença e a relação. Ou seja, a partir de então se tornaria uma espécie de tarefa do mundo
contemporâneo defender ou resguardar algum espaço a visões de mundo distintas,
etnias, perspectivas, memórias e tradições, e isto também a partir da compreensão de
que todo e qualquer enunciado se constitui necessariamente a partir de uma dimensão
relacional, de uma relação sempre ou no limite insondável entre passado e presente, por
exemplo, no caso das tradições fenomenológico-hermenêuticas, ou da relação íntima
entre o sujeito do conhecimento e o seu presente no caso dos neohistoricismos.
Temos, então, uma segunda condição de possibilidade para que boa parte dos
historiadores contemporâneos tenha e continue se dedicando à ética e\ou à política.
Ou seja, o mundo contemporâneo se constitui a partir da tarefa que é a da tematização
incessante de outros ou da diferença, de modo que a teoria, a HH e a historiografia em
geral também respondem a esta necessidade histórica.
Revista Ágora Vitória n. 21 2015 p. 7-14 ISSN: 1980-0096
• • • • •
Fabio Muruci e Marcelo de Mello Rangel
Giro ético-político e a história intelectual
Este giro ético-político vem trazendo implicações significativas para as pesquisas
no campo da tradicionalmente chamada “história das ideias”, impondo a redefinição de
seu nome, objetos e metodologias. Na concepção ainda predominante em princípios
do século XX, a “história das ideias”, campo carente de reconhecimento acadêmico
significativo por muito tempo, oferecia sínteses das grandes obras e tradições de
pensamento visando a educação moral e política dos cidadãos. Aprendizado que
poderia visar a formação liberal em busca do desenvolvimento das potencialidades do
indivíduo ou a virtude republicana necessária para a boa vida cívica.. A obra padrão nesse
campo era o manual de história das ideias políticas, que buscava oferecer uma visão
sistematizada dos textos “essenciais” da tradição intelectual ocidental, seja no campo
do pensamento político ou da teoria ética, necessários para a boa formação do cidadão.
Estes conhecimentos propiciariam os instrumentos para a boa condução do “homem
ativo” na esfera pública, ou mesmo para selecionar e legitimar a inclusão deste cidadão
no seio das elites aptas para o exercício do bom governo. Tal autoridade dependia da
crença na “perenidade” da “sabedoria” dos grandes clássicos, capazes de guiar com
segurança os líderes modernos na árdua tarefa de conduzir o governo em uma era de
crescente instabilidade e imprevisibilidade históricas. Esta mesma instabilidade moderna,
11
porém, corroía sistematicamente o poder dessa formação de oferecer guias seguros.
A importância de uma sólida formação clássica também sofreu o desgaste
da crescente percepção de que a capacidade de “educar” do passado era limitada
pela distância da experiência entre diferentes épocas, resultado da forte influência do
historicismo a partir do século XVIII. Seguindo o estímulo de Herder, entre outros, o
passado aparecia cada vez mais avesso ao poder de plena compreensão ou julgamento
a partir do presente ou de uma possível história perene das ideias, se apresentando
com força crescente como um espaço de experiência singular e quase inacessível em
sua plena singularidade. Nessa tensão, a possibilidade de “aprender com o passado”,
justificativa principal da “história das ideias” tradicional, permanecia em questão, apesar
da sua duradoura capacidade de sobrevivência acadêmica até o século XX.
A história catastrófica do século XX estimulou amplamente a descrença do poder
de orientação propiciado pelo conhecimento histórico, seja daquele direcionado para
o aprendizado das artes eternas do bom governo, seja o das filosofias da história que
procuraram determinar as chaves explicativas para uma crescente presença da razão
nos assuntos humanos. O caráter perene da sabedoria dos “clássicos” parecia cada vez
mais duvidoso diante da revelação do poder humano de tornar o imprevisível uma
experiência cotidiana na vida de milhões de pessoas. Ainda tido por alguns críticos como
um campo de mérito duvidoso por apresentar pouca definição e clareza metodológica,
Revista Ágora Vitória n. 21 2015 p. 7-14 ISSN: 1980-0096
• • • • •
Algumas palavras sobre giro ético-político e história intelectual
a “história das ideias” também começou a sofrer de carência de justificativa diante da
ineficácia de seus métodos para dar conta das novas condições.
Uma resposta criativa foi oferecida pela geração de filósofos alemães do pós-
Segunda Guerra Mundial, que a partir de seu exílio nos Estados Unidos, tomaram o
próprio abandono de certas concepções clássicas como uma das raízes da catástrofe
moderna. No obra de autores como Hannah Arendt e Leo Strauss, o estudo das grandes
obras do pensamento político e ético da tradição ocidental reencontrava seu valor como
instrumento de diagnóstico do declínio dos valores e concepções que haviam ordenado
o espaço público, permitindo o vigor de uma vida política intensa. O aprendizado com o
passado não é visto mais através de sua suposta perenidade e vigência para o presente
e sim através de sua ausência e necessidade de recuperação. De alguma forma, o
poder esclarecedor e orientador do passado reencontrava um lugar, estimulando novo
interesse pela leitura do cânone ocidental de grandes pensadores. Porém, a reflexão
metodológica visando a sua transformação em um campo de pesquisa organizado
continuava pouco contemplada.
Reação diferente veio dos países de língua inglesa, pátria tradicional da “história
das ideias”. A partir das reflexões metodológicas de Quentin Skinner, Peter Laslett e
outros contemporâneos, a capacidade dos estudos do pensamento político de oferecer
instrumentos de intervenção nos problemas da modernidade é abordado por outros
12 ângulos, com um grau maior de investimento na distância inelutável entre o passado e
as questões do presente. Defendendo uma abordagem que hoje denomina como mais
“antropológica”, Skinner procurou oferecer uma proposta metodológica mais sistemática
de análise dos textos políticos, enfatizando os contextos linguísticos e estratégias de ação
usadas pelos autores para dialogar com seus públicos e intervir nas questões de sua época.
Superando decididamente a crença na perenidade orientadora dos textos clássicos, se
propõem a coloca-los em seus contextos próprios, recusando a premissa de que autores
de épocas diferentes tratassem das mesmas questões ou que suas prioridades fossem
criar sistemas de pensamento para resolver problemas supostamente eternos. O poder
de aprendizado da história do pensamento político passava a depender de compreensão
mais historicamente localizada dos propósitos e estratégias usadas pelos autores para
elaborar seus textos. O ceticismo sobre a perenidade desses textos abre espaço para a
inclusão de todo um conjunto de obras e autores, normalmente ignorado pela ‘história
das ideias”, que passa a ganhar relevo em uma proposta de análise que prioriza mais o
seu interesse na configuração de um campo linguístico historicamente localizado do que
na capacidade explicativa ou educativa para os problemas do presente.
As diversas reorientações apontadas no correr desse texto, entre muitas outras,
possibilitaram a superação dos limites e propósitos da “história das ideias”, abrindo
todo um novo conjunto de objetos e fenômenos – “linguagens políticas”; “conceitos”;
Revista Ágora Vitória n. 21 2015 p. 7-14 ISSN: 1980-0096
• • • • •
Fabio Muruci e Marcelo de Mello Rangel
“representações”; “campos”. Enquanto área de estudos, a hoje denominada “história
intelectual” continua sofrendo com problemas de definição causados pelo seu caráter
fronteiriço com disciplinas mais sedimentadas, como os estudos literários e a filosofia,
das quais tende a se apropriar de diversos instrumentos e metodologias, enquanto
enfrenta a árdua tarefa de inseri-los em uma moldura própria que justifique sua
existência como campo autônomo e garanta contribuições diferenciadas diante dos
vizinhos mais antigos. Mais importante que isso, porém, é que, apesar das dificuldades
de definição identitária, estes estudos têm se constituído como um campo com grande
potencial para o enfrentamento de questões relativamente pouco contempladas por
outras áreas da pesquisa histórica, especialmente a do próprio valor do conhecimento
histórico para além de sua capacidade de oferecer descrições bem fundamentadas
do passado. É neste eixo que as discussões sobre as dimensões éticas e políticas do
conhecimento sobre ou a partir do passado tem sido alvo de renovado interesse,
após terem permanecido em uma posição lateral durante certo tempo. O estudo das
produções intelectuais do passado passa a ser um caminho para o autoconhecimento
dos produtores de conhecimento do presente.
Referências
13
ABREU, M.; RANGEL, M. de M. Memória, cultura histórica e ensino de história. História
e Cultura, v. 2, n. 4, set. 2015.
ANKERSMIT, F. Giro linguístico, teoria literária y teoria histórica. Buenos Aires:
Prometeo, 2011.
ARAUJO, V. L. de. A aula como desafio à experiência da história. In: GONÇALVES, Márcia
de Almeida et al. (Orgs.). Qual o valor da história hoje? Rio de Janeiro: FGV,
2012.
______. História da historiografia como analítica da historicidade. História da
Historiografia, v. 12, p. 34-44, 2013.
ARAUJO, V. L. de; RANGEL, M. de M. Teoria e história da historiografia: do giro linguístico
ao giro ético-político. História da Historiografia, n. 18, p. 318-332, 2015.
ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. São Paulo: Perspectiva, 2000.
______. A promessa da política. Rio de Janeiro: DIFEL, 2008.
BENJAMIN, W. Experiência e pobreza. In: ______. Magia e técnica, arte e política:
ensaios sobre literatura e história da cultura. Trad. Sérgio Paulo Rouanet. 7ª ed.
São Paulo: Brasiliense, 1994.
______. Sobre o conceito de história. In: LÖWY, Michel. Aviso de incêndio: uma leitura
das teses “Sobre o conceito de História”. São Paulo: Boitempo, 2005.
Revista Ágora Vitória n. 21 2015 p. 7-14 ISSN: 1980-0096
• • • • •
Algumas palavras sobre giro ético-político e história intelectual
DERRIDA, J. Força de Lei: o “fundamento místico da autoridade”. Trad. Leyla Perrone
Moisés. São Paulo: Martins Fontes, 2010.
FOUCAULT, M. A arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2012.
GUMBRECHT, H. U. Produção de presença: o que o sentido não pode transmitir. Trad.
Ana Isabel Soares. Rio de Janeiro: Contraponto: Ed. PUC-Rio, 2010.
______. Modernização dos Sentidos. São Paulo: Editora 34, 1998.
HARTOG, F. Regimes de historicidade: presentismo e experiência do tempo. Trad.
Maria Helena Martins. Belo Horizonte: Autêntica, 2013.
HEIDEGGER, M. Ser e Tempo. Trad. Márcia de Sá Cavalcanti. Petrópolis: Vozes; Bragança
Paulista: Editora Universitária São Francisco, 2008.
HERDER, J. G. Filosofía de la historia para la educación de la humanidad. Buenos
Aires: Editorial Nova: 1950.
JENKINS, K. Por que la história? Ética e Posmodernidad. México: FCE, 2006.
KOSELLECK, R. Futuro passado: contribuições à semântica dos tempos históricos. Trad.
Wilma Patrícia Mass e Carlos Almeida Pereira. Rio de Janeiro: Contraponto, Ed.
PUC-Rio, 2006.
LACAPRA, D. Representar el Holocausto: História, Teoria, Trauma. Buenos Aires:
Prometeo, 2008.
LOPES, Marcos Antônio. Para ler os clássicos do pensamento político. Rio de Janeiro:
14 Ed. FGV, 2002.
NIETZSCHE, F. Segunda consideração intempestiva: da utilidade e desvantagem
da história para a vida. Trad. Marco Antônio Casanova. Rio de Janeiro: Relume
Dumará, 2003.
PALTI, E. (Org.). Giro Lingüístico e História Intelectual. Buenos Aires: Universidad
Nacional de Quilmes, 1998.
PAZ, O. Os filhos do barro. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984.
RICOEUR, P. Du texte à l’action. Essais d’herméneutique II. Paris: Éditions du Seuil, 1986.
RÜSEN, J. Como dar sentido ao passado: questões relevantes de meta-história. História
da Historiografia, n. 2, p. 163-209, 2009.
SKINNER, Quentin. Visions of Politics: Regarding Method. Cambridge University Press, 2002.
SILVA, Ricardo. O contextualismo linguístico na história do pensamento político:
Quentin Skinner e o debate metodológico contemporâneo. Dados – Revista de
Ciências Sociais, v. 53, n. 2, p. 299-335, 2010.
STRAUSS, Leo. Liberalism ancient and modern. Chicago: University of Chicago Press, 1995.
TULLY, J. (Org.). Meaning and context: Quentin Skinner and his critics. Princeton
University Press, 1989.
WHITE, H. El Texto histórico como artefacto literario. Barcelona: Ediciones Paidós.
I.C.E. de la Universidad Autónoma de Barcelona, 2003.
Revista Ágora Vitória n. 21 2015 p. 7-14 ISSN: 1980-0096
• • • • •
Você também pode gostar
- Houaiss Font BrochureDocumento2 páginasHouaiss Font Brochureact100% (2)
- Onboarding de ClientesDocumento27 páginasOnboarding de ClientesrickAinda não há avaliações
- Introdução à historiografia da linguísticaNo EverandIntrodução à historiografia da linguísticaAinda não há avaliações
- ROSANVALLON, Pierre - Por Uma História Conceitual Do PolíticoDocumento7 páginasROSANVALLON, Pierre - Por Uma História Conceitual Do PolíticoAntonio Cesar Almeida SantosAinda não há avaliações
- Apostila de Uso Do CLP FestoDocumento7 páginasApostila de Uso Do CLP FestoEduardo GuilhermeAinda não há avaliações
- TCC Gravidez Na Adolescencia Estrutura FamiliarDocumento63 páginasTCC Gravidez Na Adolescencia Estrutura FamiliarVanúcia Schumacher50% (4)
- 1 Lista de Probabilidade e EstatísticaDocumento5 páginas1 Lista de Probabilidade e EstatísticaGlenedy0% (1)
- Guilhermemachado Ebook Corretor Imoveis Sucesso Mercado Imobiliario PDFDocumento48 páginasGuilhermemachado Ebook Corretor Imoveis Sucesso Mercado Imobiliario PDFAdams Libório50% (2)
- Revistaagora, Revista Completa 21Documento239 páginasRevistaagora, Revista Completa 21AfroAinda não há avaliações
- TeoriadaHistoriaHoje EbookDocumento217 páginasTeoriadaHistoriaHoje EbookFranco PereiraAinda não há avaliações
- Resenha À Beira Da Falésia ChartierDocumento7 páginasResenha À Beira Da Falésia ChartierLeandro Goncalves De MedeirosAinda não há avaliações
- Vera Portocarrero - Panorama Do Debate Acerca Das Ciências. Introdução.Documento6 páginasVera Portocarrero - Panorama Do Debate Acerca Das Ciências. Introdução.filosophAinda não há avaliações
- SOCIAL THEORY AND INTELLECTUAL HISTORY - RETHINKING THE FORMATION OF MODERNITY - BJORN WittrockDocumento35 páginasSOCIAL THEORY AND INTELLECTUAL HISTORY - RETHINKING THE FORMATION OF MODERNITY - BJORN WittrockMario Henrique CamposAinda não há avaliações
- História Da Ideias - Abordagens Sobre Um Domínio Historiográfico (RBHCS)Documento21 páginasHistória Da Ideias - Abordagens Sobre Um Domínio Historiográfico (RBHCS)vanderleidesouzaAinda não há avaliações
- Consideracoes Sobre A Pos-Modernidade No Atual MunDocumento15 páginasConsideracoes Sobre A Pos-Modernidade No Atual MunMarcello Paniz GiacomoniAinda não há avaliações
- 20840-Texto Do Artigo (Dossiê) - 83008-1-10-20170216Documento22 páginas20840-Texto Do Artigo (Dossiê) - 83008-1-10-20170216Ricardo PajeuAinda não há avaliações
- Efcarvalho,+14 Flávio+José+Dalazona+e+Heitor+Alexandre+Trevisani+Lipinski+ +312 334+Documento23 páginasEfcarvalho,+14 Flávio+José+Dalazona+e+Heitor+Alexandre+Trevisani+Lipinski+ +312 334+Renan AlbinoAinda não há avaliações
- 2 - Roger Chartier, O Universo Simbólico E A Escrita Da HistóriaDocumento9 páginas2 - Roger Chartier, O Universo Simbólico E A Escrita Da HistóriaPaulo GodoiAinda não há avaliações
- Intelectuais e HistóriaDocumento9 páginasIntelectuais e HistóriaErivan KarvatAinda não há avaliações
- 2 - GUERRA, Paula - A Instável Leveza Do Rock (Vol.2) PDFDocumento520 páginas2 - GUERRA, Paula - A Instável Leveza Do Rock (Vol.2) PDFlukdisxitAinda não há avaliações
- ParcialDocumento85 páginasParcialUlisses ColiAinda não há avaliações
- Epistemologias da história: Verdade, linguagem, realidade, interpretação e sentido na pós-modernidadeNo EverandEpistemologias da história: Verdade, linguagem, realidade, interpretação e sentido na pós-modernidadeAinda não há avaliações
- Atividade 2 Teoria Da História.Documento4 páginasAtividade 2 Teoria Da História.Bigode AmbulânciaAinda não há avaliações
- Historia Intelectual Origem e Abordagens PDFDocumento17 páginasHistoria Intelectual Origem e Abordagens PDFluAinda não há avaliações
- Filosofia, História e Sociologia Das CiênciasDocumento259 páginasFilosofia, História e Sociologia Das CiênciasEduardo Pinzon0% (1)
- Aproximacoes e Divergencias - Historia Social e Cultura, e Genero.Documento12 páginasAproximacoes e Divergencias - Historia Social e Cultura, e Genero.OsmarPiazziJuniorAinda não há avaliações
- Leandro Hecko - Heródoto e Suas Histórias. Algumas Perspectivas de Construção Do Conhecimento HistóricoDocumento23 páginasLeandro Hecko - Heródoto e Suas Histórias. Algumas Perspectivas de Construção Do Conhecimento HistóricoFabrícioRezendeAinda não há avaliações
- Faria - Os Intelectuais e A Política - Grifos XodoDocumento6 páginasFaria - Os Intelectuais e A Política - Grifos XodoAna Paula Preussler Braz CamargoAinda não há avaliações
- Fund. Teor. e Met. Do Ens. de História.Documento27 páginasFund. Teor. e Met. Do Ens. de História.Márcio Aurélio Miranda MoreiraAinda não há avaliações
- EpistemologiaDocumento13 páginasEpistemologiaangelamacondzo0Ainda não há avaliações
- DOSSE, François - História IntelectualDocumento10 páginasDOSSE, François - História IntelectualCésar De Oliveira GomesAinda não há avaliações
- Roger Chartier - o Mundo Como RepresentaçãoDocumento13 páginasRoger Chartier - o Mundo Como RepresentaçãoAntônio Guarani Kaiowá100% (1)
- A HISTÓRIA SOCIAL DA CULTURA E A HISTÓRIA CULTURAL DO SOCIAL: APROXIMAÇÕES E POSSIBILIDADES NA PESQUISA HISTÓRICA EM EDUCAÇÃO - Ribamar Nogueira Da SilvaDocumento12 páginasA HISTÓRIA SOCIAL DA CULTURA E A HISTÓRIA CULTURAL DO SOCIAL: APROXIMAÇÕES E POSSIBILIDADES NA PESQUISA HISTÓRICA EM EDUCAÇÃO - Ribamar Nogueira Da SilvaRibamar NogueiraAinda não há avaliações
- O Nascimento Da Sociologia Na Universidade Francesa (1880-1914)Documento20 páginasO Nascimento Da Sociologia Na Universidade Francesa (1880-1914)Rodrigo Oliveira LessaAinda não há avaliações
- Estudos em Homenagem Ao Prof. Dr. Ribeiro Faria - p.955-978 PDFDocumento24 páginasEstudos em Homenagem Ao Prof. Dr. Ribeiro Faria - p.955-978 PDFDora MotaAinda não há avaliações
- ISMU-Aula-3 - Perspectiva Historica Da HFDocumento6 páginasISMU-Aula-3 - Perspectiva Historica Da HFDuarte Augusto AmaralAinda não há avaliações
- Francisco Falcon É o Fundador Na UFF Da Linha de Pesquisa Sobre História Das IdeiasDocumento8 páginasFrancisco Falcon É o Fundador Na UFF Da Linha de Pesquisa Sobre História Das IdeiasfabricioAinda não há avaliações
- ESCRITAS DA HISTÓRIA CULTURAL - Michel Foucault e Michel de CerteauDocumento15 páginasESCRITAS DA HISTÓRIA CULTURAL - Michel Foucault e Michel de Certeaualineschneider6083Ainda não há avaliações
- Conhecimento Histórico ContemporâneoDocumento23 páginasConhecimento Histórico ContemporâneoWender TavaresAinda não há avaliações
- O Efeito-Foucault Na Historiografia Brasileira Margareth RagoDocumento16 páginasO Efeito-Foucault Na Historiografia Brasileira Margareth RagoLaís Costa100% (1)
- Filosofia 1Documento16 páginasFilosofia 1OUTROSSIM inauditoAinda não há avaliações
- 14 Ciência Da Informação e Filosofia Reflexões Autor Jaime RobredoDocumento20 páginas14 Ciência Da Informação e Filosofia Reflexões Autor Jaime RobredoLucas Dos SantosAinda não há avaliações
- A Teoria Sociológica ContemporâneaDocumento16 páginasA Teoria Sociológica ContemporâneaCesar Castelar QueirozAinda não há avaliações
- Antropologia Da Educação 1Documento13 páginasAntropologia Da Educação 1Centro Educacional EmanuelAinda não há avaliações
- Artigo História Dos IntelectuaisDocumento19 páginasArtigo História Dos IntelectuaisDiogo PiassáAinda não há avaliações
- Conceitos, Ideias e IntelectuaisDocumento18 páginasConceitos, Ideias e IntelectuaisRenan AlbinoAinda não há avaliações
- Guia de Estudos I. Introdução Ao Estudo de Historia Das IdéiasDocumento5 páginasGuia de Estudos I. Introdução Ao Estudo de Historia Das IdéiasWillen BispoAinda não há avaliações
- ESTETICA ApostilaDocumento52 páginasESTETICA Apostilastachelskiv100% (2)
- Paul Ricoeur e A Ciência: Uma Contribuição Hermenêutica Ao Debate Sobre o Conhecimento Científico - Saulo Costa Val de GodoiDocumento16 páginasPaul Ricoeur e A Ciência: Uma Contribuição Hermenêutica Ao Debate Sobre o Conhecimento Científico - Saulo Costa Val de Godoitemporalidades100% (2)
- Teoria e Historia - Jose Carlos ReisDocumento194 páginasTeoria e Historia - Jose Carlos ReisJorge Tostes100% (2)
- Aula 1Documento17 páginasAula 1thallisson fernandesAinda não há avaliações
- Entre "Agrado" e "Prudência", A Identidade em Questão: Contribuições Desde e para Uma Psicologia Social Crítica No Campo LGBTDocumento29 páginasEntre "Agrado" e "Prudência", A Identidade em Questão: Contribuições Desde e para Uma Psicologia Social Crítica No Campo LGBTAlba PereyraAinda não há avaliações
- 2023 A Contrucao e A Transmissao Cultural Do ConhecimentoDocumento6 páginas2023 A Contrucao e A Transmissao Cultural Do ConhecimentoTássio FariasAinda não há avaliações
- História e Historiografia Da Educação No BrasilDocumento20 páginasHistória e Historiografia Da Educação No BrasilzzzzzzackAinda não há avaliações
- A Nova História Cultural. Assunção Barros PDFDocumento26 páginasA Nova História Cultural. Assunção Barros PDFÁlvaro de SouzaAinda não há avaliações
- O Giro LinguísticoDocumento16 páginasO Giro LinguísticoRicardo Augusto Cioni Engracia GarciaAinda não há avaliações
- Cap HISTORIOGRAFIA LINGUÍSTICA para Sussu 2009Documento12 páginasCap HISTORIOGRAFIA LINGUÍSTICA para Sussu 2009Neusa Barbosa BastosAinda não há avaliações
- Os Programas de Pós-Graduação Interdisciplinares no Brasil: Um Debate SociológicoNo EverandOs Programas de Pós-Graduação Interdisciplinares no Brasil: Um Debate SociológicoAinda não há avaliações
- Compreendendo a semântica social da modernidade e sua aparente superaçãoNo EverandCompreendendo a semântica social da modernidade e sua aparente superaçãoAinda não há avaliações
- Polifonia Cultural em Ponto e Contraponto: "Acordes Historiográficos" Entre Alguns Conceitos Teóricos PossíveisNo EverandPolifonia Cultural em Ponto e Contraponto: "Acordes Historiográficos" Entre Alguns Conceitos Teóricos PossíveisAinda não há avaliações
- Palavras molhadas e escorregantes: Origens clássicas e tradição moderna da retórica políticaNo EverandPalavras molhadas e escorregantes: Origens clássicas e tradição moderna da retórica políticaAinda não há avaliações
- Linguagens da Identidade e da Diferença no Mundo Ibero-americano (1750-1890)No EverandLinguagens da Identidade e da Diferença no Mundo Ibero-americano (1750-1890)Ainda não há avaliações
- Decadência de Portugal e o Cesarismo: um estudo sobre a historiografia de J. P. de Oliveira MartinsNo EverandDecadência de Portugal e o Cesarismo: um estudo sobre a historiografia de J. P. de Oliveira MartinsAinda não há avaliações
- Apostila Ciclismo Indoor Outubro 2006Documento153 páginasApostila Ciclismo Indoor Outubro 2006Raquel Lino FreireAinda não há avaliações
- Vivomovel FaturaDocumento21 páginasVivomovel FaturaTuani CarvalhoAinda não há avaliações
- Admin,+2241 8710 1 CEDocumento29 páginasAdmin,+2241 8710 1 CERoberto JaimeAinda não há avaliações
- CPC 12Documento3 páginasCPC 12janaina.limacontabeis12Ainda não há avaliações
- Meios de OrientaçãoDocumento11 páginasMeios de OrientaçãoMarcio GontijoAinda não há avaliações
- FT3 - 4CL - Teletrabalho - CorreçãoDocumento3 páginasFT3 - 4CL - Teletrabalho - CorreçãoÓscar CarvalhoAinda não há avaliações
- VZ-30 ManualDocumento22 páginasVZ-30 ManualLaboratorio Informatica PsvvAinda não há avaliações
- Guia Pratico de Marketing Digital para RestaurantesDocumento36 páginasGuia Pratico de Marketing Digital para RestaurantesRico SilvaAinda não há avaliações
- Atividade PsicologiaDocumento3 páginasAtividade PsicologiaDara SimõesAinda não há avaliações
- Exp 2 - VerilogDocumento5 páginasExp 2 - VerilogGabriel NazarioAinda não há avaliações
- Lista de Física 2001 e 2002 Lista 2Documento3 páginasLista de Física 2001 e 2002 Lista 2Charles AzevedoAinda não há avaliações
- Provas - Língua Portuguesa - Unopar - Anhanguera - Passei DiretoDocumento10 páginasProvas - Língua Portuguesa - Unopar - Anhanguera - Passei DiretoRafael SobisAinda não há avaliações
- Trabalho Sobre Jogos Didacticos No Ensino de GeografiaDocumento13 páginasTrabalho Sobre Jogos Didacticos No Ensino de GeografiaJacynto MahumaneAinda não há avaliações
- Termoquisuperac 3 A 7 AoDocumento7 páginasTermoquisuperac 3 A 7 AoBruno Alves100% (1)
- Cnbook 2018 19 PDFDocumento284 páginasCnbook 2018 19 PDFAmérico FornazariAinda não há avaliações
- FTD-CT - A Conquista Lingua PortuguesaDocumento5 páginasFTD-CT - A Conquista Lingua Portuguesamaria1982oliveirapereira22Ainda não há avaliações
- Fichamento Pequenos Poemas em Prosa Baudelaire - Doc.corrigidoDocumento4 páginasFichamento Pequenos Poemas em Prosa Baudelaire - Doc.corrigidoFran BourneufAinda não há avaliações
- Mithen - 2002 - A Pré-História Da Mente (Cáp. 9)Documento29 páginasMithen - 2002 - A Pré-História Da Mente (Cáp. 9)Giselle CamposAinda não há avaliações
- Atividades - Semana 23 - MatemáticaDocumento5 páginasAtividades - Semana 23 - MatemáticaLuis Henrique Aparecido da CruzAinda não há avaliações
- Versões de Sentido - Um Instrumento MetodologicoDocumento6 páginasVersões de Sentido - Um Instrumento MetodologicoCarol PaixaoAinda não há avaliações
- (Ebook) DesintimidadeDocumento41 páginas(Ebook) DesintimidadeAdm. Daniel PaulinoAinda não há avaliações
- N1. Estratégias de Negociação. MBA Gestão de Projetos Anhembi MorumbiDocumento2 páginasN1. Estratégias de Negociação. MBA Gestão de Projetos Anhembi MorumbiAlana MoraesAinda não há avaliações
- Pesquisa em Recepção - Relatos Da II Jornada GaúchaDocumento110 páginasPesquisa em Recepção - Relatos Da II Jornada GaúchaRomuloTondo100% (1)
- TCC The 100Documento78 páginasTCC The 100Ralzinho CarvalhoAinda não há avaliações