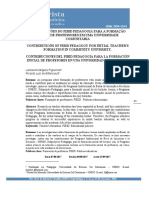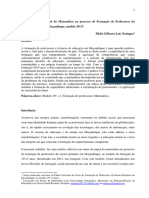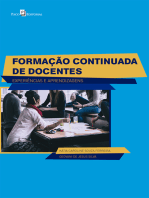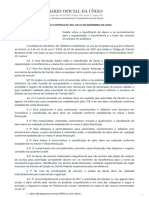Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
6587-Texto Do Artigo-2648-10790-10-20170420
6587-Texto Do Artigo-2648-10790-10-20170420
Enviado por
Alexsandro ConceicaoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
6587-Texto Do Artigo-2648-10790-10-20170420
6587-Texto Do Artigo-2648-10790-10-20170420
Enviado por
Alexsandro ConceicaoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
doi: 10.7213/dialogo.educ.14.042.
DS05
ISSN 1518-3483
Licenciado sob uma Licença Creative Commons
[T]
O PIBID como “terceiro espaço” de
formação inicial de professores
PIBID as the “third space” in the initial
formation of teachers
Helena Maria dos Santos Felício
Doutora em Educação, professora da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG), Alfenas, MG-
Brasil, e-mail: helena.felicio@unifal-mg.edu.br
Resumo
Este trabalho visa analisar a percepção dos licenciandos envolvidos no Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), na Universidade Federal de Alfenas
(UNIFAL-MG), referente ao desenvolvimento de tal programa como um espaçotempo para
a formação docente. Zeichner (2010) estrutura o conceito de terceiro espaço, rejeitando
as polaridades entre teoria e prática na formação de professores em prol da elaboração de
espaçostempos que reúnam o conhecimento prático ao acadêmico de modos menos hie-
rárquicos, tendo em vista a criação de novas oportunidades de aprendizagem para profes-
sores em formação inicial. A partir desse conceito, realizamos a análise qualitativa dos sig-
nificados do PIBID, construídos pelos licenciandos bolsistas no triênio 2010-2012, a partir
Rev. Diálogo Educ., Curitiba, v. 14, n. 42, p. 415-434, maio/ago. 2014
416 FELÍCIO, H. M. S.
dos pressupostos metodológicos dos estudos das narrativas. Para tanto, estabelecemos
como categorias as informações sobre relação teoria-prática, relação Universidade-Escola,
realidade educacional e escolar, formação inicial e continuada da docência. Os resulta-
dos apontam para a necessidade de o PIBID, como política pública de formação inicial de
professores, provocar ações nas políticas de carreira docente e nas políticas definidoras
de condições do trabalho docente, uma vez que, para os licenciandos, apesar de o PIBID
se constituir como um espaçotempo fundamental para consolidação de uma formação
docente de qualidade, o Ensino Superior se configura o nível almejado por eles para o
exercício da docência.
Palavras-chave: Formação de professores. Relação teoria e prática. Relação universidade-escola.
Abstract
This work aims to analyze the perceptions of the undergraduates involved with the
Institutional Scholarship Program for New Teachers (PIBID) of the Federal University of
Alfenas (UNIFAL-MG) concerning the development of this program as a space-time to the
professional formation of teachers. Zeichner (2010) studies the concept of “third space”,
eliminating the polarities between theory and practice towards the creation of space(s)-
time(s) that gather practical and academic knowledge or skills in less hierarchical settings,
having as objective the creation of new learning opportunities for future teachers. From
this concept, we qualitatively analyzed the experiences of the students that took part in the
PIBID from 2010 to 2012, from the assumptions of methodological studies of narratives,
establishing as categories the information concerning the theory-practice relationship, the
relationship between School and University, the school reality and the reality of education,
and the initial and continuing training of teachers. According to the results, the PIBID, as a
public policy to initiate the professional formation of teachers, should influence the teach-
ing career policies and the policies that define the work conditions of teachers, since the
PIBID is, to the undergraduate students, a fundamental space-time to consolidate a high-
quality education for teachers; however, they intend to teach in higher education.
Keywords: Professional formation of teachers. Theory-practice relationship. Relationship
between school and university.
Rev. Diálogo Educ., Curitiba, v. 14, n. 42, p. 415-434, maio/ago. 2014
O PIBID como “terceiro espaço” de formação inicial de professores 417
Introdução
O intuito de refletirmos sobre a percepção dos licenciandos e
os diferentes espaçostempos da formação inicial se insere na necessidade
de problematizar algumas questões relativas à formação de professores
que se consolida no Brasil, sobretudo após a promulgação das Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica
(BRASIL, 2002). Ao fazer distinção entre bacharelado e licenciatura, essa
normativa acentua a necessária importância de que a formação de profes-
sores se efetive a partir de uma relação estreita entre o campo de formação
e o campo de atuação profissional, ou seja, entre a Universidade e a Escola.
Nesse contexto formativo, sobretudo no espaço acadêmico, con-
cordando com pesquisas recentes desenvolvidas por Gatti (2010) sobre os
currículos de formação de professores no Brasil, verificamos a urgência
de serem superadas dualidades, como teoria/prática, formação/trabalho,
universidade/escola, saber/fazer, dentre outras, a fim de que os cursos
de licenciatura possam ser adequados às novas diretrizes e respondam às
exigências formativas da profissão professor.
As dualidades apontadas, frutos da dicotomização instaurada pela
ciência moderna, fragilizam o processo de formação inicial de professores,
sobretudo porque tal formação está centrada na separação entre teoria e
prática, na total autonomia de uma em relação à outra (SANTOS, 2004).
Nesse sentido, as relações espaçostempos na formação inicial de
professores são entendidas como dimensões de um mesmo contexto que
abarca relações de desafios, de descobertas, de ressignificação, de constru-
ções, vivenciados em diversos “espaços e tempos” organizados em situ-
ações distintas. Podem parecer independentes, mas são profundamente
indissociáveis — é impossível considerar um sem o outro.
No contexto atual, a formação e a atuação dos professores se
constituem em um complexo processo. A sociedade contemporânea atri-
bui responsabilidades, cada vez mais crescentes, ao sistema educacional
escolar e aos professores. Tais responsabilidades, decorrentes das trans-
formações no mundo do trabalho, na revolução midiática e nas relações
Rev. Diálogo Educ., Curitiba, v. 14, n. 42, p. 415-434, maio/ago. 2014
418 FELÍCIO, H. M. S.
sociais, têm provocado mudanças nas propostas educacionais, na atuação
dos professores. Como consequência, vem se reconfigurando a identidade
profissional docente, fragilizando, dessa forma, o processo de formação
inicial e continuada de professores.
Segundo Garcia (1999), a formação apresenta-se como um fe-
nômeno complexo e diverso por envolver um aspecto subjetivo, relacio-
nado a um processo de desenvolvimento pessoal, bem como um aspecto
objetivo, relacionado a um processo de desenvolvimento de uma função
social. Ou seja, a formação constitui-se uma ação que exige saberes e fa-
zeres específicos que definem, por assim dizer, o “espaço” de atuação de
uma determinada profissão.
Tratando-se da formação inicial de professores, torna-se neces-
sário combinar a formação acadêmica e a formação pedagógica, a fim de
capacitá-los para o exercício de uma atividade que não se restringe, exclusi-
vamente, a “ministrar aulas”. Conforme Garcia (1999, p. 26), experiências
de aprendizagem podem propiciar a aquisição e a melhoria de conhecimen-
tos, competências e disposições, que permitirão ao licenciando intervir
profissionalmente no desenvolvimento do ensino, do currículo e da escola,
visando melhorar a qualidade da educação que os alunos recebem.
No interior dessas discussões emergentes sobre formação ini-
cial de professores, compreendemos o Programa Institucional de Bolsa
de Iniciação à Docência (PIBID) como um espaçotempo que tem se consti-
tuído nos últimos anos uma das mais significativas políticas públicas em
âmbito nacional.
Assim, o PIBID, criado pelo Decreto n. 7.219 (BRASIL, 2010)
e fomentado pela CAPES1, propõe a articulação entre as Instituições de
Ensino Superior (IES) e as escolas públicas de Educação Básica como for-
ma de contribuir para a formação inicial de professores. Ao oferecer bol-
sas de iniciação à docência, antecipa o vínculo de futuros professores com
1
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) é uma agência de
fomento à pesquisa brasileira que atua na expansão e na consolidação da pós-graduação stricto
sensu em todo o país e na formação de professores da Educação Básica.
Rev. Diálogo Educ., Curitiba, v. 14, n. 42, p. 415-434, maio/ago. 2014
O PIBID como “terceiro espaço” de formação inicial de professores 419
o futuro lócus de trabalho, pressupondo que a aproximação desses com
as atividades de ensino nas escolas públicas, mediante a execução de um
projeto institucional proposto por uma determinada IES, pode levá-los ao
comprometimento e à identificação com o exercício do magistério.
O PIBID se institui como uma possibilidade de articulação entre
a teoria e a prática ao longo do processo de formação inicial. Contudo, dife-
re do Estágio Curricular, sendo este último de cunho obrigatório, definido
no interior do curso a partir de diretrizes estabelecidas pelo currículo de
formação, ao passo que o PIBID, em função do número de bolsas oferecido,
nem sempre consegue atender à totalidade dos acadêmicos de um curso, e
suas ações são desenvolvidas a partir do contexto da escola pública, embora
cada programa tenha seu projeto institucional e seus subprojetos.
A Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG) é uma das IES,
participante do programa desde 2010, com o projeto institucional intitu-
lado “Profissão docente: parceria entre a universidade e a escola pública”
e subprojetos em todos os seus cursos de licenciaturas, a saber: Ciências
Biológicas, Ciências Sociais, Física, Geografia, História, Letras (Português
e Espanhol), Matemática, Pedagogia e Química.
Atualmente, o PIBID/UNIFAL-MG mantém parceria com 12
escolas públicas de Educação Básica de Alfenas (MG), com o desenvolvi-
mento de atividades por 257 bolsistas, 40 professores supervisores2, 18
coordenadores de área3, 2 coordenadores de gestão de processos educati-
vos e 1 coordenador institucional4.
Uma das premissas que fundamenta o desenvolvimento do pro-
jeto institucional do PIBID/UNIFAL-MG é o exercício da docência compar-
tilhada. Entendemos que iniciar os licenciandos na docência não significa
oferecer oportunidades para que eles assumam o “lugar” dos professores
2
Aqueles que atuam nas escolas públicas parceiras e que são selecionados, para cada subprojeto,
para o acompanhamento das atividades dos licenciandos bolsistas nas escolas. Como bolsistas,
também são corresponsáveis pela formação inicial desses licenciandos.
3
Professores das diversas licenciaturas da IES, responsáveis pelo desenvolvimento dos subprojetos
nas escolas parceiras.
4
Professores da IES, responsáveis pelo desenvolvimento administrativo e pedagógico do programa na IES.
Rev. Diálogo Educ., Curitiba, v. 14, n. 42, p. 415-434, maio/ago. 2014
420 FELÍCIO, H. M. S.
nas escolas públicas. Ao contrário, os licenciandos devem compartilhar
da experiência que os professores já construíram em sua trajetória pro-
fissional e, ao mesmo tempo, colaborar com o processo de ensino e de
aprendizagem desenvolvidos na escola pública, a partir dos conhecimen-
tos trabalhados nos cursos de licenciatura (GOMES; FELÍCIO, 2012).
Nesse sentido, após o primeiro triênio do PIBID/UNIFAL-MG,
um movimento de avaliação tem sido desenvolvido, visando à sua conso-
lidação no espaço universitário como um programa que, para além de suas
atividades específicas e pontuais circunscritas por seus próprios limites,
possa contribuir para as reflexões sobre a formação inicial de professores
e sua estruturação na UNIFAL-MG.
Assim, este trabalho pretende dar visibilidade aos significados
que os licenciandos, participantes do programa, atribuem a essa expe-
riência como espaçotempo para a formação docente. Espaçotempo este
que, aqui, estamos denominando de terceiro espaço, conforme expressão
cunhada por Zeichner (2010).
O PIBID como “terceiro espaço” de formação inicial de professores
No Brasil, desde o início do século XX, a formação inicial de pro-
fessores tem sido caracterizada por um modelo que privilegia, por um lado,
os estudos de conteúdos das disciplinas específicas e, por outro lado, os
estudos de conteúdos relacionados à formação didático-pedagógica. Esse
esquema contribuiu para que a formação de professores fosse constituída a
partir de dois modelos descritos por Saviani (2009): o modelo dos conteúdos
culturais-cognitivos, em que o currículo formativo está centrado no domínio
dos conteúdos específicos da disciplina pelo futuro professor, e o modelo
pedagógico-didático, em que o currículo concentra-se nos conhecimentos
didático-pedagógicos, considerados necessários à formação docente.
Esses modelos formativos contribuem para a configuração de es-
paços distintos no processo de formação inicial de professores. Percebemos
a predominância de um “primeiro espaço”, caracterizado pelo modelo dos
Rev. Diálogo Educ., Curitiba, v. 14, n. 42, p. 415-434, maio/ago. 2014
O PIBID como “terceiro espaço” de formação inicial de professores 421
conteúdos culturais-cognitivos, no qual a aprendizagem de teorias, centra-
das em disciplinas, ocupa grande parte de um curso de licenciatura. Exerce,
assim, a primazia sobre um “segundo espaço”, caracterizado pelo modelo
pedagógico-didático, alocado, geralmente, nos momentos finais do curso,
dedicado aos conhecimentos pertinentes à ação docente que se configuram,
no currículo, sob a modalidade de estágio ou práticas de ensino, quando os
licenciandos, tendo aprendido um conjunto de teorias, devem ir às escolas
para praticar e/ou aplicar o que foi construído no espaço acadêmico.
Historicamente, esse esquema contribuiu para a consolidação
de um processo de formação de professores dicotomizado, por meio do
qual as polaridades não se complementam uma vez que são assumidas
como divergentes. Ou seja, o saber em detrimento do fazer, o teórico em
detrimento da prática, o científico em detrimento do técnico.
Essa compreensão equivocada dos conhecimentos didático-peda-
gógicos contribui para que, de um lado, sejam interpretados como fracos,
fáceis e frágeis e, de outro, sejam assumidos como conhecimentos aplica-
cionistas, uma vez que neles são buscadas formas de tornar aplicáveis os
conteúdos culturais-cognitivos. Ou seja, reduz-se drasticamente os conhe-
cimentos didático-pedagógicos à dimensão técnica do ofício docente, es-
vaziando, por assim dizer, o sentido real desses componentes formativos.
Esse formato aplicacionista da formação inicial de professores,
no qual o conhecimento acadêmico mantém certa supremacia sobre o
contexto da prática nas escolas, apresenta fragilidades, sobretudo porque
os professores inseridos na complexidade do cotidiano da sala de aula
revelam pouco conhecimento das especificidades trabalhadas nas disci-
plinas acadêmicas, mesmo daquelas direcionadas às metodologias de en-
sino. Acresce-se a essa situação o fato de que os professores que atuam
nos cursos de formação de professores, em geral, pouco sabem sobre as
práticas construídas nas escolas de Educação Básica.
Na tentativa de superar essa problemática instaurada no pro-
cesso de formação inicial de professores, sobretudo em função da desco-
nexão existente entre a universidade e as escolas, Zeichner (2010) propõe
a constituição de um “terceiro espaço”, caracterizado pela elaboração de
Rev. Diálogo Educ., Curitiba, v. 14, n. 42, p. 415-434, maio/ago. 2014
422 FELÍCIO, H. M. S.
espaçostempos híbridos que reúnam o conhecimento prático ao acadêmico
de modos menos hierárquicos, tendo em vista a criação de novas oportu-
nidades de aprendizagem para professores em formação.
O “terceiro espaço” é defendido pelo autor como espaço em que
se deve incentivar um status mais igualitário entre a universidade e a es-
cola, diferentemente do que acontece nas parcerias convencionais entre
essas duas instituições, sobretudo para a realização dos estágios, período
em que os licenciandos adentram as escolas com atividades pontuais, frag-
mentadas, direcionadas, predefinidas, desconsiderando o complexo con-
texto escolar e o que lá acontece na relação entre ensino e aprendizagem.
Essa prática tem se firmado como um modelo de fora para den-
tro, no qual o saber está, preferencialmente, entre os acadêmicos, e não
entre os professores da Educação Básica, que, por vezes, acumulam sabe-
res de experiência não valorizados nessa relação tradicional.
Para Zaichner (2010), esse “terceiro espaço” é uma maneira al-
ternativa que favorece a antecipação da entrada dos licenciandos na es-
cola, legitimando, por assim dizer, esse espaço como instituição cofor-
madora, visto que muitos conhecimentos sobre a docência podem ser
construídos no próprio exercício da função.
A constituição desse “terceiro espaço” requer a compreensão de
que a construção do conhecimento sobre a docência não deve se dar nem
de “fora para dentro”, como mencionado anteriormente, nem de “dentro
para fora”, o que evidenciaria o não reconhecimento dos saberes acadêmi-
cos. Muito pelo contrário, na lógica desse “terceiro espaço”, o conhecimento
sobre a docência deve ser construído por intermédio da relação dialética e
compartilhada desses dois espaços formativos: a universidade e a escola.
Nesse sentido, o envolvimento dos professores da Educação
Básica e do Ensino Superior é condição requerida, sobretudo para iniciar
um processo de rejeição das polaridades entre o conhecimento profissio-
nal e o conhecimento acadêmico, instaurados no percurso histórico da
formação inicial de professores.
Tal envolvimento é capaz de construir espaços transitivos entre
a universidade e a escola, favorecendo diferentes tipos de cruzamentos
Rev. Diálogo Educ., Curitiba, v. 14, n. 42, p. 415-434, maio/ago. 2014
O PIBID como “terceiro espaço” de formação inicial de professores 423
dessas fronteiras em benefício de uma formação inicial de professores
que congregue tanto o conhecimento prático profissional quanto o aca-
dêmico, de modo mais sinergético no acompanhamento da aprendizagem
sobre a docência.
Nesse contexto, compreendemos que o PIBID pode ser conside-
rado como o “terceiro espaço” de formação pelos seguintes motivos:
-- distingue-se do estágio curricular obrigatório na consideração
do cenário escolar;
-- permite a inserção antecipada do licenciando na escola, que se
assume como parceira no processo de formação inicial docente,
ao acolhê-lo, por intermédio dos supervisores;
-- compreende uma configuração que possibilita a participação de
professores da universidade (coordenador de área), responsá-
veis diretos pelos licenciandos bolsistas, e do professor da escola
de Educação Básica (supervisor), responsável pelo licenciando,
quando ele se encontra na escola desenvolvendo as atividades
de iniciação à docência;
-- pressupõe um diálogo constante entre licenciando, coordenador
de área e supervisor;
-- são previstas ações visando iniciar o licenciando na docência
tendo por base experiências reais, advindas do contexto escolar;
-- assume o movimento de reflexão–ação–reflexão como pressu-
posto fundamental para o desenvolvimento das atividades;
-- propicia a permanência contínua dos licenciandos no cotidiano
escolar, por um período de, pelo menos, dois anos.
Na experiência da UNIFAL-MG, o elemento fundamental para
que o PIBID seja considerado esse “terceiro espaço” de formação é o exer-
cício da docência compartilhada, indicado anteriormente. Por intermédio
dela, professores e licenciandos podem fazer da aprendizagem da docência
uma ação coletiva que favorece o redirecionamento do foco do ensino para
práticas mais emancipatórias, que se contraponham à caracterização do
Rev. Diálogo Educ., Curitiba, v. 14, n. 42, p. 415-434, maio/ago. 2014
424 FELÍCIO, H. M. S.
professor como um mestre do saber e que o compreendam com um gestor e
organizador do processo de aprendizagem (GOMES; FELÍCIO, 2012).
Essa ação coletiva, proposta pela docência compartilhada, para
além de uma ação realizada conjuntamente pelos sujeitos envolvidos —
nesse caso, professor e licenciando —, implica uma atitude colaborativa
por meio da qual ambos “se apoiam, visando atingir objetivos comuns
negociados pelo coletivo, estabelecendo relações que tendem à não hierar-
quização, liderança compartilhada, confiança mútua e corresponsabilida-
de pela condução das ações” (DAMIANI, 2008, p. 215).
Nesse sentido, considerando o PIBID como esse “terceiro espa-
ço” de formação inicial de professores, propusemo-nos a investigar quais
os significados atribuídos ao programa pelos licenciandos nele envolvidos.
Os significados atribuídos ao PIBID pelos licenciandos bolsistas
Fundamentados nos conceitos apresentados anteriormente, re-
alizamos um grupo focal5 com dois representantes de cada área, no térmi-
no do primeiro semestre de 2012. O grupo, composto por 18 licenciandos
bolsistas, foi mediado por um dos coordenadores do PIBID/UNIFAL-MG.
A escolha dessa metodologia de trabalho se justifica por enten-
dermos, como afirma Gatti (2005, p. 9), que os “grupos focais têm por
objetivo captar, a partir das trocas realizadas no grupo, conceitos, sen-
timentos, atitudes, crenças, experiências e reações” dos sujeitos envolvi-
dos, permitindo a captação de significados que, com outros meios, pode-
riam ser difíceis de serem manifestados.
A sessão do grupo focal teve como tema central a experiên-
cia dos licenciandos no PIBID/UNIFAL-MG. Nela, os sujeitos relataram
5
Um grupo focal é um “conjunto de pessoas selecionadas e reunidas por pesquisadores para discutir
e comentar um tema, que é objeto de pesquisa, a partir de sua experiência profissional” (POWELL;
SINGLE apud GATTI, 2005, p. 7).
Rev. Diálogo Educ., Curitiba, v. 14, n. 42, p. 415-434, maio/ago. 2014
O PIBID como “terceiro espaço” de formação inicial de professores 425
suas impressões sobre o programa expondo a contribuição do PIBID na
própria formação.
A sessão foi registrada em áudio, com a anuência de todos os
participantes, sendo transcrita em sua íntegra e organizada a partir de
categorias emergidas do conteúdo transcrito, quais sejam, os significados
atribuídos pelos licenciandos ao PIBID e os reflexos do programa no curso
de licenciatura, na escola parceira e na definição profissional.
Posteriormente, as manifestações dos sujeitos a respeito do
PIBID/UNIFAL-MG, organizadas nessas categorias, foram analisadas
tendo como pressuposto metodológico os estudos das narrativas que, se-
gundo Connelly e Clandinin (1995, p. 11), “são estudos da forma como os
sujeitos experimentam o mundo”. Nesse sentido, entendemos que os sig-
nificados que os licenciandos atribuem ao PIBID representam um modo
fecundo e apropriado de esses sujeitos produzirem e comunicarem os sa-
beres relacionados a tal experiência.
O significado do PIBID para os licenciandos
Quanto aos significados atribuídos pelos licenciandos às expe-
riências do PIBID, destacamos, em primeiro lugar, o reconhecimento do
PIBID como vivência que tem contribuído para o processo de construção
da identidade do professor, uma vez que tal experiência vem sendo cons-
truída na escola — espaço de atuação profissional docente — em contato
com professores que vivenciam a profissão e que contribuem, fundamen-
talmente, para a formação de novos professores.
Esse significado reforça a necessidade do estreitamento de rela-
ções entre universidade e escola no processo de formação inicial de pro-
fessores e na construção desse “terceiro espaço”, defendido por Zeichner
(2010), como espaço que incentiva um status mais igualitário entre es-
sas duas instituições que, em função do desenvolvimento de ações e das
premissas do PIBID, se responsabilizam por projetos em comum em prol
dessa formação.
Rev. Diálogo Educ., Curitiba, v. 14, n. 42, p. 415-434, maio/ago. 2014
426 FELÍCIO, H. M. S.
Da mesma forma, essa relação corrobora com as defesas assumi-
das por Nóvoa (2009), quando indica a necessidade de a formação inicial
de professores também ser construída dentro da profissão, uma vez que é
na escola e com os outros professores que se aprende a profissão e a cultu-
ra profissional. Para o autor, essa dimensão é fundamental no processo
inicial de formação, argumentando que é preciso conceder “aos profes-
sores mais experientes um papel central na formação dos mais jovens”
(NÓVOA, 2009, p. 36). Assume, assim, o processo formativo, construído
em um contexto de responsabilidade profissional que valoriza, também,
o conhecimento prático dos professores.
Outro aspecto evidenciado na análise é a percepção do PIBID
como espaço para a efetiva relação entre a teoria e a prática na perspectiva
da problematização, da reflexão–ação–reflexão, uma vez que a permanên-
cia do licenciando na escola acontece de forma mais perene, contrastando
com o estágio curricular obrigatório, que se mostra pontual e ocorre so-
mente a partir de um determinado momento do curso.
Essa percepção evidencia, como afirma Zeichner (2010), a impor-
tância de se ter, no processo de formação inicial, espaços híbridos em que
a teoria e a prática se articulam no contexto real do trabalho docente, na
perspectiva da horizontalidade, sem a sobreposição de uma sobre a outra.
Para Severino (2002, p. 46), “a teoria, separada da prática, seria
puramente contemplativa e, como tal, ineficaz sobre o real; a prática, des-
provida da significação teórica, seria pura operação mecânica, atividade
cega”. Nesse sentido, o movimento dialético de reflexão–ação–reflexão
sobre a prática pedagógica, no contexto real da docência, proporcionada
pelo PIBID, introduz o licenciando, desde o início de sua formação, no
universo do exercício profissional, possibilitando que ele problematize a
prática, “pensando alternativas de solução, testando-as, procurando es-
clarecer as razões subjacentes a suas ações, observando as reações dos
sujeitos aprendentes, procurando entender o significado das questões e
das respostas que eles formulam” (PIMENTA, 2002, p. 91).
O último sentido atribuído pelos licenciandos configura o
PIBID como espaço vivencial em que se consideram novas e múltiplas
Rev. Diálogo Educ., Curitiba, v. 14, n. 42, p. 415-434, maio/ago. 2014
O PIBID como “terceiro espaço” de formação inicial de professores 427
possibilidades de atuação com base em diversificadas estratégias peda-
gógicas em sala de aula. Acentua-se, assim, o desenvolvimento da com-
preensão crítica que aponta a valorização e o resgate do professor como
agente de transformação e construção das alternativas pedagógicas para
o sucesso escolar dos educandos.
A atribuição desse sentido pelos licenciandos sobre a experiên-
cia da docência evidencia que, ao analisarem as estratégias pedagógicas
utilizadas, ultrapassam a dimensão técnica, muitas vezes fundamentadas
nas repetições, reforçando a compreensão de que “saber ensinar não é
transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria pro-
dução ou construção” (FREIRE, 1998, p. 52).
Nesse sentido, é possível inferir que a característica da profissão
reside em um outro lugar, em “um terceiro lugar, no qual as práticas são
investidas do ponto de vista teórico e metodológico, dando origem à cons-
trução de um conhecimento profissional docente” (NÓVOA, 2009, p. 33).
Passamos, agora, à analise dos reflexos do PIBID como “terceiro
espaço” de formação.
Reflexos do PIBID nos cursos de licenciaturas
O primeiro aspecto apresentado pelos licenciandos bolsistas
diz respeito a uma maior valorização dos cursos numa instituição cuja
tradição de excelência foi pautada no reconhecimento dos cursos da
área da saúde. Embora os cursos de licenciaturas tenham, ainda hoje,
um baixo prestígio na cultura universitária brasileira, que sempre pri-
vilegiou a pesquisa como área de excelência (DIAS DA SILVA, 2005), na
IES participante do PIBID, há um processo que vem sendo construído ao
longo dos últimos anos.
O PIBID, como política pública para a formação inicial de
professores, provocou as universidades no sentido de revisarem a pos-
tura diante de tais cursos, visto que, até então, muitas fechavam os
olhos para essa formação profissional, não apenas desmerecendo as
Rev. Diálogo Educ., Curitiba, v. 14, n. 42, p. 415-434, maio/ago. 2014
428 FELÍCIO, H. M. S.
expectativas dos licenciandos, mas também contribuindo para também
aumentar a sensação de incompetência e a desistência da profissão do-
cente (FERREIRA; REALI, 2005).
Assim, o PIBID, principalmente pela concessão de bolsas exclu-
sivas para os licenciandos, contribui com sua fixação nos cursos e com a
diminuição dos índices de desistência, uma vez que os acadêmicos têm a
possibilidade de se dedicarem exclusivamente ao curso.
O segundo aspecto apresentado faz referência à contextualiza-
ção das disciplinas do curso, visto que o trânsito antecipado entre uni-
versidade e escola contribui para que os licenciandos problematizem nas
aulas, na universidade, as situações de ensino e de aprendizagem viven-
ciadas no cotidiano escolar das escolas. Essa problematização, por sua
vez, propicia momentos produtivos de reflexão crítica que contribuem
para uma melhor formação docente, já que valoriza a articulação entre o
conhecimento específico da área e o saber pedagógico, necessários para
uma eficiente transposição didática.
Para Libâneo (2004), as formas de aprender afetam as formas de
ensinar. Assim, o que se espera do processo de aprendizagem dos educan-
dos deve ser comum aos embasamentos dos currículos e das disciplinas
dos cursos de formação de professores. Para tanto, as disciplinas dos cur-
sos de licenciaturas devem configurar-se como espaço diferenciado de ar-
ticulação entre o conhecimento específico e o conhecimento pedagógico,
provocando, por assim dizer, o pensamento de futuros docentes.
O último aspecto apresentado faz referência ao aumento e à va-
lorização do desenvolvimento de pesquisas na área de educação/ensino
por parte dos licenciandos, principalmente nos cursos que apresentam as
modalidades de bacharelado e licenciatura.
Até então, grande número dos licenciandos desenvolviam suas
pesquisas, seja de iniciação científica ou trabalho de conclusão de curso,
nas perspectivas das pesquisas voltadas para o bacharelado. O PIBID con-
tribuiu para o envolvimento dos licenciandos com pesquisas relacionadas
ao ensino de suas áreas. Tal mudança significa maior valorização da pes-
quisa na formação de professores.
Rev. Diálogo Educ., Curitiba, v. 14, n. 42, p. 415-434, maio/ago. 2014
O PIBID como “terceiro espaço” de formação inicial de professores 429
Lüdke e Cruz (2005) afirmam que a pesquisa e a reflexão são
componentes importantes da formação de professores, e que esse deslo-
camento do foco das pesquisas acadêmicas desenvolvidas pelos licencian-
dos evidencia o avanço na compreensão da necessidade de se estabelecer
relações diferenciadas entre o saber pedagógico e o científico. Tal proces-
so possibilita que a pesquisa educacional seja parte da experimentação, da
reflexão crítica, em um processo contínuo de investigação-ação cuja base
é o contexto educacional (NÓVOA, 1997).
Reflexos do PIBID nas escolas parceiras
No que concerne às escolas parceiras, o primeiro reflexo apre-
sentado pelos licenciandos refere-se ao movimento realizado pelos pro-
fessores das escolas no tocante à melhor preparação de suas aulas. Ou
seja, a presença de um “pibidiano” em sala de aula provoca maior empe-
nho no desenvolvimento do trabalho do professor das escolas, articulan-
do, por assim dizer, tanto a formação inicial quanto a formação continu-
ada desses professores.
Consequência disso é a utilização de diferentes estratégias me-
todológicas de ensino que contribuem para a melhoria da aprendizagem
dos alunos. Em grande medida, percebemos que o PIBID leva para as esco-
las essas propostas, até porque o contexto do trabalho docente, sobretudo
dos professores das escolas públicas, suas condições de trabalho e a jorna-
da diária em mais de uma escola não favorecem para que o planejamen-
to e o desenvolvimento das aulas sejam diferentes daquelas de modelo
tradicional. Para os licenciandos do PIBID, tal situação é diferente, pois o
período de dedicação é mais alongado.
Esse movimento entre formação inicial e continuada de profes-
sores, vivenciado por sujeitos que se encontram em momentos diferentes
do exercício profissional, instiga-nos a considerar a ideia da circularidade
de saberes exercida no cotidiano escolar por diferentes atores. Segundo
Lüdke e Cruz (2005, p. 14), “a ideia de circularidade indica bem essas idas
Rev. Diálogo Educ., Curitiba, v. 14, n. 42, p. 415-434, maio/ago. 2014
430 FELÍCIO, H. M. S.
e vindas, essa circulação entre as duas fontes produtoras de saber, cada
um enriquecendo a seu modo a construção do conhecimento”.
Para Neves (2012), o PIBID, do ponto de vista das escolas públi-
cas participantes, provoca a elevação do desempenho dos alunos. Nesse
sentido, um último reflexo nas escolas parceiras faz referência ao estímu-
lo à perspectiva acadêmica dos alunos das escolas, sobretudo no Ensino
Médio. A relação com os licenciandos possibilita que os alunos percebam
a graduação como possibilidade de continuação de estudos.
Os reflexos do PIBID na definição profissional
Um reflexo identificado diz respeito à mudança de concepção
sobre a profissão docente. Ou seja, percebemos que os licenciandos vão
se afastando de um senso comum que reduz a docência à transmissão
de conteúdos, ao mesmo tempo que se aproximam de uma compreensão
mais epistemológica da docência e de seu papel como ator social.
Essa maneira de conceber a profissão docente se insere no con-
ceito de profissionalidade, definido por Sacristán (1991, p. 65) como “a
afirmação do que é específico na ação docente, isto é, o conjunto de com-
portamentos, conhecimentos, destrezas, atitudes e valores que consti-
tuem a especificidade de ser professor”, devolvendo ao professor o pro-
tagonismo no exercício do magistério.
O segundo reflexo indica o reconhecimento da realidade da es-
cola como experiência formadora. Contudo, muitos licenciandos eviden-
ciam que o PIBID ajuda na opção pela docência, porém, em outro nível,
que não o da Educação Básica, uma vez que as condições de trabalho e
a remuneração daquele professor não se mostram atrativas para que o
licenciando, recém-formado, queira nela permanecer.
Esse reconhecimento da contínua precarização das condições
de trabalho docente, conforme os estudos de Oliveira (2004), contribui
para o sentimento de desprofissionalizaçao e de perda da identidade
Rev. Diálogo Educ., Curitiba, v. 14, n. 42, p. 415-434, maio/ago. 2014
O PIBID como “terceiro espaço” de formação inicial de professores 431
profissional e, consequentemente, ocasiona a falta de estímulo para a es-
colha da docência como atividade profissional.
Existe, por parte dos licenciandos, o reconhecimento de que o
PIBID é um programa fundamental que contribui para a formação do pro-
fessor. Contudo, ressaltam que essa contribuição não se relaciona neces-
sariamente à docência na Educação Básica. O nível universitário está sen-
do almejado pelos licenciandos que experienciam o PIBID, evidenciando
que não basta um programa para incentivar a profissão docente naquele
nível de ensino que precisa ser mais atrativa.
Considerações finais
A partir dessas significações apontadas pelos licenciandos, é
possível fazer algumas reflexões que circunscrevem o PIBID como “tercei-
ro espaço” para a formação de professores.
Primeiro, é preciso indicar o reconhecimento que se tem do
PIBID como uma política pública de formação inicial de professores, fun-
damental nos cursos de licenciaturas. A assertiva deve-se ao fato de que,
na história de formação de professores neste país, não houve uma ação
política que valorizasse a formação de professores com a destinação de
recursos financeiros exclusivos para esse fim.
Em segundo lugar, torna-se necessário reconhecer que o PIBID,
ao propor a articulação entre universidade e escola a partir de uma re-
lação mais igualitária, evidencia algumas fragilidades das licenciaturas,
sobretudo aquelas que dizem respeito à rigidez dos desenhos curricu-
lares que continuam afirmando um modelo de formação marcado pela
polaridade teoria/prática.
Em terceiro lugar, pontuamos ser preciso considerar o PIBID
como um programa de motivação para a docência durante os cursos de li-
cenciaturas. Porém, isso não garante a permanência na docência, no nível
de ensino, alvo do programa, uma vez que muitos dos egressos do PIBID
Rev. Diálogo Educ., Curitiba, v. 14, n. 42, p. 415-434, maio/ago. 2014
432 FELÍCIO, H. M. S.
já estão integrando programas de pós-graduação para exercerem a docên-
cia no Ensino Superior.
Dessa forma, como política pública de formação inicial de pro-
fessores, cabe ao PIBID provocar ações nas políticas de carreira docente
e nas políticas definidoras de condições do trabalho docente, visto que,
apesar de o PIBID ser percebido como um “terceiro espaço” relevante no
processo de consolidação de uma formação docente de qualidade, as di-
versas variáveis construídas historicamente no país, tais como condições
inadequadas de trabalho, desvalorização do exercício docente e do papel
do professor na sociedade, salários pouco atrativos e sobrecarga de traba-
lho, contribuem para que os licenciandos almejem a docência no Ensino
Superior e não na Educação Básica.
Agradecimentos
À CAPES, pelo financiamento do programa PIBID/UNIFAL-MG.
Referências
BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/
CP 009/2001. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores
da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena.
Diário Oficial da União, Brasília, DF, 18 jan. 2002. Seção 1, p. 31.
BRASIL. Decreto n. 7.219, de 24 de junho de 2010. Dispõe sobre o Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID e dá outras providências.
Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 26 jun. 2010. Seção 1, p. 4
CONNELLY, F. M.; CLANDININ, D. J. Relatos de experiencia e investigación nar-
rativa. In: LARROSA, J. et al. Déjame que te cuente: ensayos sobre narrativa y edu-
cación. Barcelona: Editorial Laertes, 1995.
Rev. Diálogo Educ., Curitiba, v. 14, n. 42, p. 415-434, maio/ago. 2014
O PIBID como “terceiro espaço” de formação inicial de professores 433
DAMIANI, M. F. Entendendo o trabalho colaborativo em educação e revelando
seus benefícios. Educar em Revista, n. 31, p. 213-230, 2008.
DIAS DA SILVA, M. H. G. F. Política de formação de professores no Brasil: as
ciladas da reestruturação das licenciaturas. Perspectiva, v. 23, n. 2, p. 381-406,
jul./dez. 2005.
FERREIRA, L.; REALI, A. Aprendendo a ensinar e a ser professor: contribuições e
desafios de um programa de Iniciação a Docência para Professores de Educação
Física. 2005. Trabalho apresentado à 28. Reunião da ANPEd, Caxambu, 2005.
FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 7. ed.
São Paulo: Paz e Terra, 1998.
GARCIA, C. M. Formação de professores: para uma mudança educativa. Porto:
Porto Editora, 1999.
GATTI, B. A. Grupo focal na pesquisa em Ciências Sociais e Humanas. Brasília: Líber
Livro, 2005.
GATTI, B. A. Formação de professores para o Ensino Fundamental: instituições for-
madoras e seus currículos. São Paulo: Fundação Victor Civita, 2010. (Estudos &
Pesquisas Educacionais, 1).
GOMES, C.; FELÍCIO, H. M. S. Caminhos para a docência: O PIBID em foco. São
Leopoldo: Oikos, 2012.
LIBÂNEO, J. C. A aprendizagem escolar e a formação de professores na perspec-
tiva da Psicologia Histórico-cultural e da Teoria da Atividade. Educar em Revista,
n. 24, p. 113-147, 2004.
LÜDKE, M.; CRUZ, G. B. Aproximando a Universidade da Escola Básica pela pes-
quisa. Cadernos de Pesquisa, v. 35, n. 125, p. 81-109, maio/ago. 2005.
NEVES, C. M. C. Relatório de gestão 2009-2011. Brasília: Capes, Diretoria de
Educação Básica Presencial, 2012.
NOVOA, A. Professores: imagens do futuro presente. Lisboa: Educa, 2009.
Rev. Diálogo Educ., Curitiba, v. 14, n. 42, p. 415-434, maio/ago. 2014
434 FELÍCIO, H. M. S.
NÓVOA, A. (Org.). Os professores e a sua formação. 3. ed. Lisboa: Publicações Dom
Quixote, 1997.
OLIVEIRA, D. A. A reestruturação do trabalho docente: precarização e flexibiliza-
ção. Educação e Sociedade, v. 25, n. 89, p. 1127-1144, maio/ago. 2004.
PIMENTA, S. G. (Org.). Saberes pedagógicos e atividade docente. 3. ed. São Paulo:
Cortez, 2002.
SACRISTÁN, J. G. Consciência e acção sobre a prática como libertação profis-
sional dos professores. In: NOVOA, A. (Org.). Profissão professor. Porto: Porto
Editora, 1991.
SANTOS, H. M. O estágio curricular na formação de professores: diversos olhares.
2004. Dissertação (Mestrado em Educação) — Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo, São Paulo, 2004.
SAVIANI, D. Formação de professores: aspectos históricos e teóricos do problema
no contexto brasileiro. Revista Brasileira de Educação, v. 14, n. 40, jan./abr. 2009.
SEVERINO, A. J. Educação, sujeito e história. São Paulo: Olho d’Água, 2002.
ZEICHNER, K. Repensando as conexões entre a formação na universidade e as
experiências de campo na formação de professores em faculdades e universidade.
Educação, v. 35, n. 3, p. 479-504, maio/ago. 2010.
Recebido: 03/02/2013
Received: 02/03/2013
Aprovado: 05/07/2013
Approved: 07/05/2013
Rev. Diálogo Educ., Curitiba, v. 14, n. 42, p. 415-434, maio/ago. 2014
Você também pode gostar
- Postagem - 2 - Peop - Projeto de Trabalho - Aproveitamento de Um Ambiente Não EscolarDocumento11 páginasPostagem - 2 - Peop - Projeto de Trabalho - Aproveitamento de Um Ambiente Não EscolarSaadne Alencar100% (3)
- Sherlock Holmes Consulting DetectiveDocumento3 páginasSherlock Holmes Consulting DetectiveRenato T. GuimaraesAinda não há avaliações
- Aplicando o Primavera Risk Analysis para Gerenciar Riscos de Prazos e Custos de Projetos - Caso de Uma Reforma de ApartamentoDocumento40 páginasAplicando o Primavera Risk Analysis para Gerenciar Riscos de Prazos e Custos de Projetos - Caso de Uma Reforma de ApartamentoSebastião NetoAinda não há avaliações
- Apostila TopografiaDocumento32 páginasApostila Topografiaoperacao22Ainda não há avaliações
- O PIBID Como Terceiro Espaco de Formacao Inicial de Professores 1Documento21 páginasO PIBID Como Terceiro Espaco de Formacao Inicial de Professores 1GuedesAinda não há avaliações
- 1 PBDocumento13 páginas1 PBGEPPEF UFMAAinda não há avaliações
- Stephanie Ce,+português PDFDocumento12 páginasStephanie Ce,+português PDFMônica MoraisAinda não há avaliações
- 2666-Texto Do Artigo-7743-2-10-20191210Documento8 páginas2666-Texto Do Artigo-7743-2-10-20191210katharineAinda não há avaliações
- O Estágio Com Pesquisa: Um Olhar Sobre O Processo Ensinar/AprenderDocumento18 páginasO Estágio Com Pesquisa: Um Olhar Sobre O Processo Ensinar/AprenderLeonardo LuvisonAinda não há avaliações
- 2268 9094 1 PBDocumento14 páginas2268 9094 1 PBmarcioAinda não há avaliações
- JaneRangelAlvesBarbosa GT2 IntegralDocumento13 páginasJaneRangelAlvesBarbosa GT2 IntegralElizandraLimaAinda não há avaliações
- Formação Continuada em Serviço A Contribuição Do Professor Coordenador de Área - Pca, Na Escola de Ensino Médio Do Município de FortalezaDocumento16 páginasFormação Continuada em Serviço A Contribuição Do Professor Coordenador de Área - Pca, Na Escola de Ensino Médio Do Município de FortalezaRosilaine Gonzaga Da SilvaAinda não há avaliações
- 847 1 4176 1 10 20180409Documento23 páginas847 1 4176 1 10 20180409Iasmim AguiarAinda não há avaliações
- ExtensãoDocumento17 páginasExtensãoUBS São SebastiãoAinda não há avaliações
- 89 Fa 0 e 4133164 e 2 A 8 A 27Documento8 páginas89 Fa 0 e 4133164 e 2 A 8 A 27Bia e LíviaAinda não há avaliações
- Diego e Ozana - Simpósio UFACDocumento8 páginasDiego e Ozana - Simpósio UFACDiego CorreiaAinda não há avaliações
- Atividade de Revisão de LiteraturaDocumento4 páginasAtividade de Revisão de LiteraturaWellington MartinsAinda não há avaliações
- O Lugar Da Formação DoDocumento10 páginasO Lugar Da Formação DoSimoneAinda não há avaliações
- Prática de Ensino Vivência No Ambiente Educativo PDFDocumento13 páginasPrática de Ensino Vivência No Ambiente Educativo PDFJessica FontesAinda não há avaliações
- T.1 - Estágio - GESTRADODocumento5 páginasT.1 - Estágio - GESTRADOJeinni Puziol JKAinda não há avaliações
- O Triângulo Da Formação DocenteDocumento16 páginasO Triângulo Da Formação DocenteJenni GuevaraAinda não há avaliações
- ART04Documento19 páginasART04Julianae JorgeAinda não há avaliações
- Trabalho Ev156 MD1 Sa9 Id845 16102021173619Documento11 páginasTrabalho Ev156 MD1 Sa9 Id845 16102021173619mahaduransuco66Ainda não há avaliações
- Projeto UNILAB MESTRADO OFICIAL IIDocumento17 páginasProjeto UNILAB MESTRADO OFICIAL IICris B LealAinda não há avaliações
- Dialogo 7625Documento20 páginasDialogo 7625Euler FernandesAinda não há avaliações
- O Programa de Residência Pedagógica e o Desafio de Sustentação Como Política de Formação de ProfessoresDocumento18 páginasO Programa de Residência Pedagógica e o Desafio de Sustentação Como Política de Formação de ProfessoresGiselly CarvalhoAinda não há avaliações
- Artigo PRPDocumento23 páginasArtigo PRPGisely FrotaAinda não há avaliações
- A Importância Da Formação Continuada Na Prática Docente Dos Professores de História Profe Sueli DonatoDocumento14 páginasA Importância Da Formação Continuada Na Prática Docente Dos Professores de História Profe Sueli DonatoRutemara FlorencioAinda não há avaliações
- A Prática Pedagógica No Ensino A Distância: ResumoDocumento10 páginasA Prática Pedagógica No Ensino A Distância: ResumoBeres SangeAinda não há avaliações
- VEIGA 2014 Formacao Professores para Educacao SuperiorDocumento16 páginasVEIGA 2014 Formacao Professores para Educacao SuperiormachadorvdAinda não há avaliações
- Atividade Reflexiva IDocumento2 páginasAtividade Reflexiva IJose Humberto Ortiz CortezAinda não há avaliações
- A Form Inicial em EFE A Partir Do Programa ResidênciaDocumento15 páginasA Form Inicial em EFE A Partir Do Programa Residêncianicole de oliveira anastacio munizAinda não há avaliações
- Dialnet ExperienciasDocentesNoProgramaInstitucionalDeBolsa 5113475 PDFDocumento12 páginasDialnet ExperienciasDocentesNoProgramaInstitucionalDeBolsa 5113475 PDFJesi LutzAinda não há avaliações
- 42 Produto RafaelDocumento31 páginas42 Produto RafaelVan SilvaAinda não há avaliações
- Ferreira 2010Documento15 páginasFerreira 2010VâniaAinda não há avaliações
- SOCZEK PIBID Formação de Professores FormDoc v3n5 2011Documento13 páginasSOCZEK PIBID Formação de Professores FormDoc v3n5 2011Giuliana CineziAinda não há avaliações
- 2912-Texto Do Artigo-11945-1-10-20201229Documento16 páginas2912-Texto Do Artigo-11945-1-10-20201229RayaneRibeiroAinda não há avaliações
- O Aluno Enquanto Professor: A Influência Do Pibid Na Formação DocenteDocumento11 páginasO Aluno Enquanto Professor: A Influência Do Pibid Na Formação DocenteJoao Paulo Fernandes de Oliveira PereiraAinda não há avaliações
- Relatório Práticas I EaD - 2019.1Documento17 páginasRelatório Práticas I EaD - 2019.1marcellavicente86Ainda não há avaliações
- O Pedagogo Na Educação Profissional RESUMO EXPANDIDO (TEE)Documento13 páginasO Pedagogo Na Educação Profissional RESUMO EXPANDIDO (TEE)Stephanie AzevedoAinda não há avaliações
- Modelos de Professor e Aluno Sustentados em Documentos Oficiais Dos PCNs À BNCCDocumento27 páginasModelos de Professor e Aluno Sustentados em Documentos Oficiais Dos PCNs À BNCCMaristela MesquitaAinda não há avaliações
- Resumo EspandidoDocumento8 páginasResumo EspandidoJulio Cesar LobtchenkoAinda não há avaliações
- PDF Sobre Estagio PDFDocumento14 páginasPDF Sobre Estagio PDFmarcia cristinaAinda não há avaliações
- Relatório 21 01 2022Documento51 páginasRelatório 21 01 2022Priscila BitobrovecAinda não há avaliações
- Rufino Souza Neto (023) Fortalecimento Da Relacao IES Escola e o Trabalho Coletivo em EFDocumento22 páginasRufino Souza Neto (023) Fortalecimento Da Relacao IES Escola e o Trabalho Coletivo em EFroraimaacfAinda não há avaliações
- Integração de Estudo Da Localidade No EnsinoDocumento16 páginasIntegração de Estudo Da Localidade No EnsinogersoneunimAinda não há avaliações
- CONTRIBUIÇÕES DE PAULO FREIRE PARA O DEBATE SOBRE A FO RMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES.p FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORESDocumento8 páginasCONTRIBUIÇÕES DE PAULO FREIRE PARA O DEBATE SOBRE A FO RMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES.p FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORESKleison Libarino de AmorimAinda não há avaliações
- UntitledDocumento16 páginasUntitledPaulo GomesAinda não há avaliações
- Reflexão Sobre o Papel Da Matemática No Processo de Formação de Professores Do Ensino Primário em Moçambique, Modelo 10+3 .Documento12 páginasReflexão Sobre o Papel Da Matemática No Processo de Formação de Professores Do Ensino Primário em Moçambique, Modelo 10+3 .Elidio Gilberto L. NatingueAinda não há avaliações
- 31595-Texto Do Artigo-126181-1-10-20200813Documento15 páginas31595-Texto Do Artigo-126181-1-10-20200813silva nhauleAinda não há avaliações
- Pôster - Edu Fora Da Caixa - Rosimeri Jorge e Jilvania BazzoDocumento1 páginaPôster - Edu Fora Da Caixa - Rosimeri Jorge e Jilvania BazzoRosimeri Jorge da silvaAinda não há avaliações
- Trabalho - Completo - Fromação e InclusaoDocumento11 páginasTrabalho - Completo - Fromação e InclusaoTatiana Cristina VasconcelosAinda não há avaliações
- Trabalho Comunicacao Oral Idinscrito 1071Documento11 páginasTrabalho Comunicacao Oral Idinscrito 1071Carlos Eduardo F. MardiniAinda não há avaliações
- Saberes e Fazeres Docente Na Educação Infantil e As Contribuições Do Pibid de Pedagogia Da UFAL-Campus Do SertãoDocumento16 páginasSaberes e Fazeres Docente Na Educação Infantil e As Contribuições Do Pibid de Pedagogia Da UFAL-Campus Do SertãoleticiaAinda não há avaliações
- Artigo Estágio de Docência Nos Cursos de Licenciatura - Construindo Saberes Pela PráticaDocumento9 páginasArtigo Estágio de Docência Nos Cursos de Licenciatura - Construindo Saberes Pela PráticaPatricia Maia SchmidtAinda não há avaliações
- Artigo - Estágio e Residência Pedagógica Ed. InfantilDocumento25 páginasArtigo - Estágio e Residência Pedagógica Ed. InfantilIFÁC EDUCACIONALAinda não há avaliações
- Desafios Da Prática DocenteDocumento5 páginasDesafios Da Prática DocenteRanieri NevesAinda não há avaliações
- Artigo CICTED 2023 IdentificadoDocumento14 páginasArtigo CICTED 2023 IdentificadoMayra Pereira SilvaAinda não há avaliações
- EstágioDocumento12 páginasEstágioSleeper GuyAinda não há avaliações
- Artigo+2022 45 29693Documento7 páginasArtigo+2022 45 29693jonaspres146Ainda não há avaliações
- Projeto Integrador de Competencias em Pedagogia IDocumento3 páginasProjeto Integrador de Competencias em Pedagogia Iescola.147290.secretariaAinda não há avaliações
- Artigo 1 AlbaDocumento18 páginasArtigo 1 AlbaLilian Moreira CruzAinda não há avaliações
- Formação continuada de docentes: Experiências e aprendizagensNo EverandFormação continuada de docentes: Experiências e aprendizagensAinda não há avaliações
- Constituição da subjetividade docente: reflexões e contribuições do Estágio SupervisionadoNo EverandConstituição da subjetividade docente: reflexões e contribuições do Estágio SupervisionadoAinda não há avaliações
- Conto Dona Cotinha, Tom e o Gato JogaDocumento8 páginasConto Dona Cotinha, Tom e o Gato JogaVERONICA FARFUSAinda não há avaliações
- Roteiro 21 - Pulsos Frequencia e Comprimento de Onda Num Meio Liquido PDFDocumento3 páginasRoteiro 21 - Pulsos Frequencia e Comprimento de Onda Num Meio Liquido PDFFernando AraújoAinda não há avaliações
- Plano Analitico Teorias de Desenvolvimento ComunitarioDocumento8 páginasPlano Analitico Teorias de Desenvolvimento Comunitariovanessa walters100% (2)
- Relatório de Estágio Ed. FísicaDocumento9 páginasRelatório de Estágio Ed. FísicaCia AcadêmicaAinda não há avaliações
- 3 Avaliação de Mecanização Agrícola - Pulverização AgrícolaDocumento3 páginas3 Avaliação de Mecanização Agrícola - Pulverização AgrícolaFabio José Das Dores0% (2)
- Reiki III Senac Dani Rocha 2022 Parte II-1Documento51 páginasReiki III Senac Dani Rocha 2022 Parte II-1Vivian OliveiraAinda não há avaliações
- Prova 8° ANO - Sangue e Circulação Sanguínea.Documento4 páginasProva 8° ANO - Sangue e Circulação Sanguínea.Thainá PortoAinda não há avaliações
- 4 Ano Caderno de Fluência EPVDocumento29 páginas4 Ano Caderno de Fluência EPVSergio Belo da Silva100% (2)
- Pedologia - Base - para - Distinção - 6°EdRIDocumento78 páginasPedologia - Base - para - Distinção - 6°EdRILuciana Pinho100% (1)
- Modelo Mapa RespostasDocumento2 páginasModelo Mapa RespostasBea Sales RiibeiiroAinda não há avaliações
- Guia Da Sociedade Civil para Incidência No Processo de Acessão À OCDEDocumento5 páginasGuia Da Sociedade Civil para Incidência No Processo de Acessão À OCDEFIDHAinda não há avaliações
- Codigo de Conduta CGDDocumento28 páginasCodigo de Conduta CGDtic100% (1)
- Exercicios-Complementares-8º ANODocumento10 páginasExercicios-Complementares-8º ANOkvitorzinAinda não há avaliações
- OLIMPIADAS MATEMÁTICA - 1º Ciclo PDFDocumento4 páginasOLIMPIADAS MATEMÁTICA - 1º Ciclo PDFEl MarinaAinda não há avaliações
- Geometria PlanaDocumento5 páginasGeometria PlanaMarcilio LopesAinda não há avaliações
- Resolução 810 de 2020Documento19 páginasResolução 810 de 2020Engenheiro Rafael ZaparoliAinda não há avaliações
- Inclusão No Ensino Da FisicaDocumento16 páginasInclusão No Ensino Da FisicafredericorodovalhoAinda não há avaliações
- Pequenas Empresas & Grandes Negócios (Janeiro 2020) PDFDocumento94 páginasPequenas Empresas & Grandes Negócios (Janeiro 2020) PDFwillpucAinda não há avaliações
- 7o Ano - Exercício - Numeros Positivos e Negativos - Modelo NovoDocumento3 páginas7o Ano - Exercício - Numeros Positivos e Negativos - Modelo NovoAndreza Marques100% (1)
- Cabo de Aluminio Com Alma de Aco CAA WebDocumento11 páginasCabo de Aluminio Com Alma de Aco CAA WebDeryck AzeredoAinda não há avaliações
- bc61 Manual Aerografo SteulaDocumento1 páginabc61 Manual Aerografo SteulaAlan ZrmAinda não há avaliações
- Estação TotalDocumento2 páginasEstação Totaldomingos juniorAinda não há avaliações
- Roteiro de Estudo: Proteínas, Enzimas e Função Renal.Documento10 páginasRoteiro de Estudo: Proteínas, Enzimas e Função Renal.Jessica TrindadeAinda não há avaliações
- CV Erick Távora Arquiteto AcadêmicoDocumento1 páginaCV Erick Távora Arquiteto AcadêmicoDaniel Alves PereiraAinda não há avaliações
- Oferecimentos EsportesDocumento102 páginasOferecimentos EsportesRafael Francisco Batista100% (2)
- Microhm 100Documento2 páginasMicrohm 100Jorge GoyAinda não há avaliações