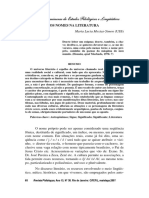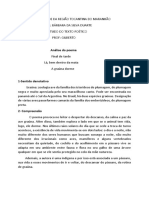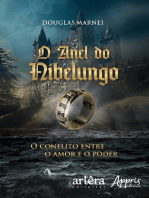Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
12407-Texto Do Artigo-44552-1-10-20160720
12407-Texto Do Artigo-44552-1-10-20160720
Enviado por
Mateus ParreirasTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
12407-Texto Do Artigo-44552-1-10-20160720
12407-Texto Do Artigo-44552-1-10-20160720
Enviado por
Mateus ParreirasDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Maria Célia de Moraes Leonel
IMAGENS DE ANIMAIS NO
SERTÃO ROSIANO
Maria Célia de Moraes Leonel*
RESUMO
N a composição do sertão rosiano, os animais são presença constan-
te. Embora, de todas as imagens, as dos animais sejam as mais co-
muns, em Grande sertão: veredas, chama a atenção não apenas o gran-
de número de vezes em que eles aparecem, como as peculiaridades que
revestem tal freqüência. O levantamento das ocorrências mais signifi-
cativas da presença animal no texto, quer como tema quer como figura,
e a análise da maneira como elas se dão mostram que o imaginário do
sertão relativo a esse aspecto resulta da combinação de imagens tidas
como universais e imagens particulares.
Palavras-chave: Guimarães Rosa; Grande sertão: veredas; Sertão; Ani-
mais; Imagem.
E
ste exame do modo como determinados animais são considerados na cons-
trução do imaginário de Grande sertão: veredas dá continuidade a estudo
anteriormente realizado sobre a presença deles na produção rosiana (Leo-
nel, 2000b). No trabalho mencionado, analisou-se o aparecimento de animais como
um tema reiterado.
Contribuiu para a efetivação de tal estudo, além da recorrência dos animais
nos textos do escritor, o fato de comporem, já em Magma (1997), um dos temas cen-
trais dos poemas. Nessa coletânea de poesia de principiante, há o que chamamos de
primeiro bestiário rosiano: um certo número de poemas em que os animais não são
figurativizações de maneiras de ser do homem, mas representam-se a si mesmos, são
o fulcro temático. Ludicamente, descrevem-se componentes físicos e movimentos de
animais como o cágado, o caranguejo, a rã, a aranha, a libélula, a vanessa tropical, etc.
*
Universidade Estadual Paulista/Araraquara.
286 SCRIPTA, Belo Horizonte, v. 5, n. 10, p. 286-298, 1º sem. 2002
IMAGENS DE ANIMAIS NO SERTÃO ROSIANO
A reiteração da presença animal em Guimarães Rosa pode ter relação com
o que diz Durand (1997, p. 69): “De todas as imagens, com efeito, são as imagens
animais as mais freqüentes e comuns”. Porém, isso não explica a importância dessa
presença, pois, na obra rosiana, os animais não constituem apenas imagem, são tema
e, em geral, empaticamente tratados, da mesma forma que são louvados nas poucas
entrevistas que o autor concedeu.
Vale lembrar que a empatia não se inicia em Magma. Antes desse volume
apresentado à Academia Brasileira de Letras em 1936, Guimarães Rosa publicou,
como se sabe, contos esparsos em periódicos. Num deles, denominado “Caçadores
de camurças” (1930), a maneira como o animal se apresenta indica já essa visão po-
sitiva. Muito longe do sertão do romance de 1956, no cantão suíço de Grisões, de-
frontam-se os dois mais hábeis caçadores na busca da camurça quase lendária, troféu
exigido pela jovem, que ambos disputam, para conceder a mão em casamento.
Era uma fêmea, excepcionalmente corpulenta, com o lado direito do corpo mar-
chetado de branco, que conduzia a sua tropilha pelas trilhas mais altas dos pe-
nhascos, burlando todas as emboscadas, desafiando os mais pacientes e astuciosos
caçadores, que a batizaram Blitz, o relâmpago. (Rosa, 1930, p. 9)
Ela é caçada nas cristas das montanhas, “só acessíveis às patas ligeiras da
camurça, às asas da águia, e à doida coragem dos heróis!” (Rosa, 1930, p. 11). Identi-
ficam-se no heroísmo o protagonista e a cabrita montês. Contudo, se a camurça e o
caçador têm a mesma habilidade e igual coragem, ela é vítima indefesa da insânia do
homem.
Em Grande sertão: veredas, interessa-nos averiguar de que modo se cons-
trói o imaginário centrado nos animais e de que maneira ele se insere no imaginário
mais amplo do sertão. A concepção de imaginário aqui adotada é ampla. De um
lado, comporta o simbólico, isto é, o objeto associado a arquétipos ou “remetido para
um sistema de valores subjacente – histórico ou ideal” (Le Goff, 1994, p. 12). De
outro lado, comporta imagens, repetidas ou não, que não constituem símbolos.
Essa amplitude deriva do fato de o imaginário ser visto como resultado da
conjunção desses dois tipos de imagens – aquelas cujo significado é tido como uni-
versal e aquelas de sentido particular, específico – todas dando forma ao sertão rosiano.
Para tratar das imagens que, em Grande sertão: veredas, constituem sím-
bolo, tomamos, em especial, propostas de Durand (1997), que estuda os símbolos como
arquétipos da imaginação, partindo do pressuposto de que o pensamento repousa
em imagens gerais arquetípicas – “esquemas ou potencialidades funcionais” – que
“determinam inconscientemente o pensamento”. A intenção do antropólogo é, aci-
ma de tudo, buscar o que há de universal no imaginário. Assim, ele (Durand, 1997,
p. 41) afirma centrar sua visão de imaginário na troca permanente entre as “pulsões
SCRIPTA, Belo Horizonte, v. 5, n. 10, p. 286-298, 1º sem. 2002 287
Maria Célia de Moraes Leonel
subjetivas” e as “intimações” “do meio cósmico e social”. Todavia, o primeiro ele-
mento dessa composição – as “pulsões subjetivas” – tende a diminuir em de seu texto.
Em conseqüência desse ponto de vista, Durand (1997, p. 70) assegura que
a “orientação teriomórfica da imaginação forma uma camada profunda, que a expe-
riência nunca poderá contradizer, de tal modo o imaginário é refratário ao desmen-
tido experimental”. Dessa forma, mesmo contrariando a informação da biologia, pen-
samos sempre que a serpente “pica”. O animal pode agregar valorizações negativas
(répteis, ratos, pássaros noturnos) ou positivas (pomba, cordeiro, animais domésti-
cos), mas a hipótese de que o simbolismo de um animal possa ser ora negativo ora
positivo não parece ser muito relevante para o autor. Um elemento pode ser duplo –
por exemplo, a água pode ser clara ou escura – e cada modo de ser tem sua represen-
tação, mas não se levanta a possibilidade de a água clara conter dois simbolismos,
um eufórico e um disfórico.
No que se refere aos animais, Durand (1997, p. 73) baseia-se na noção de
que “O resumo abstrato espontâneo do animal, tal como ele se apresenta à imagina-
ção sem as derivações e as especializações secundárias, é constituído por um verda-
deiro esquema: o esquema do animado”. Nesse esquema, a movimentação – o fervi-
lhar da formiga, do gafanhoto, de todo inseto, ou a animação da rã, da serpente, do
rato – é vista como negativa, disfórica. “O esquema da animação acelerada que é a agi-
tação formigante, fervilhante ou caótica parece ser uma projeção assimiladora da an-
gústia diante da mudança, e a adaptação animal não faz mais, com a fuga, que com-
pensar uma mudança brusca por uma outra mudança brusca”. (Durand, 1997, p. 70)
Em Grande sertão: veredas, examinamos a animação relativa a insetos voa-
dores. No julgamento de Zé Bebelo, os homens mantêm-se quietos, apesar do “puro
lorotal” do prisioneiro, pois Joca Ramiro impõe respeito. Entretanto, “O que fosse,
eles podiam referver em imediatidade, o banguelê, num zunir: que vespassem. Estavam
escutando sem entender, estavam ouvindo missa”. (Rosa, 1974, p. 198-199; grifo meu)
Evidencia-se que as vespas remetem para o animado e negativo de que fala
Durand e o mesmo dá-se com a abelha. No É-Já, quando os jagunços esperam an-
siosamente notícias acerca do desdobrar da guerra, elas vêm da seguinte maneira:
“ – ‘(...). Titão Passos pegou trinta e tantos deles, num bom combate, no esporão da
serra...’. Os bebelos se desabelhavam zuretas, debaixo de fatos machos e zúo de balas.
A tanto, a gente em festa se alegrava” (Rosa, 1974, p. 188; grifo meu). O arguto neo-
logismo rosiano simboliza o caos gerado entre os comandados de Zé Bebelo.
Na outra ponta do romance, no Paredão, os cangaceiros esperam de tocaia o
ataque dos judas, e Riobaldo, agora o chefe Urutu Branco, vai tomar banho no rio. Pe-
go desprevenido com a chegada dos hermógenes, conforme narra na madurez, vê “o
mundo fantasmo. A minha gente – bramando e avisando, e descarregando: e também
se desabalando de lá, xamenxame de abelhas bravas”. (Rosa, 1974, p. 438; grifo meu)
288 SCRIPTA, Belo Horizonte, v. 5, n. 10, p. 286-298, 1º sem. 2002
IMAGENS DE ANIMAIS NO SERTÃO ROSIANO
Nos três casos, verificamos a identidade da motivação simbólica: a anima-
ção dos insetos como símbolo do caos, da disforia, de que nos fala Durand. O que
chama a atenção é o emprego da abelha para indicar tal circunstância. Esse inseto,
tomado em grupo, tem seu simbolismo fundado na organização, na disciplina. Na
Caldéia, no Egito, na França imperial, ele é visto como tendo origem solar e, entre os
hebreus, é símbolo solar da sabedoria, da ordem e significa a realeza (Chevalier &
Gheerbrant, 1973). Tendo representação em todas as tradições, vista positivamente,
com raríssimas exceções, a abelha simboliza, além do que foi mencionado, a prospe-
ridade, o trabalho laborioso e eficaz, o princípio vital, a prudência, o verbo, a inteli-
gência. (Ronecker, 1997, p. 183-185)
É nessa direção que tomamos uma cena de Grande sertão: veredas, vincu-
lada a episódio, como o citado por último, posterior à morte de Joca Ramiro, mas
próximo dela. Os cangaceiros, sob a liderança de Medeiro Vaz, iniciam a travessia
fracassada do liso do Sussuarão para, nas palavras desse chefe, “cutucar de guerrear
nos fundões da Bahia”, pegando os judas de surpresa. A jagunçama festeja essa deci-
são e o início do caminho é vencido com alegria. Riobaldo vê os companheiros como
só ele pode fazer, por estar distante e num plano mais alto:
Eu estava de sentinela, afastado um quarto-de-légua, num alto retuso. Dali eu via
aquele movimento: os homens, enxergados tamanhinho de meninos, numa ale-
gria, feito nuvem de abelhas em flor de araçá, esse alvoroço, como tirando roupa e
correndo para aproveitarem de se banhar no redondo azul da lagoa, de donde fu-
giam espantados todos os pássaros – as garças, os jaburús, os marrecos, e uns ban-
dos de patos-pretos. Semelhava que por saberem que no outro dia principiava o
peso da vida, os companheiros agora queriam só pular, rir e gozar seu exato. (Rosa,
1974, p. 38; grifo meu)
Com a angústia do desconhecido reprimida, como anuncia o narrador, o
movimento da nuvem formada pelas abelhas-jagunços agora é de alegria, não de
caos. Assim, embora não haja um vínculo específico entre essa imagem e as repre-
sentações citadas – organização, prudência etc – trata-se, ao contrário do que supõe
Durand, de uma simbolização positiva.
Contudo, a abelha do sertão rosiano é contemplada com outra representa-
ção, ou melhor, com duas representações. Trata-se de episódio em que, novamente,
Riobaldo e companheiros correm perigo. Com a morte de Medeiro Vaz, o novo che-
fe, Marcelino Pampa, de “talentos minguados”, está indeciso acerca do caminho a
tomar na luta contra os judas, acampados a apenas quinze léguas do local onde o
grupo estava. Anuncia-se a salvação: um homem, chamado de Deputado por seus
cinco subordinados, havia posto para correr “mais duns trinta”. O narrador esclare-
ce: “aquele homem: era Zé Bebelo. E, na noite, ninguém não dormiu direito, em
nosso acampo. De manhã, com uma braça de sol, ele chegou. Dia da abelha branca”
SCRIPTA, Belo Horizonte, v. 5, n. 10, p. 286-298, 1º sem. 2002 289
Maria Célia de Moraes Leonel
(Rosa, 1974, p. 68; grifo meu). A abelha significa a sorte que advém inesperadamen-
te, como considera também Leonardo Arroyo (1984, p. 123); além disso, ela vem
com o sol. Há, portanto, duas representações eufóricas: uma, de símbolo solar, que
pode vincular-se à “sabedoria” de Zé Bebelo; outra, não-simbólica – da sorte – ima-
gem não mencionada nas tradições mais conhecidas. Assim, a abelha é, no sertão de
Guimarães Rosa, ora disfórica, ora eufórica; simboliza o caos, o sol e é também ima-
gem particular da alegria e da sorte.
Todavia, não é apenas na movimentação que Durand supõe representação
negativa. Do cavalo, toma, principalmente, a imagem da “cavalgada fúnebre ou in-
fernal”, indicadora da fuga e da passagem do tempo:
Só o que os poetas fazem é reencontrar o grande símbolo do cavalo infernal tal
como aparece em inumeráveis mitos e lendas, em ligação quer com constelações
aquáticas, quer com o trovão ou com os infernos, antes de ser anexado pelos mitos
solares. Mas essas quatro constelações, mesmo a solar, são solidárias de um mes-
mo tema afetivo: o medo diante da fuga do tempo simbolizada pela mudança e
pelo ruído. (Durand, 1997, p. 75)
Esse modo de ver repete-se em compilações de símbolos (Chevalier & Ghe-
erbrant, 1973; Ronecker, 1997, p. 300), e a associação entre cavalo e trevas do mundo
ctônico parece ancorada na memória de todos os povos. Ele pode ser associado ao
diabo como os cavalos-demônios da Escócia ou do folclore bretão. Aliás, o cavalo
tem tal multiplicidade de representações que só a serpente o ultrapassa em variedade
no bestiário simbólico.
Em Grande sertão: veredas, temos a retomada desse modo de ver os cava-
los. Hermógenes, sabidamente identificado com o demo, com freqüência associado
ao cão, também toma a forma mista e, nela, o cavalo está presente: “Como era o
Hermógenes? Como vou dizer ao senhor...? Bem, em bró de fantasia: ele grosso
misturado – dum cavalo e duma jibóia... Ou um cachorro grande”. (Rosa, 1974, p. 159;
grifo meu)
Logo nas primeiras páginas do romance, o leitor depara-se com a incerteza
que levou o protagonista a narrar a história de sua vida – a existência ou não do
demônio e, conseqüentemente, a realização do pacto ou não. Tal indagação é o su-
porte mais importante para o tema central da obra, que é a reflexão sobre as relações
do homem com o Bem e o Mal, de que derivam os demais temas, incluindo-se os de
ordem social.
Nesse início, o narrador relaciona nomes de vítimas de endemoninhamen-
to – “Rincha-Mãe, Sangue-d’Outro, (...) o Hermógenes...” – e acrescenta: “Se eu
pudesse esquecer tantos nomes... Não sou amansador de cavalos!” (Rosa, 1974, p. 11;
grifo meu). No trecho, o diabo – que, no momento, o protagonista não vê possibili-
dade de vencer – é identificado com cavalos.
290 SCRIPTA, Belo Horizonte, v. 5, n. 10, p. 286-298, 1º sem. 2002
IMAGENS DE ANIMAIS NO SERTÃO ROSIANO
No entanto, em meio a novos questionamentos sobre a existência ou não
do demônio, relata-nos o narrador que – já chefe e possível pactário, no meio da
guerra, que estava vencendo – tem medo de si próprio. E se pergunta: “— ‘Você é o
rei-dos-homens?...’. Falei e ri. Rinchei feito um cavalão bravo. Ventava em todas as ár-
vores. Mas meus olhos viam só o alto tremer da poeira. E mais não digo; chus! Nem
o senhor, nem eu, ninguém não sabe” (Rosa, 1974, p. 108; grifo meu). O protagonis-
ta não sabe se o demo existe, mas o símile para ele é o cavalão, acompanhado do
vento e da poeira alta.
Logo depois do pacto, ou do que pode ter sido o pacto – dúvida que, resu-
mida em “O diabo existe e não existe?” (Rosa, 1974, p. 11), é, com a ambigüidade de
Diadorim, a representação de tudo quanto, no romance e na vida, é e não é – Riobal-
do faz toda sorte de loucuras. Os cavalos vêem nele a proximidade do diabo: “Aí
porque a cavalaria me viu chegar, e se estrepoliu. O que é que cavalo sabe? Uns deles
rinchavam de medo (...)” (Rosa, 1974, p. 325). Com “uma raiva tão repentina”, o
protagonista pula no meio deles e grita “— ‘Barzabu! Aquieta, cambada!’ (...)”. Um
deles, em que Riobaldo pôs a mão, “emagreceu à vista, encurtando e baixando a
cabeça, arrufava a crina, conforme terminou o bufo de bufor”. Em seguida, chega
seô Habão,
E o animal dele, o gateado formoso, deu que veio se esbarrar ante mim. Foi o seô
Habão saltando em apeio, e ele se empinou: de dobrar os jarretes e o rabo no chão;
o cabresto, solto da mão do dono, chicoteou alto no ar. — “Barzabu!” – xinguei. E
o cavalão, lão, lão, pôs pernas para adiante e o corpo para trás, como onça fêmea no
cio mor. Me obedecia. Isto, juro ao senhor: é fato de verdade. (Rosa, 1974, p. 325)
Riobaldo ganha o cavalo, que não recebe o nome de Barzabu, mas passa a
ser “o cavalo Siruiz”. E “Só por causa daquele cavalo, até, eu fui ficando mais e mais,
enfrentava”. Em seguida, afronta Zé Bebelo, que era o chefe, não lhe oferecendo o
animal.
Qual o simbolismo aí implícito? Quem os cavalos temem e a quem obede-
cem? Para Cavalcanti Proença (1959, p. 170), não houve pacto: o capeta não apare-
ceu, “porque Deus estava com o guerreiro”. Os cavalos percebem que Riobaldo é
sobrenatural, pois “conserva o cheiro de quem o diabo farejou”, e o jagunço domina
o cavalão gateado ao dizer-lhe o nome – Barzabu. “E porque havia adquirido ascen-
dência sobre o diabo, porque deixara de temê-lo, indo enfrentá-lo altas horas na
encruzilhada, o cavalo se submete, aceita que o dono lhe mude o nome para Siruiz,
manso, doce nome do poeta da neblina” (1959, p. 170). O que importa, para nosso
estudo, é que, no episódio, os cavalos são vinculados ao diabo.
Até aqui, vimos a representação disfórica do cavalo. Todavia, há o outro
lado: o cavalo branco, imagem da beleza e da majestade. No Apocalipse, é montado
SCRIPTA, Belo Horizonte, v. 5, n. 10, p. 286-298, 1º sem. 2002 291
Maria Célia de Moraes Leonel
por aquele que é qualificado como fiel e verdadeiro, isto é, Cristo. Indica a ascensão,
é a montaria dos heróis, dos santos, dos conquistadores espirituais, das grandes figu-
ras messiânicas. (Chevalier & Gheerbrant, 1973)
Entre os traços levantados por Cavalcanti Proença (1959, p. 165) para clas-
sificar Grande sertão: veredas como epopéia, está a associação entre a figura de Ro-
lando e a de Joca Ramiro, “montado em cavalo branco feito um São Jorge”. A chega-
da desse chefe, acompanhado de uns duzentos “manos-velhos”, é um acontecimen-
to para todos, em especial para Riobaldo, que só o vira antes na fazenda de Selorico
Mendes:
E Joca Ramiro. A figura dele. Era ele, num cavalo branco – cavalo que me olha de
todos os altos. Numa sela bordada, de Jequié, em lavores de preto-e-branco. As
rédeas bonitas, grossas, não sei de que trançado. (...) Como é que vou dizer ao
senhor? Os cabelos pretos, anelados? O chapéu bonito? Ele era um homem. (Rosa,
1974, p. 189-190)
O narrador insiste nesse ponto: “Montado no cavalo branco, Joca Ramiro
deu uma despedida” (Rosa, 1974, p. 191). Depois do julgamento, o maior de todos os
chefes vai-se “em seu cavalão branco, ginete – ladeado por Sô Candelário e o Ricar-
dão, igual iguais galopavam”. (Rosa, 1974, p. 217)
No entanto, é interessante verificar também que o conjunto de cavalos cons-
titui um sentido dentro da obra, um valor positivo, que não está consignado nas
representações simbólicas desse animal. Na narrativa da madrugada em que, na fa-
zenda São Gregório, o protagonista é enviado por Selorico Mendes para guiar os
cangaceiros até o esconderijo, temos:
Aí mês de maio, falei, com a estrela-d’alva. O orvalho pripingando, baciadas. E os
grilos no chirilim. De repente, de certa distância, enchia espaço aquela massa for-
te, antes de poder ver eu já pressentia. Um estado de cavalos. Os cavaleiros. Ne-
nhum não tinha desapeado. E deviam de ser perto duns cem. Respirei: a gente sor-
via o bafejo – o cheiro de crinas e rabos sacudidos, o pêlo deles, de suor velho, semeado
das poeiras do sertão. (...) Eu não sentia os homens, sabia só dos cavalos. Mas os cavalos
mantidos, montados. É diferente. Grandeúdo. (Rosa, 1974, p. 92; grifo meu)
Essa é uma imagem que permanece, que passa a fazer parte das lembran-
ças importantes da vida do jagunço e futuro fazendeiro Riobaldo, e reitera-se no ro-
mance. Numa retomada dos acontecimentos e das pessoas que povoaram sua exis-
tência, reflete: “Os dias que são passados vão indo em fila para o sertão. Voltam, como
os cavalos: os cavaleiros na madrugada – como os cavalos se arraçoam. O senhor se
alembra da canção de Siruiz?”. (Rosa, 1974, p. 236; grifo meu)
Essa cena, em que, pela primeira vez, o jovem depara-se com os cangacei-
ros, não parece relacionar-se com a simbologia da cavalaria medieval no Ocidente –
292 SCRIPTA, Belo Horizonte, v. 5, n. 10, p. 286-298, 1º sem. 2002
IMAGENS DE ANIMAIS NO SERTÃO ROSIANO
que se associa à montaria privilegiada da busca espiritual (Chevalier & Gheerbrant,
1973) – porque o valor parece estar apenas na presença sensível dos cavalos.
Na fazenda dos Tucanos – com Riobaldo, sob a chefia de Zé Bebelo, so-
frendo com o ferimento no braço – dá-se a terrível matança dos cavalos. Antes dela,
convidam-no a pegar a cavalhada; meio perrengue, ele não quer se levantar, mas a
cena dos cavalos naquela madrugada anima-o:
Até que escutei assoviação e gritos, tropear de cavalaria. “Ah, os cavalos na madru-
gada, os cavalos!...” – de repente me lembrei, antiquíssimo, aquilo eu carecia de
rever. (...) Os cavalos enchiam o curralão, prazentes. Respirar é que era bom, tomar
todos os cheiros. Respirar a alma daqueles campos e lugares. (Rosa, 1974, p. 246)
A repetição desse quadro, em tal oportunidade, de um lado, remete para o
que ficou fixado na memória: o primeiro encontro com os cangaceiros e o segundo
com Diadorim. De outro lado, a cena antecipa a dolorosa matança dos cavalos, nar-
rada algumas páginas depois.
Nelas, face ao horror que todos vivem, sobressai o Fafafa, cujo nome lem-
bra alfafa, o jagunço “que estimava irmãmente os cavalos, deles tudo entendia, mes-
tre em para salvá-los, porém, os companheiros impedem que isso aconteça. Quando
os judas começam a atirar nos animais, para que o sofrimento deles tenha fim, todos
davam graças a Deus, “Mas o Fafafa nem nada não disse, não conseguia: o quanto
pôde, se assentou no chão, com as duas mãos apertando os lados da cara, e cheio
chorou, feito criança – com todo o nosso respeito, com a valentia ele agora se chora-
va”. (Rosa, 1974, p. 260)
Essa personagem, de tal maneira identificada com os cavalos, revela de modo
extremado uma imagem recorrente em Grande sertão: veredas, que não diz respeito
ao animal apenas, mas ao conjunto, cavalo e homem e que, como vimos, não se
vincula ao heroísmo do cavaleiro, mas à valorização sensível do animal.
Narrando um tiroteio, em que o “cerrado estrondava”, balas cravando-se
na sela, Riobaldo revela: “Cavalo estremece em pró, em meio de galope, sei: pensa no
dono” (Rosa, 1974, p. 18; grifo meu). Quarenta páginas adiante, identifica sua rela-
ção afetiva com Diadorim com a do cavalo pelo dono: “E, aí, a saudade de Diadorim
voltou em mim, depois de tanto tempo, me custando seiscentos já andava, acoroço-
ado, de afogo de chegar, chegar, e perto estar. Cavalo que ama o dono, até respira do
mesmo jeito”. (Rosa, 1974, p. 58; grifo meu)
Do mesmo modo, o narrador fazendeiro, falando ao interlocutor anônimo
sobre vaqueiros, lembra os “do Brejo-Verde e do Córrego do Quebra-Quinaus: cava-
lo deles conversa cochicho – que se diz – para dar sisado conselho ao cavaleiro, quando
não tem mais ninguém perto, capaz de escutar. Creio e não creio”. (Rosa, 1974, p. 27;
grifo meu)
SCRIPTA, Belo Horizonte, v. 5, n. 10, p. 286-298, 1º sem. 2002 293
Maria Célia de Moraes Leonel
Retomando as representações examinadas, vemos que o cavalo é vinculado
ao demo, contudo, é também objeto de afeto ou é identificado com o que o homem
pode ter de positivo, de solidário, imagem do romance que, certamente, repete-se na
cultura de muitos povos, mas não está consignada entre os arquétipos.
Como não poderia deixar de ser, o cavalo é muito presente em Grande ser-
tão: veredas, porém, os pássaros são também bastante recorrentes, talvez mais que
outros tipos de animal. O simbolismo da ave provém do vôo e, por isso, ela é associa-
da ao mundo celeste, aos estados espirituais, aos anjos. (Chevalier & Gheerbrant, 1973)
Para examinar o simbolismo do vôo, da asa, retomamos Durand (1994, p.
123), que trata dos elementos ascensionais, vinculando-os ao arquétipo da luz urani-
ana, do sol, e ainda aos associados à arma transcendente – a flecha, a espada, o pu-
nhal. São positivamente valorizados, uma vez que se relacionam à fuga diante do
tempo e à vitória sobre o destino e a morte.
Quanto à simbologia da ascensão, é visto como natural que os “esquemas
axiomáticos da verticalização sensibilizem e valorizem positivamente todas as repre-
sentações da verticalidade” (Durand, 1973, p. 127). Entre os símbolos da elevação
estão a escada de Jacó, a montanha sagrada, os altares elevados, mas o “instrumento
ascencional por excelência é, de fato, a asa”. Assim, a vontade de elevação tem como
mensageiro a águia romana ou o corvo germano-celta.
Além disso, “Um notável isomorfismo une universalmente a ascensão à
luz”, diz Durand (1994, p. 146), isomorfismo que é reconhecido na maior parte das
religiões. Portanto, pássaros ligam-se à ascensão, e ela, à luz, ao sol.
O sertão rosiano confunde-se com a altura, com os pássaros, com a luz
solar e o narrador insiste nisso. A imagem de pássaros iluminados pela luz do sol
acompanha os cangaceiros, quando tentam a primeira travessia do liso do Sussua-
rão. Trata-se de elevada e heróica empreitada – ultrapassar o deserto para vencer os
judas – que o grupo de Riobaldo aceita com “um rebuliço de festejo”. É, portanto,
em atmosfera de alegria, que “De manhãzim – moal de aves e pássaros em revôo, e pios
e cantos – a gente toda discorria, se esparramava, atarefados, ajudando para o derra-
deiro” (Rosa, 1994, p. 38; grifo meu). Na saída,
De repente, com a gente se afastando, os pássaros todos voltavam do céu, que desci-
am para seus lugares, em ponto, nas frescas beiras da lagoa – ah, a papeagem no
buritizal, que lequelequeia. A ver, e o sol, em pulo de avanço, longe da banda de trás,
por cima dos matos, rebentava, aquela grandidade. (Rosa, 1994, p. 39; grifo meu)
Entretanto, conforme vão caminhando, a paisagem muda, “Os urubús em
vasto espaceavam. (...) Daí, o sol não deixava olhar rumo nenhum. Vi a luz, castigo.
Um gavião andorim: foi o fim de pássaro que a gente divulgou” (Rosa, 1994, p. 39).
Onde nem mesmo o urubu freqüenta, a luz vira castigo. Adiante, lemos: “Como vou
294 SCRIPTA, Belo Horizonte, v. 5, n. 10, p. 286-298, 1º sem. 2002
IMAGENS DE ANIMAIS NO SERTÃO ROSIANO
achar ordem para dizer ao senhor a continuação do martírio, em desde que as barras
quebraram, no seguinte, na brumalva daquele falecido amanhecer, sem esperança em
uma, sem o simples de passarinhos faltantes?” (Rosa, 1974, p. 41; grifo meu). A par do
desaparecimento das aves, ao invés do sol nascente, com as sobredeterminações da
luz, temos o belo oxímoro “falecido amanhecer”. Já com a possibilidade da morte,
Riobaldo quer “Voltar para trás, para as boas serras! Eu via, queria ver, antes de dar à
casca, um pássaro voando sem movimento, (...)” (Rosa, 1974, p. 43; grifo meu). Aliás,
o leitor tem conhecimento do liso do Sussuarão pelo resumo: “Não tem excremen-
tos. Não tem pássaros”. (Rosa, 1974, p. 29)
Vôo de pássaros, elevação e luz solar enformam o sertão mineiro, quando,
investido no papel de chefe e já trazendo a mulher de Hermógenes, Riobaldo e seu
bando entram nele. Para a reflexão sobre o sertão, esses símbolos são essenciais:
Sertão velho de idades. Porque – serra pede serra – e dessas, altas, é que o senhor vê
bem: como é que o sertão vem e volta. Não adianta se dar as costas. Ele beira aqui,
e vai beirar outros lugares, tão distantes. Rumor dele se escuta. Sertão sendo do sol
e os pássaros: urubú, gavião – que sempre voam, às imensidões, por sobre... Travessia
perigosa, mas é a da vida. Sertão que se alteia e se abaixa. Mas que as curvas dos
campos estendem sempre para mais longe. Ali envelhece vento. E os brabos bi-
chos, do fundo dele... (Rosa, 1974, p. 410; grifo meu)
Nesse excerto, bastante citado, por configurar o sertão rosiano como o mundo
exterior – geográfico e social – e o interior, que cingem o homem inexoravelmente, é
necessário atentar para dois componentes do sertão, a ascensão e a iluminação, mis-
turadas ao perigo, ou sendo elas mesmas perigosas. Tal reflexão é retomada e com-
pletada páginas adiante. Já estando no Paredão, próximo à luta final, Riobaldo afir-
ma querer “que tudo tivesse logo um razoável fim” para largar a jagunçagem. Nesse
momento, repetem-se os símbolos apresentados pouco antes para configurar o ser-
tão: “Sei o grande sertão? Sertão: quem sabe dele é urubú, gavião, gaivota, esses pássa-
ros: eles estão sempre no alto, apalpando ares com pendurado pé, com o olhar remedindo
a alegria e as misérias todas...”. (Rosa, 1974, p. 435; grifo meu)
Intensifica-se a idéia da possibilidade de reflexão sobre as vicissitudes da vi-
da humana que o sertão, identificado com a altura, propicia.
Cavalcanti Proença (1959, p. 179) não inclui um item sobre animais ou, es-
pecificamente, sobre aves em seu trabalho, que orienta quem quer que se aventure a
percorrer o sertão do romance rosiano, mas logo percebe a associação entre Diado-
rim e o manuelzinho-da-croa. “Nos lugares tranqüilos, nas horas de repouso, apa-
recem as aves ribeirinhas, e o manuelzinho-da-croa se confunde com Diadorim.
(‘— Dindurim’... Boa apelidação... Falava (Alaripe) feito fosse o nome de um pássa-
ro...)”. A beleza e a delicadeza do pássaro levam a sua conjunção com Diadorim e
essa imagem é reiterada em Grande sertão: veredas.
SCRIPTA, Belo Horizonte, v. 5, n. 10, p. 286-298, 1º sem. 2002 295
Maria Célia de Moraes Leonel
Porém, a idéia de que o vôo do pássaro o identifica com a verticalidade, com
a elevação é também contemplada na imbricação Diadorim-ave. Note-se a coinci-
dência nos momentos em que isso acontece, pertencentes à parte inicial do romance:
quando Riobaldo pensa abandonar o cangaço e, conseqüentemente, Diadorim.
No primeiro deles, antes da trágica tentativa de atravessar o liso do Sussua-
rão, Diadorim e Riobaldo, na Aroeirinha, entram em discórdia e o protagonista ame-
aça ir embora “pra todo o nunca” (Rosa, 1974, p. 32). Diadorim recua e afiança-lhe
sua afeição; Riobaldo, jamais o sentindo tão “melhor e perto”, proclama: “Foi um
esclaro. O amor, já de si, é algum arrependimento. Abracei Diadorim, como as asas de
todos os pássaros. Pelo nome de seu pai, Joca Ramiro, eu agora matava e morria, se
bem” (Rosa, 1974, p. 34; grifo meu). Além da relação entre pássaros e amor, eviden-
ciam-se as asas, a ascensão que encaminha Riobaldo para a tarefa maior de vingar o
bando da traição de Hermógenes.
Em outra das menções iniciais a Diadorim, o narrador-protagonista relem-
bra que, no Córrego Cansanção, em meio a grandes perdas entre os jagunços – na-
quele momento sob a chefia de Medeiro Vaz, mas tendo como subchefe João Goa-
nhá – na luta contra soldados, tem a idéia de deixar a vida de jagunço, mas desiste:
“Quis não. Suasse saudade de Diadorim? A ponto no dizer, menos. Ou nem não ti-
nha. Só como o céu e as nuvens lá atrás de uma andorinha que passou” (Rosa, 1974, p. 56;
grifo meu). Diadorim vincula-se à ave, ainda que passageira, pela elevação, pela altura.
Outra vez, agora nos sertões da Jaíba, Riobaldo pensa fugir do cangaço,
quando o combate é contra Zé Bebelo. Conversa com Diadorim, mas não tem “âni-
mo de franco falar”, porque ele não entenderia: “A vivo, o arisco do ar: o pássaro –
aquele poder dele. Decerto vinha com o nome de Joca Ramiro!” (Rosa, 1974, p. 140).
É no vôo da ave que se encontra novamente a imagem para a fortaleza de Diadorim
em seus propósitos. O que se segue é prova disso, pois o protagonista revela: “Meu
corpo gostava de Diadorim. Estendi a mão, para suas formas; mas, quando ia, boba-
mente, ele me olhou – os olhos dele não me deixaram. Diadorim sério, testalto”.
A cena lembra-nos que o vínculo que se faz do pássaro com o falo indica,
na verdade, a verticalização, a sublimação (Durand, 1973, p. 132). Aí situamos a con-
junção Diadorim – “asas de todos os pássaros”. A elevação do pássaro, a sublimação,
por sua vez, vincula a personagem ao anjo. Diadorim, como o clarividente Caval-
canti Proença (Rosa, 1959, p. 161) anuncia, é o anjo da guarda de Riobaldo, e, como
“o maior inimigo do Hermógenes, transfigurado no Arcanjo Miguel, é ele quem
vence e mata o Pactário”.
Do anjo, símbolo da ascensão, que se opõe à queda e às trevas, chegamos à
espada, ao punhal. “A luz tem tendência para se tornar raio ou gládio e a ascensão
para espezinhar um adversário vencido. (...) São as armas cortantes que vamos en-
contrar em primeiro lugar ligadas aos arquétipos do Regime Diurno da fantasia”
296 SCRIPTA, Belo Horizonte, v. 5, n. 10, p. 286-298, 1º sem. 2002
IMAGENS DE ANIMAIS NO SERTÃO ROSIANO
(Durand, 1997, p. 159). Ademais, um dos protótipos cristãos do bom combatente é o
arcanjo Miguel e a espada é “o arquétipo para o qual parece orientar-se a significação
profunda de todas as armas”. Desse modo, o herói por excelência relaciona-se com a
altura, com as asas, e faz uso de armas brancas (Leonel, 2000a). A nosso ver, na arma
situa-se outro simbolismo referente a Diadorim. Se Riobaldo é Tatarana, perito no
tiro, Diadorim é que esfaqueia o mulato que os importuna no primeiro encontro –
“a ponta rasgando fundo” – e é ele também que usa o punhal, arma dos conquista-
dores e dos chefes, que corta e penetra, para matar Hermógenes, vingando Joca Rami-
ro, livrando o sertão dos traidores e, portanto, do demo.
A simbolização da ave como elevação surge associada à da luz, da clareza
que se opõe às trevas e isso se consolida especialmente com a constelação de símbolos
que engloba pássaros, sol e sertão. Outra constelação envolve Diadorim, aves, arma
branca e sertão, sempre. Outras ainda podem ser destacadas, juntando-se, aos ele-
mentos mencionados, aqueles relacionados por Cavalcanti Proença – rio, buritis,
vento – ou outros, como determinadas flores.
A reunião de imagens não é, porém, a única característica que depreende-
mos. Na composição do sertão rosiano, os pássaros também constituem uma ima-
gem disfórica, distanciando-se da elevação. Indicam uma característica do sertanejo,
que tem a ver com o fato de Riobaldo não ter pai, ou de “nunca ter sabido autorizado
o nome dele”: “Homem viaja, arrancha, passa: muda de lugar e de mulher, algum fi-
lho é o perdurado. Quem é pobre, pouco se apega, é um giro-o-giro no vago dos ge-
rais, que nem os pássaros de rios e lagoas”. (Rosa, 1974, p. 35; grifo meu)
Esse duplo pertencimento, isto é, ao pólo negativo e positivo, acompanha
ainda a representação dos animais de modo geral e não apenas das aves. A par de to-
das as situações em que o animal carrega valores positivos, ele é também associado
ao que há de mais negativo no homem. Antes da guerra com os Hermógenes, no Ta-
manduá-tão, enquanto planeja o ataque, o protagonista reconhece: “Vi: o que guer-
reia é o bicho, não é o homem”. (Rosa, 1974, p. 417)
Como vemos, entre as representações dos animais há aquelas que, se não
derivam de concepções tidas como arquetípicas, são a elas ligadas, são símbolos, en-
quanto outras dizem respeito unicamente ao imaginário construído no texto. Além
disso, as imagens podem ter mais de uma significação e, muitas vezes, compõem-se
com outras, constituindo constelações. Multiplicidade é o mote para o imaginário
referente aos animais em Grande sertão: veredas, como não poderia deixar de ser, já
que é parte do sertão rosiano, cuja característica maior é a plurissignificação.
SCRIPTA, Belo Horizonte, v. 5, n. 10, p. 286-298, 1º sem. 2002 297
Maria Célia de Moraes Leonel
ABSTRACT
I n the composition of the sertão (backlands) of Guimarães Rosa’s
fiction, animals are a constant presence. Although animal images are
the most common of all, in Grande sertão: veredas, particularly inter-
esting are not only the large number of times they appear, but also the
peculiarities of such frequency. A survey of the most significant appear-
ances of animals in the text, either as a theme or as a figure, and an
analysis of how they occur show that imagery of the sertão related to
this aspect results from the combination of images considered universal
and of particular images.
Keywords: Guimarães Rosa; Grande sertão: veredas; Sertão (back-
lands); Animals; Image.
Referências bibliográficas
ARROYO, L. A cultura popular em Grande sertão: veredas. Rio de Janeiro: J. Olympio,
1984.
CHEVALIER, J.; GHEERBRANT, A. Dictionnaire des symboles. Paris: Seghers, 1974. 4v.
DURAND, G. As estruturas antropológicas do imaginário. Trad. H. Godinho. São Paulo:
Martins Fontes, 1997.
LE GOFF, J. O imaginário medieval. Lisboa: Estampa, 1994.
LEONEL, M. C. Faca e armas brancas: um campo lexical em Grande sertão: veredas. Alfa,
São Paulo, n. 44, 2000a. (no prelo)
LEONEL, M. C. Guimarães Rosa: Magma e gênese da obra. São Paulo: Unesp, 2000b.
PROENÇA, C. Trilhas no Grande sertão. In: _____. Augusto dos Anjos e outros ensaios.
Rio de Janeiro: J. Olympio, 1959. p. 151-241.
RONECKER, J.-P. O simbolismo animal. São Paulo: Paulus, 1997.
ROSA, J. G. Caçadores de camurças. O Cruzeiro, Rio de Janeiro, p. 9-11, 12 jul. 1930.
ROSA, J. G. Grande sertão: veredas. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1974.
ROSA, J. G. Magma. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997.
298 SCRIPTA, Belo Horizonte, v. 5, n. 10, p. 286-298, 1º sem. 2002
Você também pode gostar
- Espiritualidade - Virginia SatirDocumento3 páginasEspiritualidade - Virginia Satirjoserobertopereira100% (1)
- Tunga DeleuzeDocumento14 páginasTunga DeleuzeLílian Soares100% (1)
- O Desdobramento Da Consciência - Joel Goldsmith - Trad G SDocumento147 páginasO Desdobramento Da Consciência - Joel Goldsmith - Trad G SHelena100% (2)
- 21 Dias Na Vida de Um DiscípuloDocumento107 páginas21 Dias Na Vida de Um DiscípuloRosenovaessabino88% (8)
- Introdução Ao Direito Do Consumidor MODULO VIDocumento10 páginasIntrodução Ao Direito Do Consumidor MODULO VIAdriana Carvalho de Lima100% (1)
- O Imaginário em Grande Sertão Veredas - A Travessia Do Liso Do SussuarãoDocumento8 páginasO Imaginário em Grande Sertão Veredas - A Travessia Do Liso Do SussuarãoMaran-EtamaAinda não há avaliações
- Assis e RosaDocumento10 páginasAssis e RosaSandra ElizabethAinda não há avaliações
- Uns ÍndiosDocumento24 páginasUns ÍndiosSANDRA EDUARDA LEONCIO COELHOAinda não há avaliações
- Maria Esther Maciel - Zoopoéticas ContemporâneasDocumento10 páginasMaria Esther Maciel - Zoopoéticas ContemporâneasGong Li ChengAinda não há avaliações
- 474-Texto Do Artigo-1505-1-10-20170914Documento18 páginas474-Texto Do Artigo-1505-1-10-20170914Ana AraújoAinda não há avaliações
- (Com Anotações) Ambivalências Humanas e Não Humanas em "Meu Tio o Iauaretê", de Guimarães RosaDocumento17 páginas(Com Anotações) Ambivalências Humanas e Não Humanas em "Meu Tio o Iauaretê", de Guimarães RosaPaula HongAinda não há avaliações
- Poesia e Subjetividade AnimalDocumento10 páginasPoesia e Subjetividade AnimalRanimirusAinda não há avaliações
- A Metáfora Da Águia Com A Serpente em 'Assim Falou Zaratustra' - Um Desafio Ao Pensar e Ao ViverDocumento11 páginasA Metáfora Da Águia Com A Serpente em 'Assim Falou Zaratustra' - Um Desafio Ao Pensar e Ao ViverLuiz Celso PinhoAinda não há avaliações
- PassosDocumento30 páginasPassosBiblioteca BorgesAinda não há avaliações
- ENTRE O HOMEM E O ANIMAL: A ECOCRÍTICA EM ANTONIO CARLOS VIANA, Por Fabiana Dos SantosDocumento7 páginasENTRE O HOMEM E O ANIMAL: A ECOCRÍTICA EM ANTONIO CARLOS VIANA, Por Fabiana Dos SantosFernando Oliveira 2Ainda não há avaliações
- 4 Símbolos Mitos Intertextualidade Filosofia e CivilizaçãoDocumento20 páginas4 Símbolos Mitos Intertextualidade Filosofia e CivilizaçãoEduardo PereiraAinda não há avaliações
- 13 - Tensões No Corpo Fechado Do Mutum - Cap Livro LIBRADocumento26 páginas13 - Tensões No Corpo Fechado Do Mutum - Cap Livro LIBRAEdinília CruzAinda não há avaliações
- O Sertão Como Representação Dos Personagens em "Buriti", de Guimarães RosaDocumento12 páginasO Sertão Como Representação Dos Personagens em "Buriti", de Guimarães RosaAndFa4aAinda não há avaliações
- Um Estudo Do Romance Grande SertãoDocumento10 páginasUm Estudo Do Romance Grande SertãoKristine SiqueiraAinda não há avaliações
- Rogério Rosa - A Relação Afro-Ameríndia Entre o Negrinho Do Pastoreio e o SaciPererê Na MitologiaDocumento29 páginasRogério Rosa - A Relação Afro-Ameríndia Entre o Negrinho Do Pastoreio e o SaciPererê Na MitologiaBruno Giacomelli100% (1)
- 2914-lms FileDocumento5 páginas2914-lms FileShayrula AliceAinda não há avaliações
- 2 Música e Poética - Cantarolando Saberes Na Amazônia Acreana FINALDocumento17 páginas2 Música e Poética - Cantarolando Saberes Na Amazônia Acreana FINALFernandaAinda não há avaliações
- Literatura e Subjetividade Animal, Maria Esther MacielDocumento11 páginasLiteratura e Subjetividade Animal, Maria Esther MacielRobson AlmeidaAinda não há avaliações
- A Mão No Ombro ComentsDocumento3 páginasA Mão No Ombro ComentsPatricia PatriciaAinda não há avaliações
- 708-Texto Do Artigo-2192-1-10-20171011Documento18 páginas708-Texto Do Artigo-2192-1-10-20171011João MarquesAinda não há avaliações
- A Oleira Ciumenta de Levy StraussDocumento10 páginasA Oleira Ciumenta de Levy StraussVitor Vieira VasconcelosAinda não há avaliações
- Jose Aldo Ribeiro Silva PDFDocumento8 páginasJose Aldo Ribeiro Silva PDFbellaDrumonndAinda não há avaliações
- Notas Sobre o Conto "O Espelho", de Guimarães Rosa.Documento4 páginasNotas Sobre o Conto "O Espelho", de Guimarães Rosa.Paulo de ToledoAinda não há avaliações
- O TesouroDocumento26 páginasO Tesouroalexmelo28Ainda não há avaliações
- Canto de MuroDocumento7 páginasCanto de MuroDiego CunhaAinda não há avaliações
- Baleia de Graciliano Ramos Uma Meditacao Sobre A VDocumento14 páginasBaleia de Graciliano Ramos Uma Meditacao Sobre A VThamiris Oliveira de SousaAinda não há avaliações
- 6925-Texto Do Artigo-18706-3-10-20231215Documento15 páginas6925-Texto Do Artigo-18706-3-10-20231215Luiz Felipe de AndradeAinda não há avaliações
- O Bestiário Rupestre Do Parque Nacional Serra Da CapivaraDocumento7 páginasO Bestiário Rupestre Do Parque Nacional Serra Da CapivaraMauro SousaAinda não há avaliações
- Pequena Enciclopédia de Seres Comuns (GPELE)Documento5 páginasPequena Enciclopédia de Seres Comuns (GPELE)gutoleiteAinda não há avaliações
- Sátiras de HorácioDocumento9 páginasSátiras de HorácioCarlos Eduardo CamposAinda não há avaliações
- 431 PDFDocumento11 páginas431 PDFMichelAinda não há avaliações
- De Reconto E DesencantoDocumento10 páginasDe Reconto E Desencantomarianotavares100% (1)
- Os Nomes Na Literatura: Maria Lucia Mexias-Simon (USS)Documento11 páginasOs Nomes Na Literatura: Maria Lucia Mexias-Simon (USS)Lorenna AraújoAinda não há avaliações
- Um Estudo Sobre As Aguas em Gaston BachelardDocumento9 páginasUm Estudo Sobre As Aguas em Gaston BachelardBeni Bara AleAinda não há avaliações
- Corpo Desejo e Sinestesia Anne RiceDocumento24 páginasCorpo Desejo e Sinestesia Anne RiceDaniel Garcia RodriguesAinda não há avaliações
- Literatura PMMG 2024 - Literatura para Concurso Público 02Documento28 páginasLiteratura PMMG 2024 - Literatura para Concurso Público 02tiagovlogs2134Ainda não há avaliações
- Artigo Morte e Linguagem em Augusto MatragaDocumento10 páginasArtigo Morte e Linguagem em Augusto MatragajozefilhuAinda não há avaliações
- Monica de Oliveira FaleirosDocumento6 páginasMonica de Oliveira FaleirosAline RodriguesAinda não há avaliações
- Jagunços Kelly Marise Silveira Durães e Telma BorgesDocumento67 páginasJagunços Kelly Marise Silveira Durães e Telma BorgesEdinília CruzAinda não há avaliações
- Estudo Do Texto PoéticoDocumento7 páginasEstudo Do Texto PoéticoBarbara DuarteAinda não há avaliações
- O Olhar de Miguilim, Cláudia Campos SoaresDocumento21 páginasO Olhar de Miguilim, Cláudia Campos SoaresMichel MacedoAinda não há avaliações
- PorroDocumento16 páginasPorroisnardisAinda não há avaliações
- Aula As Cores e Formas No MimetismoDocumento12 páginasAula As Cores e Formas No MimetismoAlexandreAinda não há avaliações
- SagaranaDocumento70 páginasSagaranaJoão Guilherme CarvalhoAinda não há avaliações
- A Ingaia Ciencia de Carlos Drummond de Andrade - CompressDocumento10 páginasA Ingaia Ciencia de Carlos Drummond de Andrade - CompressLeandro HenriqueAinda não há avaliações
- ARTE RUPESTRE - AtividadeDocumento6 páginasARTE RUPESTRE - AtividadeRosanilda RodriguesAinda não há avaliações
- Sostenesportela,+artigo4 Gabriela DesbloqueadoDocumento16 páginasSostenesportela,+artigo4 Gabriela Desbloqueadodennys0111Ainda não há avaliações
- Re 0221 0596 01Documento5 páginasRe 0221 0596 01nymos245Ainda não há avaliações
- 13264-Texto Do Artigo-52232-3-10-20220121Documento25 páginas13264-Texto Do Artigo-52232-3-10-20220121michelle.mmartinssAinda não há avaliações
- SagaranaDocumento12 páginasSagaranaELVIS BORGES MACHADOAinda não há avaliações
- GUIMARÃES ROSA - Análise de Contos de Primeiras Histórias e TutameiaDocumento108 páginasGUIMARÃES ROSA - Análise de Contos de Primeiras Histórias e TutameiaLorena RogaléskiAinda não há avaliações
- Pau de FitasDocumento9 páginasPau de FitasGladstone LimaAinda não há avaliações
- Alvaro Faleiros - Apontamentos para Uma Poética Xamânica Do Traduzir PDFDocumento7 páginasAlvaro Faleiros - Apontamentos para Uma Poética Xamânica Do Traduzir PDFyyAinda não há avaliações
- João Guimarães Rosa e Os Upani Ads "Cara de Bronze" e o "Quem DasDocumento21 páginasJoão Guimarães Rosa e Os Upani Ads "Cara de Bronze" e o "Quem DasBingrehAinda não há avaliações
- T13 O Sertão Como Forma de Pensamento - BOLLEDocumento13 páginasT13 O Sertão Como Forma de Pensamento - BOLLEJoalisson MagiaverAinda não há avaliações
- Vocêverá I PDFDocumento30 páginasVocêverá I PDFThyagoAinda não há avaliações
- Caliban e o Mito Do Homem Selvagem Discurses About The OtherDocumento13 páginasCaliban e o Mito Do Homem Selvagem Discurses About The OtherArthur Rovida de OliveiraAinda não há avaliações
- MG Mapa Da Divisao-Municipal Abril 2019Documento1 páginaMG Mapa Da Divisao-Municipal Abril 2019Payakan CamposAinda não há avaliações
- 22 de Agosto de 2022 EGE2208P0011.QXDDocumento1 página22 de Agosto de 2022 EGE2208P0011.QXDMateus ParreirasAinda não há avaliações
- 21 de Agosto de 2022 EGE2108P0009.qxdDocumento1 página21 de Agosto de 2022 EGE2108P0009.qxdMateus ParreirasAinda não há avaliações
- Saneamento Na Prática Acima Da TolerânciaDocumento4 páginasSaneamento Na Prática Acima Da TolerânciaMateus ParreirasAinda não há avaliações
- MG Jornal Estado de Minas 301222 PDFDocumento27 páginasMG Jornal Estado de Minas 301222 PDFMateus ParreirasAinda não há avaliações
- Aula 04Documento2 páginasAula 04educação2013Ainda não há avaliações
- Os Quimicos OcultosDocumento10 páginasOs Quimicos OcultosflaviomoraesjrAinda não há avaliações
- Artigo DiacriticaDocumento18 páginasArtigo DiacriticaJorge Vicente ValentimAinda não há avaliações
- UntitledDocumento7 páginasUntitledJoão Pedro VieiraAinda não há avaliações
- 11° Grupo - As Instituições Mesoamericanas - Os TeotihuacanosDocumento12 páginas11° Grupo - As Instituições Mesoamericanas - Os TeotihuacanosOtilio De Elidio MatolaAinda não há avaliações
- Jerusalém Celeste - Fabio ThainesDocumento5 páginasJerusalém Celeste - Fabio ThainesFabio ThainesAinda não há avaliações
- RedaçãoDocumento7 páginasRedaçãoHebny Louyze Moreira MeirelesAinda não há avaliações
- Raízes Do Brasil - O Homem Cordial - FichamentoDocumento3 páginasRaízes Do Brasil - O Homem Cordial - Fichamentoarivane16959Ainda não há avaliações
- Os Navios Dos DescobrimentosDocumento22 páginasOs Navios Dos Descobrimentospedropedro1954100% (1)
- Dos Limites Entre Prédios e Do Direito de TapagemDocumento3 páginasDos Limites Entre Prédios e Do Direito de TapagemGenivaldo SouzaAinda não há avaliações
- Como Ler o Livro de Josué - Ivo StornioloDocumento49 páginasComo Ler o Livro de Josué - Ivo StornioloRodrigo Lima Gonçalves100% (1)
- As Sete Trombetas Do ApocalipseDocumento16 páginasAs Sete Trombetas Do ApocalipseOrlando Alves DamascenoAinda não há avaliações
- Santo Agostinho - Sermão 536 (56) (A Páscoa IV)Documento4 páginasSanto Agostinho - Sermão 536 (56) (A Páscoa IV)eduardoexp9515Ainda não há avaliações
- A Farsa Do ComunismoDocumento1 páginaA Farsa Do Comunismoamjr1001Ainda não há avaliações
- Salmo 23 - MathiasDocumento21 páginasSalmo 23 - MathiasArthurAinda não há avaliações
- Guia Ilustrado AftgDocumento12 páginasGuia Ilustrado AftgMariana PerrottaAinda não há avaliações
- Tempo de Despertar - Richard SimonettiDocumento86 páginasTempo de Despertar - Richard Simonettigmotta4100% (2)
- Mágias e AptidõesDocumento5 páginasMágias e AptidõesG QuindelherAinda não há avaliações
- Os Quatro Tipos de AmorDocumento2 páginasOs Quatro Tipos de AmorEdson Oliveira0% (1)
- Cante de Coração para Jeová - Sem PautaDocumento193 páginasCante de Coração para Jeová - Sem PautaJOCIEL DE OLIVEIRA PEREIRAAinda não há avaliações
- 20 Dicas para Mediuns de UmbandaDocumento46 páginas20 Dicas para Mediuns de Umbandananda_fj100% (4)
- 1º EM HISTÓRIA PROF GLENER AvaliaçãoDocumento4 páginas1º EM HISTÓRIA PROF GLENER AvaliaçãoGlener OchiussiAinda não há avaliações
- Apostila 1 Floresta de ManannánDocumento19 páginasApostila 1 Floresta de ManannánCamila PortelaAinda não há avaliações
- A Igreja Primitiva Era Católica Ou ProtestanteDocumento170 páginasA Igreja Primitiva Era Católica Ou ProtestanteManel GargamelAinda não há avaliações
- Mage Ficha EutanatosDocumento1 páginaMage Ficha EutanatosAdriano GerolamoAinda não há avaliações
- Anel Nibelungos ResumoDocumento8 páginasAnel Nibelungos ResumoLuiz Roberto TerronAinda não há avaliações