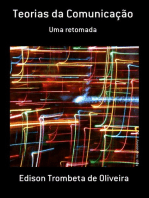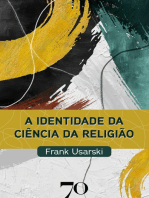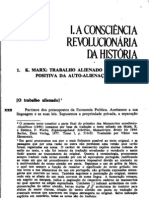Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Correntes Teóricas Da Ciência Da Informação
Correntes Teóricas Da Ciência Da Informação
Enviado por
Lucas VianaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Correntes Teóricas Da Ciência Da Informação
Correntes Teóricas Da Ciência Da Informação
Enviado por
Lucas VianaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
REVISO DE LITERATURA
Correntes tericas da cincia da informao
Carlos Alberto vila Arajo
Doutor em cincia da informao. Professor adjunto da Escola de Cincia da Informao da Universidade Federal de Minas Gerais. E-mail: casal@eci.ufmg.br
Theoretical currents in information science Abstract
In this article, six theoretical currents of Information Science are presented: the mathematical studies of information (including information retrieval and bibliometrics), the systemic theory, the critical theory, the theories of representation, the studies in scientic communication and the studies of users. The concept of information is analyzed concerning each one of those theories which have historically contributed to consolidate a positivist paradigm in this area. Recent contributions have been analyzed trying to point out limitations in the concept of information of this paradigm and possibilities of transcending new concepts and ideas. Keywords Information science. Information theories. Concept of information.
Resumo
Neste artigo, so apresentadas seis correntes tericas da cincia da informao: os estudos de natureza matemtica (incluindo a recuperao da informao e a bibliometria), a teoria sistmica, a teoria crtica, as teorias da representao, os estudos em comunicao cientca e os estudos de usurios. analisado o conceito de informao em cada uma destas teorias e identicado como, historicamente, tais teorias contriburam para consolidar um paradigma positivista para o campo. Por m, so analisadas contribuies recentes que buscam apontar limitaes no conceito de informao deste paradigma e possibilidades de superao a partir de novos conceitos e ideias. Palavras-chave Cincia da informao. Teorias da informao. Conceito de informao.
Ci. Inf., Braslia, DF, v. 38, n. 3, p.192-204, set./dez., 2009
192
Correntes tericas da cincia da informao
Ao longo de seu desenvolvimento, a cincia da informao (CI) viu surgirem e se consolidarem, dentro dela, diferentes reas e subreas especcas. Tais campos, orientados por diversas correntes e perspectivas tericas, acabaram por desenvolver, tambm, conceitos particulares de informao, algumas vezes semelhantes, outras vezes sobrepostos e, em alguns casos, discordantes. Neste texto, apresentam-se seis dos campos que constituram historicamente a CI, analisando-se os conceitos de informao presentes. Naturalmente, as demarcaes dos campos no so absolutas e, sob outros pontos de vista, poder-se-ia apresentar a CI composta por outros itens, a partir de diferentes critrios de diviso. Busca-se aqui, contudo, tendo como eixo o conceito mesmo de informao, identicar percursos especcos (que conformariam reas, subreas ou mesmo correntes tericas) a partir das problemticas, das contribuies de outros campos e dos conceitos correlatos mobilizados por eles. Ao nal, realizada uma correlao entre as correntes tericas, de modo a identicar aproximaes e distanciamentos e, sobretudo, perceber tendncias ou traos de estabilidade e de mudana nos diferentes conceitos adotados pelas teorias. Para tanto, so utilizados argumentos e ideias de autores contemporneos da CI que dialogam direta ou indiretamente com as correntes tericas analisadas. TEORIA MATEMTICA, RECUPERAO DA INFORMAO E BIBLIOMETRIA bastante comum encontrar, na rea de CI, a indicao da importncia da Teoria Matemtica da Comunicao de Shannon e Weaver, apresentada em 1948 e publicada em 1949, como um prenncio ou mesmo inauguradora do campo. Essa teoria normalmente conhecida como Teoria da informao e tal denominao no se deu sem motivos: trata-se da teoria que pela primeira vez enunciou um conceito cientco de informao. Os autores esto preocupados com a eccia do processo de comunicao e, para tanto, elegem
Ci. Inf., Braslia, DF, v. 38, n. 3, p.192-204, set./dez., 2009
como conceito central de seu trabalho a noo de informao. Shannon e Weaver reconhecem que as questes relativas comunicao envolvem trs nveis de problemas. O primeiro trata dos problemas tcnicos, relativos ao transporte fsico da materialidade que compe a informao (como, por exemplo, o volume do som numa conversa ou a qualidade da impresso em um papel). O segundo nvel se refere aos problemas semnticos, isto , se relaciona com a atribuio de signicado. Enquanto o primeiro nvel envolve apenas uma operao mecnica (reconhecer as letras num papel, captar os sons de uma fala), o segundo se relaciona a uma operao mental especca, a de depreender, de determinada materialidade (sonora, visual, etc), um sentido, que pode se dar de maneira conotativa ou denotativa, literal ou irnica, metafrica, etc. O terceiro nvel o pragmtico, relaciona-se com a eccia. Quem emite informaes a outrem deseja, de algum modo, provocar um comportamento, causar alguma reao (convencer algum a comprar um produto, eleger um candidato, pedir um favor, etc). Ou seja, os autores tm clareza dos diversos nveis e complexidades envolvidos com os problemas relacionados informao (ou comunicao da informao). Produzem uma teoria, contudo, que est voltada apenas para o primeiro nvel. Ao fazer isso, eles tornam possvel a construo de um referencial terico para os problemas relacionados com o transporte fsico da informao. E a partir dessa brecha, dessa proposio de uma forma cientca de estudo da informao, que se constri o projeto de uma cincia da informao. Ao limpar o conceito de suas dimenses de significao e de relao social, Shannon e Weaver descartam a subjetividade como elemento componente da informao, tornando possvel uma aproximao dela enquanto um fenmeno objetivo, independente dos sujeitos que com ela se relacionam e, portanto, passvel de ser estudada cienticamente.
193
Carlos Alberto vila Arajo
Os processos que envolvem a informao passam a ser compreendidos numa lgica linear. Os autores denem a comunicao como um processo em que uma fonte, a partir de um transmissor, por meio de um canal, envia informao a um receptor, que a conduz a um destino. A informao denida como uma medida da incerteza no como aquilo que informado, mas como aquilo que se poderia informar. Diante de uma pergunta com apenas duas opes de resposta, o grau de informao seria da ordem de 50%. Diante de uma pergunta com mais opes (uma situao com maior grau de incerteza), o valor informativo aumenta. Em situaes de alta previsibilidade, o grau informativo baixssimo. Tal raciocnio articula diferentes conceitos importados das cincias exatas, tais como o de entropia e o de probabilidade. A informao uma entidade da ordem da probabilidade, sendo a entropia um de seus atributos. Tais conceitos, articulados com outros presentes nesta teoria (como os de repertrio, estrutura, cdigo, rudo e redundncia) do o tom da problemtica geral que a particulariza: como quanticar a informao, para determinar a quantidade tima, com o grau adequado de redundncia, prevendo a interferncia do rudo e a capacidade do canal, a ser transferida de um emissor a um receptor. Os conceitos dessa teoria tm um impacto imediato nos estudos que se seguem, em anos posteriores, a respeito da transferncia de informao. So elaboradas frmulas para prever quanto texto pode ser transmitido em cada formato, a partir do repertrio de diferentes grupos, respeitando a capacidade de cada canal, entre outros aspectos. No campo da CI, a aplicao mais decisiva se d no campo dos estudos em recuperao da Informao. Essa rea, que surge na dcada de 1950 e que chegou a ser entendida, algumas vezes, como sinnimo ou como o ncleo central da CI (SARACEVIC, 1996), voltou-se prioritariamente para a questo da medio de procedimentos para a recuperao da informao. Entre os conceitos centrais desse campo destacamse os de revocao e preciso, que operam na lgica
194
da probabilidade e da entropia, na busca de um ideal de recuperao que contemple uma quantidade boa de itens (exaustividade) e, ao mesmo tempo, traga itens relevantes (especicidade). Os estudos de Craneld, que se estenderam ao longo da dcada de 1950, representam um dos exemplos mais signicativos de estudos experimentais, no campo da CI, a partir do conceito de informao elaborado pela teoria matemtica. Vrios sistemas de representao e recuperao foram testados em termos de propriedades como revocao e preciso, para testes de comparao de eccia destes vrios sistemas. Uma perspectiva um pouco diferente, e na verdade at anterior Teoria Matemtica, a da bibliometria, que consiste na aplicao de tcnicas estatsticas para a contagem e estabelecimento de padres de regularidade em itens informacionais como nmero de livros, de edies, de autores que publicam em peridicos, entre outros. Desenvolvido por meio de leis empricas desde a dcada de 1920 (Lotka, Bradford, Zipf), tal campo ganhou flego a partir da dcada de 1960, com as possibilidades de automao e com a criao do campo de estudos de anlise de citao, com Gareld. Seguiram-se diversas teorias (teoria epidmica do crescimento da literatura, teoria do acoplamento bibliogrco) e variaes de campo de atuao (informetria, cientometria, webometria), todos preservando a mesma lgica: de que a informao pode ser quanticada e que, por meio dessa quanticao, seria possvel prever suas manifestaes futuras, j que, tal como os fenmenos da natureza, ela tambm obedeceria a leis que regem sua existncia. Os estudos bibliomtricos no so, a rigor, estudos de transporte de informao no que se distanciam da perspectiva da Teoria Matemtica. Por outro lado, denem a informao da mesma maneira, o que se pode perceber, a partir da dcada de 1970, com a aproximao entre a Bibliometria e a Recuperao da Informao, tanto com a utilizao de contagens de citaes para a recuperao da informao como para a medio bibliomtrica de itens recuperados em processos de busca e seleo.
Ci. Inf., Braslia, DF, v. 38, n. 3, p.192-204, set./dez., 2009
Correntes tericas da cincia da informao
A perspectiva matemtica do transporte de informao continua atual, apesar das vrias crticas recebidas, como se pode ver em teorizaes como a de Saracevic, para quem a CI estuda os problemas da efetiva comunicao do conhecimento (1996, p. 47); de Buckland (1991), que conceitua a informao como coisa; e de Le Coadic, que conrma, aps 80 anos desde a formulao da primeira lei quantitativa no mbito da CI, a existncia, no campo da informao, de regularidades, distribuies e relaes mensurveis universais (2007, p. 221). TEORIA SISTMICA A CI ir sentir, concomitantemente ao predomnio da lgica matemtica para o conceito de informao, a influncia do sucesso que a Teoria Sistmica passa a obter, cada vez mais, nos meios cientcos. Originada com Bertalanffy, na dcada de 1930, tal teoria ganha imensa expresso no campo da CI com a publicao do trabalho de Wiener, em 1948, sobre a ciberntica. Se a rea de transmisso e recuperao da informao tem origem na lgica das cincias exatas (matemtica e fsica), a Teoria Sistmica da informao tem origem em princpios da biologia. A principal ideia a embasar tal viso a de que o todo maior do que as partes e de que as partes devem ser estudadas, necessariamente, a partir da funo que desempenham para a manuteno e sobrevivncia do todo. Os princpios biolgicos passam a ser entendidos como uma espcie de mtodo geral para o estudo de qualquer fenmeno. A lgica a mesma que preside o estudo do corpo humano: cada parte, cada rgo, inserido num sistema (respiratrio, digestivo, etc) e apreendido a partir do papel que ele desempenha neste sistema e, consequentemente, do papel que este sistema desempenha no todo, o organismo humano. O mesmo vale, por exemplo, para o estudo da gua, dos seres vivos, das doenas, etc. Enquanto o modelo fsico pensava os processos numa lgica essencialmente linear, do transporte de um ponto a outro (e sobre a forma de otimizar esse transporte), a lgica sistmica privilegia a ideia de ciclo, de circularidade: todo processo sempre
Ci. Inf., Braslia, DF, v. 38, n. 3, p.192-204, set./dez., 2009
representa a sada de alguma entidade, e essa sada vai provocar a formao de novos elementos de entrada como normalmente expresso nos conceitos de input e output. Em pouco tempo, tal modelo passou a fazer grande sucesso no mbito das vrias cincias, inclusive daquelas classificadas como sociais. A cincia poltica adotou um modelo que prev a escolha dos lderes polticos pelo voto como o mecanismo de entrada (input) e os resultados dos trabalhos das casas executiva e legislativa como o mecanismo de sada (output), o qual ir fornecer os critrios para alimentar uma nova escolha (uma gesto bem avaliada ser reconduzida; uma gesto vista como ruim ser substituda por outra). Na administrao, diversos modelos tericos buscaram determinar o ambiente interno e o ambiente externo da empresa, os riscos e as oportunidades, os pontos fortes e os pontos fracos. O modelo organsmico da teoria sistmica articula uma srie de conceitos particulares, tais como a ideia de totalidade (o conjunto, como por exemplo uma cidade, uma empresa, uma equipe), os objetos que compem a totalidade (os membros tomados isoladamente as pessoas, os grupos, os departamentos), os atributos destes objetos (caractersticas especcas que cada objeto tem para o desempenho adequado da sua funo), os processos (a importao ou entrada de algo, a exportao ou sada, e o processamento desse algo, entendido como as tarefas necessrias para a sobrevivncia do sistema) e o ambiente (aquilo que externo totalidade, de onde ela retira os elementos de entrada e para onde dirige os elementos de sada). No mbito da CI, a teoria sistmica apresentou duas grandes manifestaes. A primeira, em nvel macro, relaciona-se s teorias funcionalistas a respeito da funo da informao na sociedade. Vrios autores dedicaram-se a mapear a importncia das instituies e servios de informao (bibliotecas, arquivos, centros de documentao, museus, etc) para a manuteno do equilbrio da sociedade: promover a adequada socializao dos membros, garantir a preservao da memria cultural das
195
Carlos Alberto vila Arajo
geraes anteriores, conter um repositrio de dados para a orientao das aes e tarefas a serem desempenhadas, servir de complemento para as atividades educacionais, entre outras (SHERA, 1970; RIVIRE, 1993). A segunda grande manifestao se relaciona com o desenvolvimento das teorias sobre os sistemas de informao. Diversos estudos neste campo buscaram determinar e caracterizar os diversos processos necessrios para o adequado funcionamento dos sistemas de informao. Nestes diversos estudos, os conceitos sistmicos esto por todo o raciocnio. Os sistemas de informao so sempre pensados a partir da lgica dos processos de entrada (entrada de dados, com a aquisio de itens informacionais, a seleo destes itens para a composio de determinado acervo), de processamento (os itens informacionais que do entrada num sistema de informao precisam ser descritos, catalogados, classicados, indexados) e de sada (pelo acesso aos itens informacionais por parte dos usurios, na forma de disseminao, entrega da informao, emprstimo, etc). Uma das ideias dessa teoria, de que os sistemas precisam ser estveis (isto , devem manter uma determinada dinmica de funcionamento com controle do que entra e do que sai), serve inclusive como sustentao para as cinco leis da biblioteconomia (RANGANATHAN, 1931), particularmente para a ltima delas, a de que a biblioteca um organismo em crescimento. A necessidade de manter a homeostase faz com que um sistema de informao no possa ir crescendo e adquirindo novos itens informacionais ad infinitum: ele precisa promover desbastes, descartes, como forma de manter um equilbrio e continuar cumprindo suas funes. Outras ideias dessa teoria, como a de que as partes so interdependentes com funes especcas, est na origem do princpio de provenincia, basilar no mbito das teorias arquivsticas. O mesmo vale para a ideia sistmica de ciclo, presente na teoria das trs idades dos documentos arquivsticos (SCHELLENBERG, 1973).
196
TEORIA CRTICA DA INFORMAO A terceira das teorias a proporcionar um conceito de informao encontra-se no mbito das teorias crticas. Enquanto as outras teorias vistas at aqui buscam fundamentao na fsica e na biologia (portanto, nas cincias da natureza), as teorias crticas fundamentam-se principalmente nas humanidades particularmente na losoa e na histria. A postura da teoria crtica se relaciona essencialmente com a ideia de suspeio de que a realidade tenha fundamento nela mesma. Ao contrrio das aproximaes positivas ao real, a teoria crtica tem por atitude epistemolgica a desconana, a negao do evidente, a busca do que pode estar escondido ou camuado. Sua origem remonta losoa de Herclito, para quem o fator mais relevante para a explicao da realidade humana era a mudana, e no a estabilidade, como defendia Parmnides. Tal argumento foi retomado, sculos depois, por Hegel, quando da formulao da dialtica como mtodo losco para a compreenso da realidade. Sua aplicao no campo das cincias humanas e sociais foi bastante vasta, sendo a mais importante delas a teoria marxista, que vinculou a abordagem dialtica compreenso dos fatos humanos e sociais. O resultado de tal empreitada que as dimenses da tensionalidade e da historicidade se tornaram as mais relevantes para a explicao da realidade humana. No campo da CI, exatamente a perspectiva marxista a que mais se consolida no mbito da teoria crtica da informao. Os modelos anteriores, principalmente o sistmico, de natureza biolgica, enfatizavam a estabilidade, a permanncia (por meio da denio de leis, do estabelecimento das funes) e a integrao (cada parte exercendo seu papel para a manuteno do todo). Na direo oposta, a teoria crtica vai enfatizar o conito, a desigualdade, o embate de interesses em torno da questo da informao e para tanto, buscar explicar os fenmenos a partir de sua historicidade.
Ci. Inf., Braslia, DF, v. 38, n. 3, p.192-204, set./dez., 2009
Correntes tericas da cincia da informao
O estudo da informao do ponto de vista dessa teoria no se atm mais s condies de eccia de seu transporte, de suas funes para o equilbrio social ou dos procedimentos funcionais para seu processamento no mbito dos sistemas. A informao entendida, pela teoria crtica, como recurso fundamental para a condio humana no mundo e, como tal, a primeira percepo que se tem de sua desigual distribuio entre os atores sociais. Como recurso, a informao apropriada por alguns, que garantem para si o acesso. Aos demais, sobra a realidade da excluso. Assim que as temticas estudadas no mbito dessa teoria envolvem a questo da democratizao da informao, do acesso informao por parte de grupos e classes excludos e marginalizados, a criao de formas e sistemas alternativos de informao, e mesmo estudos sobre a contrainformao, como forma de rejeio aos regimes informacionais hegemnicos. Ao mesmo tempo, estudos que denunciam a dimenso ideolgica dos equipamentos culturais (museus, arquivos, bibliotecas), reproduzindo lgicas sociais de dominao e aprofundando diferenas cognitivas e de sensibilidade, so conduzidas por pesquisadores que aliam o estudo da informao a uma sociologia crtica da cultura (BOURDIEU, 2007). principalmente nos pases do Terceiro Mundo que tal corrente se desenvolve, embora exista volume considervel de contribuies de autores franceses e alemes para sua evoluo terica, e apoio institucional de rgos como a Unesco, para o desenvolvimento de aes prticas no campo da democratizao. Ao mesmo tempo, grupos hegemnicos da produo cientca em CI, ligados ao contexto anglo-saxo (Inglaterra e EUA), frequentemente rejeitam e desqualificam estes estudos, recusando seu pertencimento ao campo da CI por estarem politizando as discusses (MATTELART, 2002).
AS TEORIAS DA REPRESENTAO E DA CLASSIFICAO Outro mbito de estudos sobre a informao se desenvolve de maneira paralela s teorias anteriormente descritas e, embora inicialmente no estivesse estritamente vinculada CI, em pouco tempo passou a ser identicada como a rea central do campo, o seu ncleo duro, o especco da CI. Tal identicao se deu, sobretudo, a partir da aproximao do campo com a biblioteconomia. Paralelamente s discusses travadas pelas teorias j vistas (a questo da eccia do transporte fsico da informao, sua funo na sociedade, as contradies envolvidas com seu acesso a determinados grupos), desenvolveu-se, desde antes dos marcos tidos como fundadores da CI, todo um ramo de estudos voltados para a melhor forma de representar a informao, de classic-la, de descrev-la. Na histria da biblioteconomia, convencionou-se armar que o primeiro desao da rea foi o da aquisio, em perodos histricos em que os livros e registros materiais do conhecimento eram escassos e frequentemente perdidos ou intencionalmente destrudos. Ao longo dos sculos, e especialmente aps o desenvolvimento da imprensa, tal desao foi sendo cada vez mais superado, a ponto de se comear a ter colees e acervos relativamente consistentes. A grande questo passou a ser no mais a aquisio de livros, mas sua organizao, de forma a se conseguir promover a sua recuperao e o seu uso. ainda no sculo XIX que comeam a surgir os primeiros sistemas de classicao bibliogrca, como o sistema de Dewey e a Classicao Decimal Universal, na esteira dos sistemas de classicao das cincias promovidas pela losoa. A grande questo que se coloca no mbito destes estudos como promover a classicao do conhecimento. No do ponto de vista losco, mas do ponto de vista de uma classicao til til para a recuperao dos livros, dos itens informacionais. No toa que comum se ver a identicao de Dewey como o Pai da Biblioteconomia e de Otlet como o Pai da Documentao ou mesmo o precursor da CI.
197
Ci. Inf., Braslia, DF, v. 38, n. 3, p.192-204, set./dez., 2009
Carlos Alberto vila Arajo
Importante destacar que, tambm no mbito da arquivologia, vive-se um processo semelhante: inicialmente so constitudos depsitos centrais de arquivos em vrias cidades europeias (o desao a preservao e a aquisio) e, no sculo XIX, aparece o primeiro grande tratado com propostas de sistematizao dos documentos arquivsticos, o chamado Manual dos Holandeses publicado em 1898 por Muller, Feith e Fruin. Da por diante, essa rea de estudos assiste a uma profuso de modelos e mtodos para denir as melhores formas de descrever (do ponto de vista material, relacionados a aspectos objetivos dos documentos) e classicar (do ponto de vista do assunto, no mbito das bibliotecas, ou da organicidade, nos arquivos). A fundamentao cientfica desse campo vai conhecer importante salto com os trabalhos do indiano Ranganathan, a partir da dcada de 1930, com a ideia de classicao facetada, em oposio aos modelos hierrquicos at ento dominantes. A contribuio de Ranganathan desvia as discusses da problemtica de sistemas especficos e suas particularidades (quantas classes de assuntos, com que notao, etc) para os fundamentos gerais dos processos classicatrios e sua lgica operacional. Suas ideias servem de inspirao para os trabalhos do Classification Research Group, da Inglaterra (FOSKETT, 1973), ento j no mbito prprio da CI, que por um lado desenvolvem diversos sistemas voltados para reas especcas do conhecimento (domnios) e, por outro, realizam discusses tericas sobre classicao, envolvendo problematizaes acerca de linguagens e categorizaes. Nas dcadas seguintes, juntaram-se a esse campo as teorias do conceito, da terminologia, semntica e semitica, entre outras. Ao mesmo tempo, instrumentos e sistemas particulares foram se desenvolvendo, como os tesauros e os instrumentos de linguagem controlada. A partir da dcada de 1980, as novas tecnologias digitais somam-se a esse campo, principalmente com a ideia de hipertexto e com as diversas possibilidades de classificao da informao. Metadados,
198
ontologias e websemntica so apenas algumas das manifestaes mais recentes do encontro da pesquisa em representao e as tecnologias digitais. O conceito de informao que emana das vrias pesquisas e aplicaes relaciona-se essencialmente com a ideia de representao da possibilidade de melhorar os processos representacionais, construindo linguagens melhores, notaes mais mnemnicas, classes mais consistentes, terminologias menos ambguas. Em oposio s linguagens naturais, buscam-se linguagens controladas, em prol de uma representao que seja til til para recuperar informao. PRODUO E COMUNICAO CIENTFICA Logo nos primeiros anos do que se convencionou chamar de perodo da gnese da CI (da segunda metade da dcada de 1940 dcada de 1960), a temtica da produo cientca dava a tnica das discusses sobre a informao. Tal fato levou inclusive a uma compreenso, bastante difundida, de que a CI seria, na verdade, a cincia da informao cientca. Tal viso teve importantes manifestaes na Inglaterra, na Frana, nos EUA e, tambm, na Unio Sovitica. Para a compreenso dessa teoria faz-se necessrio conhecer o contexto de seu surgimento. No psguerra, estabelece-se o fenmeno da Guerra Fria, o conito entre EUA e URSS que se estende pelos mais variados campos, da inuncia poltica s medalhas olmpicas, da ostentao blica corrida espacial. Neste contexto de competio, o desenvolvimento cientco e tecnolgico torna-se central, estratgico. E, para o aumento da produtividade e da velocidade de produo de novos conhecimentos cientcos, percebeu-se a importncia da informao. Informao passou a ser entendida, nesse contexto, como um recurso, uma condio de produtividade. Cientistas precisavam de informao com rapidez, com qualidade, com exatido. Gastava-se tempo precioso na busca de informao, ou tinha-se desperdcio de tempo na obteno de informao
Ci. Inf., Braslia, DF, v. 38, n. 3, p.192-204, set./dez., 2009
Correntes tericas da cincia da informao
irrelevante ou de baixa qualidade. Mais ainda, atraso na produo por no se ter acesso informao adequada ou relevante em determinado momento. Diversos estudos proliferaram, nesse momento, sobre o comportamento informacional dos cientistas: de que informao eles precisam? Com que regularidade? Onde eles obtm as informaes que utilizam? Tambm surgiram muitos estudos sobre as diferentes fontes de informao utilizadas na cincia, as diferenas entre os vrios tipos de fontes, o tempo transcorrido para a publicao de cada um dos produtos da atividade cientca. Estes estudos acabaram por desviar o foco da informao em si, enquanto produto, recurso ou documento, para os seus fluxos, a sua transferncia ou, para usar o termo mais utilizado, a sua comunicao. Surgiram vrios estudos que buscavam mapear os uxos de informao, tentando identicar quem repassava informao, quem retia, quem disseminava, quem recomendava. Vrios uxogramas foram elaborados buscando ver o caminho percorrido: a origem de uma informao (a partir de determinada experincia cientfica), sua divulgao em diferentes canais (apresentaes em congressos, relatrios parciais, artigos, livros, tratados), sua disseminao por parte de diferentes agentes, sua utilizao e reutilizao em novas experincias e produtos, entre outros. Dois conceitos que nasceram como achados empricos tornaram-se centrais para esse campo: o gatekeeper e os colgios invisveis. Na segunda metade da dcada de 1980, essa perspectiva de estudos, voltada para o ambiente cientco e tecnolgico, voltou-se para o contexto das empresas e organizaes. Conservou-se o mesmo modo de raciocnio e o mesmo conceito de informao, porm adaptando-se s particularidades exigidas pelo novo universo emprico de estudos. Entre os diversos conceitos desenvolvidos na esteira dessa nova produo cientfica esto os novos critrios para classificao dos tipos de fontes de informao (fontes externas ou internas organizao, documentais ou informais), a importncia de for mas de verificao da
Ci. Inf., Braslia, DF, v. 38, n. 3, p.192-204, set./dez., 2009
conabilidade da informao e os conceitos de conhecimento tcito e conhecimento explcito como estruturadores da noo de informao como recurso estratgico no ambiente empresarial. Da a designao que passou a ser comum a estes estudos: gesto da informao e do conhecimento. OS ESTUDOS DE USURIOS O campo relativo ao estudo dos usurios da infor mao desenvolveu-se com diferentes conguraes. Os primeiros estudos, normalmente denominados estudos de comunidade ou de perl de usurios, podem ser includos na perspectiva dos estudos funcionalistas. Seu objetivo era o de mapear caractersticas de determinada populao para planejar as informaes mais adequadas a serem oferecidas com ns de educao e socializao. Os estudos seguintes, denominados estudos de uso, voltados para a medio de indicadores e efetiva utilizao e grau de satisfao do uso de fontes, servios ou sistemas de informao, acabaram por consistir em estudos para a avaliao dos sistemas de informao e, nesse sentido, tinham mais o carter de oferecimento de feedback para os sistemas. Em ambos os casos, tem-se os usurios estudados na perspectiva sistmica. J nas dcadas de 1940 e 1950, os estudos de usurios se desenvolvem no escopo das pesquisas em comunicao cientca, promovendo estudos sobre os uxos de informao e hbitos informacionais dos cientistas. Nas dcadas seguintes, extensas pesquisas quantitativas so realizadas para tentar correlacionar determinados pers sociodemogrcos dos usurios com padres de comportamento informacional. apenas no nal da dcada de 1970 que comeam a surgir estudos com abordagens efetivamente voltadas para os usurios. O principal marco do desenvolvimento destes estudos a Conferncia de Copenhaguen, ocorrida em 1977, na qual vrios trabalhos sugerindo tal abordagem foram apresentados e debatidos (INGWERSEN, 1992). Tais estudos se desenvolvem embasados em teorias tais como a do estado do conhecimento anmalo (Belkin), construo de sentido (Dervin), valor
199
Carlos Alberto vila Arajo
agregado (Taylor) e construtivista (Kuhlthau). Em comum, todas apresentam uma perspectiva cognitivista: busca-se entender o que a informao do ponto de vista das estruturas mentais dos usurios que se relacionam (que necessitam, que buscam e que usam) a informao. Os usurios so estudados enquanto seres dotados de determinado universo de informaes em suas mentes, utilizando essas informaes para pautar e dirigir suas atividades cotidianas. Uma vez que se verica uma falta, uma ausncia de determinada informao, inicia-se o processo de busca de informao a entra a informao, como aquilo capaz de preencher uma lacuna, satisfazer uma ausncia. Tal perspectiva permite compreender a informao inclusive numa lgica cumulativa, medida que novas informaes se somam s anteriores no mapa mental dos indivduos. A principal inspirao desse modelo a teoria de Popper, que cr na unicidade do mtodo cientco e na possibilidade de um conhecimento objetivo da realidade. Esse modelo enfatiza as percepes dos usurios em relao sua prpria ausncia de conhecimento, os passos trilhados para solucionar essa ausncia (em direo informao) e o uso da informao para a execuo de determinada tarefa ou problema. No lugar das caracterizaes sociodemogrcas, tais estudos identicam como elemento determinante do processo as percepes dos usurios acerca de sua situao e da informao. A entrada em cena dos estudos de usurios recoloca os sujeitos em perspectiva. A informao passa a ser vista como algo na perspectiva de um sujeito. CONSOLIDAO DE UM CONCEITO Os primeiros conceitos de CI surgiram na dcada de 1960 (TAYLOR, 1966; REES; SARACEVIC, 1967; BORKO, 1968) e possuem, quase todos, a mesma ideia. Destacam que a CI uma cincia voltada para o estudo da produo, organizao, armazenamento, disseminao e uso da informao. Nesse sentido, entendem a CI como uma disciplina voltada para os processos envolvidos com a informao processos normalmente entendidos como processos
200
tcnicos, aplicados, de interveno. O conceito de informao que sobressai de tais denies a ideia de informao como uma coisa, um ente da realidade dotado de objetividade. A outra ideia muito comum nos primeiros conceitos de CI exalta o objeto de estudo dessa cincia: o comportamento e as propriedades da informao. Tal comportamento entendido como as direes que toma ou as conformaes que adquire a partir das foras que agem sobre ela. A ideia de propriedades entendida como propriedades objetivas, tais como, por exemplo, as propriedades fsico-qumicas dos elementos de uma tabela peridica so propriedades que, uma vez descobertas, valem para quaisquer contextos, quaisquer sujeitos. maneira de Durkheim, para quem os fatos sociais so coisa, e de psiclogos comportamentais como Watson, que denem o comportamento como a ao objetiva, externamente observvel, resultante de um estmulo igualmente objetivo, a informao positivada, isto , denida enquanto algo independente dos sujeitos, dos contextos histrico-culturais, passvel de ser estudada objetivamente, medida, e ser compreendida por meio de leis e regularidades. Tal conceito desta forma problematizado tanto na Teoria Matemtica quanto na Teoria Sistmica ambas acabam por se complementar. A ideia de informao presente em ambas a mesma: algo que transportado, repassado, de um ponto a outro no primeiro caso, num esquema linear, no segundo, num processo cclico. Nos dois casos a informao sofre a ao de processos que lhe so externos processos de emisso e recepo, no primeiro caso, e funcionais, no segundo. Juntas, as duas teorias concorrem para a construo de um verdadeiro paradigma para a rea: o paradigma positivista. As demais teorias compartilham com as duas primeiras do conceito de informao. A Teoria Crtica, embora calcada numa perspectiva epistemolgica completamente diferente (a historicidade e o conito), em relao ao conceito de informao acaba reproduzindo a mesma lgica: a informao como uma coisa, um recurso, distribuda desigualmente entre os atores, que confere, a quem a
Ci. Inf., Braslia, DF, v. 38, n. 3, p.192-204, set./dez., 2009
Correntes tericas da cincia da informao
tem, possibilidade maior de dominao e construo de hegemonia. No mbito das teorias da representao e da classificao, verifica-se a presena do mesmo conceito. medida que se busca a construo de sistemas de representao cada vez melhores, isto , tem-se no horizonte a perspectiva de construo de uma linguagem perfeita, sem erros, sem dubiedades, para a localizao dos itens informacionais, operase numa lgica da univocidade de sentido. O que significa, na prtica e mais uma vez, ignorar a presena dos sujeitos, as dimenses semntica e pragmtica da informao. Os estudos em comunicao cientca corroboram as vises de informao da Teoria Matemtica e da Teoria Sistmica, apenas transportando-as para a lgica da produo do conhecimento cientco. A informao compreendida como insumo, cujo acesso e disseminao precisam ser otimizados para o ganho da produtividade. Assim tambm ocorre no mbito dos estudos em gesto da informao, em que a informao tida como insumo para a tomada de deciso de gerentes e administradores. O fluxo da informao compreendido como um transporte fsico que, para o aumento da produtividade, precisa ser otimizado, liberado de rudos e redundncias. E tambm os estudos de usurios de natureza cognitivista reproduziram tal conceito, com a ideia de estados anmalos de conhecimento, isto , de lacunas na mente dos usurios, que seriam preenchidas com coisas chamadas informao, encontradas nos sistemas e servios de informao. O mesmo princpio da univocidade presente nas teorias da classicao se repete aqui: de que a informao algo xo, estabelecido, com uma referncia clara, direta no caso, uma necessidade especca a ser adequadamente satisfeita. SUPERAO DE UM CONCEITO As tentativas mais consistentes de problematizao do conceito de informao estabelecido no escopo das diferentes teorias da informao vm
Ci. Inf., Braslia, DF, v. 38, n. 3, p.192-204, set./dez., 2009
tomando corpo nas duas ltimas dcadas, marcadas essencialmente por movimentos de reao ao paradigma positivista at ento dominante, de indicaes do esgotamento de seu poder explicativo. Entre essas propostas merecem destaque as discusses que buscam estabelecer dilogo com as cincias hermenuticas, para quem o entendimento do que a informao passa, necessariamente, pelas interpretaes dadas pelas pessoas que se relacionam com ela. Tais discusses se do de diferentes formas. Cornelius (1996, p. 22), retomando Habermas, lembra que as aes e fatos humanos no so dados ao investigador do mesmo modo que os fenmenos humanos pois so interpretados pelos sujeitos que os vivenciam ou se relacionam com eles. Se so interpretados, so dotados de sentido. E no h sentido em algum fato ou situao se no h sujeito que os experencie (1996, p. 27). Outro autor que recorre hermenutica como forma de ampliar as possibilidades tericas de estudo da informao Capurro. O autor reconhece a existncia de trs paradigmas no campo: o primeiro, a que denomina paradigma fsico; o segundo, que identica como o paradigma cognitivo; e o terceiro, ao qual ele prprio se lia, denominado paradigma social (CAPURRO, 2003). Criticando os dois primeiros, o autor subverte a ideia comum que se tem de que a informao algo prvio que cria o conhecimento, propondo que, na verdade, o que ocorre o contrrio, pois a informao o conhecimento em ao informao contextualizar o conhecimento, algo s pode ser considerado informao pelos atores sociais se j se tem conhecimento daquilo que denido como informao. Capurro faz srias crticas ao que chama de modelo representacionista (presente nos dois paradigmas que critica) ao recusar a ideia de representao como duplicao, na mente de um sujeito, de uma realidade externa a ele, proveniente da mente de outro sujeito. Para ele, a informao no seria, ento, o produto ltimo de um processo de representao, nem algo que transportado de uma pessoa a outra ou mesmo algo especco para
201
Carlos Alberto vila Arajo
uma subjetividade isolada. Ela seria, antes de tudo, uma dimenso fundamental da forma como os seres humanos compartilham o mundo com os outros (CAPURRO, 1992). J Rendn Rojas (2005) busca ir alm da tradicional distino entre dado, informao e conhecimento, a partir de outra trade de conceitos: informao, conhecimento e valor. O autor entende a informao como uma qualidade secundria de objetos particulares. Sua perspectiva essencialmente dialtica: o autor entende a informao como a unio de dois extremos, os elementos objetivos (dados) e subjetivos (as estruturas interpretativas dos sujeitos). Rendn Rojas reconhece a existncia de uma dimenso objetiva, mas tambm contempla a subjetividade dos sujeitos que vo construindo os valores (valores tais como beleza, verdade, bondade e poderamos acrescentar informao). Para tal empreitada terica, o autor mobiliza conceitos to distintos quanto inferncia, assimilao, adaptao, imaginao e criatividade. Deve-se destacar ainda, no mbito da CI, as aproximaes junto semitica, com nfase nas cadeias semisicas, isto , nas sucessivas elaboraes e reelaboraes de sentido das informaes, tendo como eixo a tricotomia proposta por Peirce: objeto, signo, interpretante (SOREN, 1992). Em tais estudos, resgata-se a dimenso semntica da informao, descartada pela Teoria Matemtica e por quase toda a pesquisa em CI que se seguiu nos anos posteriores publicao das ideias de Shannon e Weaver. A informao, como signo, tem como uma de suas propriedades a vagueza prpria do signo, isto , o fato de ele representar apenas em parte algo para algum. Tambm devem ser relacionadas as teorizaes contemporneas relativas ao conceito de regime de informao, que buscam analisar os fluxos informacionais a partir de sua insero nas dimenses poltico-econmicas concretas de um contexto especco, isto , incorporando no estudo da informao os contextos institucionais, condies materiais, sistemas regulatrios e posies ocupadas pelos diferentes sujeitos que se relacionam
202
com e para alm da informao. Frohmann (2008) constri sua fundamentao justamente a partir da crtica abordagem cognitivista, tida por ele como uma abordagem cujo conceito de informao essencialmente mentalista, que v o ser humano apenas como um ser cognoscente, desprezando todos os condicionamentos sociais e materiais do existir humano. Continuando a crtica, Frohmann aponta que tal viso da informao limita o estudo dos efeitos da informao s mudanas de estado de conscincia individual, e toda tentativa de estudar os efeitos pblicos e sociais estaria limitada a contar quantos indivduos so afetados. A reconstruo do conceito de informao, pelo autor, passa pela ideia de materialidade da informao conjugada com os campos institucional, tecnolgico, poltico, econmico e cultural que conguram as caractersticas sociais da informao. Tambm Braman (2004) tem trabalhado com a noo de informao articulada ao conceito de regimes de informao, principalmente relacionada com as polticas de informao. Em tal abordagem, o papel ativo dos atores na defesa de seus interesses e na congurao dos sistemas institucionalizados ganha uma dimenso que recongura toda a forma de se pesquisar a informao. Os estudos na perspectiva da anlise de domnio (HJORLAND; ALBRECHTSEN, 1995) constituem importante exemplo do movimento de superao do conceito de informao, principalmente ao identificarem a existncia de diferentes entendimentos do que seja informao para grupos especficos de atores que se relacionam com a informao. Ao resgatar a ideia de intersubjetividade, tais estudos apontam para o carter construdo da informao e para o papel ativo dos sujeitos que atuam no mbito dos sistemas de informao e para alm destes. Juntos, tais estudos recuperam as dimenses material e cultural em que se do os uxos informacionais e representam um ressurgimento, com grande nfase, da dimenso pragmtica descartada pela Teoria Matemtica: a informao existe num contexto concreto, particular, especco, que precisa
Ci. Inf., Braslia, DF, v. 38, n. 3, p.192-204, set./dez., 2009
Correntes tericas da cincia da informao
necessariamente ser contemplado nos estudos. Abre-se com isso, entre outras, a possibilidade de estudos com abordagens fenomenolgicas na contramo da perspectiva original da CI que ansiava por leis e generalizaes sobre o comportamento da informao. Na confluncia das contribuies das teorias citadas, bem como de outras que no foram citadas neste texto, desenha-se uma perspectiva nova de estudos da informao, que a entende no mais como coisa, mas como processo algo construdo, essencialmente histrico e cultural, que s pode ser apreendido na perspectiva dos sujeitos que a produzem, a disseminam e a utilizam. A informao deixa de ser apreendida como um objeto fsico, com a mesma natureza de uma cadeira, uma pedra, um elemento qumico, e passa a ser entendida como um fenmeno humano (portanto, cultural e histrico) tal como o poder, a ideologia, a felicidade, entre outros. CONSIDERAES FINAIS A histria da CI pode ser entendida, assim, como a histria da gradual consolidao de um paradigma positivista para o campo, que se d com a incorporao de teorias, conceitos e mtodos de vrias correntes (de diferentes reas do conhecimento) e se manifesta de maneiras particulares nas vrias subreas que o compem. Tal paradigma partilha com o positivismo todas as suas caractersticas: a explicao como sinnimo de simplificao, a quantificao, a busca por regularidades e leis e o consequente apagamento das singularidades. Partilha, tambm, suas limitaes sendo a principal delas a incapacidade de capturar aquilo que o mtodo no d conta de apreender: a informao subjetiva, dotada de sentidos diversos e inserida no terreno da experincia histrico-cultural.
Ao longo de sua prpria evoluo, contudo, principalmente nas duas ltimas dcadas, reexes tericas, discusses consistentes sobre o prprio conceito de informao e achados empricos das pesquisas realizadas tm colocado em xeque a hegemonia desse modelo ainda que outro modelo ou teoria geral no tenha, ainda, emergido. Provavelmente, alis, tal modelo sequer venha a emergir, pois o tipo de crtica apontada nos vrios estudos contemporneos se d mais numa perspectiva pontual, em relao a um ou outro aspecto, do que de uma forma geral, global. O que a existncia de tais estudos evidencia a complexidade do fenmeno estudado a informao e a consequente complexidade necessria para as teorias que se propem a estudlo. Assim, o movimento de superao terica da CI tende a ser o movimento da incorporao da complexidade, por um lado; e da sua vinculao decisiva ao terreno das cincias humanas e sociais, de outro. Deve-se salientar, contudo, que estudos de natureza positivista, que rearmam o conceito de informao na perspectiva objetivista, sem a considerao do sujeito e dos contextos socioculturais concretos, que tomam a informao como um dado e no como uma construo, continuam existindo e constituindo a perspectiva mais comum dos estudos desenvolvidos no campo. Ou seja: a conscincia da imaturidade do campo existe (WERSIG, 1993), e o que se percebe que ainda existe longo caminho a trilhar rumo maior consistncia principalmente em relao consolidao das crticas que tm sido feitas ao modelo positivista de compreenso da informao e possibilidade de construo de novas teorias e conceitos.
Artigo submetido em 30/04/2009 e aceito em 22/04/2010.
Ci. Inf., Braslia, DF, v. 38, n. 3, p.192-204, set./dez., 2009
203
Carlos Alberto vila Arajo
REFERNCIAS BRAMAN, Sandra. The emergent global information policy regime. Houndsmills: Palgrave Macmillan, 2004, p. 12-37. BORKO, H. Information science: what is this? American Documentation, v. 19, 3-5, 1968. BOURDIEU, Pierre. A distino: crtica social do julgamento. Porto Alegre: Zouk; So Paulo: Edusp, 2007. BUCKLAND, M. K. Information as a thing. Journal of the American Society for Information Science, v. 42, n. 5, p. 351-360, Jun. 1991. CAPURRO, Rafael. What is information science for? A philosophical reection. In: VAKKARI, P.; CRONIN, B. (Eds).Conceptions of library and information science: historical, empirical and theoretical perspectives. Londres; Los Angeles: Taylor Graham, 1992. p. 82-96. CAPURRO, Rafael. Epistemologia e cincia da informao. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CINCIA DA INFORMAO, 5., 2003, Belo Horizonte. Anais... Belo Horizonte: Associao Nacional de Pesquisa e Ps-Graduao em Cincia da Informao e Biblioteconomia, 2003. 1 CD-ROM. CORNELIUS, Ian. Meaning and method in information studies. New Jersey: Ablex, 1996. FOSKETT, A.C. A abordagem temtica da informao. So Paulo: Polgono; Braslia: Ed. UnB, 1973. FROHMANN, Bernd. O carter social, material e pblico da informao. In: FUJITA, M.; MARTELETO, R.; LARA, M. (Orgs). A dimenso epistemolgica da cincia da informao e suas interfaces tcnicas, polticas e institucionais nos processos de produo, acesso e disseminao da informao. So Paulo: Cultura Acadmica; Marlia: Fundepe, 2008, p. 19-34. HJORLAND, Birger; ALBRECHTSEN, Hanne. Toward A New Horizon in Information Science: Domain Analysis. Journal of the American Society for Information Science, v. 46, n. 6, p. 400-425, 1995. INGWERSEN, Peter. Conceptions of information science. In: VAKKARI, P.; CRONIN, B. (Eds). Conceptions of library and information science: historical, empirical and theoretical perspectives. Londres; Los Angeles: Taylor Graham, 1992, p. 299-312. LE COADIC, Yves. A matemtica da informao. In: TOUTAIN, Ldia (Org). Para entender a cincia da informao. Salvador: Edufba, 2007, p. 219-238. MATTELART, Armand. Histria da sociedade da informao. So Paulo: Loyola, 2002. RANGANATHAN, S.R. The ve laws of library science. Madras: Madras Library Association; London: Edward Goldston, 1931. REES, Alan; SARACEVIC, Tefko. Education for information science and its relation to librarianship. [no publicado]. 1967. RENDN ROJAS, Miguel ngel. Relacin entre los conceptos: informacin, conocimiento y valor. Semejanzas y diferencias. Cincia da Informao, Braslia, v. 34, n. 2, p. 52-61, maio/ago. 2005. RIVIRE, Georges. La museologa: curso de museologa, textos y testimonios. Madrid: Akal, 1993. SARACEVIC, Tefko. Cincia da informao: origem, evoluo e relaes. Perspectivas em Cincia da Informao. Belo Horizonte, v. 1, n. 1, p. 41-62, jan./jun. 1996. SCHELLENBERG, T.R. Arquivos modernos. Rio de Janeiro: FGV, 1973. SHERA, Jesse. Sociological foundations of librarianship. New York: Asia Publishing House, 1970. SOREN, Brier. A philosophy of science perspective on the idea of a unifying information science. In: In: VAKKARI, P.; CRONIN, B. (Eds). Conceptions of library and information science: historical, empirical and theoretical perspectives. Londres, Los Angeles: Taylor Graham, 1992, p. 97-108. TAYLOR, R.S. Professional aspects of information science and technology. In: CUADRA, C.A. (Ed). Annual Review of Information Science and Technology. New York: John Wiley, v. 1, 1966, p. 15-40. WERSIG, Gernot. Information science: the study of postmodern knowledge usage. Information Processing & Management, v. 29, n. 2, Mar. 1993, p. 229-239.
204
Ci. Inf., Braslia, DF, v. 38, n. 3, p.192-204, set./dez., 2009
Você também pode gostar
- Modelo de Teste de Lógica e RaciocínioDocumento1 páginaModelo de Teste de Lógica e Raciocíniostevan.sj80% (56)
- Quati Manual (Revisado)Documento34 páginasQuati Manual (Revisado)Jéssica Feitosa100% (21)
- 7º Ano - Módulo, Oposto e Comparação de Números InteirosDocumento1 página7º Ano - Módulo, Oposto e Comparação de Números InteirosFabiola Silva76% (46)
- WERSIG, G., NEVELING, U. The Phenomena of Interest To Information Science. The Information Scientist. v.9, n.4, 1975.Documento21 páginasWERSIG, G., NEVELING, U. The Phenomena of Interest To Information Science. The Information Scientist. v.9, n.4, 1975.Frederico Borges MachadoAinda não há avaliações
- Sistemas de Informação e a Teoria do CaosNo EverandSistemas de Informação e a Teoria do CaosAinda não há avaliações
- Capurro Epistemologia e Ciencia Da InformacaoDocumento22 páginasCapurro Epistemologia e Ciencia Da InformacaoFlávio AraújoAinda não há avaliações
- Organização Da Informação Ou Organização Do ConhecimentoDocumento14 páginasOrganização Da Informação Ou Organização Do ConhecimentobiblioqueAinda não há avaliações
- A Biblioteca Digital - Cap 12Documento17 páginasA Biblioteca Digital - Cap 12Umberto100% (1)
- Ufmg2008 AprovadosDocumento127 páginasUfmg2008 AprovadosUmbertoAinda não há avaliações
- Ficha - Preparação TesteDocumento2 páginasFicha - Preparação Testehelenabray83% (6)
- RP 06 Filosofar e ViverDocumento11 páginasRP 06 Filosofar e ViverMarcelo Victor100% (1)
- As Formas Da Informação Um Olhar Aos Conceitos de Informação e Fluxo de InformaçãoDocumento22 páginasAs Formas Da Informação Um Olhar Aos Conceitos de Informação e Fluxo de InformaçãoÉden RodriguesAinda não há avaliações
- SaracevicDocumento9 páginasSaracevicwaglampiaoAinda não há avaliações
- Conceitos de Informação Na Ciência Da InformaçãoDocumento13 páginasConceitos de Informação Na Ciência Da InformaçãoPhilippe ModoloAinda não há avaliações
- Relações Mútuas Entre Informação e ConhecimentoDocumento9 páginasRelações Mútuas Entre Informação e ConhecimentoLetícia LinharesAinda não há avaliações
- 2014 - ARAÚJO - Fundamentos Da Ciência Da Informação - Correntes Teóricas PDFDocumento23 páginas2014 - ARAÚJO - Fundamentos Da Ciência Da Informação - Correntes Teóricas PDFJanice AbreuAinda não há avaliações
- ARAUJO C A A - O Conceito de Infromação Na CiDocumento12 páginasARAUJO C A A - O Conceito de Infromação Na CiCaroline PolliAinda não há avaliações
- PINHEIRO, L. V. R. Informação. (Rio de Janeiro), Ano. 2, Nº 4. 2004.Documento14 páginasPINHEIRO, L. V. R. Informação. (Rio de Janeiro), Ano. 2, Nº 4. 2004.Luiz Carlos SoledadeAinda não há avaliações
- ARAÚJO, Carlos Alberto Ávila. A Ciência Da Informação Como Ciência Social. Brasília: Ciência Da Informação, v. 32, N. 3, P. 21-27, Set./dez. 2003Documento7 páginasARAÚJO, Carlos Alberto Ávila. A Ciência Da Informação Como Ciência Social. Brasília: Ciência Da Informação, v. 32, N. 3, P. 21-27, Set./dez. 2003UmbertoAinda não há avaliações
- Artigo - A Interligação Entre Comunicação e InformaçãoDocumento17 páginasArtigo - A Interligação Entre Comunicação e InformaçãoThaís BritoAinda não há avaliações
- Trabalho de Produção Textual - Valdir, Lucimara e SaraDocumento3 páginasTrabalho de Produção Textual - Valdir, Lucimara e SaraAna Claudia ConstantinoAinda não há avaliações
- 409 Questões Pensamento CientíficoDocumento67 páginas409 Questões Pensamento Científicoleeale0720Ainda não há avaliações
- Resumo Capítulo 3 - SeminárioDocumento6 páginasResumo Capítulo 3 - Semináriothamarakcorreia1991Ainda não há avaliações
- VANTI, Nadia Auroura P. Da Bibliometria À Webometria.Documento11 páginasVANTI, Nadia Auroura P. Da Bibliometria À Webometria.marlon_francis1Ainda não há avaliações
- Fichamento Angela-Capurro-HjorlandDocumento14 páginasFichamento Angela-Capurro-Hjorlandasantos22@gmail.comAinda não há avaliações
- Fake News Na CiênciaDocumento9 páginasFake News Na CiênciaJailson José FerreiraAinda não há avaliações
- Tipos de ParadigmasDocumento12 páginasTipos de Paradigmaswillame_dk100% (1)
- Epistemologia e Ciencia Da InformacaoDocumento26 páginasEpistemologia e Ciencia Da InformacaoEliaquim FerreiraAinda não há avaliações
- Sodré (2007) Sobre A Episteme ComunicacionalDocumento13 páginasSodré (2007) Sobre A Episteme ComunicacionalZanza GomesAinda não há avaliações
- GAMBOA QualitativaDocumento14 páginasGAMBOA QualitativaJanaina GuimaraesAinda não há avaliações
- O Substrato Invisível de CIDocumento15 páginasO Substrato Invisível de CImayramesquitaAinda não há avaliações
- 36762-Texto Do Artigo-123351-1-10-20190923Documento12 páginas36762-Texto Do Artigo-123351-1-10-20190923jader damascenoAinda não há avaliações
- A Filosofia Da Informação No Brasil - Uma Representação Dos Artigos Cinéticos Produzidos Entre Os AnosDocumento7 páginasA Filosofia Da Informação No Brasil - Uma Representação Dos Artigos Cinéticos Produzidos Entre Os AnosAntonio Carlos Nascimento NetoAinda não há avaliações
- Ontologia e TaxonomiaDocumento12 páginasOntologia e TaxonomiaFelipe MarraAinda não há avaliações
- Informação Como Coisa - Michael BucklandDocumento18 páginasInformação Como Coisa - Michael BucklandNayaraRégisFranzAinda não há avaliações
- Metodo CientificoDocumento8 páginasMetodo CientificoLeonardoAinda não há avaliações
- A Abordagem Teórica de Lena Vania Ribeiro Pinheiro Sobre Os Conceitos Inter e TransdisciplinaridadeDocumento8 páginasA Abordagem Teórica de Lena Vania Ribeiro Pinheiro Sobre Os Conceitos Inter e TransdisciplinaridadeVitoria SantosAinda não há avaliações
- Informação e Teoria Quântica Autor Olival Freire Junior & Ileana Maria GrecaDocumento23 páginasInformação e Teoria Quântica Autor Olival Freire Junior & Ileana Maria Grecawilson batista dos santosAinda não há avaliações
- Epistemologia e Ciencia Da InformaçãoDocumento23 páginasEpistemologia e Ciencia Da InformaçãolytaAinda não há avaliações
- Texto 5 - O Conceito de Informação Étnico-RacialDocumento26 páginasTexto 5 - O Conceito de Informação Étnico-RacialEri DiasAinda não há avaliações
- Minayo - Fase de Análise Do Material QualitativoDocumento19 páginasMinayo - Fase de Análise Do Material QualitativoCarlos LinharesAinda não há avaliações
- 421-Questões Da Prova de Pensamento Cientifico 2Documento78 páginas421-Questões Da Prova de Pensamento Cientifico 2keilamartins232Ainda não há avaliações
- Bibliometria Cientometria e Infometria Conceitos e Aplica Es PDFDocumento18 páginasBibliometria Cientometria e Infometria Conceitos e Aplica Es PDFEnila NobreAinda não há avaliações
- (LIVRO) Quimica Geral - J.B. Russel Vol1 - Cap7Documento61 páginas(LIVRO) Quimica Geral - J.B. Russel Vol1 - Cap7Paulinha MoraisAinda não há avaliações
- Arquivologia e Gestão Da Informação PDFDocumento6 páginasArquivologia e Gestão Da Informação PDFWane MenezesAinda não há avaliações
- Termo, Conceito e Relações ConceituaisDocumento14 páginasTermo, Conceito e Relações ConceituaisVictor Castilho BorgesAinda não há avaliações
- Origem e Voluação de Recuperaçõa (Equipa 1)Documento17 páginasOrigem e Voluação de Recuperaçõa (Equipa 1)Wako FernandoAinda não há avaliações
- A Teoria Da Comunicação - ResumoDocumento7 páginasA Teoria Da Comunicação - ResumoTiyojo Mutimucuio Jr.Ainda não há avaliações
- 14500-Texto Do Artigo-44755-1-10-20100818Documento10 páginas14500-Texto Do Artigo-44755-1-10-20100818tepihi4627Ainda não há avaliações
- Buzato - Práticas de Letramento Na Ótica Da Teoria Ator-RedeDocumento18 páginasBuzato - Práticas de Letramento Na Ótica Da Teoria Ator-RedeCyntia JorgeAinda não há avaliações
- Rafael Capurro e A Filosofia Da InformacaoDocumento26 páginasRafael Capurro e A Filosofia Da Informacaocmsandre2011Ainda não há avaliações
- Ensaio TEORIA DO DESIGNDocumento13 páginasEnsaio TEORIA DO DESIGNpaulofdinizAinda não há avaliações
- 2020 Resenha Expandida Campos-2004 PDFDocumento7 páginas2020 Resenha Expandida Campos-2004 PDFJunio LopesAinda não há avaliações
- Amado 2014Documento15 páginasAmado 2014Mauro Tiago NjeleziAinda não há avaliações
- Paradigmas, Eixos Temáticos e Tensões Na PTO No BrasilDocumento9 páginasParadigmas, Eixos Temáticos e Tensões Na PTO No BrasilTatiane GandraAinda não há avaliações
- Fundamentos Da Biblioteconomia e Ciência Da Informação U.3Documento28 páginasFundamentos Da Biblioteconomia e Ciência Da Informação U.3Isabel SilvaAinda não há avaliações
- Ética de Floridi Por Nélida GonzalesDocumento24 páginasÉtica de Floridi Por Nélida GonzalesMariane PintoAinda não há avaliações
- Wersig - Neveling - Os Fenômenos de Interesse para A Ciência Da Informação PDFDocumento15 páginasWersig - Neveling - Os Fenômenos de Interesse para A Ciência Da Informação PDFMárcio BezerraAinda não há avaliações
- Ciencia Da Informaqao: Pensamento Informacional E Integração DisciplinarDocumento25 páginasCiencia Da Informaqao: Pensamento Informacional E Integração DisciplinarDiogo BarrosAinda não há avaliações
- GONZÁLEZ DE GÓMEZ - A Reivenção Contemporânea Da Informação - Entre o Material e o ImaterialDocumento20 páginasGONZÁLEZ DE GÓMEZ - A Reivenção Contemporânea Da Informação - Entre o Material e o Imaterialvladimir_sibyllaAinda não há avaliações
- Ciencia Da Informaçao e Pos ModernidadeDocumento14 páginasCiencia Da Informaçao e Pos ModernidadeEveline RodriguesAinda não há avaliações
- Souza Et Al 2015Documento15 páginasSouza Et Al 2015Leonora DuarteAinda não há avaliações
- Informação e ação: Estudos interdisciplinaresNo EverandInformação e ação: Estudos interdisciplinaresAinda não há avaliações
- Reputação em dois estágios: Construção social de padrões e de julgamentosNo EverandReputação em dois estágios: Construção social de padrões e de julgamentosAinda não há avaliações
- Artigo 8 Paulo Cesar Tomaz Fenix Maio Agosto 2010Documento12 páginasArtigo 8 Paulo Cesar Tomaz Fenix Maio Agosto 2010Daniela DantasAinda não há avaliações
- Camargo, 2009 PDFDocumento7 páginasCamargo, 2009 PDFUmbertoAinda não há avaliações
- Mankiw, N. G. Cap. 22Documento19 páginasMankiw, N. G. Cap. 22Umberto0% (1)
- MARX, K. - O Trabalho Alienado e A Superação Positiva Da Auto-Alienaçao HumanaDocumento37 páginasMARX, K. - O Trabalho Alienado e A Superação Positiva Da Auto-Alienaçao HumanaUmberto100% (2)
- Ismail Xavier (Org.) A Experiência Do Cinema - Prazer Visual e Cinema NarrativoDocumento19 páginasIsmail Xavier (Org.) A Experiência Do Cinema - Prazer Visual e Cinema NarrativoUmberto100% (1)
- Jacques Rittaud-Hutinet - Os Irmãos LumiereDocumento23 páginasJacques Rittaud-Hutinet - Os Irmãos LumiereUmbertoAinda não há avaliações
- SARACEVIC, T. Ciência Da Informação: Origem, Evolução e Relações. Perpectivas em Ciência Da Informação, v.1, n.1, p.41-62, Jan/jun. 1996.Documento22 páginasSARACEVIC, T. Ciência Da Informação: Origem, Evolução e Relações. Perpectivas em Ciência Da Informação, v.1, n.1, p.41-62, Jan/jun. 1996.UmbertoAinda não há avaliações
- Ciencia Coisa BoaDocumento4 páginasCiencia Coisa BoaUmberto100% (3)
- BARBOSA, Ricardo Rodrigues. Gestão Da Informação e Do ConhecimentoDocumento25 páginasBARBOSA, Ricardo Rodrigues. Gestão Da Informação e Do ConhecimentoUmbertoAinda não há avaliações
- Mer - Modelo Entidade ToDocumento3 páginasMer - Modelo Entidade ToUmbertoAinda não há avaliações
- ARAÚJO, Carlos Alberto Ávila. A Ciência Da Informação Como Ciência Social. Brasília: Ciência Da Informação, v. 32, N. 3, P. 21-27, Set./dez. 2003Documento7 páginasARAÚJO, Carlos Alberto Ávila. A Ciência Da Informação Como Ciência Social. Brasília: Ciência Da Informação, v. 32, N. 3, P. 21-27, Set./dez. 2003UmbertoAinda não há avaliações
- CHAUÍ, Marilena A CulturaDocumento7 páginasCHAUÍ, Marilena A CulturaUmbertoAinda não há avaliações
- A Ciência Pode Ser Usada para Defender Que Vivemos em Uma Simulação - CanaltechDocumento8 páginasA Ciência Pode Ser Usada para Defender Que Vivemos em Uma Simulação - CanaltechJames M. Oliveira PreacherAinda não há avaliações
- Lista03 Numeros e FuncoesDocumento2 páginasLista03 Numeros e FuncoesHelder Oliveira RodriguesAinda não há avaliações
- Exercícios - ESAF - Aula 031 - Agente de Trabalhos de EngenhariaDocumento6 páginasExercícios - ESAF - Aula 031 - Agente de Trabalhos de EngenhariaAlex MarquesAinda não há avaliações
- A Poesia Da ArquiteturaDocumento5 páginasA Poesia Da ArquiteturaBruno FirminoAinda não há avaliações
- Apostila Sistemas Digitais Ii - 22-05-07Documento132 páginasApostila Sistemas Digitais Ii - 22-05-07oirstai619Ainda não há avaliações
- ConjuntosDocumento8 páginasConjuntosAni SilvaAinda não há avaliações
- Análise Convexa e HiperplanosDocumento28 páginasAnálise Convexa e HiperplanosmrmprotegidoAinda não há avaliações
- 2013 - 2 Sem - Aula 1 - Introdução A Funções de 2 VariáveisDocumento6 páginas2013 - 2 Sem - Aula 1 - Introdução A Funções de 2 VariáveisHeberfrancoAinda não há avaliações
- Calculo Diferencial Geometrico RNDocumento86 páginasCalculo Diferencial Geometrico RNFilipe AlemãoAinda não há avaliações
- Abdução (Lógica Filosófica)Documento1 páginaAbdução (Lógica Filosófica)Julio Cesar Nascimento ErculanoAinda não há avaliações
- Apostila Algoritmos VQV - Prof LuceliaDocumento37 páginasApostila Algoritmos VQV - Prof LuceliaLeandro SchuckAinda não há avaliações
- A História Da Historiografia e o Desafio Do Giro Linguístico PDFDocumento19 páginasA História Da Historiografia e o Desafio Do Giro Linguístico PDFFelipe FernandesAinda não há avaliações
- AULA2Documento20 páginasAULA2Super Monkey moonAinda não há avaliações
- Programação C#Documento20 páginasProgramação C#J RAinda não há avaliações
- Teoria Das Inferências ImediatasDocumento3 páginasTeoria Das Inferências ImediatasÁlison PaleseAinda não há avaliações
- Trabalho Lavyness FilosofiaDocumento11 páginasTrabalho Lavyness FilosofiaKanú Mário Namandaga100% (2)
- Lógica e Consciência - Olavo de CarvalhoDocumento3 páginasLógica e Consciência - Olavo de CarvalhoPablo FerreiraAinda não há avaliações
- Edital Verticalizado TJ BA Técnico Judiciário Escrevente Pós EditalssDocumento9 páginasEdital Verticalizado TJ BA Técnico Judiciário Escrevente Pós Editalssmarcelly mendonça100% (1)
- Aula 01 - Introdução À LógicaDocumento11 páginasAula 01 - Introdução À LógicaNathy SantosAinda não há avaliações
- Sucessões 1Documento5 páginasSucessões 1patriciags100% (1)
- Cad - Est Mat Anexos Aluno 2ºano 2ºbiDocumento23 páginasCad - Est Mat Anexos Aluno 2ºano 2ºbifractaisAinda não há avaliações
- UnB Lineu - Neto Algebra1Documento196 páginasUnB Lineu - Neto Algebra1Ronald Martins0% (1)
- Prova 4 - Grupo D - Nível Médio IIDocumento9 páginasProva 4 - Grupo D - Nível Médio IISandrickAinda não há avaliações
- O Duro A Pedra e A Lama (Revista Antropolítica, 2005)Documento26 páginasO Duro A Pedra e A Lama (Revista Antropolítica, 2005)Zé ColaçoAinda não há avaliações
- Os Fundamentos Da Ciencia Moderna Na Idade MediaDocumento31 páginasOs Fundamentos Da Ciencia Moderna Na Idade MediaJuliano CarvalhoAinda não há avaliações