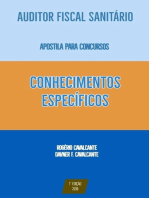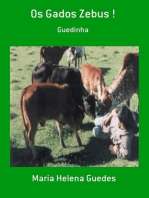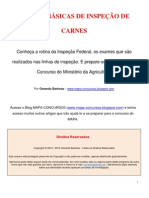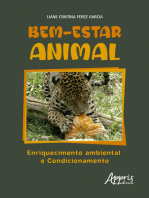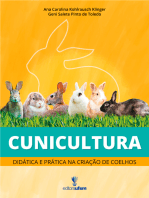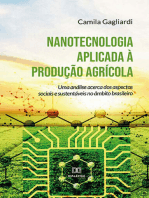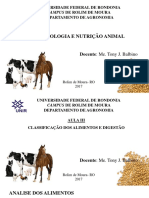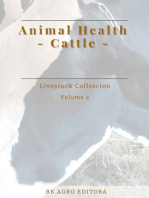Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Inspecao Sanitaria de Produtos Animais
Inspecao Sanitaria de Produtos Animais
Enviado por
Vandilson JunqueiraTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Inspecao Sanitaria de Produtos Animais
Inspecao Sanitaria de Produtos Animais
Enviado por
Vandilson JunqueiraDireitos autorais:
Formatos disponíveis
DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINRIA
TRABALHO DE CONCLUSO DO CURSO DE MEDICINA VETERINRIA
rea de Inspeo Sanitria de Produtos de Origem Animal Acadmico: Paula Cristina de Azevedo Pintor Orientador: Prof. Alexander Magalhes Goulart Dornelles Supervisor: Md. Vet. Daniela dos Santos Anelli Fernandes
Braslia DF Novembro, 2006.
ii
Gostaria pai, que o senhor estivesse compartilhando comigo essa conquista, embora eu saiba que cheguei at aqui porque o senhor me guiou e que jamais estive sozinha. Obrigada por me ajudar na concretizao desse sonho... Dedico ao senhor, Pedro Pintor, meu pai, este trabalho.
iii
AGRADECIMENTOS
Ao meu pai, que, embora j no estivesse mais entre ns, foi o grande responsvel pela minha escolha por essa profisso, um apaixonado pela natureza. minha me, pela pacincia e apoio incondicional. minha filha, Yasmin, pela compreenso e pela promessa de seguir meus passos, o que me incentiva sempre mais e me faz ainda mais persistente. Meus irmos, pela confiana. Aos amigos e colegas por compartilharem conhecimento e, acima de tudo, pelo incentivo e amizade. Ao Mdico Veterinrio, meu professor, Alexander Magalhes Goulart
Dornelles, responsvel pelo meu interesse por Inspeo Sanitria. E aos outros professores, no menos importantes, pela disposio em me ensinar, pela confiana depositada e at pelas broncas que me fizeram crescer e me faro, sem dvida, melhor, no s como profissional, mas, principalmente, como pessoa.
Muito Obrigada!
iv
SUMRIO 1. INTRODUO.................................................................................................. 7 2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.................................................................... 9 2.1 UTILIZAO DE PLANILHAS.................................................................... 9 2.1.1 PLANILHA DO SETOR DE ABATE.................................................... 9 2.1.2 PLANILHA DO SETOR DE MIDOS................................................. 9 2.1.3 PLANILHA DO SETOR DE DESOSSA.............................................. 10 2.1.4 PLANILHA DO CONTROLE DE PH DA CARNE................................ 10 2.1.5 PLANILHA DE APPCC....................................................................... 10 2.1.6 PLANILHA DE SWAB......................................................................... 10 3. DISCUSSO..................................................................................................... 12 3.1 BOAS PRTICAS DE FABRICAO (BPF).............................................. 18 3.2 PROCEDIMENTO PADRO DE HIGIENE OPERACIONAL (PPHO)........ 25 3.3 HIGIENE GERAL........................................................................................ 26 3.3.1 A GUA.............................................................................................. 26 3.3.1.1 CARACTERSTICAS DE NATUREZA FSICA DA GUA.......... 27 3.3.1.2 CARACTERSTICAS DE NATUREZA QUMICA DA GUA...... 28 3.3.2 EFICINCIA DA LIMPEZA................................................................. 29 3.3.2.1 TIPOS DE SUJIDADES.............................................................. 29 3.3.2.2 SUPERFCIE A SER LIMPA....................................................... 30 3.3.2.3 TEMPO....................................................................................... 30 3.3.2.4 TEMPERATURA......................................................................... 30 3.3.2.5 AO QUMICA......................................................................... 30 3.3.2.6 AO MECNICA...................................................................... 30 3.3.2.7 AGENTES DE LIMPEZA............................................................ 31 3.3.3 TIPOS DE DETERGENTES............................................................... 32 3.3.3.1 DETERGENTES ALCALINOS.................................................... 32 3.3.3.2 DETERGENTES CIDOS.......................................................... 32 3.3.3.3 DETERGENTES TENSOATIVOS.............................................. 33 3.3.4 FASES DA HIGIENIZAO............................................................... 33
3.3.5 MTODOS DE HIGIENIZAO......................................................... 34 3.3.5.1 HIGIENIZAO MANUAL.......................................................... 34 3.3.5.2 HIGIENIZAO POR IMERSO................................................ 34 3.3.5.3 HIGIENIZAO POR MQUINA LAVA JATO TIPO TNEL..... 35 3.3.5.4 HIGIENIZAO POR MEIO DE EQUIPAMENTO SPRAY........ 35 3.3.5.5 HIGIENIZAO POR NEBULIZAO OU ATOMIZAO........ 35 3.3.5.6 HIGIENIZAO POR CIRCULAO......................................... 35 3.3.6 SANIFICANTES.................................................................................. 35 4. CONTROLE DE PRAGAS............................................................................... 38 4.1 ROEDORES............................................................................................... 38 4.2 BARATAS................................................................................................... 39 4.3 MOSCAS.................................................................................................... 40 4.4 AVES.......................................................................................................... 40 5. CONCLUSES................................................................................................. 42 6. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS.............................................................. 7. ANEXOS......................................................................................................... 43 45
ANEXO 1 Planilha de Controle dirio de Qualidade do setor de abate......... 46 ANEXO 2 Planilha de Controle dirio de Qualidade do setor de midos...... 47 ANEXO 3 Planilha de Controle dirio de Qualidade do setor de desossa.... 48 ANEXO 4 Planilha de Controle Semanal de pH........................................... 49 ANEXO 5 - Planilha de APPCC Pontos de Monitoramento do setor de abate..................................................................................................................... 50
vi
LISTA DE TABELAS TABELA 1 - Produtos de Higienizao Utilizados na Empresa Fricarmo Cidade Ocidental GO.................................................................. 24 TABELA 2 - Especificao dos produtos qumicos utilizados na Empresa Fricarmo Cidade Ocidental GO................................................ 33
1. INTRODUO
O presente trabalho de concluso do curso de Medicina Veterinria descreve as atividades desenvolvidas durante o Estgio Supervisionado Obrigatrio. Orientado pelo Mdico Veterinrio, Alexander Magalhes Goulart Dornelles, o estgio com incio em 04 de Julho e trmino em 29 de Setembro de 2006, perfazendo uma carga horria total de 450 horas foi realizado no Matadouro Frigorfico de bovinos Fricarmo, Agroeste Agropecuria Centro Oeste Ltda, firma regularmente estabelecida a Rod. Go 09 Km 12 Fazenda Mesquita Zona Rural, Cidade Ocidental/ Gois. Acompanhando todo o processo de industrializao de carnes in natura, permanecendo mais especificamente na rea de controle de qualidade da empresa. A preocupao do consumidor com procedncia e qualidade dos alimentos se encontra crescente, embora muitos desconheam o trabalho realizado pelo Mdico Veterinrio neste tipo de estabelecimento. Tendo em vista o aumento, em nmero, de Indstrias como essa, faz-se necessrio que a empresa mantenha um controle rigoroso de qualidade visando atender as expectativas dos consumidores. A empresa que almeja destacar-se perante as outras, deve investir, sobretudo em qualidade, sendo, a higienizao, principal desencadeador desse processo. imprescindvel que gerentes, supervisores e monitores tenham conhecimento sobre mtodos de limpeza, equipamentos e produtos necessrios para a higienizao de estabelecimentos processadores de alimentos, com objetivo de garantir a qualidade de produtos de origem animal comestveis e no-comestveis, evitando prejuzos
sade pblica e animal, perdas nutricionais e disseminao de doenas. fundamental ainda, conscientizar os funcionrios da importncia da higiene, tanto pessoal, quanto de instalaes, equipamentos e utenslios, porm, necessrio dar a eles condies para isso. A escolha dessa rea de atuao deveu-se ao meu interesse pelo controle de qualidade e preocupao com higiene na indstria de processamento de produtos de origem animal.
2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Durante o perodo de estgio, atuando no Controle de Qualidade da Empresa, mais especificamente visando garantir a qualidade dos produtos ali produzidos, sendo eles: cortes desossados e peas inteiras. 2.1 - Utilizao de planilhas: 2.1.1 - Planilha do Setor de Abate: Aferir de hora em hora teor de cloro da gua das pias e do lavador de botas que deve manter-se entre 0.50 ppm e 1.0 ppm (segundo a Mdica Veterinria do estabelecimento), aferir a temperatura de dois dos esterilizadores, cada um em um extremo, devendo, a gua, encontrar-se a 82,5C, sendo que as caldeiras eram desligadas ao atingir essa temperatura. Caso a temperatura viesse a baixar, as caldeiras seriam novamente ligadas. Verificar a higienizao dos funcionrios antes da entrada na sala e sempre que sarem, bem como se esto sendo dadas condies para isso, como sabo na pia e no lava-botas, papel-toalha, sanificante e tambm a higienizao do local, como sacos de lixo na lixeira, cortinas de ar para evitar a entrada de insetos, limpeza do cho, dos utenslios, das mquinas, serras e outras. Sempre anotar toda e qualquer noconformidade, horrio e medida corretiva. 2.1.2 - Setor de midos: Aferir, tambm de hora em hora, os mesmos itens da sala de abate e fazer a verificao diria das datas das etiquetas interna (onde o produto embalado) e externa (das caixas onde esses produtos so depositados). E avaliar a limpeza de toda a sala aps o trmino do processo. Sempre anotar toda e qualquer no-conformidade, horrio e medida corretiva.
10
2.1.3 - Planilha da desossa: Verificao de hora em hora da temperatura dos esterilizadores, devendo estar medindo, no mnimo, 82,5C. Medir a temperatura das peas a serem desossadas, sendo traseiro, dianteiro e ponta de agulha, sempre em um ponto onde o termmetro se mantivesse todo em contato com a carne, temperatura da sala de desossa que deve girar em torno de 10C ou menos, temperatura do tnel de encolhimento onde a embalagem cuja carne est embalada sofrer encolhimento, aderindo-se carne, atravs de gua em temperatura elevada, geralmente 84,0C. Verificar funcionamento das mquinas de vcuo, higienizao da sala, dos funcionrios, dos utenslios, esterilizao de instrumentos e a lotao das mesas e da esteira. 2.1.4 - Planilha de controle de pH da carne: Aferio do pH da carcaa, (traseiro e dianteiro), com auxlio do pHmetro. Avaliar carcaas na cmara fria, antes e aps maturao. Eram avaliados pH de 15 carcaas por dia, em mdia. 2.1.5 - Planilha de APPCC: Atravs da visualizao, verificar se as atividades esto sendo realizadas dentro do padro pr-estabelecido pelo Controle de Qualidade da Empresa para cada funcionrio, obedecendo as BPF (Boas Prticas de Fabricao). Avaliar funcionrios de todo o processo, sendo das reas mais sujeitas contaminao avaliando a troca de facas, esterilizao dos instrumentos, higiene pessoal e outros. Ainda, avaliar temperatura das carcaas ao entrar nas cmaras para maturao e tambm das cmaras. Sempre anotar toda e qualquer noconformidade, horrio e medida corretiva. 2.1.6 - Planilha de swab: Semanalmente escolhia um funcionrio de cada setor (abate, midos e desossa) e coletava material das mos ou do material de trabalho do mesmo (faca, chaira). Era avaliada a formao de colnias de enterobactrias na placa num perodo de 24 e 48 horas aps coleta. Na planilha eram anotados o nome do funcionrio, setor de trabalho, funo, de onde foi coletada a amostra e se houve ou no formao de colnia aps 24 e 48 horas. Em todas as planilhas deveriam ser anotadas as no-conformidades, horrios e medidas corretivas. Essas medidas poderiam ser tomadas por mim mesma, caso estivesse ao meu alcance, mas sempre comunicadas ao encarregado do setor. Ao
11
final de cada dia eram entregues a supervisora do controle de qualidade para seu controle.
12
3. DISCUSSO
Os produtos crus de origem animal so comercializados no estado noprocessado (fresco e resfriado) e sua qualidade e segurana microbiolgica dependem de um controle rigoroso desenvolvido durante a produo, preparo e armazenamento (BORGES e FREITAS, 2002). A garantia da qualidade da carne bovina depende de uma srie de fatores atuantes nas vrias etapas do seu processo de produo, desde a fase de criao dos animais at a expedio do produto acabado. Deve ser realizado um minucioso controle das medidas de higiene visando minimizar, ao mximo, ou eliminar os riscos de contaminao (BORGES e FREITAS, 2002). Esclarecendo essa idia, exponho os pontos mais crticos do processo apontando a maneira como pode ocorrer qualquer contaminao. Dentro da fase de criao podemos entender a preocupao do produtor com a qualidade da carne no que diz respeito a perigos qumico e biolgico. Os perigos biolgicos so causados por microrganismos, que, se no tratados (se houver tratamento) podem significar toxinfeces e at morte para o ser humano. So perigos biolgicos: bactrias, vrus, parasitos e fungos. Com relao a perigos qumicos podemos citar anabolizantes, antibiticos, que deve ser respeitado o perodo de carncia antes de abater o animal, ou seja, o tempo necessrio para que a medicao tenha sido totalmente metabolizada e excretada, quimioterpicos, defensivos agrcolas, usados em pastagens, hormnios, pesticidas, enfim, dentro da fazenda deve-se garantir o uso de prticas agrcolas e assistncia
13
veterinria aos animais bem como qualidade da alimentao, gua e eliminao dos dejetos. O uso das boas prticas agrcolas considerado o principal meio de evitar doenas dos animais da fazenda (BORGES e FREITAS, 2002). necessrio registrar casos de doenas e controlar a entrada de animais na fazenda. Em se tratando dessa fase, a Empresa no obteve muitos problemas durante o perodo de estgio. A procedncia dos animais sempre foi boa, de produtores conhecidos, de modo que as perdas por perigos qumicos e biolgicos (da natureza citada acima), eram mnimas. O transporte dos animais at o abatedouro tambm um importante fator ligado qualidade da carne, visto que ferimentos profundos podem servir de porta de entrada para patgenos nocivos ao animal e ao homem (BORGES e FREITAS, 2002). Os veculos devem estar devidamente limpos e desinfetados e serem
apropriados para tal manejo, deve-se respeitar a quantidade limite de animais na carreta e proceder com cuidado o embarque e desembarque dos animais. A prpria empresa fazia a maioria dos transportes, os caminhes eram devidamente higienizados e os cuidados durante embarque e desembarque respeitados. Eram emitidos os certificados de higienizao dos veculos que era realizada na Indstria aps desembarque dos animais. J no abatedouro, deve-se respeitar a lotao dos currais, no excedendo o nmero mximo de animais, estando os mesmos limpos e secos, disponibilizar gua de boa qualidade para manter uma dieta hdrica at o momento do abate, o que mantm o animal hidratado facilitando sua esfola, alm de que, um animal desidratado tem a imunidade reduzida. Dentro da indstria, os currais eram devidamente higienizados aps o trmino do abate, obedecendo ao declive e utilizando gua em alta presso. A disponibilidade de gua era respeitada, porm, o uso de choque eltrico era quase que constante e a programao do abate muitas vezes era falha. Evitar estresse e respeitar um perodo de repouso do animal antes do abate. Sendo esse manejo realizado adequadamente contribui para a reduo da carga microbiana da carcaa. O repouso considerado importante para garantir retorno s funes metablicas normais, pelo controle de situaes de estresse, reduzindo
14
riscos de contaminao da carcaa e protegendo animais e manipuladores em caso de doenas contagiosas (BORGES e FREITAS, 2002). Deve ser realizada a inspeo ante mortem dos animais, destinando ao curral de observao aqueles que no se encontrem em condies de serem abatidos. Dando seguimento ao abate, no chuveiro de asperso d-se incio ao processo de higienizao do animal. submetido a um banho com gua alta presso (3 ATM) e teor elevado de cloro (15 ppm). O primeiro para possibilitar a retirada das sujidades e promover vasoconstrio perifrica que facilita a sangria e a gua hiperclorada com objetivo de reduzir a carga microbiana do plo e pele, porm, o cloro em grandes quantidades txico, deve-se tomar cuidado com os limites de utilizao. Os chuveiros devem estar dispostos de maneira a atingir todo o animal (dorsal, ventral e lateralmente) e deve se evitar estresse na seringa. O teor de cloro no atendia o aconselhvel para a lavagem dos animais que de 15 ppm, que era aferido de hora em hora na sala de abate e midos, sendo a gua utilizada em todo o processo de mesma procedncia, a presso da gua era fraca, haviam chuveiros entupidos e a distribuio dos mesmos no estava sendo eficiente, visto que, muitas vezes, houve reclamaes por parte dos funcionrios da esfola preliminar de que os animais estavam muito sujos ainda. Muitas vezes os animais dispostos na seringa j estavam em menor nmero e os funcionrios no tocavam outro lote para o chuveiro, ento, quando esses animais vinham, o abate seguia e os mesmos ainda no estavam devidamente limpos. A rea do vmito, proceder lavagem da regio perianal sem molhar o restante do animal, evitando que este se mantenha gotejando na canaleta de sangria. Durante a sangria devem ser realizadas as trocas de facas aps a abertura da barbela, esterilizando-as a cada utilizao. importante uma sangria bem feita para evitar congesto em vsceras e, alm disso, o sangue um excelente meio de cultura para microrganismos por oferecer condies favorveis ao crescimento, multiplicao e sua distribuio pela carcaa (BORGES e FREITAS, 2002). Importante insensibilizar um animal por vez para que, na rea de vmito, no corra o risco de quando um animal for iado regurgitar sobre o outro.
15
de fundamental importncia que a abertura da pele (esfola preliminar) seja realizada com uma faca e a exposio da musculatura com outra para que sujidades da pele no sejam carreadas para a carne. Da a importncia da esterilizao das facas, atravs de sua imerso em gua temperatura ideal de 82,5C. O funcionrio deve ter conscincia de que no pode utilizar uma faca s, ou que, se for o caso, deve esteriliz-la a cada procedimento, ou seja, a cada animal. A esfola preliminar era responsvel pela maior porcentagem de contaminao, visto que a troca de facas no era adequada, os funcionrios seguravam a pele e, com a mesma mo, empurravam as carcaas, batiam o membro na cavidade a fim de promover a desarticulao e isso contribua pra contaminao. Da pr-eviscerao fazem parte a ocluso do reto, serragem do esterno e ocluso do esfago. Nessa fase as principais preocupaes so com a esterilizao do material, que era adequadamente realizada na Empresa. Na eviscerao deve-se tomar o cuidado para no haver perfurao das vsceras, o que contaminaria as cavidades e os midos. Em geral todos esses procedimentos eram realizados de forma eficiente no que se diz respeito a troca de facas e esterilizao de instrumentos. A serragem das carcaas em meias-carcaas tambm constitui um perigo, visto que a higienizao e esterilizao da serra aps o procedimento em cada animal de fundamental importncia, pois seus dentes podem acumular sujidades e promover a contaminao de um animal para o outro. Essa esterilizao era realizada perfeitamente. A lavagem das meias carcaas deve ser realizada com gua potvel, tratada e clorada alta presso para total remoo das eventuais sujidades, esqurolas sseas e do sangue, que, como foi dito anteriormente, serve de meio de cultura para patgenos. Deve ser a nica etapa em que a carne entra em contato com gua, ento, tomar cuidado com a qualidade e procedncia da gua em relao a perigos qumicos, como metais pesados (BORGES e FREITAS, 2002). A lavagem dos midos tambm deve ser realizada com gua de boa qualidade, tratada e clorada em nveis aceitveis (3-5 ppm). Alm disso, devem sofrer queda de temperatura o mais
16
rpido possvel para controlar ou evitar o crescimento bacteriano (BORGES e FREITAS, 2002). A lavagem era realizada dentro do que a Empresa preconiza. As cmaras frias aonde sero armazenadas as meias carcaas devem ser devidamente higienizadas no intervalo de um lote para outro, as carcaas devem ser mantidas a uma distncia umas das outras para que haja melhor distribuio do frio. Deve-se proceder com cautela expedio no caso de vendas de peas inteiras, que so mais sujeitas contaminao, devem ser devidamente embaladas. A embalagem das peas era correta e, para a higienizao das cmaras, as peas eram devidamente protegidas para evitar respingos nas mesmas. Na desossa, que pode ser considerada uma das etapas mais crticas para contaminao, visto que o ltimo processo sofrido pela carne onde h maior manipulao da mesma, a ateno com higiene deve ser redobrada. A higiene pessoal de extrema importncia juntamente com a esterilizao das facas e afiadores. A sala deve estar limpa e em temperatura de 10C ou menos para evitar a elevao da temperatura da carcaa e reduzir possveis contaminaes ambientais. A embalagem deve ser realizada com total higiene, ela protege a carne da contaminao adicional e impede a perda de umidade, porm, tomar cuidado com alta umidade que favorvel ao crescimento de microrganismos (BORGES e FREITAS, 2002). A temperatura da sala de desossa era respeitada, assim como a dos esterilizadores. A esterilizao das facas era falha e a lotao das mesas e esteiras era freqente. A expedio deve ser feita em caminhes com unidade geradora de frio, thermoking para viagens acima de 3 horas, sob timas condies sanitrias, As carnes devem estar dispostas em caixas de papelo, devidamente lacradas e bem secas, caso contrrio pode ser sinal de vazamento, essa carne deve chegar ao cliente no mximo a 7C (informao verbal). No transportar qualquer pea ou caixa diretamente sobre o piso do caminho, proteger sempre com uma lona. ______________________________ Informaes fornecidas por Alexander M. G. Dornelles, na aula de Inspeo Sanitria de Produtos de
Origem animal, UPIS, Braslia, 1 semestre, 2005.
17
Na expedio e transporte deve ser realizada a inspeo visual dos veculos que devem estar sob timas de condies de higiene e conservao. Alm de todos os riscos que o processo promove, h ainda caractersticas da prpria carne que podem contribuir para sua contaminao. As caractersticas intrnsecas das carnes, particularmente sua composio qumica, elevada atividade de gua (Aa) e o pH prximo neutralidade, so fatores que favorecem o desenvolvimento de uma microbiota extremamente variada (CONTRERAS et al., 2003). A atividade de gua a gua livre no alimento disponvel para utilizao microbiana, sendo a Aa da carne fresca maior que 0,98. Com relao ao pH, a carne considerada pouco cida, com valor variando entre 5,5 e 6,4, sendo esse pH prximo neutralidade propcio proliferao da maioria das bactrias, inclusive as patognicas e bolores e leveduras. Alm disso, fatores extrnsecos, ou seja, relacionados ao meio ambiente, tambm tm influncia no que diz respeito proliferao de microrganismos, como o caso da temperatura e umidade relativa do ar. A umidade influencia diretamente na atividade gua do alimento (informao verbal). A higienizao antes, durante e aps todo esse processo de industrializao da carne diretamente responsvel pela vida de prateleira do produto. As contaminaes provocadas durante o processamento promovem alteraes no valor nutricional e tambm nas caractersticas sensorias dos alimentos (cor, odor, sabor e textura) (BORGES e FREITAS, 2002). Caractersticas organolpticas da carne: Aspecto: no amolecida, nem pegajosa; Cor: prpria de cada espcie e sem manchas, depende ainda do sexo, idade, msculo e atividade fsica, sendo a colorao da carne bovina vermelha brilhante (PARDI et al., 2001). _____________________________ Informaes fornecidas por Alexander M. G. Dornelles, na aula de Inspeo Sanitria de Produtos de
Origem animal, UPIS, Braslia, 1 semestre, 2005.
18
3.1 Boas Prticas de Fabricao (BPF)
As Boas Prticas de Fabricao (BPF), abrangem um conjunto de medidas que devem ser adotadas pelas indstrias de alimentos, a fim de garantir a qualidade sanitria e a conformidade dos produtos alimentcios com os regulamentos tcnicos. Cada segmento da Indstria de alimentos, deve fornecer as condies necessrias para proteger esses alimentos enquanto estiverem sob seu controle, que o papel desempenhado pelas BPF. As BPF tm como objetivo orientar quanto s condies higinico-sanitrias nas indstrias assegurando a qualidade e inocuidade dos alimentos (RAMOS et al., 2005). A implantao das BPF pode ser considerada o primeiro passo a ser dado por uma Indstria de alimentos para assegurar uma produo segura e com qualidade. As BPF, no incio, tm como prioridade os cuidados com higiene do pessoal envolvido, bem como com o controle das condies fsicas e biolgicas dos ambientes de trabalho. Sendo assim, cada setor da indstria tem uma programao especfica na qual se possa higienizar corretamente o ambiente, equipamentos, mos, botas e aventais dos funcionrios (PARDI et al., 2001). Para a implantao do Sistema de Boas Prticas de Fabricao, faz-se necessrio um estudo inicial do local de trabalho, incluindo localizao, estrutura, instalaes, equipamentos, iluminao e outros requisitos, a fim de avaliar a adequao da Empresa s exigncias do Programa. Seguem as descries da Empresa Fricarmo de acordo com o Manual de BPF da prpria Empresa:
- Localizao: A Indstria construda em uma rea onde os arredores no oferecem riscos s condies gerais de higiene e sanidade, em zonas isentas de odores indesejveis. - Vias de trnsito: As vias dentro do permetro industrial so pavimentadas com blocos de concreto e, algumas reas, com britas grossas.
19
- reas de manipulao de alimentos: Os edifcios destinados s instalaes de processamento do alimento possuem azulejos brancos nas paredes, piso cimentado com cantos arredondados e teto construdo de modo que impea acmulo de sujidades, fcil higienizao, mnima formao de condensao e mofo. Janelas fixas, de estrutura metlica e com vidros, protegidas por telas removveis. - A gua: A gua da Empresa obtida de quatro poos artesianos e clorada na sada do reservatrio. - Vapor e gelo: Utilizados em contato direto com o alimento, ou com superfcies onde o alimento mantenha contato, so filtrados. - Efluentes e poluentes: Devem sofrer tratamento adequado. O estabelecimento possui um sistema eficaz de evacuao de efluentes e guas residuais e possui duas lagoas de decantao. Esse programa abrange desde a contratao de pessoal (treinamento e higiene) at a chegada do produto ao varejo. Sendo assim, os funcionrios da Empresa de alimentos devem passar por exames admissionais e, caso admitidos, exames peridicos. Devem estar livres de doenas infecciosas para no haver transmisso para a carne e, conseqentemente, ao consumidor. E devem, ainda, receber instrues de higiene bsica sempre que admitidos. Funcionrios portadores de doenas infecciosas devem ser afastados do trabalho ou atuarem em reas aonde no haja manipulao de alimentos. Tem isso em vista, faz-se necessrio um acompanhamento mdico peridico para avaliar a sade do pessoal (CONTRERAS et al., 2003). As pessoas que manipulam, armazenam, processam ou preparam os alimentos so, muitas vezes responsveis por sua contaminao. Todo manipulador pode transferir patgenos ao alimento, mas isso pode ser evitado atravs de higiene pessoal.
20
Para se compreender completamente os princpios da higienizao, deve-se entender as bases biolgicas e o papel dos microrganismos na deteriorao e doenas transmitidas por alimentos (DTA). Com isso haver uma aptido maior por parte dos funcionrios para cumprir as normas de higiene estabelecidas nos procedimentos (CONTRERAS et al., 2003). Os patgenos transmitidos pelas mos so, geralmente, oriundos de contaminao fecal, ou seja, hbitos anti-higinicos do manipulador. Portanto, o treinamento dos funcionrios quanto aos hbitos bsicos de higiene se fazem mais eficientes que exames mdicos. Esse treinamento deve ser de forma simples para que os manipuladores assimilem as informaes. Segundo Contreras et al. (2003), engloba etapas aonde o conhecimento sobre microrganismos e suas caractersticas so de grande importncia, tais como: - O que so microrganismos; - Como se dividem; - Caractersticas gerais de multiplicao, (tempo, temperatura, nutrientes); - O que eles causam; - Como combater seu crescimento; - Fatores que interferem no crescimento. Os uniformes dos funcionrios devero servir tanto proteo do indivduo como do alimento com o qual ele opera. Sero de uso exclusivo e, tambm, lavados e higienizados no prprio estabelecimento. As toucas devem proteger os cabelos, devem usar botas brancas impermeveis, as quais devero ser mantidas limpas (PARDI et al., 2001). Ainda, os aventais de borracha ou plstico devero ser mantidos em excelente estado de conservao e sero de fcil limpeza e higienizao, no devendo o funcionrio us-lo quando se dirigir ao sanitrio (PARDI et al., 2001). De acordo com o manual de BPF da Empresa (2006), podemos especificar as preocupaes com pessoal, instalaes, equipamentos e outros: - Pessoal:
21
Todos os funcionrios devem vestir o uniforme no vestirio (roupas, botas, toucas, mscaras e capacete) e, ao entrarem na Indstria devem fazer a completa higienizao das mos e botas da seguinte forma; 1 Acionar com o p o pedal de sada de gua e molhar as botas, esfreg-las com auxlio da escova embebida em detergente e, em seguida, enxaguar retirando toda a sujidade e espuma; 2 Esfregar as mos com detergente at a altura do antebrao, enxaguandoas em seguida; 3 Enxugar as mos com papel-toalha, descartando-as na lixeira; 4 Utilizar o agente sanificante nas mos deixando-as secar naturalmente. No permitido falar, cantar, tossir, espirrar, cuspir, comer, chupar balas, chicletes ou similares, assoar o nariz prximo aos alimentos. No tocar a touca ou qualquer outra da parte do uniforme, no tocar ou empurrar carcaas ou ganchos com as mos sujas, no usar anis, relgios, brincos, cordes, no manipular dinheiro e manter as unhas curtas e livres de esmalte. Todos os operadores devem, a cada operao, proceder a esterilizao dos instrumentos de trabalho, como facas, chairas e ganchos. No deixar o material nas pias ou esterilizadores, nem to pouco nas mesas, piso, pendurados em tubulaes, dentro das botas, etc.
- Instalaes: Sala de abate, desossa e midos: -Pisos, paredes, janelas retirar todos os fragmentos de carnes; -Pr-lavagem com gua quente sob presso; -Lavagem com detergente especfico; -Remover o produto; -Aplicar o sanitizante. Currais e anexos: -Higienizados aps sada de cada lote, com mangueira com jatos de gua alta presso, sanificao quinzenal com soluo a base de iodo.
22
- Equipamentos: Serras, mesas, bandejas: -Lavagem com gua quente; -Detergente apropriado; -Enxge do produto; -Aplicao do agente sanificante; -Remoo no dia seguinte. Trilhos: -Limpeza com produtos especficos, -Lubrificao com leo comestvel. Ganchos e carretilhas: -Faz-se o desengraxamento por imerso em gua entre 85 e 90C, por 15 20 minutos; -Enxge a temperatura ambiente; -Decapagem em temperatura ambiente; -Novo enxge; -Passificao em gua entre 90 e 95C; -Lubrificao, proteo anticorrosiva. Facas, ganchos, chairas, bainhas: -Lavagem com gua e detergente, -Enxge -Acondicionamento em local adequado. Sempre antes dos procedimentos, os utenslios devem ser dispostos em esterilizadores. As instalaes e equipamentos devero ser devidamente higienizadas aps toda operao, no apresentando, na inspeo visual e ttil, quaisquer tipos de materiais orgnicos (sangue, pelo, gordura, sebo), resduos de produtos qumicos e outras sujidades, alm de observar o estado de conservao. Alm disso, no devem apresentar nenhum odor que caracterize m higienizao (CHAVES, 2006).
23
O risco de contaminao dos alimentos pode ser reduzido de forma considervel quanto mais bem higienizados e limpos forem todos os ambientes de produo e quanto menores forem os tempos de parada das linhas de produo. A produo precisa ser organizada de modo que os procedimentos de limpeza e higienizao possam ser realizados com um mnimo de interrupo (CHAVES, 2006).
- Procedimentos de limpeza e sanitizao dos reservatrios de gua de abastecimento: Higienizao realizada nos finais de semana a cada trs meses. -Esvaziar o reservatrio abrindo as torneiras que do vazo, -Lavar com gua sob presso, -Enxaguar bem com gua limpa, mantendo as torneiras abertas, -Fazer diluio de 500 ppm de cloro, -Aguardar 30 minutos, -Enxaguar com gua limpa.
- Limpeza e desinfeco dos veculos de transporte: A limpeza e desinfeco dos veculos de transporte imediatamente aps a descarga dos animais uma medida importante para evitar a difuso de doenas. Para uma correta limpeza deve-se dispor de meios adequados. H um sistema de limpeza e desinfeco alta presso chamado LED (L, soluo de limpeza, E, enxge, e D, desinfetante), sendo a gua utilizada 80C (PRNDL et al., 1994).
- Programa de anlise microbiolgica de superfcies, mos e equipamentos: Trata-se da anlise de equipamentos, mos e superfcies aps o processo de limpeza e sanificao (das mos, deve ser realizado antes ou durante as operaes), visando deteco de disseminao de enterobactrias. Realizado atravs de swabs.
24
Tabela 1 Produtos de Higienizao Utilizados na Empresa Fricarmo Cidade Ocidental GO.
ESPECIFICAO DOS PRODUTOS
B-733 (desengraxante), B-821 (decapante), B-565 (passivante), BRACOIL B-758, B-525, IODOL, BIGUATIN
PRODUTOS QUMICOS
TRATAMENTO DE CARRETILHAS HIGIENIZAO DE CAMINHES
B-725 (mos, botas, indstria), B-701 (indstria), B-838 (trilhos), B-515 (pisos e azulejos), BR-IODION (mos), CIDO PERACTICO, BIGUATIN HIPOCLORITO DE SDIO B-580, B-592, B-588, B-594, B-590, AMACIANTE
HIGIENIZAO INDUSTRIAL E FUNCIONRIOS
TRATAMENTO DE GUA LAVANDERIA Fonte: Manual Fricarmo de BPF, 2006.
A preveno a forma mais segura de se obter um controle no processo da elaborao dos alimentos. Os procedimentos de higienizao visam a aplicao de medidas de controle sobre um ou mais fatores nas etapas do processo de fabricao e preparao do produto, com intuito de reduzir nveis aceitveis ou at eliminar os riscos de perigos. Com uma boa higiene, ocorre um aumento na vida til da carne fresca e processada obtendo-se assim um produto final satisfatrio com menos rejeies, reclamaes e devolues (PARDI et al., 2001).
25
3.2 Procedimento Padro de Higiene Operacional (PPHO)
O Programa de Procedimentos de Higiene Operacional visa a aplicao de medidas preventivas de controle sobre um ou mais fatores nas etapas do processo de fabricao e preparao do produto, para prevenir, reduzir a limites aceitveis ou eliminar os perigos que contribuem para a perda da qualidade e que prejudiquem a sade do consumidor. composto por atividades Pr-operacionais e Operacionais. O PPHO Properacional responsvel por procedimentos de limpeza antes do incio das atividades, enquanto o PPHO Operacional inclui limpeza durante a produo e nos intervalos. Em alguns estabelecimentos, nota-se que a indstria e mesmo o prprio SIF (Servio de Inspeo Federal), nem sempre tm uma viso muito clara do melhor momento para iniciar o monitoramento e a verificao oficial da higienizao. Sendo assim, o monitoramento e a verificao oficial devem ser executados logo aps a concluso dos procedimentos de limpeza e tm como objetivo avaliar se os mesmos foram corretamente executados (BRASIL, 2005). Em alguns processos, como o caso do abate, h particularidades que dificultam a identificao do momento mais oportuno para a verificao dos procedimentos de limpeza inseridos durante as atividades operacionais.
Normalmente, a indstria escolhe os intervalos dos turnos para introduzir os procedimentos rotineiros de limpeza mais profunda e sanitizao dos equipamentos envolvidos no processo (BRASIL, 2005). Na indstria de alimentos, a higienizao freqentemente negligenciada ou efetuada em condies inadequadas. Esta situao pode e deve ser revertida pelos profissionais que atuam na rea (ANDRADE e MACEDO, 1996). No estabelecimento em questo, os equipamentos eram constantemente higienizados (serras, facas, chairas, ganchos e outros), somente a higienizao mais profunda era realizada ao trmino das operaes.
26
3.3 Higiene Geral
A Indstria de carnes ocupa um lugar de relevante destaque na produo de alimentos prontos para o consumo ou semipreparados. Da, a responsabilidade deve ser atribuda a manuteno da higiene nos estabelecimentos transformadores ou beneficiadores de produtos de origem animal que, no geral, so os que mais preocupam as autoridades sanitrias, dados a perecibilidade ao alimento e os riscos que apresentam aos consumidores (PARDI et al., 2001). importante que o processo de higienizao no interfira nas propriedades nutricionais e sensoriais dos alimentos, bem como, garanta a preservao de sua pureza e caractersticas microbiolgicas. Sendo assim, a utilizao de cuidados rigorosos na higienizao, segundo normas adequadas, favorece o controle de qualidade, viabiliza os custos de produo, satisfaz os consumidores e no oferece riscos sade dos mesmos, alm de respeitar as normas e padres microbiolgicos recomendados pela legislao vigente (GERMANO e GERMANO, 2003). Para promover a higiene adequada que necessria aos alimentos, vrias so as preocupaes que se deve ter com sua produo. Tudo se inicia muito antes da construo do estabelecimento. Como j foi citado nas Boas Prticas de Fabricao. Localizao, instalaes, qualidade da gua e outros, esto diretamente envolvidos na qualidade do produto final.
3.3.1 A gua:
A gua que abastece a Empresa proveniente de quatro poos artesianos. As plantas processadoras de alimento perfuram esses poos para obter gua mais barata, mais confivel ou de qualidade melhor que a oferecida no local. Se esses poos forem mantidos de maneira adequada podem fornecer gua limpa e assegurar a qualidade dos alimentos, porm so mais suscetveis a contaminao que a gua de fontes pblicas, pois podem estar prximos esgotos, fossas ou mesmo a gua no ser corretamente filtrada. Devem ser realizadas anlises laboratoriais peridicas
27
dessa gua. A gua participa inclusive como matria-prima na elaborao dos produtos, por exemplo, gua para cozimento de alimentos (estmago) salmoura e gelo. A gua pode carrear agentes que direta ou indiretamente contaminam a carne e o pessoal envolvido (PARDI et al., 2001). Toda a gua utilizada nos matadouros deve ser pura ou potvel, ainda que gua no potvel possa ser utilizada para lavagem de currais, rampas, caminhes, refeitrio, etc. Devendo ser distribudas em canalizaes distintas e identificadas (PARDI et al., 2001).
3.3.1.1 Caractersticas de natureza fsica da gua:
As caractersticas de natureza fsica da gua dizem respeito cor, odor, sabor, turbidez e temperatura. Segundo Pardi et al. (2001), a cor advm da presena de substncias orgnicas como cido hmico, humatos, taninos e produtos de decomposio de lignina, bem como ons frricos e humatos frricos. O sabor e odor da gua podem resultar de fator ou combinao de fatores, como a presena de microrganismos mortos ou vivos, ou de gases dissolvidos, tais como o sulfeto de hidrognio, metano, dixido de carbono ou hidrognio. Devem-se tambm, matria orgnica ou substncias minerais, como o cloreto de sdio, compostos de ferro e carbonatos, alm de fenis e outras matrias alcatroadas e oleosas, especialmente aps a clorao. Alguns gostos, como os conferidos pelo oxignio dissolvido e pelo gs carbnico, so desejveis (PARDI et al., 2001). As contaminaes crescentes so responsveis por alteraes no sabor da gua e seu odor no facilmente percebido em gua fria. A turbidez a medida de resistncia da gua passagem de luz. Decorre da presena de cidos orgnicos e inorgnicos na gua. A lama e areia da superfcie, quando arrastadas pela gua, tornam-na indesejvel inclusive por carrearem resduos orgnicos (PARDI et al., 2001).
28
A temperatura da gua deve ser mantida baixa no processo industrial. A faixa mais desejvel para um suprimento pblico est entre 4,4 e 10C. medida que a temperatura se eleva, a gua torna-se menos agradvel ao paladar e menos adequada a certos usos (PARDI et al., 2001).
3.3.1.2 Caractersticas de natureza qumica da gua:
As caractersticas de natureza qumica da gua, independentemente do grau de dureza, promovido, em particular, pelos carbonatos da clcio e de magnsio, so representados pela presena de sais dissolvidos, cujos teores mximos devem ficar dentro de um limite imposto pela legislao (PARDI et al., 2001). - A gua como matria-prima: Na indstria de carnes em geral, a gua participa como matria-prima quando utilizada em salmoura ou cozimento, ou ainda sob forma de gelo. A gua deve ser potvel, incua e de qualidade sanitria adequada. Recomenda-se que toda a gua utilizada como matria-prima seja esterilizada atravs de aparelhos ou placas, por exemplo (PARDI et al., 2001). - A gua para consumo dos animais: Deve haver preocupao com a qualidade da gua ingerida pelos animais, visto que, se estiver poluda, pode aumentar a flora microbiana gastrointestinal e contaminar caso haja perfurao de vsceras durante a eviscerao. - A gua para banho dos animais: Deve ser potvel e clorada visto que deve diminuir a carga microbiana da pele e plos. - A gua para lavagem das carcaas e vsceras. A gua que se utiliza, nestas condies, para a limpeza e lavagem das carcaas na sala de matana e tambm nos midos, para reduo da temperatura e retirada de sangue e de detritos resultantes da esfola e serragem, requer esterilizao prvia pelo calor, seguido de resfriamento imediato at atingir temperatura prpria de utilizao (PARDI et al., 2001).
29
- guas residuais: As guas residuais devem ser recolhidas e direcionadas central de tratamento utilizando tubulao prpria, perfeitamente identificada de forma a evitar cruzamentos de fluxo ou contaminao da gua de abastecimento. O sistema de recolhimento de gua residual deve dispor de ralos sifonados que impeam a presena de resduos slidos e o refluxo de gases. A tubulao interna deve possuir dimenses suficientes para conduzir a gua residual para os locais de destino (BRASIL, 2005). - Resduos da indstria de carnes: Deve haver um sistema de tratamento de resduos visto que a produo em grande quantidade, so substncias orgnicas, promovem odores desagradveis e favorecem aparecimento de pragas. Esses resduos so: sangue, gorduras, resduos de carne, esterco, plos, contedo de estmagos e intestinos. Na empresa o sistema de tratamento empregado sob forma de lagoas de decantao. Deve-se manter os estabelecimentos e os equipamentos em um estado de conservao adequado para facilitar todos os processos de sanitizao e para que os equipamentos cumpram a funo proposta.
3.3.2 Eficincia da limpeza:
A limpeza, para ser adequada, depende de uma srie de fatores. So eles:
3.3.2.1 Tipos de sujidades:
Necessita saber qual a natureza da sujidade para se estabelecer o mtodo, o equipamento e o tipo de agente de limpeza a serem utilizados. As sujidades mais freqentes so lipdeos, protenas, carboidratos e sais minerais (CONTRERAS et al., 2003). Ainda sujidades inorgnicas: areia, ferrugem dos metais, plos, etc.
30
3.3.2.2 Superfcie a ser limpa:
fundamental conhecer os materiais que constituem a superfcie a ser higienizada para a escolha correta do produto de limpeza mais adequado, que no ir reagir com essa superfcie (CONTRERAS et al., 2003). Solo, madeira, vidro, metal, paredes, plsticos e outros.
3.3.2.3 Tempo:
Esse aspecto est mais relacionado a fases e mtodos de limpeza, varia conforme o grau de sujidade, procedimento e soluo de limpeza, ou seja, h produtos que necessitam de mais ou menos tempo para agirem como desejado, outros precisam ser utilizados associados a produtos que exeram funo diferente para serem eficazes. Os detergentes no atuam imediatamente, requerem um tempo de ao para penetrarem na sujidade e solt-la.
3.3.2.4 Temperatura:
Deve ser adequada natureza da sujidade presente e a natureza do agente de limpeza a ser utilizado. A temperatura adequada para remoo de sujidades gira entre 40 e 50C, desde que no tenha sofrido ao trmica, nesse caso, a temperatura deve ser cerca de 5 a 10C acima da temperatura j utilizada (CONTRERAS et al., 2003).
3.3.2.5 Ao qumica:
Realizada pelo detergente que deve ser utilizado na concentrao adequada estabelecida pelo fabricante para sua eficcia (CONTRERAS et al., 2003).
3.3.2.6 Ao mecnica:
31
O auxlio manual ou automtico promovido pelo homem, ou seja, esfregar com esponjas, jatos fortes de gua, vassouras, rodos, escoves e outros, sendo que estes materiais tm que ser utilizados nica e exclusivamente para esses fins (CONTRERAS et al., 2003). Cuidado com formao de ranhuras que podem predispor a formao dos biofilmes, que, so invisveis, mas, consistem em enorme problema para a contaminao cruzada.
3.3.3 Agentes de limpeza:
Deve-se optar por um agente eficiente, capaz de agir na remoo da sujidade sem causar dano superfcie de contato ou ao manipulador. O agente de limpeza, tambm chamado detergente, o responsvel pela remoo das sujidades. Para que isso ocorra, so envolvidas algumas caractersticas dos detergentes, segundo Andrade e Macedo, (1996): 1) Saponificao a reao qumica entre resduos de gordura animal ou vegetal com substncias alcalinas, ocorrendo a formao de sabo; 2) Emulsificao Capacidade de dividir o leo e a gordura em pequenas gotculas microscpicas, mantendo-as suspensas em gua. 3) Molhagem As solues de limpeza devem ser capazes de molhar a superfcie; 4) Penetrao As solues de higienizao devem ser capazes de atingir locais de difcil acesso; 5) Suspenso As solues de higienizao devem ser capazes de manter as partculas insolveis suspensas em soluo; 6) Enxaguagem As solues de devem apresentar como caracterstica a facilidade de serem completamente removidas das superfcies; 7) Abrandamento As solues devem prevenir a formao de incrustaes por minerais. Para isso, atuam complexando ou precipitando os sais presentes na gua, particularmente os responsveis pela dureza;
32
8) Solubilizao de minerais Devem remover possveis incrustaes minerais das superfcies. Isto obtido pelo uso de solues cidas; 9) Solubilidade Um detergente qumico deve dissolver-se rpida e
completamente em gua, temperatura desejada sem grande agitao; 10) Corrosividade Um detergente qumico no pode ser corrosivo aos equipamentos nas condies de uso; 11) Segurana importante que o detergente qumico no afete os manipuladores nas condies recomendadas para uso. Alm disso, devem possuir boa solubilidade, estabilidade, no serem irritantes, serem atxicos, inodoros, capazes de associao com desinfetantes, no produzirem manchas ou tingirem, composio biodegradvel, fcil aplicao e baixo custo (GIL, 2000).
3.3.4 Tipos de detergentes:
3.3.4.1 Detergentes alcalinos:
Normalmente utilizados para remoo de gorduras e protenas. Saponificam as gorduras e solubilizam as protenas. So combinaes de sais alcalinos, tensoativos e seqestrantes, podendo conter outros aditivos (CONTRERAS et al., 2003 e GIL, 2000). Alcalinos fortes Soda custica; Alcalinos fracos Fosfato trisdico.
3.3.4.2 Detergentes cidos: Utilizados para remoo de incrustaes minerais, tais como: ferrugem, depsitos calcrios, etc (CONTRERAS et al., 2003). cidos fortes Sulfrico, Clordrico; cidos fracos Actico, Ctrico (GIL, 2000).
33
3.3.4.3 Detergentes tensoativos: Tambm chamados detergentes neutros, permitem a disperso de dois lquidos no miscveis e, como agentes molhantes, proporcionam uma melhor penetrao de lquidos em resduos slidos, alm de possurem outras propriedades. So classificados de acordo com a carga eltrica de seu radical ativo em: aninico, catinico, no inico e anfteros (PARDI et al., 2001).
Tabela 2 - Especificao dos produtos qumicos utilizados na Empresa PRODUTO BRACOL-725 BRACOL-701 CLORADO FORMA DE APRESENTAO DETERGENTE SEMIPASTOSO DETERGENTE SEMIPASTOSO PARA LIMPEZA GERAL BRACOL-725 DETERGENTE NEUTRO PARA LIMPEZA GERAL BR-IODIN GEL 100% LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS, INSTALAES E UTENSLIOS SANIFICAO DAS MOS CIDO PERACTICO LQUIDO CLARO E INCOLOR 0,50% SANIFICAO DOS EQUIPAMENTOS E AS INSTALAES DESINFETANTE BIGUATIN BACTERICIDA A BASE DE BIGUANIDA HIPOCLORITO DE SDIO 0,50% SANIFICAO DOS EQUIPAMENTOS E AS INSTALAES 10% SANIFICAO DOS EQUIPAMENTOS E AS INSTALAES aplicado manualmente sobre a superfcie, aps o pr-enxge, com auxlio de esponjas para remoo das sujidades. Em seguida proceder o enxge. Aplicar puro nas mos, aps a higienizao com detergente e secagem com papel toalha. Aps as operaes de limpeza e enxge de superfcie a ser sanificada, o produto pulverizado sobre a superfcie. Aps as operaes de limpeza e enxge de superfcie a ser sanificada, o produto pulverizado sobre a superfcie. Aps as operaes de limpeza e enxge de superfcie a ser sanificada, o produto pulverizado sobre a superfcie. Aps faz-se o enxge. 5% LAVAGEM DE BOTAS Aplicar o detergente com auxlio de escova, removendo-o, posteriormente com escova. 5% LAVAGEM DE MOS CONC. UTILIZAO MODO DE UTILIZAO Aplicar o detergente, removendo-o, posteriormente com gua.
CLORO
Fonte: Manual Fricarmo de BPF, 2006.
3.3.4 Fases da higienizao:
Segundo Contreras et al. (2003):
34
- Remoo dos resduos slidos: esse procedimento facilita a limpeza e reduz o gasto com gua; - Pr-enxge com gua: se realizado corretamente obedecendo a temperatura e presso adequadas da gua, ir trazer uma economia significativa de detergente; - Aplicao do detergente: Essa aplicao poder ser executada por processo manual, por espuma, imerso, pulverizadores ou bombas e outros. A escolha adequada do detergente e da forma de aplicao so fatores primordiais para uma boa higienizao; - Enxge com gua: necessrio um enxge com gua at que se remova totalmente os resduos de detergente; - Sanitizao: Procedimento para aplicao do sanificante que ser responsvel pela remoo da contaminao microbiolgica remanescente; - Enxge com gua: Dependendo do agente sanificante e do produto que ser manipulado na superfcie, esse procedimento torna-se desnecessrio de ser realizado logo em seguida sua aplicao, ou seja, pode ser somente enxaguado no dia seguinte, antes do incio das operaes nessa superfcie.
3.3.6 Mtodos de higienizao:
3.3.6.1 Higienizao Manual: Usado aonde a higienizao mecnica no aplicvel ou quando necessria uma abraso adicional. A escolha adequada de escovas, raspadores e esponjas importante, uma vez que podero provocar ranhuras nas superfcies dos equipamentos, aonde iro se depositar microrganismos, dificultando sua remoo (ANDRADE e MACEDO, 1996). Essa ranhuras favorecem a deposio de sujidades e microrganismos, predispondo a formao de biofilmes.
3.3.6.2 Higienizao por imerso:
35
utilizada para utenslios e partes desmontveis de equipamentos e tubulaes. Consiste na imerso do material em soluo detergente (ANDRADE e MACEDO, 1996).
3.3.6.3 Higienizao por meio de mquinas lava jato tipo tnel: Aplicado em bandejas, talheres, a temperatura pode ser bem elevada para remover os resduos, pois no entra em contato com o indivduo (ANDRADE e MACEDO, 1996).
3.3.6.4 Higienizao por meio de equipamento spray: Solues de baixa presso usado em superfcies externas de equipamentos, tanques, pisos e paredes. Solues de alta presso lavagem de caminhes e nas reas de processamento (GERMANO e GERMANO, 2003).
3.3.6.5 Higienizao por nebulizao ou atomizao: Os equipamentos produzem uma nvoa da soluo sanitizante que reduz a contaminao para padres aceitveis (GERMANO e GERMANO, 2003).
3.3.6.6 Higienizao por circulao: um sistema automtico e permanente (CIP, cleaning in place, ou, limpeza do lugar), onde os equipamentos so higienizados sem desmontar e a partir de tanques com solues de limpeza (GERMANO e GERMANO, 2003).
3.3.7 Sanificantes:
Um bom sanificante deve preencher, segundo Contreras et al. (2003), os seguintes requisitos: 1- Possuir amplo espectro de atividade; 2- No ser corrosivo; 3- No ser txico;
36
4- Possuir ao rpida; 5- Ser biocida e no somente biosttico; 6- De fcil enxge; 7- Facilmente titulvel para possibilitar um maior controle na dosagem.
Alm dessas caractersticas, tambm segundo Contreras et al. (2003), necessrio obedecer alguns parmetros para obter a ao eficaz do sanificante. 1. Tempo de contato: necessrio respeitar o perodo mnimo em que este deve estar em contato com a superfcie, afim de evitar que algum microrganismo sobreviva. 2. Concentrao: Deve-se sempre respeitar a concentrao indicada pelo fabricante para evitar um mau desempenho do sanificante ou at mesmo proporcionar uma resistncia do microrganismo ao biocida. 3. Temperatura: Saber qual a temperatura mais adequada para utilizao do sanificante; 4. Nveis de pH na soluo de uso: Dependendo do ph da soluo pode neutralizar o princpio do sanificante; 5. Natureza da superfcie: Deve ser compatvel com a superfcie aonde ser aplicado; 6. Mtodo de aplicao: Deve ser aplicado de forma correta, respeitando as caractersticas fsicoqumicas; 7. Estabilidade: Respeitar o prazo de validade do produto; 8. Atividade residual: Selecionar o sanificante utilizando os que tm atividade residual em superfcies aonde no haja contato com o alimento. Os programas de limpeza devem garantir a qualidade das mesmas. A equipe da garantia de qualidade da Empresa deve fazer o monitoramento dirio da higienizao
37
de todos os equipamentos e instalaes, afim de assegurar a conformidade dos produtos ali produzidos. Com base nesse conceitos possvel organizar a higienizao visando a qualidade da mesma, alm de evitar desperdcio de tempo, detergentes, gua e outros.
38
4.CONTROLE DE PRAGAS
Em uma indstria de alimentos, essencial o combate a artrpodes, roedores e pssaros, j que os produtos so extremamente atrativos para os mesmos, sendo necessrio um combate cuidadoso, avaliando cada um separadamente, pois alguns desses animais so portadores de bactrias patognicas, como a Salmonella spp, alm de protozorios como o Toxoplasma gondii (PARDI et al., 2001).
4.1 Roedores:
Os roedores so importante fonte de contaminao de alimentos atravs de seus plos, patas e fluidos corporais, podendo urinar ou defecar sobre os alimentos armazenados em depsitos (RAMOS et al., 2005). importante conhecer seus hbitos para estabelecer o melhor mtodo de controle. O melhor mtodo de combate e / ou controle so as medidas de anti-ratizao, ou seja, evitar que esses apaream no dando a eles condies de sobrevivncia. Podemos simplific-las com os quatro A (acesso, abrigo, alimento e gua) (informao verbal).
______________________________ Informaes fornecidas por Alexander M. G. Dornelles, na aula de Inspeo Sanitria de Produtos de
Origem animal, UPIS, Braslia, 1 semestre, 2005.
39
Inicialmente evitar que esses animais tenham acesso indstria, mantendo baixa a grama, fechando frestas entre outros, posteriormente, impedir que, caso tenham acesso, no consigam abrigar-se, no promovendo esconderijos aos mesmos, sem acmulo de matrias em cantos e, ainda, no permitir que se alimentem ou ingiram gua, ento, no acumular lixo nem to pouco gua nos arredores da indstria. Tudo isso aliado a um controle freqente e condies adequadas de higiene e limpeza, podero manter esses animais indesejveis longe dos estabelecimentos processadores de alimentos. Alm disso, a inspeo freqente dos estabelecimentos e arredores procura de sinais que evidenciem a presena ativa de roedores, uma medida que deve ser tomada como sendo de rotina, pois assim, evita-se que a populao de roedores se torne alta, a ponto de causar srios danos (CONTRERAS et al., 2003). Segundo Pardi et al. (2001), o combate pode ser realizado atravs de pesticidas, iscas envenenadas, p de contato, caixas PEP (pontos de
envenenamento permanente), manilhas, polvilhamento, armadilhas, entre outros. No estabelecimento aonde foi realizado o estgio, eram utilizadas iscas em caixas PEP em todo o territrio da Empresa, sempre inspecionadas por um funcionrio direcionado a essa funo.
8.2 Baratas:
Os hbitos alimentares das baratas as colocam em contato direto com alimentos humanos e utenslios de cozinha, deixando para trs um cheiro repugnante, fezes, alm de uma grande variedade de organismos, tais como bactrias, protozorios, etc., contaminando alimentos, utenslios, equipamentos, etc
(CONTRERAS et al., 2003). Segundo Pardi et al. (2001), o combate s baratas consiste na educao, na modificao do ambiente, no emprego de armadilhas, na utilizao de inimigos naturais e na racionalizao do uso de inseticidas. Educao atravs da
40
conscientizao do pessoal envolvido, modificao do ambiente atravs da higienizao do mesmo, utenslios, equipamentos e instrumentos, armadilhas associadas a outras medidas, inimigos naturais (porm, esse mtodo sofre restries de natureza legal no que respeita a indstria de produtos de origem animal) e inseticidas precavendo-se quanto aos riscos que possam trazer. Ainda, impedir o acesso dessas pragas no estabelecimento, manter o local limpo e seco.
8.3 Moscas:
As moscas so consideradas um dos mais importantes vetores de inmeras doenas, esto em constante contato com a matria fecal, esterco, matria orgnica, lixo, etc., e podem transportar vrios organismos patognicos nas patas, no corpo, trompa e podem tambm expuls-los atravs das fezes ou regurgitao (CONTRERAS et al., 2003). O controle realizado a utilizao conjunta e adequada de vrias formas de controle, sejam preventivas, fsicas, qumicas, biolgicas, ambientais e sociais (CONTRERAS et al., 2003). Entre as medidas preventivas fundamental a permanente e rigorosa condio de higiene das dependncias internas, da rea externa e da circunvizinhana dos estabelecimentos industriais (PARDI et al., 2001). As cortinas-de-ar servem como barreira para o acesso desse tipo de praga, porm, na Empresa essas cortinas estavam, na maioria das vezes, desligadas. Muitas vezes, no final do processo, quando o sol j estava mais quente, haviam inmeras moscas nas reas de manipulao. As telas foram trocadas recentemente e estavam em boas condies. Eram utilizados inseticidas, ferormnios e armadilhas eltricas (atrao por luz ultra-violeta).
8.4 Aves:
41
No fornecer alimento e gua a nenhuma espcie para que no se instalem no estabelecimento, porm, quando isso acontece, fica complicado combater essas pragas visto que, segundo a Lei N 9.605 de 12 de Fevereiro de 1998, captulo V, seo 1 artigo 29, cabe deteno de 6 meses a um ano e multa para quem impedir a procriao da fauna silvestre sem licena, autorizao ou em desacordo com a autorizao obtida ou ainda para quem destri ninhos, abrigos ou criadouros naturais. A pena aumenta se um desses crimes for realizado noite, se for espcie em extino, em perodo proibido a caa, unidade de conservao, com abuso de licena ou com utilizao de mtodos capazes de promover destruio em massa (BRASIL, 1998).
42
5. CONCLUSO
Foi extremamente gratificante o aprendizado adquirido na prtica no decorrer de trs meses de estgio no Matadouro Frigorfico de bovinos Fricarmo, atuando na rea de Controle de Qualidade, bem como na elaborao desse trabalho, que me acrescentou muito. Foi possvel constatar a importncia do Mdico Veterinrio na garantia da qualidade dos produtos de origem animal, porm, ainda que sua atuao seja eficiente, os problemas em funo de m higienizao so freqentes. Pude presenciar a preocupao que se tem, neste tipo de estabelecimento, no que se diz respeito a higiene, principalmente higiene pessoal, visto que o homem o principal carreador dos microrganismos na manipulao das carnes. Conclu que a utilizao adequada de medidas higinicas e de conservao de instalaes e equipamentos de fundamental importncia para se garantir a inocuidade da carne bovina, visando a segurana do consumidor. Finalmente, me certifiquei de que, dentro da Medicina Veterinria, esse o tipo de ambiente onde desejo exercer minha profisso.
43
6. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ANDRADE, N.J. de; MACEDO, J. A. B. de. Higienizao na Indstria de Alimentos. So Paulo: Varela, 1996. p. 15, 19-30, 45-53.
BORGES, J. T. S. ; FREITAS, A. S. Aplicao do Sistema Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) no processamento de carne bovina fresca. 2002. Disponvel em: <http://calvados.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/alimentos/article/view/1131/932>. Acesso em: Outubro, 2006.
CHAVES, J. B. P. Contaminao de alimentos : O melhor preveni-la. 2006. Disponvel em: <http://www.dta.ufv.br/artigos/contal.htm> Acesso em Novembro, 2006.
BRASIL, MINISTRIO DO MEIO AMBIENTE, LEI N 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998.
BRASIL. MINISTRIO DA AGRICULTURA PECURIA E ABASTECIMENTO MAPA. SECRETARIA DE DEFESA AGROPECURIA SDA. DEPARTAMENTO DE INPEO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL DIPOA. COORDENAO GERAL DE PROGRAMAS ESPECIAIS CGPE, CIRCULAR 175 / 16 DE Maio de 2005.
CONTRERAS, C. J. ; BROMBERG, R. ; CIPOLLI, K. M. V. A. B. & MIYAGUSKU, L. Higiene e Sanitizao na indstria de carnes e derivados. So Paulo: Varela, 2003. p. 1, 7-11, 17-19, 31-106.
GERMANO, P. M. L. & GERMANO, M. I. S. Higiene e vigilncia Sanitria de Alimentos. 2 Edio. So Paulo: Varela, 2003. p. 423, 440-442.
GIL, J. I. Manual de Inspeo Sanitria de Carnes. 2 Edio. 2000. So Paulo: Fundao Calouste Gulbenkian, v. 1. p. 59-62, 68-83, 93-106.
Manual Fricarmo de Boas Prticas de Fabricao, 2006.
44
PARDI, M. C. ; DOS SANTOS, I. F. ; DE SOUZA, E. R. & PARDI, H. S. Cincia, higiene e tecnologia da carne. Editora da UFG, Goinia, GO. Vol I. 2 Edio, 2001. p. 92, 93, 135-138, 143-145, 149-154, 180-190.
PRNDL, O. ; FISHER, A. ; SCHMIDHOFER, T. & SINELL, H. J. ; Tecnologia e higiene de la carne. Editora Acribia, 2 Edio, Zaragoza, 1994. p. 24.
RAMOS, R. Z. ; CUNHA, M. G. A. & CHMIDT, V. Boas Prticas de Fabricao em Indstria de panificao: Relato de caso. Revista Higiene Alimentar. So Paulo: DPI Studio e Editora Ltda, v. 19, n 137, Novembro/Dezembro 2005. p. 34, 35.
45
ANEXOS
46
ANEXO 1 Planilha do Controle dirio de Qualidade do setor de abate.
47
ANEXO 2 Planilha do Controle dirio de Qualidade do setor de midos.
48
ANEXO 3 Planilha de Controle diria de Qualidade do setor de desossa.
49
ANEXO 4 Planilha de controle semanal de pH.
50
ANEXO 5 Planilha de APPCC Pontos de Monitoramento do Setor de Abate.
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
Você também pode gostar
- Material Didático Curso Manipulação de PescadosDocumento50 páginasMaterial Didático Curso Manipulação de Pescadosd-fbuser-5629175160% (5)
- Pre Abate e Abate BovinoDocumento20 páginasPre Abate e Abate BovinoAline CarvalhoAinda não há avaliações
- Manual de Fiscalizacao de Pescado e Derivados v1.2021Documento49 páginasManual de Fiscalizacao de Pescado e Derivados v1.2021Amanda HervisAinda não há avaliações
- Noções de Inspeção de CarnesDocumento16 páginasNoções de Inspeção de CarnesOsnardoAinda não há avaliações
- APS - Inspeção Sanitária Da Carne Suína em Frigoríficos No Brasil 2021Documento20 páginasAPS - Inspeção Sanitária Da Carne Suína em Frigoríficos No Brasil 2021Eduardo ViolaAinda não há avaliações
- Inspeção Pos Morte Linhas de Inspeção SIF 862 RobérioDocumento122 páginasInspeção Pos Morte Linhas de Inspeção SIF 862 RobérioFredson Rodrigues BorgesAinda não há avaliações
- Abate BovinosDocumento98 páginasAbate BovinoslupotrichAinda não há avaliações
- Inspeção Ante Mortem e Pos Mortem - BovinosALUNOSDocumento82 páginasInspeção Ante Mortem e Pos Mortem - BovinosALUNOSFrancisco JailtonAinda não há avaliações
- Manejo de Bovinos de CorteDocumento48 páginasManejo de Bovinos de CorteGuilherme Icaro Froz Da Silva NovakoskiAinda não há avaliações
- Bem-Estar Animal - Enriquecimento Ambiental e CondicionamentoNo EverandBem-Estar Animal - Enriquecimento Ambiental e CondicionamentoAinda não há avaliações
- Protocolos para Diagnóstico de Doenças em PeixesNo EverandProtocolos para Diagnóstico de Doenças em PeixesNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Microbiologia Das CarnesDocumento28 páginasMicrobiologia Das CarnesThaís Abreu100% (2)
- Nutricao e Formulacao Gado LeiteiroDocumento28 páginasNutricao e Formulacao Gado LeiteiroMonica Gabriel100% (2)
- APPCC na Produção Primária de Peixe: Produção Segura de PeixesNo EverandAPPCC na Produção Primária de Peixe: Produção Segura de PeixesAinda não há avaliações
- Bovinocultura de Corte: Cadeia Produtiva & Sistemas de ProduçãoNo EverandBovinocultura de Corte: Cadeia Produtiva & Sistemas de ProduçãoAinda não há avaliações
- Tecnologia Do PescadoDocumento48 páginasTecnologia Do PescadoÉrica Ellen Marialva67% (3)
- Entomologia Veterinária - Parte IDocumento48 páginasEntomologia Veterinária - Parte IInacio Mateus AssaneAinda não há avaliações
- Legislação PescadoDocumento3 páginasLegislação PescadoManuela MestreAinda não há avaliações
- Cartilha Ave CaipiraDocumento11 páginasCartilha Ave CaipiraBosco Alves100% (1)
- Araújo - Manejo Pré-Abate e Bem-Estar Dos Suínos em Frigoríficos BrasileirosDocumento139 páginasAraújo - Manejo Pré-Abate e Bem-Estar Dos Suínos em Frigoríficos BrasileirosLuiz Antônio FernandesAinda não há avaliações
- Livro Praticas de Manejo SanitarioDocumento69 páginasLivro Praticas de Manejo SanitarioLarissa FeijóAinda não há avaliações
- Avaliação Da Cadeia de FriosDocumento50 páginasAvaliação Da Cadeia de FriostiagotripaAinda não há avaliações
- Manual de Procedimentos para Implantacao de Estabelecimento de Leite e Produtos LacteosDocumento137 páginasManual de Procedimentos para Implantacao de Estabelecimento de Leite e Produtos LacteosCarolina GodoyAinda não há avaliações
- Cunicultura: didática e prática na criação de coelhosNo EverandCunicultura: didática e prática na criação de coelhosAinda não há avaliações
- Nanotecnologia aplicada à produção agrícola: uma análise acerca dos aspectos sociais e sustentáveis no âmbito brasileiroNo EverandNanotecnologia aplicada à produção agrícola: uma análise acerca dos aspectos sociais e sustentáveis no âmbito brasileiroAinda não há avaliações
- Livro Biotecnologias Aplicadas Completo PDFDocumento110 páginasLivro Biotecnologias Aplicadas Completo PDFJunior OliveiraAinda não há avaliações
- Seminário - CMSDocumento8 páginasSeminário - CMSMarjorie Mirna100% (1)
- Livro 035Documento215 páginasLivro 035Francismara CarreiraAinda não há avaliações
- Questões éticas em pesq. conduzidas com animais silvestres na natureza no laboratório e em cativeiroNo EverandQuestões éticas em pesq. conduzidas com animais silvestres na natureza no laboratório e em cativeiroAinda não há avaliações
- RIISPOAoquemudouparaQueijos PDFDocumento77 páginasRIISPOAoquemudouparaQueijos PDFdornicAinda não há avaliações
- Manual Rotula Gem Mel 14082014Documento5 páginasManual Rotula Gem Mel 14082014María Fernanda Aguilar TiznadoAinda não há avaliações
- Aula Iii Bromatologia e Nutrição AnimalDocumento61 páginasAula Iii Bromatologia e Nutrição AnimalTony Balbino100% (1)
- Abate de SuinosDocumento108 páginasAbate de SuinosmgrfabricioAinda não há avaliações
- Recomendações Técnicas para IA Transcervical em Caprinos No BrasilDocumento19 páginasRecomendações Técnicas para IA Transcervical em Caprinos No Brasilrodrigoferrazza1662Ainda não há avaliações
- Tecnologia Do Abate de PescadosDocumento81 páginasTecnologia Do Abate de PescadosCantora Dany RabeloAinda não há avaliações
- Guia RT Seg Alimentos WebDocumento35 páginasGuia RT Seg Alimentos WebIsabellaAinda não há avaliações
- Timpanismo em RuminAntesDocumento6 páginasTimpanismo em RuminAntesVet_arquivos100% (1)
- Aula 3 - Tecnologia Do AbateDocumento44 páginasAula 3 - Tecnologia Do AbateAmanda Sant'AnaAinda não há avaliações
- Manejo Dor Caes Gatos PDFDocumento24 páginasManejo Dor Caes Gatos PDFbritesnetoAinda não há avaliações
- Artigo - Tecnologia para A A Fabricação de Doce de Leite PDFDocumento8 páginasArtigo - Tecnologia para A A Fabricação de Doce de Leite PDFRenata Almeida Freitas100% (1)
- Bem Estar Animal Como Valor Agregado PDFDocumento110 páginasBem Estar Animal Como Valor Agregado PDFCid Vanderlei KrahnAinda não há avaliações
- Cartilha SimDocumento20 páginasCartilha SimDébora ParreiraAinda não há avaliações
- Produtos EmpanadosDocumento55 páginasProdutos EmpanadosJunior GomesAinda não há avaliações
- Nutricao e Alimentacao Animal 2Documento41 páginasNutricao e Alimentacao Animal 2JharaujoAinda não há avaliações
- Necessidades Nutricionais de Vacas LeiteirasDocumento7 páginasNecessidades Nutricionais de Vacas LeiteirasThaís EmanueleAinda não há avaliações
- TCC Odontologia..Documento43 páginasTCC Odontologia..maneioAinda não há avaliações
- LATICDocumento48 páginasLATICAna Beatriz TaveiraAinda não há avaliações
- Apostila Caprinos e Ovinos 2011 Neper UFMGDocumento210 páginasApostila Caprinos e Ovinos 2011 Neper UFMGBárbara Silva80% (5)
- Conversão Do Músculo em CarneDocumento2 páginasConversão Do Músculo em Carneamandita123Ainda não há avaliações
- Fertilidade, Funcionalidade e Genética de Touros ZebuínosDocumento211 páginasFertilidade, Funcionalidade e Genética de Touros ZebuínosLucilene MartinsAinda não há avaliações
- Noções de Inspeção Sem GabaritoDocumento13 páginasNoções de Inspeção Sem GabaritorawlynssonnAinda não há avaliações
- Inseminação Artificial em SuinosDocumento90 páginasInseminação Artificial em SuinosJúlio Cesar PereiraAinda não há avaliações
- Saúde Pública VeterináriaDocumento20 páginasSaúde Pública VeterináriadeiversilveiraAinda não há avaliações
- CheddarDocumento6 páginasCheddarLuzialvsAinda não há avaliações
- Fisiologia Da Digestão de RuminantesDocumento43 páginasFisiologia Da Digestão de RuminantesPaulinhoRola100% (1)
- Piscicultura - Indução de Peixes Hipofise AdaDocumento7 páginasPiscicultura - Indução de Peixes Hipofise Adaanon-72194475% (4)
- Principais Parasitas em Caes e GatosDocumento12 páginasPrincipais Parasitas em Caes e GatosldgcotaAinda não há avaliações
- Fluidoterapia em Cães e GatosDocumento8 páginasFluidoterapia em Cães e GatosLuiza NavarroAinda não há avaliações
- Manual de BPFDocumento4 páginasManual de BPFldgcota100% (1)
- Pop #779 - Limpeza Da GeladeiraDocumento1 páginaPop #779 - Limpeza Da Geladeiraldgcota50% (8)
- Protocolo para Acne e Manchas FaciaisDocumento11 páginasProtocolo para Acne e Manchas FaciaisLais Medeiros da SilvaAinda não há avaliações
- Intervenções de Estratégias de Treinamento para Indivíduos Com Desvios PosturaisDocumento5 páginasIntervenções de Estratégias de Treinamento para Indivíduos Com Desvios PosturaisGustavo AdoncioAinda não há avaliações
- Eml Lindomar Conceicao Rocha05nov2021Documento13 páginasEml Lindomar Conceicao Rocha05nov2021Michelle VitóriaAinda não há avaliações
- Grupo Experimental Biologia - Dafnias PDFDocumento2 páginasGrupo Experimental Biologia - Dafnias PDFCarolina AroucaAinda não há avaliações
- Ficha #5 11ºano - PrincipiosDocumento2 páginasFicha #5 11ºano - PrincipiospepeAinda não há avaliações
- RESOLUÇÃO INSS n-15 Saturnismo.Documento17 páginasRESOLUÇÃO INSS n-15 Saturnismo.cesarcaldartAinda não há avaliações
- Embriologia Do Sistema NervosoDocumento4 páginasEmbriologia Do Sistema NervosoMirla FontesAinda não há avaliações
- Estomatologia Infecções Bacterianas - Aula 8: Impetigo: (Streptococus Pyogenes e Spaphylococcus Aureus)Documento23 páginasEstomatologia Infecções Bacterianas - Aula 8: Impetigo: (Streptococus Pyogenes e Spaphylococcus Aureus)Alice MirandaAinda não há avaliações
- E Book Como Ter A Barriga Reta Teste Da DiastaseDocumento67 páginasE Book Como Ter A Barriga Reta Teste Da DiastaseMilene JafAinda não há avaliações
- Modelo de Ltcat 01Documento65 páginasModelo de Ltcat 01Jack SomensiAinda não há avaliações
- PORTFÓLIO DE ZOOLOGIA SISTEMÁTICA E FILOGENÉTICA - Montepuez 2011Documento176 páginasPORTFÓLIO DE ZOOLOGIA SISTEMÁTICA E FILOGENÉTICA - Montepuez 2011Ana Paula SchmidtAinda não há avaliações
- Personalidades Homeopaticas 6Documento22 páginasPersonalidades Homeopaticas 6domingues4294100% (2)
- Fitoterapia. Contemporânea TRADIÇÃO E CIÊNCIA NA PRÁTICA CLÍNICADocumento20 páginasFitoterapia. Contemporânea TRADIÇÃO E CIÊNCIA NA PRÁTICA CLÍNICAxandinhag67% (6)
- RuffinoDocumento12 páginasRuffinoAllana DiasAinda não há avaliações
- Planear Todas As Unidades Didácticas de 8º AnoDocumento7 páginasPlanear Todas As Unidades Didácticas de 8º Anogeografia e ensino de geografia100% (1)
- E Book Oleos Essenciais para GestantesDocumento31 páginasE Book Oleos Essenciais para GestantesSibelle Ribeiro SaldanhaAinda não há avaliações
- Slides Da Aula - Unidade IDocumento39 páginasSlides Da Aula - Unidade IFabiana MoitaAinda não há avaliações
- Trabalho Progressão Parcial BiologiaDocumento3 páginasTrabalho Progressão Parcial BiologiaIsweDavidAinda não há avaliações
- Evidenciador Da Cárie DentáriaDocumento6 páginasEvidenciador Da Cárie DentáriaSis AlbqrqAinda não há avaliações
- Revista Empresas Do Vale - Edição 37Documento27 páginasRevista Empresas Do Vale - Edição 37LOURDESAinda não há avaliações
- Fertilidade Do SoloDocumento105 páginasFertilidade Do Soloaloisiobie2039100% (2)
- Efeitos Da Massagem No Sistema Nervoso e No MetabolismoDocumento35 páginasEfeitos Da Massagem No Sistema Nervoso e No MetabolismoIsabel Moreno Bueno67% (3)
- Pergunta 1Documento6 páginasPergunta 1valeria valAinda não há avaliações
- Ae Sec bg11 Questaoaula1 Nov2019 CCDocumento1 páginaAe Sec bg11 Questaoaula1 Nov2019 CCJANET PEREIRAAinda não há avaliações
- Apostila Transporte Passivo2Documento3 páginasApostila Transporte Passivo2Débora AndradeAinda não há avaliações
- A Estrutura Da Medula e Sua Influência Nas Propriedades Mecânicas e de Cor Do CabeloDocumento95 páginasA Estrutura Da Medula e Sua Influência Nas Propriedades Mecânicas e de Cor Do CabeloallanHFAinda não há avaliações
- 3.9 - A VONTADE - Livro Do Piero FerrucciDocumento9 páginas3.9 - A VONTADE - Livro Do Piero FerrucciAgl FrndsAinda não há avaliações
- 56 Sistema NervosoDocumento12 páginas56 Sistema NervosoAndryo CardosoAinda não há avaliações
- O Sequestro Capa5Documento64 páginasO Sequestro Capa5Juietha ArleneAinda não há avaliações
- NoesisDocumento68 páginasNoesisPedro Póvoa OlyAinda não há avaliações