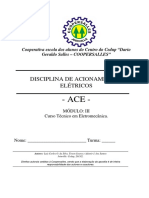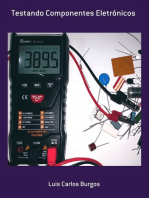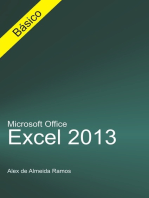Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Apostila - Automa - o Industrial e Eletr - Nica Industrial - (Cedup)
Apostila - Automa - o Industrial e Eletr - Nica Industrial - (Cedup)
Enviado por
Márcio PaginiTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Apostila - Automa - o Industrial e Eletr - Nica Industrial - (Cedup)
Apostila - Automa - o Industrial e Eletr - Nica Industrial - (Cedup)
Enviado por
Márcio PaginiDireitos autorais:
Formatos disponíveis
AUTOMAO INDUSTRIAL
AU1OMAO IADUS1RIAL
AGOSTO DE 2006
AU1OMAO IADUS1RIAL
CEDUP Hermann Hering Blumenau Eng Deonisio L. Lobo 1
ELETRNICA INDUSTRIAL
AUTOMAO INDUSTRIAL
Eng Deonisio Loureno Lobo
AGOSTO DE 2005
CENTRO DE EDUCAO PROFISSIONAL HERMANN HERING
CURSO TCNICO INDUSTRIAL ESPECIALIZAO EM ELETRNICA
AU1OMAO IADUS1RIAL Introduo
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 2
1. INTRODUO..................................................................................... 10
2. MOTORES DE INDUO .................................................................. 13
2.1 GENERALIDADES...................................................................................................13
2.2 CONSTRUO.........................................................................................................13
2.3 PRODUO DE UM CAMPO MAGNETICO GIRANTE PELA APLICAO DE
TENSES ALTERNADAS POLIFASICAS AO ENROLAMENTO DA ARMADURA.
..........................................................................................................................14
2.4 PRINCIPIO DO MOTOR DE INDUO...................................................................16
2.5 CONDUTORES DO ROTOR, FEM INDUZIDA E TORQUE: ROTOR PARADO.....18
2.6 TORQUE MAXIMO..................................................................................................21
2.7 CARACTERISTICAS OPERACIONAIS DE UM MOTOR DE INDUO...............22
2.8 CARACTERISTICA DE FUNCIONAMENTO DE UM MOTOR DE INDUO......24
2.9 TORQUE DO MOTOR DE INDUO E POTNCIA DESENVOLVIDA NO ROTOR
..........................................................................................................................25
2.10 PARTIDA DO MOTOR DE INDUO.....................................................................27
2.10.1 Partida Com Tenso Reduzida Com AutotransIormador .............................................28
2.10.2 Partida Com Tenso Reduzida, Com Reator Ou Resistor Primario..............................28
2.10.3 Partida Estrela-Tringulo............................................................................................29
2.10.4 Partida Por Fase Dividida ...........................................................................................29
2.10.5 Partida De Motor De Induo De Rotor Bobinado ......................................................30
2.11 CLASSIFICAO COMERCIAL DOS MOTORES DE INDUO .........................30
2.11.1 Categoria A................................................................................................................30
2.11.2 Categoria B ................................................................................................................31
2.11.3 Categoria C ................................................................................................................31
2.11.4 Categoria D................................................................................................................31
2.11.5 Categoria F.................................................................................................................31
2.11.6 Categoria H................................................................................................................32
2.11.7 Categoria N................................................................................................................32
2.12 REGIMES PADRONIZADOS ...................................................................................32
2.12.1 Regime Continuo (S1) ................................................................................................32
2.12.2 Regime de Tempo Limitado (S2)................................................................................32
2.12.3 Regime Intermitente Periodico (S3)............................................................................32
AU1OMAO IADUS1RIAL Introduo
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 3
2.12.4 Regime Intermitente Periodico Com Partidas (S4) ......................................................32
2.12.5 Regime Intermitente Periodico Com Frenagem Eletrica (S5) ......................................33
2.12.6 Regime de Funcionamento Continuo Com Carga Intermitente (S6) ............................33
2.12.7 Regime de Funcionamento Continuo Com Frenagem Eletrica (S7).............................33
2.12.8 Regime de Funcionamento Continuo Com Mudana Periodica na Relao
Carga/Velocidade de Rotao (S8) .............................................................................33
2.12.9 Regime Com Variaes No Periodicas de Carga e Velocidade (S9) ..........................33
2.12.10 Regime Com Cargas Constantes Distintas (S10).........................................................33
2.13 CONJUGADO ...........................................................................................................33
2.13.1 Conjugado Nominal ou de Plena Carga (Cn) ..............................................................34
2.13.2 Conjugado Com Rotor Bloqueado ou Conjugado de Partida ou Conjugado de Arranque
(Cp)................................................................................................................................
...................................................................................................................................34
2.13.3 Conjugado Minimo (Cmin).........................................................................................34
2.13.4 Conjugado Maximo (Cmax) .......................................................................................34
2.13.5 Conjugado Resistente (Cr)..........................................................................................34
2.13.6 Conjugado de Arraste (Ca) .........................................................................................34
2.14 INERCIA DAS MASSAS...........................................................................................34
2.15 TEMPO DE ACELERAO .....................................................................................35
2.16 TRABALHO E ENERGIA.........................................................................................36
2.17 TORQUE, CORRENTE E QUEDA DE TENSO DURANTE A PARTIDA DO
MOTOR.....................................................................................................................36
2.18 SOFT-STARTER.......................................................................................................37
2.18.1 VANTAGENS NA UTILIZAO DO SOFT-STARTER .........................................38
2.18.2 ESTRUTURA DO SOFT STARTER.........................................................................39
2.18.2.1 Tiristores em Anti-Paralelo por Fase......................................................................39
2.18.2.2 Fusivel Ultra-Rapido Incorporado ou Externo........................................................40
2.18.2.3 Rele Termico Incorporado ou Externo ...................................................................40
2.18.3 FUNES .................................................................................................................40
2.18.3.1 Rampa de tenso....................................................................................................40
2.18.3.2 Limite de Corrente.................................................................................................41
2.18.3.3 Rampa de Tenso Limite de Corrente .................................................................41
2.18.3.4 Pulso de Tenso Rampa......................................................................................41
2.18.3.5 Partida Suave.........................................................................................................41
2.18.3.6 Parada Suave .........................................................................................................41
2.18.3.7 Frenagem Por Corrente Continua...........................................................................41
2.18.3.8 Tecnicas de Controle .............................................................................................41
AU1OMAO IADUS1RIAL Introduo
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 4
2.18.3.9 Proteo Contra Inverso de Seqncia de Fase .....................................................42
2.18.4 OPERAO SO NA PARTIDA E OPERAO PERMANENTE ............................42
2.18.5 CONTROLADOR DE COS 'ENERGY SAVE...................................................42
2.19 CONVERSOR DE FREQNCIA.............................................................................44
2.19.1 CONTROLE ESCALAR E CONTROLE VETORIAL...............................................45
2.19.1.1 Controle Escalar ....................................................................................................45
2.19.1.2 Controle Vetorial ...................................................................................................45
2.19.1.3 Conversor Vetorial Sensorless ...............................................................................46
2.19.1.4 Conversor Vetorial de Iluxo...................................................................................47
2.19.1.5 Conversor Vetorial de Controle Orientado de Campo ............................................47
2.19.2 ALIMENTAO EM CORRENTE E ALIMENTAO EM TENSO...................47
2.19.3 PARAMETRIZAO ...............................................................................................47
2.19.3.1 Parmetros.............................................................................................................48
2.19.4 Terminais de Entrada e Saida......................................................................................49
2.20 ACIONAMENTO CC ................................................................................................49
3. AUTOMAO...................................................................................... 50
3.1 INSTRUMENTAO ......................................................................................................50
3.2 AUTOMAO DE PROCESSO INDUSTRIAL E NO INDUSTRIAL (CONTROLE DE
PROCESSO) ..............................................................................................................50
3.3 AUTOMAO DA MANUFATURA ..................................................................................51
3.4 AUTOMAO ..............................................................................................................51
3.5 APLICAES ...............................................................................................................51
4. INSTRUMENTAO .......................................................................... 53
4.1 SENSORES................................................................................................................53
4.1.1 Caracteristicas Importantes.........................................................................................53
4.1.1.1 Linearidade............................................................................................................53
4.1.1.2 Faixa de atuao ....................................................................................................53
4.1.2 Aplicao dos Sensores ..............................................................................................54
4.1.2.1 Sensores de temperatura ........................................................................................54
4.1.2.2 Tipos de sensores de temperatura...........................................................................54
4.1.2.3 Sensores de luz ......................................................................................................76
4.1.2.4 Sensores de velocidade ..........................................................................................78
4.1.2.5 Sensores de vazo..................................................................................................80
4.1.2.6 Sensores de Posio...............................................................................................82
4.1.2.7 Sensores Iotoeletricos (opticos)..............................................................................83
4.1.2.8 Sensores de posio especiIica...............................................................................89
AU1OMAO IADUS1RIAL Introduo
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 5
4.1.2.9 Sensores Capacitivos .............................................................................................90
4.1.2.10 Sensores indutivos .................................................................................................91
4.1.2.11 ConIiguraes eletricas em corrente continua ........................................................94
4.1.2.12 Fonte de alimentao .............................................................................................99
4.1.2.13 Sensores de corrente alternada .............................................................................101
4.1.2.14 Cuidados na instalao.........................................................................................104
4.1.2.15 Sensores de nivel .................................................................................................108
4.1.2.16 Encoders..............................................................................................................111
4.1.2.17 Transmissores via radio .......................................................................................111
4.1.2.18 Indicadores e controladores..................................................................................112
4.1.3 Aes de Controle ....................................................................................................112
4.1.3.1 Controle liga-desliga............................................................................................112
4.1.3.2 Controle Proporcional..........................................................................................112
4.1.3.3 Controle Integral..................................................................................................113
4.1.3.4 Controle Proporcional e Integral: .........................................................................113
4.1.3.5 Controle Proporcional e Derivativo:.....................................................................113
4.1.3.6 Controle Proporcional, Integral e Derivativo:.......................................................114
5 CLP - CONTROLADOR DE LGICA PROGRAMVEL............ 115
5.1 INFORMAES GERAIS.......................................................................................115
5.1.1 Descrio .................................................................................................................115
5.1.2 DeIinio Segundo a ABNT (Associao Brasileira de Normas Tecnicas) ................115
5.1.3 DeIinio Segundo a Nema (National Electrical ManuIacturers Association)............115
5.1.4 Caracteristicas ..........................................................................................................116
5.1.5 Aplicaes................................................................................................................116
5.2 ESTRUTURA BASICA..................................................................................................117
5.2.1 Unidade Central de Processamento (UCP)................................................................117
5.2.1.1 Processamento Ciclico.........................................................................................118
5.2.1.2 Processamento por Interrupo ............................................................................118
5.2.1.3 Processamento Comandado por Tempo................................................................118
5.2.1.4 Processamento por Evento...................................................................................118
5.2.2 Memoria...................................................................................................................119
5.2.2.1 Mapa de Memoria................................................................................................119
5.2.2.2 Arquitetura de memoria de um CP.......................................................................119
5.2.2.3 Estrutura..............................................................................................................121
5.3 DISPOSITIVOS DE ENTRADA E SAIDA ..............................................................122
AU1OMAO IADUS1RIAL Introduo
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 6
5.3.1 Caracteristicas das Entradas e Saidas - E/S .............................................................123
5.3.1.1 Modulos de Entrada.............................................................................................123
5.3.1.2 Tratamento de Sinal de Entrada ...........................................................................126
5.3.1.3 Modulos de Saida ................................................................................................127
5.3.1.4 Tratamento de Sinal de Saida...............................................................................130
5.3.2 Terminal de Programao.........................................................................................131
5.3.2.1 Terminal Portatil Dedicado..................................................................................131
5.3.2.2 Terminal Dedicado TRC......................................................................................131
5.3.2.3 Terminal No Dedicado - PC...............................................................................132
5.4 PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO DE UM CLP...............................................................132
5.4.1 Estados de Operao.................................................................................................132
5.4.1.1 Programao........................................................................................................132
5.4.1.2 Execuo .............................................................................................................132
5.4.2 Funcionamento.........................................................................................................132
5.5 LINGUAGEM DE PROGRAMAO................................................................................135
5.5.1 ClassiIicao ............................................................................................................135
5.5.1.1 Linguagem de Baixo Nivel ..................................................................................135
5.5.1.2 Linguagem de Alto Nivel.....................................................................................136
5.6 PROGRAMAO DE CONTROLADORES PROGRAMAVEIS...............................................137
5.6.1 Norma IEC 1131 ......................................................................................................137
5.6.1.1 Linguagens normalizadas.....................................................................................137
5.6.1.2 Objetos linguagem...............................................................................................138
5.6.2 Diagrama de Contatos (Ladder) ................................................................................138
5.6.3 Diagrama de Blocos Logicos ....................................................................................139
5.6.4 Lista de Instruo .....................................................................................................139
5.6.5 Texto Estruturado ST.............................................................................................140
5.6.6 Linguagem Seqencial SFC...................................................................................140
5.6.7 Linguagem Corrente.................................................................................................140
5.6.8 Analise das Linguagens de Programao ..................................................................140
5.6.8.1 Quanto a Forma de Programao .........................................................................140
5.6.8.2 Quanto a Forma de Representao .......................................................................141
5.6.8.3 Documentao.....................................................................................................141
5.6.8.4 Conjunto de Instrues ........................................................................................141
5.6.8.5 Instrues Basicas................................................................................................142
5.6.8.6 Instrues Matematicas........................................................................................144
5.6.8.7 Instrues Logicas ...............................................................................................145
AU1OMAO IADUS1RIAL Introduo
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 7
5.7 EQUACIONAMENTO DE SISTEMAS...................................................................146
5.7.1 Apresentao e Analise do Problema ........................................................................147
5.7.1.1 Apresentao .......................................................................................................147
5.7.1.2 Analise ................................................................................................................147
5.7.2 Descrio das TareIas e Representao GraIica ........................................................147
5.7.2.1 Algoritmo ............................................................................................................147
5.7.2.2 Fluxograma Analitico ..........................................................................................148
5.7.3 Esquema Funcional ..................................................................................................149
5.7.3.1 Fluxograma do Processo......................................................................................149
5.7.4 Exemplo de programa: Sala Inteligente.....................................................................150
5.7.5 Exemplo de programa - Setor de Pintura de Objetos: ................................................151
6 REDES NA AUTOMAO INDUSTRIAL (FIELDBUS)............... 155
6.1 REDES DE COMUNICAO INDUSTRIAL.........................................................155
6.1.1 Automao Centralizada...........................................................................................156
6.1.2 Automao Descentralizada......................................................................................156
6.1.3 Em Busca de Uma Padronizao ..............................................................................157
6.1.4 Niveis de Automao................................................................................................158
6.1.5 Tipos de Fieldbus .....................................................................................................159
6.1.5.1 Sistemas Fechados...............................................................................................159
6.1.5.2 Sistemas Abertos .................................................................................................159
6.1.6 Comunicao Serial..................................................................................................159
6.1.7 Topologias das Redes ...............................................................................................160
6.1.7.1 Topologia em Estrela ...........................................................................................160
6.1.7.2 Topologia em Linha.............................................................................................160
6.1.7.3 Topologia em Linha com Derivaes...................................................................160
6.1.7.4 Topologia em Linha em Anel...............................................................................161
6.1.7.5 Topologia em Anel ..............................................................................................161
6.1.7.6 Topologia em Arvore...........................................................................................161
6.1.8 Nos e I/O..................................................................................................................161
6.1.9 Comunicao............................................................................................................162
6.1.10 Modelo de ReIerncia - ISO/OSI ..............................................................................162
6.1.11 O Caminho dos Dados Entre Dois Equipamentos .....................................................163
6.1.12 Camadas no Modelo OSI..........................................................................................164
6.1.12.1 Fisica...................................................................................................................164
6.1.12.2 Enlace..................................................................................................................164
AU1OMAO IADUS1RIAL Introduo
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 8
6.1.12.3 Rede ....................................................................................................................164
6.1.12.4 Transporte ...........................................................................................................165
6.1.12.5 Seo...................................................................................................................165
6.1.12.6 Apresentao .......................................................................................................165
6.1.12.7 Aplicao ............................................................................................................165
6.1.13 Meios de Transmisso ..............................................................................................166
6.1.14 Sistema Mestre-Simples Multi-Escravo ....................................................................166
6.1.15 Multi-mestre Multi-escravo ......................................................................................166
6.1.16 Gateways (portas).....................................................................................................167
6.1.17 Protocolo..................................................................................................................167
6.1.18 Mensagem................................................................................................................167
6.1.19 Velocidade ...............................................................................................................168
5.3.1 RS-485 O Meio Fisico Mais Comum na Industria em Modbus...............................168
6.2 CABOS PARA REDES FIELDBUS.........................................................................170
6.2.1 Fibras Opticas...........................................................................................................170
6.2.1.1 Fibra de Indice Degrau (Step Index) ....................................................................170
6.2.1.2 Fibra de Indice Gradual (Graded Index) ...............................................................171
6.2.1.3 Fibra Monomodo.................................................................................................171
6.2.2 Guiamento de Luz Em Fibras Opticas.......................................................................172
6.2.2.1 Abertura Numerica ..............................................................................................172
6.2.3 Propriedades das Fibras Opticas ...............................................................................172
6.2.4 Aplicaes das Fibras Opticas ..................................................................................173
6.2.5 Caracteristicas de Transmisso da Fibra Optica ........................................................173
6.2.5.1 Atenuao............................................................................................................173
6.2.5.2 Disperso.............................................................................................................175
6.2.5.3 Disperso Material...............................................................................................175
6.2.5.4 Disperso de Guia de Onda..................................................................................175
6.2.6 Instalao de Cabos ..................................................................................................176
6.2.7 ConIeco de Emendas.............................................................................................176
6.2.7.1 Emenda por Fuso ...............................................................................................176
6.2.7.2 Emenda Mecnica................................................................................................177
6.2.8 Par Tranado ............................................................................................................177
6.2.8.1 Tipos de Cabo Par Tranado ................................................................................178
6.2.8.2 O Cabo UTP........................................................................................................178
6.2.8.3 Cabo UTP Seco................................................................................................179
6.2.9 Conector RJ-45.........................................................................................................179
AU1OMAO IADUS1RIAL Introduo
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 9
6.2.9.1 Pinagem...............................................................................................................179
6.2.9.2 Conector RJ-45 (Tomada) Pinagem .....................................................................179
6.2.9.3 Conector RJ-45 Montado.....................................................................................179
6.2.10 Padres de Conectorizao .......................................................................................180
7 REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS ............................................... 183
AU1OMAO IADUS1RIAL Introduo
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 10
1. INTRODUO
Automao e um sistema de equipamentos eletrnicos e/ou mecnicos que controlam
seu proprio Iuncionamento, quase sem a interveno do homem. Automao e diIerente de
mecanizao. A mecanizao consiste simplesmente no uso de maquinas para realizar um
trabalho, substituindo assim o esIoro Iisico do homem. Ja a automao possibilita Iazer um
trabalho por meio de maquinas controladas automaticamente, capazes de se regularem sozinhas.
As primeiras iniciativas do homem para mecanizar atividades manuais ocorreram na
pre-historia. Invenes como a roda, o moinho movido por vento ou Iora animal e as rodas
d`agua demonstram a criatividade do homem para poupar esIoro.
Porem, a automao so ganhou destaque na sociedade quando o sistema de produo
agrario e artesanal transIormou-se em industrial, a partir da segunda metade do seculo XVIII,
inicialmente na Inglaterra.
Os sistemas inteiramente automaticos surgiram no inicio do seculo XX. Entretanto, bem
antes disso Ioram inventados dispositivos simples e semi-automaticos. Devido a necessidade de
aumentar a produo e a produtividade, surgiu uma serie de inovaes tecnologicas: maquinas
modernas, capazes de produzir com maior preciso e rapidez em relao ao trabalho Ieito a mo;
utilizao de Iontes alternativas de energia, como o vapor, inicialmente aplicado a maquinas em
substituio as energias hidraulica e muscular.
Por volta de 1788, James Watt desenvolveu um mecanismo de regulagem do Iluxo de
vapor em maquinas. Isto pode ser considerado um dos primeiros sistemas de controle com
realimentao. O regulador consistia num eixo vertical com dois braos proximos ao topo, tendo
em cada extremidade uma bola pesada. Com isso, a maquina Iuncionava de modo a se regular
sozinha, automaticamente, por meio de um lao de realimentao.
A partir de 1870, tambem a energia eletrica passou a ser utilizada e a estimular
industrias como a do ao, a quimica e a de maquinas-Ierramenta. O setor de transportes
progrediu bastante graas a expanso das estradas de Ierro e a industria naval.
No seculo XX, a tecnologia da automao passou a contar com computadores,
servomecanismos e controladores programaveis. Os computadores so o alicerce de toda a
tecnologia da automao contempornea. Encontramos exemplos de sua aplicao praticamente
em todas as areas do conhecimento e da atividade humana.
A origem do computador esta relacionada a necessidade de automatizar calculos,
evidenciada inicialmente no uso de abacos pelos babilnios, entre 2000 e 3000 a.C.
O marco seguinte Ioi a inveno da regua de calculo e, posteriormente, da maquina
aritmetica, que eIetuava somas e subtraes por transmisses de engrenagens. George Boole
desenvolveu a algebra booleana, que contem os principios binarios, posteriormente aplicados as
operaes internas de computadores.
Em 1880, Herman Hollerith criou um novo metodo, baseado na utilizao de cartes
perIurados, para automatizar algumas tareIas de tabulao do censo norte-americano. Os
resultados do censo, que antes demoravam mais de dez anos para serem tabulados, Ioram obtidos
em apenas seis semanas! O xito intensiIicou o uso desta maquina que, por sua vez, norteou a
criao da maquina IBM, bastante parecida com o computador.
AU1OMAO IADUS1RIAL Introduo
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 11
Em 1946, Ioi desenvolvido o primeiro computador de grande porte, completamente
eletrnico. O Eniac, como Ioi chamado, ocupava mais de 180 m e pesava 30 toneladas.
Funcionava com valvulas e rels que consumiam 150.000 watts de potncia para realizar cerca
de 5.000 calculos aritmeticos por segundo.
Esta inveno caracterizou o que seria a primeira gerao de computadores que utilizava
tecnologia de valvulas eletrnicas.
A segunda gerao de computadores e marcada pelo uso de transistores (1952). Estes
componentes no precisam se aquecer para Iuncionar, consomem menos energia e so mais
conIiaveis. Seu tamanho era cem vezes menor que o de uma valvula, permitindo que os
computadores ocupassem muito menos espao.
Com o desenvolvimento tecnologico, Ioi possivel colocar milhares de transistores numa
pastilha de silicio de 1 cm, o que resultou no circuito integrado (CI). Os CIs deram origem a
terceira gerao de computadores, com reduo signiIicativa de tamanho e aumento da
capacidade de processamento.
Em 1975, surgiram os circuitos integrados em escala muito grande (VLSI). Os
chamados chips constituiram a quarta gerao de computadores. Foram ento criados os
computadores pessoais, de tamanho reduzido e baixo custo de Iabricao.
Para se ter ideia do nivel de desenvolvimento desses computadores nos ultimos quarenta
anos, enquanto o Eniac Iazia apenas 5 mil calculos por segundo, um chip atual Iaz 50 milhes de
calculos no mesmo tempo.
Voltando a 1948, o americano John T. Parsons desenvolveu um metodo de emprego de
cartes perIurados com inIormaes para controlar os movimentos de uma maquina-Ierramenta.
Demonstrado o invento, a Fora Aerea patrocinou uma serie de projetos de pesquisa,
coordenados pelo laboratorio de servomecanismos do Instituto Tecnologico de Massachusetts
(MIT). Poucos anos depois, o MIT desenvolveu um prototipo de uma Iresadora com trs eixos
dotados de servomecanismos de posio.
A partir desta epoca, Iabricantes de maquinas-Ierramenta comearam a desenvolver
projetos particulares. Essa atividade deu origem ao comando numerico que implementou uma
Iorma programavel de automao com processo controlado por numeros, letras ou simbolos.
Com esse equipamento, o MIT desenvolveu uma linguagem de programao que auxilia
a entrada de comandos de trajetorias de Ierramentas na maquina. Trata-se da linguagem APT (do
ingls, Automatically Programmed Tools, ou 'Ferramentas Programadas Automaticamente).
Os robs (do tcheco robota, que signiIica 'escravo, trabalho Iorado) substituiram a
mo-de-obra no transporte de materiais e em atividades perigosas. O rob programavel Ioi
projetado em 1954 pelo americano George Devol, que mais tarde Iundou a Iabrica de robs
Unimation. Poucos anos depois, a GM instalou robs em sua linha de produo para soldagem
de carrocerias.
Ainda nos anos 50, surge a ideia da computao graIica interativa: Iorma de entrada de
dados por meio de simbolos graIicos com respostas em tempo real. O MIT produziu Iiguras
simples por meio da interIace de tubo de raios catodicos (idntico ao tubo de imagem de um
televisor) com um computador.
Em 1959, a GM comeou a explorar a computao graIica.
A decada de 1960 Ioi o periodo mais critico das pesquisas na area de computao
graIica interativa. Na epoca, o grande passo da pesquisa Ioi o desenvolvimento do sistema
sketchpad, que tornou possivel criar desenhos e alteraes de objetos de maneira interativa, num
tubo de raios catodicos.
AU1OMAO IADUS1RIAL Introduo
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 12
No inicio dos anos 60, o termo CAD (do ingls Computer Aided Design ou 'Projeto
Auxiliado por Computador) comeou a ser utilizado para indicar os sistemas graIicos
orientados para projetos.
Nos anos 70, as pesquisas desenvolvidas na decada anterior comearam a dar Irutos.
Setores governamentais e industriais passaram a reconhecer a importncia da computao graIica
como Iorma de aumentar a produtividade.
Na decada de 1980, as pesquisas visaram a integrao e/ou automatizao dos diversos
elementos de projeto e manuIatura com o objetivo de criar a Iabrica do Iuturo. O Ioco das
pesquisas Ioi expandir os sistemas CAD/CAM (Projeto e ManuIatura Auxiliados por
Computador). Desenvolveu-se tambem o modelamento geometrico tridimensional com mais
aplicaes de engenharia (CAE Engenharia Auxiliada por Computador). Alguns exemplos
dessas aplicaes so a analise e simulao de mecanismos, o projeto e analise de injeo de
moldes e a aplicao do metodo dos elementos Iinitos.
Hoje, os conceitos de integrao total do ambiente produtivo com o uso dos sistemas de
comunicao de dados e novas tecnicas de gerenciamento esto se disseminando rapidamente. O
CIM (ManuIatura Integrada por Computador) ja e uma realidade.
AU1OMAO IADUS1RIAL 1cnicas de Acionamento
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 13
2. MOTORES DE INDUO
2.1 GENERALIDADES
A primeira vista, as maquinas de induo podem ser tambem consideradas como
maquinas de excitao unica, porque so aplicadas a seu estator apenas tenses alternadas
poliIasicas. Mostraremos, contudo, que uma tenso alternada de Ireqncia variavel e induzida
no seu rotor, da mesma maneira que se induz uma tenso alternada, por ao transIormadora,
num secundario de um transIormador.
A maquina de induo, conseqentemente, e uma maquina de dupla excitao, na qual
uma tenso alternada (CA) e aplicada a ambos os enrolamentos, ao do estator (armadura) e ao do
rotor. A tenso aplicada ao enrolamento da armadura e uma tenso de excitao de Ireqncia
(normalmente) constante e de potencial tambem (normalmente) constante, suprida por um
barramento poliIasico ou monoIasico, da mesma maneira que nas maquinas sincronas. A tenso
aplicada ao rotor e uma tenso induzida de Ireqncia e potencial variaveis, produzida como
conseqncia da velocidade do rotor com relao a velocidade sincrona.
De todos os tipos de motores, o motor de induo de gaiola de esquilo e o mais simples
no aspecto construtivo. No tem comutador, nem aneis coletores, nem quaisquer contatos moveis
entre o rotor e o estator. Este tipo de construo leva a muitas vantagens, inclusive a uma
operao isenta de manuteno, indicando-se a sua aplicao em localizaes remotas, e sua
operao em situaes severas de trabalho onde a poeira e outros materiais abrasivos sejam
Iatores a serem considerados. Por esta razo, e correntemente o motor de CA poliIasico mais
largamente utilizado.
Enquanto o motor de induo e talvez o mais simples de todos os motores, sob o ponto
de vista de operao e trabalho, a teoria de sua operao e bastante soIisticada.
2.2 CONSTRUO
O nucleo do rotor de um motor de induo e um cilindro de ao laminado, no qual de
cobre ou de aluminio Iundido so Iundidos ou enrolados paralelamente (ou aproximadamente
paralelos) ao eixo em ranhuras ou oriIicios existentes no nucleo. Os condutores no precisam ser
isolados do nucleo porque, porque as correntes induzidas no rotor seguem o caminho de menor
resistncia, ou seja, os condutores de cobre, ou de aluminio Iundido, ou de liga de cobre do
enrolamento do rotor.
No rotor gaiola de esquilo, os condutores do rotor esto curto-circuitados em cada
terminal atraves de aneis terminais continuos; dai o nome de 'gaiola de esquilo. Nos rotores
maiores, os aneis terminais so soldados aos condutores, em vez de serem moldados na
construo do rotor. As barras do rotor tipo gaiola de esquilo nem sempre so paralelas ao eixo
do rotor, mas podem ser deslocadas ou colocadas segundo um pequeno ngulo em relao a ele,
para produzir um torque mais uniIorme e para reduzir o 'zumbido magnetico durante a
operao do motor.
Motores de rotor bobinado so motores nos quais os condutores de cobre so colocados
nas diversas ranhuras, usualmente isolados do nucleo de Ierro, e so ligados em delta nas
maquinas triIasicas ou em estrela nas maquinas de induo poliIasicas. Cada terminal do
enrolamento e levado a aneis coletores que so isolados do eixo do rotor. Normalmente, o
enrolamento do rotor no e ligado a uma Ionte CA ou CC, mas pode ser usada qualquer uma (no
1 caso em concatenao e no ultimo caso em maquina universal). Usualmente um resistor
AU1OMAO IADUS1RIAL 1cnicas de Acionamento
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 14
triIasico ou poliIasico equilibrado variavel e ligado aos aneis dos coletores atraves das escovas,
como meio de variar a resistncia total do rotor por Iase. Devido ao seu elevado custo inicial e
maior custo de manuteno, os motores de rotor bobinado so usados apenas: quando se
necessita elevado torque de partida, quando se deseja o controle da velocidade, e quando se
introduzem tenses externas ao circuito do rotor.
2.3 PRODUO DE UM CAMPO MAGNETICO GIRANTE PELA
APLICAO DE TENSES ALTERNADAS POLIFASICAS AO
ENROLAMENTO DA ARMADURA
Um campo magnetico girante e de amplitude constante, girando a velocidade sincrona
|
.
|
\
|
=
P
f
N
s
120
(1) pode ser produzido por qualquer grupo poliIasico de enrolamentos
deslocados no espao da armadura, se as correntes que circulam atraves dos enrolamentos
tambem esto deIasadas no tempo. Por exemplo, se um enrolamento biIasico estiver disposto
Iisicamente no estator com um deslocamento de 90, sera produzido um corpo girante constante
desde que as correntes das Iases tambem estejam deslocadas no tempo. Todas as maquinas de
induo triIasicas, portanto, a Iim de produzirem um campo magnetico de amplitude constante
que gire a velocidade sincrona, necessitam de trs enrolamentos individuais e idnticos,
deslocados no estator de 120 eletricos e pelos quais circulem correntes deIasadas tambem de
120 no tempo, ou na Iase. A Iig.1a mostra o diagrama Iasorial das correntes que circulam na
armadura de uma maquina triIasica considerando-se a seqncia de Iases ABCABCA. A relao
graIica e as variaes senoidais de cada corrente por ciclo so vistas na Iig.1b. A Iig.1c mostra o
deslocamento espacial de um enrolamento triIasico concentrado tipico, com ligao delta.
Nas maquinas sincronas CA, os condutores de cada Iase esto distribuidos
uniIormemente atraves da armadura do estator. O diagrama da Iig.1c, que emprega bobinas
concentradas (em vez de enrolamentos distribuidos), permite predizer o Iluxo resultante
produzido por todas bobinas de uma Iase. Cada grupo de Iase na Iig.1c consiste de 12 condutores
(ou 6 bobinas) por Iase, nos quais os correspondentes 'Iins de bobinas de cada Iase, F
a
, F
b
, F
c
,
esto ligados a um ponto comum. Os correspondentes 'comeos de cada Iase, S
a
, S
b
ou S
c
, esto
ligados a alimentao de tenso triIasica. No instante t
1
, visto na Iig.1b, mostra-se a corrente em
cada bobina em cada enrolamento (regio de Iase). No instante t
1
, a Iase A esta num valor
maximo num determinado sentido, enquanto as correntes nas bobinas das Iases B e C alcanam
exatamente 0,707 do seu valor maximo no sentido oposto. Note-se tambem que em ambas Iigs.
1c e d, para o instante t
1
os sentidos das correntes em B e C so opostos ao de A.
Os Iluxos produzidos por estes condutores nas diversas Iases podem ser determinados
utilizando-se a regra da mo direita. Note-se que |
b
e |
c
em |
a
produzem um Iluxo resultante |
r
.
As componentes de quadratura dessas projees cancelam-se entre si, uma vez que elas so
iguais e opostas em sua posio de Iase. O mesmo procedimento e seguido no instante t
2
, quando
a corrente na Iase B esta invertida e e agora igual e tem o mesmo sentido que A (a qual agora
decresceu para 0,707 de seu valor maximo). C esta agora no seu valor maximo no instante t
2
. O
Iluxo resultante e novamente desenhado para cada uma das Iases, e neste instante |
a
e |
b
produzem componentes em quadratura (que se cancelam) e componentes em Iase com |
c
para
produzir um Iluxo resultante |
r
do mesmo valor que o existente no instante t
1
. Assim no instante
t
2
, 60 eletricos mais tarde que o instante t
1,
o Iluxo resultante girou de 60, mas permaneceu com
seu valor constante.
AU1OMAO IADUS1RIAL 1cnicas de Acionamento
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 15
Figura 1. Produo de um campo magnetico girante constante a velocidade sincrona.
Examinando os eixos de |
r
nos instantes t
1
e t
2
pode-se ver que o estator pode ser tratado
como um solenoide no qual todos os condutores de um lado de |
r
carregam corrente entrando no
estator, e de todos os condutores que se localizam do outro lado tm correntes saindo do estator.
Assim, no instante t
3
o Iluxo resultante tera um sentido horizontal da direita para a esquerda,
entrando no estator num polo S do lado esquerdo e deixando o estator num polo N a esquerda.
Deve-se observar o seguinte:
Um unico campo magnetico girante constante e produzido por um enrolamento triIasico
localizado no estator.
O deslocamento no espao do resultante campo magnetico girante corresponde
exatamente ao deslocamento tempo-Iasico da freqncia da Ionte.
O enrolamento concentrado da Iig.1c produziu dois polos utilizando seis ranhuras para
um enrolamento triIasico
|
|
.
|
\
|
polos fasesx
ranhuras
2 3
6
ou uma ranhura por polo por Iase. Se utilizarmos um
estator que tenha duas ranhuras por polo e por Iase e se as bobinas para uma mesma Iase esto
AU1OMAO IADUS1RIAL 1cnicas de Acionamento
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 16
deIasadas de 90 as correntes resultantes produziro um campo magnetico girante de quatro
polos. Igualmente, um estator possuindo trs ranhuras por polo e por Iase produzira um campo
magnetico girante de seis polos, e assim por diante.
Desde que o periodo ou intervalo de tempo das variaes senoidais de corrente, visto na
Iig.1b, e o mesmo nos condutores, a velocidade do campo magnetico girante varia diretamente
com a Ireqncia, mas inversamente com o n de polos, veriIicando-se novamente que
|
.
|
\
|
=
P
f
N
s
120
. Assim, a velocidade do campo girante na Iig.1 na Ireqncia de 60Hz e de 3.600
rpm.
Podemos considerar, ento, que a natureza do enrolamento do estator, em Iuno da
Ireqncia e do numero de polos, produzira um campo magnetico girante de amplitude constante
cuja velocidade girante ou sincrona e expressa pela equao |
.
|
\
|
= =
n
f
P
f
N
s
2
120 120
. Desde que o
numero de polos depende apenas de n (do enrolamento empregado), a velocidade sincrona do
campo magnetico girante de qualquer maquina assincrona dada e eIetivamente uma Iuno da
Ireqncia.
O campo magnetico girante produzido e visto na Iig.1 Iorneceu um sentido horario para
a seqncia de Iases ABCABCA vista na Iig.1b. Se quaisquer dois terminais de bobinas do
estator da Iig.1c Iorem trocados entre si, a seqncia de inversa produzira reverso do sentido de
rotao do campo magnetico. Ver-se-a que o rotor gira no mesmo sentido do campo magnetico
girante (principio do motor de induo). Conseqentemente, o sentido da rotao de qualquer
motor de induo pode ser invertido (invertendo simplesmente a seqncia de Iases) trocando a
posio de quaisquer duas das trs conexes de linhas que o ligam a Ionte de alimentao
triIasica.
2.4 PRINCIPIO DO MOTOR DE INDUO
O principio do motor de induo pode ser ilustrado simplesmente usando o dispositivo
da Iig.2. Um im permanente e suspenso por um Iio sobre um disco de aluminio ou cobre
pivotado num mancal de apoio sobre uma placa Iixa de Ierro. O campo do im permanente
completa-se assim atraves da placa de Ierro. O piv deve ter to pouco atrito quanto possivel e o
im permanente deve ter suIiciente densidade de Iluxo. ConIorme o im gira no Iio, o disco
abaixo dele girara com ele independente do sentido de rotao do im. O disco segue o
movimento do im, como mostra a Iig.2, devido as correntes parasitas induzidas que aparecem
devido ao movimento relativo do condutor (o disco) em relao ao campo magnetico. Pela lei de
Lenz, o sentido da tenso induzida (e das conseqentes correntes parasitas) produz um campo
que tende a opor-se a Iora, ou seja, ao movimento que produziu a tenso induzida.
Com eIeito, como mostra a Fig. 2, as correntes parasitas induzidas tendem a produzir
um polo unitario S no disco num ponto situado sob o polo girante N do im, e um polo unitario
N no disco sob o polo girante S do im. Enquanto o im continua seu movimento, portanto,
continuara a produzir correntes parasitas e polos de polaridades opostas no disco sob ele. O
disco, assim, gira no mesmo sentido que o im, mas deve girar a uma velocidade menor do que a
do im. Se o disco Iosse acionado a mesma velocidade do im, no haveria movimento relativo
entre o condutor e o campo magnetico, e no se produziriam correntes parasitas no disco.
E devido a ao geradora que ocorre, produzindo correntes e um resultante campo
magnetico oposto, que o motor de induo pode ser classiIicado como uma maquina duplamente
excitada. Alem disso, como em todas as maquinas, enquanto o torque eletromagnetico e o
AU1OMAO IADUS1RIAL 1cnicas de Acionamento
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 17
resultado da interao entre os campos magneticos produzidos pelas duas correntes de excitao,
ocorre simultaneamente uma ao geradora. No motor sincrono CA, ocorrem a ao-motor e a
ao geradora a velocidade sincrona do campo magneticos girante. No motor de induo CA,
nem a ao-motor nem a ao-gerador podero ocorrer a velocidade sincrona. Por isso, as
maquinas que Iuncionam sob o principio de induo so classiIicadas como assincronas ou no
sincronas.
Figura 2. Principio do motor de induo.
ConIorme se estabeleceu previamente, a velocidade do disco nunca pode ser igual a do
im. Se o Iosse, a corrente induzida seria zero e no se produziriam Iluxo magnetico nem torque.
Assim ele deve 'escorregar em velocidade a Iim de que se produza torque. Isso resulta numa
diIerena de velocidades produzidas entre: (1) a velocidade sincrona do campo magnetico
girante, basicamente uma Iuno de Ireqncia para qualquer maquina de induo dada; e (2) a
velocidade de 'escorregamento na qual gira o disco como resultado do torque produzido por
interao entre seu campo e o campo magnetico girante. Esta diIerena na qual a velocidade
entre (1) e (2) e chamada velocidade de escorregamento (ou rotao de escorregamento) e e
normalmente expressa como uma percentagem da velocidade sincrona (como escorregamento
percentual ou simples escorregamento).
s
r s
N
N N
sincrona velocidade
rotor velocidade sincrona velocidade
sincrona velocidade
ento escorregam velocidade
s
100 ) (
= =
(2)
Ou
) 1 ( 120 ) 1 ( s
P
f
s N N
s r
|
.
|
\
|
= = (3)
Onde: s e o escorregamento percentual (para Iins de calculos, converte-se o
percentual sempre em decimal).
N
s
e velocidade sincrona (120f/P) em rpm, do campo magnetico girante
produzido pelo estator.
N
r
e a velocidade do rotor em rpm
AU1OMAO IADUS1RIAL 1cnicas de Acionamento
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 18
2.5 CONDUTORES DO ROTOR, FEM INDUZIDA E TORQUE: ROTOR
PARADO
Um motor de induo comercial, tipo gaiola de esquilo, tem seu rotor composto de
condutores ou barras de cobre ou aluminio embebidos num nucleo de Ierro laminado.
Imaginemos que o rotor esta parado (num bloqueio) e que o Iluxo do estator esta
girando a velocidade sincrona no sentido horario em relao ao condutor (estacionario) A do
rotor, situado diretamente sob um polo unitario N. O sentido do movimento relativo do condutor
A, para Iins de determinao da Iora eletromotriz induzida, e a esquerda (regra da mo direita).
Este movimento relativo produz uma Iem no sentido do observador, e a corrente a ela associada
produz um Iluxo no sentido contrario ao dos ponteiros do relogio em torno do condutor A, como
se viu. Com respeito ao campo que penetra no nucleo de Ierro da vizinhana do condutor A, a
Iora que age sobre o condutor A, como resultado da interao entre os campos magneticos,
produz repulso a esquerda e atrao a direita do condutor, ou seja, um movimento no mesmo
sentido que o do campo magnetico. Pela regra da mo (a ao-motor requer a regra da mo
esquerda para o movimento do condutor), ver-se-a o condutor desenvolvendo um torque
eletromagnetico que tende a mover o rotor tambem no mesmo sentido da rotao do campo
magnetico.
Figura 3. Desenvolvimento do torque nos condutores do rotor.
Semelhantemente, o condutor C, diretamente sob um polo unitario S do rotor, produzira
uma Iem que se aIasta do observador, e um campo magnetico no sentido horario resultante de
uma corrente induzida, que produz movimento no mesmo sentido (horario) que o do campo
magnetico girante.
O condutor B, entretanto, no esta submetido a nenhuma variao de Iluxo concatenado
e, portanto, no e sede de Iem induzida. Todos os condutores que se situam no rotor entre A e B
experimentaro ,pois, Iem induzidas e correntes do rotor de magnitudes variaveis (uma vez que
esto curto-circuitados nos seus terminais), dependendo de se eles esto diretamente sob um polo
unitario ou na regio interpolar. Assim, a distribuio da Iem nos condutores do rotor varridos
pelo campo magnetico girante assemelha-se, a qualquer instante, a distribuio do Iluxo. Mais
ainda, desde que o campo esta girando a velocidade sincrona, o sentido da Iem induzida em
qualquer condutor dado variara senoidalmente de acordo com a grandeza do Iluxo que a
concatena, como mostra a Iigura. Com eIeito, o mesmo numero de polos de polaridade
instantnea oposta e produzido no rotor, em relao aos que existem no estator.
Em bloqueio ou repouso, a Ireqncia da Iem induzida no rotor e igual a Ireqncia do
campo magnetico girante. Por outro lado, se o rotor Iosse capaz de girar a mesma velocidade do
AU1OMAO IADUS1RIAL 1cnicas de Acionamento
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 19
campo magnetico girante, isto e, se o condutor A se movesse exatamente a mesma velocidade
que o polo unitario N, acima dele, no haveria tenso induzida nos condutores do rotor, e a
Ireqncia de alternao seria zero. A Ireqncia das tenses induzidas no rotor, assim, varia
inversamente com a velocidade do rotor desde um maximo (Ireqncia de linha) em repouso, a
Ireqncia zero na velocidade sincrona . Mas a Eq.(2) mostra que o escorregamento tambem
varia desde um maximo para o rotor em repouso ate zero a velocidade sincrona. A Ireqncia do
rotor pode ser expressa como uma Iuno da Ireqncia do estator e do escorregamento:
f
r
s . f (4)
Onde:
f
r
e a Ireqncia da tenso senoidal e das correntes induzidas no circuito do rotor a
um dado escorregamento, s, em hertz
s e o escorregamento deIinido pela Eq.(9-1), como a relao da velocidade de
escorregamento para a velocidade sincrona ou (N
s
-N
r
)/N
s
f e a Ireqncia do estator (ou a Ireqncia de linha) e do campo magnetico girante,
em hertz.
Deve-se notar que o motor de induo de rotor bobinado pode ser usado como
dispositivo de alterao de Ireqncia quando o seu rotor e acionado a uma dada velocidade e
quando se retira a Iem de seus aneis coletores. Quando um motor de induo e acionado por uma
maquina primaria (e desta Iorma e que sera operado), chamamo-lo um gerador de induo.
conseqentemente, se ele esta parado (escorregamento unitario), um gerador de induo gerara a
uma Ireqncia (do rotor) de (1x60) ou 60Hz. Se ele gira exatamente a velocidade sincrona no
mesmo sentido do campo magnetico girante (escorregamento zero), a sua Ireqncia gerada (do
rotor) e (0x60) ou zero. Se ele gira na mesma velocidade (sincrona), mas em sentido oposto
(escorregamento 2), a sua Ireqncia gerada e de (2x60) ou 120Hz. Se ele gira a uma
velocidade que seja o dobro da sincrona no sentido oposto (escorregamento 3), a sua
Ireqncia gerada e de 180Hz. Escorregamentos maiores que a unidade, bem como
escorregamentos negativos (rotao acima da velocidade sincrona no mesmo sentido), so, pois,
possiveis, num gerador de induo. Na maior parte do estudo das caracteristicas do motor de
induo, estaremos tratando com escorregamentos positivos entre o unitario (rotor bloqueado) e
o nulo (velocidade sincrona).
Desde que os condutores do rotor tm uma resistncia relativamente baixa (barras de
grande area, curtas no comprimento e curto-circuitadas nas extremidades), mas esto engastados
no Ierro, eles possuem a propriedade da indutncia e, conseqentemente da reatncia indutiva.
Para um dado rotor de uma maquina de induo, a indutncia das barras do rotor (L
r
) e uma
quantidade Iixa (variando com o numero de espiras, a permeabilidade, o comprimento e a area
do circuito magnetico), mas a reatncia indutiva do rotor (X
r
) variara com a Ireqncia do rotor.
A determinao direta da indutncia do rotor, independentemente da Ireqncia e um assunto
diIicil, particularmente para maquinas grandes. E usual, pois, determinar-se a reatncia do rotor
com ele bloqueado, atraves do 'ensaio a rotor bloqueado (utilizado tambem na determinao do
rendimento), e ento usar-se esta reatncia como um padro de reIerncia. Uma vez que a
Ireqncia do rotor aumenta com o escorregamento (Eq.4), e a reatncia varia com a Ireqncia,
(X
r
2tfL
r
), a reatncia do rotor para qualquer Ireqncia sua e :
X
r
s.X
bl
(5)
Onde :
s e o escorregamento expresso como quantidade decimal e X
bl
e a reatncia a rotor
bloqueado.
AU1OMAO IADUS1RIAL 1cnicas de Acionamento
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 20
Deve-se notar que a reatncia a rotor bloqueado nunca deve ser considerada como a
maior reatncia possivel, porque, como ja se mostrou, o gerador de induo pode desenvolver
reatncias do rotor maiores que aquela a rotor bloqueado, para escorregamentos maiores que o
unitario. A reatncia a rotor bloqueado e meramente um padro ou reIerncia conveniente que
simpliIica os calculos.
Se a Ireqncia da tenso CA induzida nas barras do rotor de um motor de induo varia
entre zero, a velocidade sincrona , e a Ireqncia do estator, a rotor bloqueado, ento pela Eq.
f k E | = , a tenso induzida no rotor para qualquer escorregamento e tambem uma Iuno da
tenso induzida a rotor bloqueado; ou seja,
bl r
sE E = (6)
Onde:
s escorregamento expresso como quantidade decimal
E
bl
tenso induzida no rotor para a condio de ele estar bloqueado (ou seja, motor
parado)
E e a Iem induzida no rotor para qualquer valor do escorregamento (positivo,
negativo, maior ou menor que o unitario) e/ou a Ireqncia do rotor.
Assim, a tenso induzida no rotor, a reatncia deste e a sua Ireqncia variam todas em
Iuno do escorregamento desde um maximo 'normal para rotor bloqueado ate zero quando a
velocidade do rotor Ior igual a velocidade sincrona (escorregamento nulo).
O torque desenvolvido na situao de motor parado para cada um dos condutores
individuais no rotor pode ser expresso em Iuno do Iluxo ou corrente (que produz o Iluxo), no
estator e no rotor, respectivamente, como:
r r t
I K T u | cos = (7)
Onde:
K
t
e uma constante de torque para o numero de polos, o enrolamento, as unidades
empregadas, etc.
| e o Iluxo produzido por cada polo unitario do campo magnetico girante que
concatena o condutor do rotor
I
r
cos|
r
e a componente da corrente do rotor em Iase com |
A necessidade do termo I
r
cos|
r
na Eq.(7) emerge naturalmente do Iato de que,
enquanto as tenses induzidas nos condutores do rotor vistos na Fig. 3 esto em Iase com o
campo magnetico girante do estator, as correntes I
r
nos condutores do rotor no esto em Iase.
Os condutores do rotor tm uma reatncia indutiva apreciavel devido ao escorregamento
|Eq.(5)|, ocasionando, assim, o atraso da corrente I
r
do rotor em relao a E
r
de um ngulo |.
Portanto, apenas aquela componente da corrente que esta em Iase com o Iluxo do rotor produzira
torque medio util.
E agora possivel derivar uma equao para o torque desenvolvido quando o motor esta
parado, ou seja, sob as condies de rotor bloqueado (que e o torque de partida) para o motor de
induo. Seja R
r
a resistncia eIetiva do rotor (para a posio bloqueada) de todos os condutores
do rotor combinados, e seja X
bl
a reatncia a rotor bloqueado de todos os condutores do rotor
combinados; ento a impedncia para rotor bloqueado, Z
bl,
e:
Z
bl
R
r
jX
bl
2 2
bl r
X R + (8)
AU1OMAO IADUS1RIAL 1cnicas de Acionamento
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 21
cos |
r
bl
r
Z
R
(9)
A corrente no rotor bloqueado e:
I
bl
bl
bl
Z
E
bl r
bl
fX R
E
+
2 2
bl r
bl
X R
E
+
(10)
Onde:
E
bl
e o valor eIetivo da tenso induzida no rotor com este bloqueado, sendo os demais
termos ja deIinidos acima.
Substituindo-se na Eq.(7) I
bl
da Eq.(10) e tambem o valor de cos |
r
R
r
/Z
bl,
o torque de
partida total desenvolvido por um motor de induo com rotor parado e :
2 2
2 2 2 2
cos
bl r
r bl t
bl r
r
bl r
bl t
r r t p
X R
R E K
X R
R
X R
E K
I K T
+
=
+
+
= =
| |
u | (11)
onde todos os termos ja Ioram previamente deIinidos.
Note-se que os termos imaginarios, bem como os radicais, Ioram removidos do
denominador da Eq.(11). Note-se, tambem, que, como o rotor esta bloqueado, e as tenses so
induzidas nele por ao transIormador, E
bl
e proporcional a | que, por sua vez, e proporcional a
tenso de linha do barramento ou a tenso de Iase no enrolamento do estator V
I
. Desde que | e
proporcional a V
I
, e desde que E
bl
(por ao transIormador) e proporcional a V
I
, a Eq. (11) pode
ser ainda mais simpliIicada para:
2 2
2
bl r
r f t
p
X R
R J K
T
+
= (12)
Mas, para um dado motor de induo tipo gaiola, desde que a resistncia eIetiva do
rotor R
r
e a reatncia a rotor bloqueado X
bl
so constantes (para uma dada tenso de barramento
aplicada, a uma Ireqncia constante), elas podem ser incorporadas numa nova constante K
t
`
e a
Eq. (12) e Iinalmente simpliIicada para o torque de partida (motor parado) na expresso:
2 '
f t p
J K T = (13)
A Eq. (13) estabelece que, para qualquer dado motor de induo tipo gaiola CA
(particularmente aquele que no permitia a variao da resistncia do rotor por meios externos),
o torque de partida e apenas Iuno da tenso aplicada ao enrolamento do estator. Ao reduzir-se
a tenso nominal aplicada por Iase, a metade, durante a partida, ento, produzir-se-a um torque
de partida que sera um quarto do que seria produzido a plena tenso. Ao reduzir-se a tenso
primaria, tambem se reduzira a corrente secundaria e a primaria, uma vez que a corrente primaria
reIlete a corrente drenada pela resistncia e pela reatncia secundarias do rotor. A teoria basica
dos metodos de partida, a tenso reduzida, de motores de induo poliIasicos e reduzir a corrente
primaria do (estator).
2.6 TORQUE MAXIMO
Sabemos que o torque de partida com rotor bloqueado T
p
do motor de induo tipo
gaiola pode ser to alto ou mesmo mais alto que o seu torque de plena carga. Devemos, tambem,
determinar o torque maximo em Iuno do torque de plena carga.
AU1OMAO IADUS1RIAL 1cnicas de Acionamento
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 22
Uma vez que o motor de induo de tipo gaiola desenvolve torque de partida e gira, sua
Ireqncia, a reatncia do rotor, e a tenso induzida por este so representadas por sI, sX
bl
e sE
bl
,
respectivamente. A medida que a Ireqncia do rotor e a sua reatncia decrescem, a Iem induzida
do rotor tambem decresce a proporo que a velocidade do motor aumenta. Uma diminuio na
reatncia do rotor aumenta o valor de cos u
r
na Eq. (7), mas, ao mesmo tempo, a diminuio da
tenso do rotor tende a reduzir a corrente do rotor. Para uma dada excitao constante, portanto,
deve haver um valor particular de escorregamento onde o aumento do cos u
r
e a diminuio da
corrente do rotor I
r
produzem um valor maximo do torque na Eq. (7) (
r r t
I K T u | cos = ).
Para qualquer escorregamento dado, a corrente do rotor e
2 2
) (
bl r
bl
r
sX R
sE
I
+
= (14)
e desde que
2 2
) (
cos
bl r
r
r
sX R
R
+
= u (15)
a qualquer valor de escorregamento, o torque de Iuncionamento
r r t
I K T u | cos = ,
pode ser convertido, usando a mesma tecnica de substituio que na Eq. (11), em
T |para qualquer escorregamento|
2 2
) (
bl r
r bl s t
sX R
R E K
+
|
Mas, desde que a tenso a rotor bloqueado E
bl
e diretamente proporcional a |, o torque
pode ser expresso por
T |para qualquer escorregamento|
2 2
2
) (
bl r
r t
sX R
sR K
+
|
(16)
O torque maximo e obtido quando a Eq. (16) e diIerenciada em relao a resistncia do
rotor e igualada a zero (isto e, quando dT/dR
r
0), o que leva a
R
r
s
Tmx
X
bl
(17)
Em outras palavras, o torque maximo e obtido ao escorregamento correspondente
lr
r
Tmx
X
R
s = . Mas, como notado anteriormente, |
2
e proporcional a
2
f
J ; e, assim, a expresso para
o torque maximo que pode ser desenvolvido por qualquer motor de induo, substituindo a
Eq.(17) na Eq.(16), e
2
2
max
) ( 2
bl Tmx
f
X s
KJ
T = (18)
2.7 CARACTERISTICAS OPERACIONAIS DE UM MOTOR DE INDUO
Supondo que um motor de induo tipo gaiola parte com a tenso nominal aplicada aos
terminais do estator, ele desenvolvera um torque de partida de acordo com a Eq. (11), o que
levara sua velocidade a crescer. A medida que sua velocidade aumenta desde o rotor parado
(100 de escorregamento), seu escorregamento decrescera e seu torque aumentara ate aquele
valor de escorregamento correspondente ao torque maximo desenvolvido (R
r
sX
bl
) de acordo
com a Eq.(17). Isto leva a velocidade aumentar mais ainda, reduzindo o escorregamento e,
AU1OMAO IADUS1RIAL 1cnicas de Acionamento
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 23
simultaneamente, o torque desenvolvido pelo motor de induo. O torque desenvolvido na
partida e naquele valor do escorregamento que produz o torque maximo excedem, ambos, o
torque aplicado a carga (para o caso normal). A velocidade do motor aumentara, portanto, ate
que o valor do escorregamento seja to pequeno que o torque desenvolvido seja reduzido a um
valor igual ao torque aplicado. O motor continuara a girar nesta velocidade e no valor
equilibrado de escorregamento, ate que o torque aplicado aumente ou diminua de acordo com a
Eq.(16).
A Fig. 4 mostra a relao entre os valores dos torques de partida, maximo e de plena
carga desenvolvidos pelo motor de induo em Iuno da sua velocidade e escorregamento.
Figura 4. EIeitos da carga na velocidade, torque desenvolvido e corrente do rotor.
Esta Iigura e uma representao graIica da corrente desenvolvida pelo rotor do motor e
de seu torque em Iuno do escorregamento, desde o instante de partida (ponto a) ate as
condies de Iuncionamento em regime permanente (usualmente entre a posio a vazio e a
posio em plena carga pontos c e d), onde os torques desenvolvido e aplicado so iguais.
Note-se que ao escorregamento zero correspondem um torque desenvolvido e uma corrente do
rotor (mostrada em linha pontilhada), ambos nulos, porque no ocorre ao do motor de induo
a velocidade sincrona. Mesmo a vazio e necessario que o motor de induo tenha um pequeno
escorregamento (usualmente uma Irao de 1) a Iim de que ele desenvolva um pequeno torque
para suprir as perdas por atrito, ventilao e outras perdas internas. A vantagem da apresentao
mostrada na Fig.9-6 e que e possivel visualizar a acelerao, para uma dada carga, desde a
partida (ponto a) e os eIeitos da variao da carga sobre a regulao da velocidade, o torque e a
corrente do rotor.
O motor de induo, como mostra na Fig.9-6, e um motor que mantem essencialmente
constante a velocidade, desde a vazio ate a plena carga (pontos d a c na Iigura), tendo uma
caracteristica de velocidade que se assemelha a de um motor derivao de CC . Consideramos a
seguir a maneira pela qual o torque e desenvolvido desde a vazio ate a plena carga, isto e, nas
condies normais de Iuncionamento do motor de induo.
AU1OMAO IADUS1RIAL 1cnicas de Acionamento
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 24
2.8 CARACTERISTICA DE FUNCIONAMENTO DE UM MOTOR DE
INDUO
As caracteristicas de Iuncionamento normal de um motor de induo de tipo gaiola
ocorrem no intervalo entre o Iuncionamento a vazio e a plena carga. Consideremos o
comportamento do rotor de um motor de induo na sua velocidade a vazio, que e levemente
inIerior a sincrona, e consideraremos que se lhe aumenta a carga.
Condio a va:io: A vazio, o escorregamento e muito pequeno (uma Irao de 1), e a
Ireqncia do rotor, sua reatncia e sua Iem induzida |Eqs.(4), (5) e (6)| so todas muito
pequenas. A corrente do rotor e, assim, pequena e apenas suIiciente para produzir o torque
necessario a vazio. Desde que a corrente do rotor e pequena, a corrente do estator (primaria) e a
soma Iasorial da sua corrente de excitao, I
e
, e de uma componente primaria de carga, I
o
,
induzida no rotor por ao de transIormador. O Iator de potncia a vazio e assim representado
por u. Note-se que, como o ngulo u e grande, o Iator de potncia e extremamente pequeno e em
atraso.
Condio de meia carga: Quando uma carga mecnica e aplicada ao rotor, a velocidade
decresce um pouco. O pequeno decrescimo na velocidade causa um aumento no escorregamento
e na Ireqncia do rotor, na sua reatncia e na sua Iora eletromotriz induzida |Eqs. (4), (5) e
(6)|. O aumento da corrente induzida no rotor (secundaria) reIlete-se num aumento da corrente
primaria do estator. Esta componente da corrente primaria do estator e uma componente que
produz potncia, e esta em Iase com a tenso induzida primaria.
A soma Iasorial da corrente a vazio e da componente de carga produz uma corrente do
estator a um melhor ngulo da Iase u
s
. Assim, a corrente do estator aumentou, e o ngulo do Iator
de potncia diminuiu, ambos os Iatores tendendo a produzir mais potncia mecnica na armadura
e solicitar mais potncia da linha.
Condio de plena carga: O motor de induo do tipo gaiola girara a um valor de
escorregamento que promove o equilibrio entre o torque desenvolvido e o torque aplicado. A
medida que mais carga Ior aplicada, portanto, aumentara o escorregamento porque o torque
aplicado excede ao torque desenvolvido. Quando o torque nominal e aplicado ao eixo do motor
de induo, a componente em Iase da corrente primaria do estator, solicitada pelo motor de
induo, e grande em comparao com a componente quase em quadratura da corrente a vazio, e
o ngulo de Iase u e razoavelmente pequeno. O Iator de potncia a plena carga varia de 0,8 (em
pequenos motores de induo de aproximadamente 1 HP) a aproximadamente 0,9 ou 0,95 (nos
grandes motores de induo, acima de 150 HP).
Acima da plena carga: Pode parecer que aumentos alem da plena carga produziro
melhora no Iator de potncia, ate o valor unitario, e aumento na corrente em Iase do estator; mas
este no e o caso. Com o aumento da carga e do escorregamento, a Ireqncia do rotor continua
a aumentar e o aumento na reatncia do rotor produz uma diminuio no Iator de potncia do
mesmo. Tratando o motor de induo como um transIormador, podemos dizer que o secundario
do transIormador tem uma carga em atraso que Iaz com o que o Iator de potncia do primario
tambem se atrase. Com cargas acima da plena carga, portanto, o Iator de potncia aproxima-se
de um maximo e ento decresce rapidamente. A Iim de produzir-se o necessario aumento de
torque para equilibrar o torque aplicado, as correntes do rotor e estator devem aumentar para
compensar a diminuio do Iator de potncia |Eq. (7)|.
Note-se que, acima do torque maximo, a corrente de linha aumenta, mas o torque
diminui, porque a razo da diminuio do Iator de potncia e maior que a razo do aumento da
corrente na Eq. (7).
AU1OMAO IADUS1RIAL 1cnicas de Acionamento
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 25
A Iorma da curva de rendimento pode ser explicada sumariamente aqui, como se segue.
A cargas leves, os valores das perdas Iixas relativamente altos em proporo a pequena potncia
de saida produzem um baixo rendimento. A cargas pesadas, os valores relativamente altos das
perdas variaveis, mais as perdas Iixas, novamente produzem um baixo rendimento apesar da
grande potncia de saida. O maximo rendimento ocorre a cargas medias, para quais os valores de
perda Iixa e os das perdas variaveis so aproximadamente iguais e a potncia de saida esta
aproximadamente no seu valor nominal.
Note-se que o torque maximo ocorre bem acima do dobro de potncia de saida nominal,
ponto em que o escorregamento correspondente ao torque maximo e aquele valor da Ireqncia
do rotor em que a reatncia variavel do rotor e igual a resistncia do rotor. Desde que a
resistncia eIetiva do rotor de um motor de induo tipo gaiola e praticamente constante, o
torque maximo depende, em ultima analise, da resistncia do rotor (Eq.17).
2.9 TORQUE DO MOTOR DE INDUO E POTNCIA DESENVOLVIDA
NO ROTOR
A relao basica entre a potncia externa e a interna, bem como o torque e a velocidade
do motor de induo para qualquer tipo e dada por :
706
.N T
HP = (19)
716
.N T
CJ = (19a)
E necessario avaliar o torque e/ou a potncia desenvolvida pelo rotor do motor de
induo em Iuno da tenso, corrente e Iator de potncia do seu estator. Assim, para qualquer
escorregamento dado ou velocidade do rotor, o torque de Iuncionamento pode ser determinado
se a potncia desenvolvida pelo rotor Ior conhecida. Para qualquer escorregamento dado, sob
quaisquer condies de Iuncionamento, a corrente do rotor e expressa por :
( )
2 2
bl r
bl
r
sX R
sE
I
+
= (20)
Dividimos ambos, numerador e denominador pelo escorregamento, s, temos :
( )
2 2
bl r
bl
r
X s R
E
I
+
= (21)
A Eq. (21) implica em que a corrente do rotor sob condies de Iuncionamento pode ser
avaliada em Iuno da tenso de rotor bloqueado, e da reatncia para as mesmas condies, por
Iase juntamente com termo complexo R
r
/s. Assim, a corrente do rotor bem como potncia
desenvolvida podem ser avaliadas considerando-se o circuito equivalente do rotor. Com o motor
parado, o escorregamento e unitario, e o circuito equivalente satisIaz as condies do rotor
bloqueado dadas na Eq.(10). ConIorme o rotor gira, o escorregamento diminui e ento aumenta a
resistncia 'aparente do rotor. A resistncia variavel do rotor pode ser considerada como
consistindo dos dois termos, ou sejam:
|
.
|
\
|
+ =
s
s
R R
s
R
r r
r
1
(22)
AU1OMAO IADUS1RIAL 1cnicas de Acionamento
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 26
O primeiro termo da Eq.(22) representa a resistncia real eIetiva do rotor, por Iase, R
r
, e
o segundo termo representa uma resistncia de carga Iicticia, equivalente a ela R
r
|(1-s)/s|, que
varia diretamente com a carga e com o escorregamento para as condies de Iuncionamento.
A resistncia Iixa do rotor R
r
pode ser considerada como a componente de perda de
potncia no circuito do rotor para qualquer dada corrente, e o termo variavel R
r
|(1-s)/s|, pode ser
considerado como o termo associado a potncia desenvolvida pelo rotor ( para a potncia
desenvolvida pelos condutores do rotor) a Iim de produzir o torque. Multiplicando cada um dos
termos acima da Eq. (22) pelo quadrado da corrente do rotor, portanto, para obter as expresses
de potncia, obtemos a expresso basica :
|
.
|
\
|
+ =
s
s
R I R I
s
R I
r r r r
r
1
2 2
2
(23)
ou
potncia de entrada no rotor por Iase perda no cobre do rotor por Iase potncia
desenvolvida pelo rotor por Iase
A Eq. (23) e muito signiIicativa no apenas para eIeitos de calculo da potncia
desenvolvida no rotor e do torque de Iuncionamento do motor de induo, mas tambem como
base para determinao do rendimento a partir dos testes de rotor bloqueado. E interessante
notar-se que, pela Eq. (23), a potncia de entrada do rotor para qualquer carga dada ou
escorregamento e dada pela perda no cobre do rotor aquela carga, dividida pelo escorregamento.
Mais ainda, a potncia desenvolvida pelo rotor e sempre a diIerena entre a potncia de entrada
no rotor e as suas perdas no cobre.
E agora possivel expressar o torque desenvolvido no rotor em Iuno da Eq.(19) como:
N
P
N
P
N
CJ
T
d d
974 , 0
736
716 716
= = = ou |
.
|
\
|
=
N
P
T
d
974 , 0 (24)
Onde N e a velocidade do rotor para qualquer valor de escorregamento.
Mas a potncia desenvolvida pelo rotor, para qualquer motor de induo, P
d
, a partir da
Eq. (23) e :
) 1 (
) 1 (
2
s P
s
s
R I P
in r d
=
= (25)
Onde P
in
e a potncia de entrada do rotor em todas as Iases.
O torque desenvolvido pelo rotor, assim, e dado pela expresso:
) 1 (
974 , 0 ) 1 ( 974 , 0 974 , 0
s N
P
N
s P
N
P
T
in in d
= =
Mais ainda, mostrou-se na Eq. (3) que a velocidade sincrona, N
s
, e igual a N/1-s . Desta
relao, segue-se que o torque pode ser expresso como:
|
|
.
|
\
|
=
s
in
N
P
T 974 , 0 (26)
Onde P
in
e a potncia de entrada total do rotor (em todas as Iases) e N
s
e a velocidade
sincrona, 120I/P, em rpm.
E tambem possivel computar o torque maximo partindo da Eq. (26) se a potncia de
entrada do rotor Ior conhecida para o valor de escorregamento no qual ela ocorre, ou,
AU1OMAO IADUS1RIAL 1cnicas de Acionamento
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 27
bl
r
X
R
N = (17)
A corrente no rotor correspondente ao ponto de torque maximo e
( ) ( )
2 2
/
bl Tmx r
bl
r
X s R
E
I
+
= (21)
Substituindo a Eq. (17) na Eq. (21), temos
|
|
.
|
\
|
= = =
bl
bl
bl
bl
bl
bl
r
X
E
X
E
X
E
I 707 , 0
. 2
2
2
(27)
Mas a potncia de entrada do rotor P
in
(para qualquer valor) para o escorregamento
correspondente ao torque maximo |Eq. (23)| e
Tmx
r r
in
s
R I
P
2
= por Iase (23)
Substituindo as Eq. (9.20) e (9.12) na Eq. (9.17), teremos o calculo da potncia
correspondente ao torque maximo
bl
bl
in
X
E
P
2
2
= W/Iase (28)
O valor de P
in
assim obtido pode ser substituido na Eq. (26) para levar ao torque
maximo.
2.10PARTIDA DO MOTOR DE INDUO
Na maioria das utilizaes, residenciais ou industriais, pequenos motores de induo
tipo gaiola, de pequena potncia, podem arrancar por ligao direta a linha, sem que se
veriIiquem quedas objetaveis na tenso de suprimento e sem que se veriIique um grande
aumento no periodo de acelerao ate a velocidade nominal. Semelhantemente, grandes motores
de induo de rotor em gaiola (mesmo de alguns HP) podem partir por ligao direta a linha sem
quaisquer danos ou mudana objetavel de caracteristicas da mesma, desde que esta tenha uma
capacidade suIicientemente grande de corrente. Por exemplo, na vizinhana de estaes
geradoras de usinas hidreletricas, e usual que se abram e Iechem as represas por meio de motores
de induo de alguns milhares de HP ligados diretamente a linha, sem nenhum dispositivo
especial de tenso reduzida para a partida. conseqentemente, a 'partida direta a linha no
precisa ser evitada, se a linha Ior de capacidade suIiciente para prover a tenso nominal e a
corrente requeridas pela partida do motor de induo e desde que tal partida no cause dano ao
motor de induo.
Embora haja algumas excees entre as varias classiIicaes dos motores de induo
tipo gaiola, um motor de induo usualmente requer aproximadamente seis vezes a sua corrente
nominal quando arranca com a tenso nominal aplicada ao estator. No instante da partida, a
corrente do rotor (e portanto a corrente do estator) e determinada pela impedncia do rotor
bloqueado R
r
jX
bl
. Assim, se a tenso do estator Iosse reduzida a metade do seu valor, a
corrente de partida seria reduzida tambem na mesma proporo, isto e, aproximadamente trs
vezes a corrente nominal. Mas a Eq. (9-8) indica que, se a tenso de linha do estator Ior reduzida
a metade do seu valor, o torque e reduzido a um quarto do seu valor original. Assim, a reduo
AU1OMAO IADUS1RIAL 1cnicas de Acionamento
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 28
desejavel na corrente de linha do motor Ioi obtida a custa de uma reduo maior ainda e
indesejavel no torque de partida. Se o motor arranca sob condies severas de carga, isto vai ter
algumas conseqncias e e provavel que o motor parta com diIiculdade ou mesmo no chegue a
partir. Por outro lado, se o motor arranca sem carga, como no caso de algumas maquinas-
Ierramentas, a reduo do torque pode no causar serios problemas e a reduo da corrente e
vantajosa.
2.10.1 Partida Com Tenso Reduzida Com AutotransIormador
Motores de induo de tipo gaiola triIasicos podem arrancar com tenso reduzida
usando um unico autotransIormador triIasico (ou autocompensador), ou trs transIormadores
monoIasicos. Os taps no autotransIormador variam de 50 a 80 da tenso nominal. Se o motor
no consegue acelerar a carga na mais baixa tenso, os taps de tenso mais alta devem ser
tentados ate que se obtenha o torque de partida proprio e desejado.
O compensador de partida e usado somente durante o periodo de partida e sua
correspondente corrente nominal, baseada em que e um dispositivo de Iuncionamento
intermitente, e algumas vezes um tanto menor do que a de um transIormador da mesma potncia,
e que poderia ser usado para suprir um motor de induo continuamente a partir de uma Ionte de
tenso mais alta. O autotransIormador age de duas maneiras para reduzir a corrente solicitada a
linha: (1) reduz a corrente de partida do motor pela reduo de tenso e (2) pela relao de
espiras do transIormador, na qual a corrente de linha primaria e menor do que a corrente
secundaria do motor.
Uma vez que a relao de espiras tambem representa a relao de tenses, a corrente de
linha de partida e reduzida, portanto, pelo quadrado da relao de espiras.
Como o compensador e usado apenas intermitentemente, uma economia (eliminao de
um transIormador) e obtida se ligarem dois transIormadores em delta aberto (ou V-V). O arranjo
produz um pequeno desequilibrio da corrente na perna do meio L
2
, de aproximadamente 10 a
15 da corrente de partida; mas este desequilibrio no e excessivo e no aIeta as caracteristicas
de partida do motor de maneira signiIicativa.
2.10.2 Partida Com Tenso Reduzida, Com Reator Ou Resistor Primario
Se um resistor ou um reator e ligado em serie a cada uma das Iases do estator na sua
ligao a linha, a alta corrente de partida produz uma reduo imediata da tenso aplicada aos
terminais do estator. O torque do motor e reduzido proporcionalmente ao quadrado da tenso
aplicada aos terminais do estator, mas a corrente de linha e reduzida apenas na proporo da
reduo de tenso.
Esse metodo de partida e algumas vezes chamado 'impedncia primaria de acelerao.
Usando quer a resistncia primaria quer a reatncia primaria, uma reduo na tenso do estator
no instante da partida produz a reduo de torque indicada. ConIorme o motor acelera, a tenso
aplicada ao estator aumenta devido a reduo na corrente de linha (menos a queda de tenso na
impedncia em serie) e o torque aumenta com o quadrado do aumento da tenso.
A partida com tenso reduzida atraves de uma resistncia em serie com o estator
melhorara o Iator de potncia da partida, mas produzira maiores perdas; e o torque maximo no
sera to grande como seria para a mesma impedncia em serie usando um reator equivalente.
Mas, para a mesma impedncia, a corrente de partida e o torque no instante da partida so os
mesmos para a partida com um resistor ou um reator inseridos. As vantagens da partida com o
AU1OMAO IADUS1RIAL 1cnicas de Acionamento
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 29
reator, que so as perdas reduzidas, bem como o aumento no torque maximo, so algumas vezes
contrabalanadas pelo maior custo dos reatores. Por esta razo, a partida com reator e reservada
geralmente a motores de induo de grandes potncias.
2.10.3 Partida Estrela-Tringulo
A maioria dos motores poliIasicos de induo tipo gaiola e bobinada com seus
enrolamentos no estator em delta (ou malha). Alguns Iabricantes Iornecem motores de induo
com inicio e Iim de cada enrolamento de Iase marcados, a Iim de que seja Ieita a ligao externa.
No caso de motores de induo triIasicos, estes podem ser ligados a linha quer em delta, quer em
estrela. Quando ligados em estrela, a tenso de Iase impressa no enrolamento e
3
1
ou 57,8 da
tenso de linha. Assim, por meio de chaves, e possivel Iazer partir um motor de induo em
estrela com pouco mais da metade da sua tenso nominal aplicada a cada bobina e Iaz-lo
Iuncionar em delta com toda a tenso da linha aplicada por bobina. Como o torque varia com o
quadrado da tenso aplicada por Iase, a reduo de tenso quando da ligao em estrela
produzira aproximadamente um tero do torque normal de partida a plena tenso.
Quando este torque de partida baixo Ior possivel, com uma corrente de partida de
aproximadamente 58 da corrente normal de partida, este metodo, que e razoavelmente barato,
e Ireqentemente empregado. Deve-se dizer que um tal motor (com 6 terminais de estator no
caso de um motor triIasico) e um tanto mais caro que o motor de induo convencional; mas seu
custo e menor do que o de um compensador de partida ou impedncias primarias associadas ao
dispositivo de partida.
O chaveamento da posio estrela para a posio delta deve ser Ieito to rapidamente
quanto possivel para eliminar grandes correntes transitorias devidas a momentnea perda de
potncia.
2.10.4 Partida Por Fase Dividida
Ireqentemente, motores de induo tipo gaiola poliIasicos so projetados com
enrolamentos parciais ou de Iase dividida, isto e, dois enrolamentos idnticos por Iase cada um
dos quais produzira o mesmo numero de polos e o mesmo campo magnetico girante. A vantagem
de tais enrolamentos e que eles podem ser ligados em serie para sistemas de alta tenso, ou em
paralelo para sistemas de baixa tenso; e um tal motor, do ponto de vista do Iabricante, e um
motor de mais aceitao no mercado. Na partida, somente uma seo estrela e empregada. A
vantagem da partida com Iase dividida e que a resistncia do estator e da sua reatncia so o
dobro das que correspondem aos enrolamentos quando esto em paralelo na partida. A resultante
corrente de partida e aproximadamente 65 da corrente de partida normal (com os dois
enrolamentos em paralelo), e o torque de partida e da ordem de 45 do torque normal de partida.
O motor parte, assim, com metade do seu enrolamento ligado em estrela; e, quando atinge
velocidade, o segundo enrolamento e ligado em paralelo. Devido ao pronunciado decrescimo na
curva torque-escorregamento durante a partida, os Iabricantes usualmente recomendam que a
partida por Iase dividida seja apenas utilizada quando o motor parte com carga muito pequena ou
sem carga nenhuma, como no caso de Iuradeiras.
AU1OMAO IADUS1RIAL 1cnicas de Acionamento
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 30
2.10.5 Partida De Motor De Induo De Rotor Bobinado
Nenhuma discusso de partida de motor seria completa sem que se mencionasse o
motor de induo de rotor bobinado. Como se indicou previamente, o torque de partida do motor
de induo de rotor bobinado pode ser ajustado por meio de resistncias externas associadas ao
circuito do rotor para prover torques de partida da ordem do torque maximo. Limitando-se a
corrente do circuito do rotor |Eq.(9-6)|, e provendo-se Iator de potncia e torque mais altos no
instante da partida, a corrente de linha no estator e consideravelmente reduzida.
Na posio 'desligado, mesmo com o rotor energizado o motor no girara porque o
rotor esta em circuito aberto. O motor arranca no primeiro contato com a maxima resistncia do
circuito do rotor (e torque maximo), e e acelerado movendo-se a manopla, diminuindo a
resistncia do rotor. Na posio Iinal, o rotor e completamente curto-circuitado. Se os resistores
usados no secundario tiverem uma dissipao para permanecerem no circuito, o dispositivo de
partida pode servir tambem como controlador de velocidade. A combinao da capacidade para
desenvolver altos torques de partida para partir sob carga com as vantagens advindas do controle
da velocidade tem levado o motor de induo de rotor bobinado a uma grande popularidade para
numerosas aplicaes.
2.11CLASSIFICAO COMERCIAL DOS MOTORES DE INDUO
O desenvolvimento do motor de dupla-gaiola criou uma tal versatilidade no que toca ao
projeto dos motores de induo que conduziu a uma variedade de caracteristicas torque-
escorregamento. Ajustando convenientemente o enrolamento de dupla-gaiola, os Iabricantes
desenvolveram numerosas variantes do projeto do rotor Iundido unico ou normal. Essas variantes
resultam em torques de partida maiores ou menores que os do desenho normal e tambem
correntes de partida reduzidas. Para distinguir-se entre os varios tipos disponiveis, a Associao
Brasileira de Normas Tecnicas, com base em estudos da NEMA (National Electrical
ManuIacturer`s Association), adotou um sistema de codigo alIabetico, no qual cada tipo de
motor de induo de rotor em gaiola e construido de acordo com um tipo particular normalizado
de projeto e se situa numa certa categoria designada por uma letra. Uma vez que cada letra
especiIica um tipo diIerente de construo do rotor, a descrio a seguir servira para esclarecer a
seleo de motores do tipo gaiola para os diIerentes tipos de servio.
2.11.1 Categoria A
O motor da categoria A e um motor de induo do tipo gaiola normal construido para
uso a velocidade constante. Tem grande a area de ranhuras (para uma boa dissipao do calor) e
as barras do rotor razoavelmente proIundas. Durante a partida, a densidade da corrente e elevada
em pontos proximos a superIicie do rotor; durante o Iuncionamento, ela se distribui de maneira
razoavelmente uniIorme. Esta diIerena permite alta resistncia e baixa reatncia na partida,
resultando em um torque de partida de 1,5 a 1,75 vezes o torque nominal (de plena carga). O
torque de partida razoavelmente alto e a baixa resistncia do rotor produzem uma acelerao
bastante rapida ate a velocidade nominal. O motor de induo da categoria A tem a melhor
regulao em velocidade (cerca de 3 a 5). Mas a sua corrente de partida inIelizmente varia
entre cinco e sete vezes a corrente nominal, tornando-o menos desejavel para partida direta,
principalmente para os tamanhos maiores. Em potncias menores que 5 HP, entretanto, um
motor de induo da categoria A tem Ireqentemente partida direta; e, devido a sua rapida
acelerao, no se produzem os eIeitos indesejaveis das correntes extremamente elevadas.
AU1OMAO IADUS1RIAL 1cnicas de Acionamento
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 31
2.11.2 Categoria B
Esta letra designa um motor de induo que e algumas vezes chamado de motor de
utilizao geral. Sua curva torque-escorregamento assemelha-se muito a do motor normal
(categoria A). O enrolamento do motor esta mais proIundamente engastado nas ranhuras do
rotor, do que o normal da categoria A, e a maior proIundidade tende a aumentar as reatncias de
partida e de Iuncionamento do rotor. O aumento da reatncia de partida reduz um pouco o torque
de partida, mas reduz tambem a corrente de partida. Um valor algo menor de corrente de
excitao e usado neste motor para produzir a corrente reduzida de partida. As correntes de
partida variam de 4,5 a 5 vezes a corrente nominal; e, nos tamanhos maiores, acima de 5 HP,
ainda se usam metodos de arranque a tenso reduzida para esta categoria. Devido a sua corrente
de partida algo menor e sua caracteristica praticamente igual aos da categoria A, os da categoria
B so os motores geralmente preIeridos em tamanhos maiores.
2.11.3 Categoria C
O motor de induo identiIicado pela letra C e um motor cujo rotor e do tipo dupla-
gaiola. Desenvolve um torque de partida maior, 2 a 2,5 vezes o nominal, em comparao com os
das categorias A e B, e uma corrente de partida (menor) de 3,5 a 5 vezes a nominal. Devido ao
seu elevado torque, ele acelera rapidamente. Quando usado com cargas pesadas, de elevada
inercia, entretanto, tem dissipao termica limitada, ja que a maior parte da corrente se concentra
no enrolamento superior. Sob condies de partidas Ireqentes, o motor pode apresentar
tendncia ao sobreaquecimento. Adapta-se melhor a cargas instantneas elevadas, mas de
pequena inercia. Este motor continua a desenvolver um torque elevado quando o escorregamento
cresce ate o correspondente ao torque maximo, que ocorre com o rotor bloqueado.
2.11.4 Categoria D
A designao D reIere-se ao motor conhecido como motor do rotor de alta resistncia,
portanto de alto torque. As barras do rotor so construidas de uma liga de alta resistncia e so
colocadas em ranhuras proximas a superIicie ou engastadas em ranhuras de pequeno dimetro. A
relao da resistncia para a reatncia do rotor, na partida, e maior que nos motores das
categorias anteriores. O torque de partida destes motores aproxima-se a 3 vezes o torque
nominal, com correntes de partida de 3 a 8 vezes a carga nominal. Este motor e projetado para
ciclos de trabalho incluindo partidas pesadas; mas novamente, como nos motores categoria C,
no e recomendado para partidas Ireqentes devido a pequena seo transversal e a pouca
capacidade de dissipao termica. Encontra sua principal aplicao em cargas tais como
estampadoras e guilhotinas, que exigem elevado torque com a aplicao de cargas subitas.
2.11.5 Categoria F
O motor de induo identiIicado pela letra F e conhecido como motor de dupla-gaiola,
baixo torque. E projetado Iundamentalmente para ser um motor de baixa corrente de partida,
uma vez que requer a menor corrente de partida entre todas as categorias apresentadas. O motor
categoria F tem uma muito elevada resistncia do rotor em ambos os enrolamentos, quer o de
partida, quer o de Iuncionamento, tendendo a aumentar a impedncia de partida e de
Iuncionamento, e a reduzir as respectivas correntes. O motor categoria F Ioi projetado para
substituir o motor categoria B. O motor categoria F produz torques de partida de
AU1OMAO IADUS1RIAL 1cnicas de Acionamento
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 32
aproximadamente 1,25 vezes o nominal, e baixas correntes de partida de 2 a 4 vezes a nominal.
Os motores categoria F, para servios usuais, so geralmente produzidos em tamanhos maiores
que 25 HP.
2.11.6 Categoria H
Conjugado de partida alto, corrente de partida normal, baixo escorregamento. Usados
para cargas que exigem maior conjugado na partida, como peneiras, britadores, etc.
2.11.7 Categoria N
Conjugado de partida normal, corrente de partida normal, baixo escorregamento.
Constituem a maioria dos motores encontrados no mercado e prestam-se ao acionamento das
cargas normais como bombas, maquinas operatrizes, etc.
2.12REGIMES PADRONIZADOS
2.12.1 Regime Continuo (S1)
Funcionamento a carga constante de durao suIiciente para que se alcance o equilibrio
termico.
2.12.2 Regime de Tempo Limitado (S2)
Funcionamento a carga constante, durante um certo tempo, inIerior ao necessario para
atingir o equilibrio termico, seguido de um periodo de repouso de durao de durao suIiciente
para restabelecer a igualdade de temperatura com o meio reIrigerante.
2.12.3 Regime Intermitente Periodico (S3)
Seqncia de ciclos idnticos, cada qual incluindo um periodo de Iuncionamento a
carga constante e um periodo de repouso, sendo tais periodos muito curtos para que se atinja o
equilibrio termico durante um ciclo de regime e no qual a corrente de partida no aIete de modo
signiIicativo a elevao de temperatura.
2.12.4 Regime Intermitente Periodico Com Partidas (S4)
Seqncia de ciclos de regime idnticos, cada qual consistindo de um periodo de
partida, um periodo de Iuncionamento a carga constante e um periodo de repouso, sendo tais
periodos muito curtos para que se atinja o equilibrio termico.
AU1OMAO IADUS1RIAL 1cnicas de Acionamento
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 33
2.12.5 Regime Intermitente Periodico Com Frenagem Eletrica (S5)
Seqncia de ciclos de regime idnticos, cada qual consistindo de um periodo de
partida, um periodo de Iuncionamento a carga constante, um periodo de Irenagem eletrica e um
periodo de repouso, sendo tais periodos muito curtos para que se atinja o equilibrio termico.
2.12.6 Regime de Funcionamento Continuo Com Carga Intermitente (S6)
Seqncia de ciclos de regime idnticos, cada qual consistindo de um periodo de
Iuncionamento a carga constante e de um periodo de Iuncionamento em vazio, no existindo
periodo de repouso.
2.12.7 Regime de Funcionamento Continuo Com Frenagem Eletrica (S7)
Seqncia de ciclos de regime idnticos, cada qual consistindo de um periodo de
partida, um periodo de Iuncionamento a carga constante e um periodo de Irenagem eletrica no
existindo o periodo de repouso.
2.12.8 Regime de Funcionamento Continuo Com Mudana Periodica na Relao
Carga/Velocidade de Rotao (S8)
Seqncia de ciclos de regime idnticos, cada qual consistindo de um periodo de partida
e um periodo de Iuncionamento a carga constante, correspondendo a uma velocidade de rotao
pre-determinada seguidos de um ou mais periodos de Iuncionamento a outras cargas constantes,
correspondendo a diIerentes velocidades de rotao. No existe periodo de repouso.
2.12.9 Regime Com Variaes No Periodicas de Carga e Velocidade (S9)
Regime no qual geralmente a carga e a velocidade variam no periodicamente, dentro
da Iaixa de Iuncionamento admissivel, incluindo Ireqentemente sobrecargas aplicadas que
podem ser muito superiores as plenas cargas.
2.12.10 Regime Com Cargas Constantes Distintas (S10)
Regime com cargas constantes distintas, incluindo, no maximo, quatro valores distintos
de cargas (ou cargas equivalentes), cada valor sendo mantido por tempo suIiciente para que o
equilibrio termico seja atingido. A carga minima durante um ciclo de regime pode ter valor zero.
2.13CONJUGADO
O conjugado mede o esIoro necessario que deve ter o motor para girar o seu eixo. E
tambem conhecido como torque ou binario motor. O seu valor e igual ao produto da Iora pelo
raio da polia:
FxR C = (29)
AU1OMAO IADUS1RIAL 1cnicas de Acionamento
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 34
Se a Iora Ior dada em kgI e o raio em metros, a unidade do conjugado sera o kgIm.
2.13.1 Conjugado Nominal ou de Plena Carga (Cn)
E o conjugado desenvolvido pelo motor a potncia nominal, sob tenso e Ireqncias
nominais.
) (
716
) (
kgfm
N
xP
C
r
CJ
n
= (30)
2.13.2 Conjugado Com Rotor Bloqueado ou Conjugado de Partida ou Conjugado de
Arranque (Cp)
E o conjugado minimo desenvolvido pelo motor bloqueado, para todas as posies
angulares do rotor, sob tenso e Ireqncias nominais.
2.13.3 Conjugado Minimo (Cmin)
E o menor conjugado desenvolvido pelo motor ao acelerar desde a velocidade zero ate a
velocidade correspondente ao conjugado maximo.
2.13.4 Conjugado Maximo (Cmax)
E o maior conjugado desenvolvido pelo motor, sob tenso e Ireqncia nominais, sem
queda brusca de velocidade.
2.13.5 Conjugado Resistente (Cr)
O conjugado resistente se ope ao movimento em qualquer sentido de rotao.
2.13.6 Conjugado de Arraste (Ca)
Favorece o movimento em qualquer sentido de rotao. A maquina arrasta o motor.
2.14INERCIA DAS MASSAS
O rotor dos motores eletricos apresenta uma determinada massa que resiste a mudana
de seu estado de movimento. O momento de inercia e uma medida da resistncia que um corpo
oIerece a uma mudana em seu movimento de rotao em torno de um eixo. Depende da Iorma
do corpo e da maneira como sua massa esta distribuida
O momento de inercia da carga e uma das caracteristicas para veriIicar, atraves do
tempo de acelerao, se o motor consegue acionar a carga dentro das condies exigidas pelo
ambiente ou pela estabilidade termica do material isolante.
O momento de inercia total do sistema e a soma dos momentos de inercia da carga e do
motor:
AU1OMAO IADUS1RIAL 1cnicas de Acionamento
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 35
) (
2
kgm J J J
m c t
+ = (31)
O momento de inercia do motor e Iornecido nos catalogos dos Iabricantes. O momento
de inercia da carga depende de muitos Iatores e muitas vezes e diIicil de calcular. Para muitos
casos e possivel utilizar a equao (32).
) (
81 , 9
2
2
kgm
PxR
J
c
= (32)
Onde P e o peso da carga em kgI e R e o raio do rolo ou polia.
A NBR 7094 determina o valor maximo de momento de inercia Jc que deve ter uma
determinada carga a ser acoplada ao eixo de um motor de potncia nominal Pn com p numero de
pares de polos:
) ( 04 , 0
2 5 , 2 9 , 0
max
kgm xp xP J
n c
= (33)
Quando a carga e acoplada ao eixo do motor atraves de polia, engrenagem ou de
qualquer acoplamento que permita que sua rotao seja diIerente da do motor, pode-se
determinar o seu momento de inercia em relao ao eixo do motor atraves de:
2
|
|
.
|
\
|
=
r
c
c cm
N
N
x J J (34)
Onde:
Jcm momento de inercia da carga em relao ao eixo do motor em kgm
2
;
Nc velocidade do motor em rpm;
Nc velocidade da carga em rpm.
2.15TEMPO DE ACELERAO
O tempo de acelerao do motor desde uma velocidade inicial N
1
ate uma velocidade
Iinal N
2
pode ser dado de Iorma simpliIicada pela equao (35):
) (
. 94
) .(
1 2
s
C
N N J
t
ac
t
a
= (35)
Onde:
ta tempo de acelerao em segundos;
Jt momento de inercia total em kgm
2
;
N
2
rotao Iinal em rpm;
N
1
rotao inicial em rpm;
C
ac
conjugado de acelerao em kgIm.
Outra Iorma de calcular o tempo de acelerao e:
AU1OMAO IADUS1RIAL 1cnicas de Acionamento
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 36
) (
) .( 27
. . . 2
max
s
C C
J N
t
p
t r
a
+
=
t
(36)
2.16TRABALHO E ENERGIA
A potncia exprime a velocidade com que a energia e aplicada ou consumida. Como o
trabalho realizado e dado pelo produto da Iora pelo deslocamento:
) ( . Nm d F E = (37)
E a energia consumida e dada pelo produto do trabalho pelo tempo:
) ( . J t P E = (38)
Temos:
) (
.
J
t
d F
t
E
P = = (39)
Portanto, a potncia mecnica entregue pelo motor a carga e dada por:
) (
.
W
t
d F
P = (40)
Onde:
P potncia mecnica do motor em W;
F Iora em N;
d distncia de deslocamento em metros;
t tempo para a realizao do deslocamento em segundos.
Lembre-se que um CV (cavalo-vapor) equivale a 736 W. O termo em ingls e HP
(horse-power) e equivale a 746 W.
2.17TORQUE, CORRENTE E QUEDA DE TENSO DURANTE A PARTIDA
DO MOTOR
Durante a partida do motor, a queda de tenso nos terminais do mesmo e igual a:
) ( . J I Z J
p m
= A (41)
Onde:
AV queda de tenso em volts.
Z
m
impedncia do motor em ohms.
I
p
corrente de partida do motor em amperes.
AU1OMAO IADUS1RIAL 1cnicas de Acionamento
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 37
Como a corrente de partida depende da tenso aplicada aos enrolamentos do motor, esta
vai variar de acordo com o metodo de partida utilizado. A reduo na corrente de partida sera
proporcional a reduo de tenso nos terminais do motor.
) ( .
1
2
1 2
A
J
J
I I
p p
= (42)
Onde:
I
p1
Corrente de partida a tenso nominal em amperes.
I
p2
Corrente de partida a tenso reduzida em amperes.
V
1
tenso nominal do motor em volts.
V
2
tenso segundo o metodo de partida em volts.
Um caso particular ocorre com o metodo de partida com autotransIormador ou partida
compensada. Devido a presena do autotransIormador, a corrente de linha sera igual a:
) ( .
2
1
2
2
1 2
A
J
J
I I
p p
|
|
.
|
\
|
= (43)
Da mesma Iorma, a reduo no torque de partida sera proporcional ao quadrado da
variao de tenso.
) ( .
2
1
2
2
1 2
kgfm
J
J
T T
|
|
.
|
\
|
= (44)
Onde:
T
1
torque de partida nominal do motor.
T
2
torque de partida com tenso reduzida.
2.18SOFT-STARTER
O avano da eletrnica de potncia dos ultimos anos resulta no surgimento de novos
equipamentos e de novas topologias, destinados a modernizar as tecnicas convencionais de
acionamentos eletricos para motores de induo triIasicos.
Entre essas tecnicas ditas convencionais podemos mencionar as muito utilizadas chaves
de partida convencionais, como chaves estrela-tringulo e chaves compensadoras, que tm como
Iuno principal a reduo da corrente de partida, aliviando assim ou minimizando as oscilaes
de tenso.
Estas chaves convencionais trazem como desvantagem estrutura grande; necessidade de
manuteno constante; insegurana quanto a viabilidade tecnica do projeto por causa da reduo
do torque de partida, diIicultando partidas de cargas pesadas; e inIlexibilidade de ajustes de
partida (por exemplo, a chave estrela-tringulo reduz a corrente de partida para um tero da
corrente quando o motor e conectado diretamente na rede, no sendo possivel a reduo para
metade ou um quarto da corrente).
AU1OMAO IADUS1RIAL 1cnicas de Acionamento
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 38
O avano da eletrnica permitiu a criao da chave de partida a estado solido: o soIt-
starter. O soIt-starter e composto de um conjunto de pares de tiristores com ligao em
antiparalelo para cada Iase de saida.
A tecnica consiste em aplicar uma tenso que e aumentada gradativamente em Iorma de
rampa, possibilitando a partida do motor. O ngulo de disparo dos tiristores pode ser variado
convenientemente, comeando com um valor proximo de 180 e diminuindo gradativamente em
direo a 0 (Fig. 5). Dessa maneira, uma tenso elevada em Iorma de rampa e aplicada ao motor
e este parte satisIatoriamente, sem provocar grandes perturbaes no sistema eletrico.
Figura 5. Controle do ngulo de disparo atraves de tiristores.
Com a evoluo da eletrnica de potncia e de sinais, a Iuno principal de um
determinado equipamento, que, muitas vezes, originou sua criao, torna-se secundaria em
varios casos, pois outras Iunes adicionais que possam a ser possiveis assumem o primeiro
lugar em algumas aplicaes, o que justiIica, tecnica ou economicamente, sua aquisio.
Cientes disso, Iabricantes procuram incluir em seus soIt-starters uma serie de Iunes,
que em alguma aplicao podero ser uteis. Ocorre porem que o usuario desconhece a utilidade
destas Iunes no momento de decidir pelo produto adequado para a aplicao, e tenta emprega-
lo como chave de partida convencional, com o objetivo primeiro de reduo da corrente de
partida.
Ha varios motivos para se utilizar a chave estatica de partida, como por exemplo,
suavizar choque mecnicos, diminuir o indice de manuteno, reduzir golpes de ariete e desgaste
de correia, realizar comutao automatica de ajustes conIorme as grandes variaes de cargas, e
outros casos em que a aplicao da chave convencional sequer era imaginada.
2.18.1 VANTAGENS NA UTILIZAO DO SOFT-STARTER
Para limitar o conjugado visando a proteo das pessoas e dos produtos
transportados e aumentar a vida util das maquinas.
Para reduzir os picos de corrente na rede durante a partida.
Para aceleraes e desaceleraes suaves e eliminao de golpes de ariete em
bombas.
Para paradas controladas sem desgaste e sem aquecimento.
Para supervisionar o motor e a instalao.
Para possibilitar a partida em cascata de varios motores.
Para manter um conjugado de Irenagem na parada.
Para proteo termica eIetiva do motor e da instalao e otimizao do
Iuncionamento da maquina.
AU1OMAO IADUS1RIAL 1cnicas de Acionamento
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 39
Corrente de partida: 2 a 5 x In
Conjugado de partida: 0,15 a 1 x Cn
2.18.2 ESTRUTURA DO SOFT STARTER
2.18.2.1 Tiristores em Anti-Paralelo por Fase
A topologia mais comum para as chaves estaticas e utilizao, em cada uma das Iases,
de dois tiristores conectados em ligao antiparalela (Fig. 6). Assim, um tiristor e comandado
para Iornecer ao motor parte da onda positiva de tenso, e o outro, para Iornecer parte da onda
negativa. Com isso, ocorre uma reduo da tenso de alimentao do motor. Uma vez que essa
reduo pode ser livre e Ilexivelmente parametrizada, tem-se um controle do motor, em sua
partida, bem adaptado as necessidades da aplicao.
Figura 6. Controle do ngulo de disparo atraves de tiristores.
Podem ser estabelecidas ainda topologias para conIiguraes de conexo dentro do
tringulo (Fig. 7), quando o motor e preparado para conexes delta-estrela, ou com a utilizao
de outros tipos de semicondutores, alem dos convencionais tiristores.
AU1OMAO IADUS1RIAL 1cnicas de Acionamento
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 40
Figura 7. Instalao Iora e dentro do tringulo.
2.18.2.2 Fusivel Ultra-Rapido Incorporado ou Externo
Na topologia para as chaves com semicondutor tiristor, a proteo contra curto-circuito
so e garantida, em atendimento a coordenao tipo 2, da norma IEC 947, com o emprego de
Iusiveis ultra-rapidos. Como a no utilizao destes Iusiveis atende a coordenao tipo 1, e
possivel que o equipamento apresenta problemas apos um curto-circuito, ou seja, a completa
proteo no e garantida.
2.18.2.3 Rele Termico Incorporado ou Externo
Algumas chaves estaticas tm aplicao prevista somente durante a partida. Ou seja,
quando a tenso de alimentao do motor alcana os 100 de tenso da rede, um contactor e
colocado em paralelo com a chave estatica, alimentando o motor diretamente pela rede, e a chave
sai do circuito. Isso permite utilizar uma mesma chave estatica para a partida de varios motores.
Para estas aplicaes, e necessaria a utilizao do rele termico externo a chave estatica,
para proteo termica do motor. Porem, caso a chave estatica se mantenha permanentemente no
circuito alimentando o motor, a utilizao do rele termico interno da chave, quando possivel, e
mais econmica.
2.18.3 FUNES
2.18.3.1 Rampa de tenso
E o tempo necessario para que a tenso saia de um valor inicial, livre e Ilexivelmente
ajustavel e va ate 100 da tenso de alimentao do motor (rede). Esse tempo tambem e livre e
Ilexivelmente ajustado. Observe que este no e o mesmo tempo de partida do motor ate sua
velocidade de trabalho.
AU1OMAO IADUS1RIAL 1cnicas de Acionamento
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 41
2.18.3.2 Limite de Corrente
Como as chaves convencionais tm a Iuno de reduzir a corrente a niveis suportaveis
pela rede, algumas chaves estaticas apresentam a Iuno de limitar corrente permissivel, durante
todo o processo de partida. Como vantagem, obtem-se a partida mais rapida, permitida pelas
condies de corrente da rede eletrica.
2.18.3.3 Rampa de Tenso Limite de Corrente
Enquanto a corrente no atinge o limite, a tenso acompanha a rampa que Ioi ajustada,
conIorme descrito anteriormente. Porem ao atingir o limite de corrente, a elevao de tenso no
acompanha mais a rampa, mantendo assim a corrente limitada.
2.18.3.4 Pulso de Tenso Rampa
Alguns tipos de carga requerem torque inicial extremamente elevado para Iazer um
primeiro movimento, superando, por exemplo, o atrito estatico. Logo depois, o torque exigido
pela carga volta aos niveis normais. Algumas chaves estaticas oIerecem esta condio de pulso
inicial de tenso, que em seguida volta a valores de tenso normais de rampa. Esta Iuno
garante que havera tenso suIiciente para a produo do torque inicial, porem no por um tempo
to longo a ponto de desarmar a proteo da rede ou ocasionar problemas com a rede de
alimentao.
2.18.3.5 Partida Suave
Para que a partida do motor ocorra de modo suave, o usuario deve parametrizar a tenso
inicial de modo que ela assuma o menor valor possivel suIiciente para iniciar o movimento da
carga. A partir dai, a tenso subira linearmente segundo um tempo tambem parametrizado ate
atingir o valor nominal.
Os circuitos de controle de corrente permitem que cargas de alta inercia sejam
aceleradas com a menor corrente possivel.
2.18.3.6 Parada Suave
No se trata de um processo de Irenagem. Com esta Iuno, o motor, e sua
correspondente carga, sempre param em um tempo maior que aquele no qual o sistema pararia
pela sua propria inercia. E a ajustada uma rampa de tenso para desacelerao.
2.18.3.7 Frenagem Por Corrente Continua
A chave estatica produz a injeo de corrente continua no motor, realizando uma parada
brusca do campo girante, e conseqentemente, tambem do motor. Observa-se que toda a energia
da carga se converte em perdas internas no motor.
Na Irenagem, a tenso deve ser reduzida instantaneamente a um nivel ajustavel, que
deve ser parametrizado no nivel em que o motor inicia a reduo de rotao. A partir deste ponto
a tenso diminui linearmente (rampa ajustavel) ate a tenso Iinal, quando o motor para de girar.
Nesse instante a tenso e desligada.
2.18.3.8 Tecnicas de Controle
Um dos requisitos do soIt-starter e controlar a potncia do motor sem, entretanto, alterar
sua Ireqncia (velocidade de rotao do motor AC). Para que isso ocorra, o controle de disparo
dos SCRs atua em dois pontos: controle por tenso zero e controle por corrente zero.
AU1OMAO IADUS1RIAL 1cnicas de Acionamento
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 42
O circuito de controle deve temporizar os pulsos de disparo a partir do ultimo valor de
zero da Iorma de onda, tanto de tenso como de corrente. O sensor do sistema e um TC
(transIormador de corrente), que pode ser instalado em uma unica Iase.
O processador do equipamento utiliza o controle de tenso para baixos ngulos de
conduo onde a corrente e descontinua, e o controle de corrente para ngulos maiores a Iim de
assegurar a estabilidade mesmo nas condies de partida mais suaves.
2.18.3.9 Proteo Contra Inverso de Seqncia de Fase
Esses equipamentos podem ser conIigurados para operarem somente se a seqncia de
Iase (A, B e C) estiver correta. Esse recurso assegura a proteo, principalmente mecnica, para
cargas que no podem girar ao contrario (bombas, por exemplo).
2.18.4 OPERAO SO NA PARTIDA E OPERAO PERMANENTE
Como ja mencionado, algumas chaves estaticas tm aplicao prevista somente durante
a partida (Fig. 8), o que permite utilizar uma mesma chave estatica para partir varios motores
(Fig. 9 ). Na operao permanente, a chave estatica mantem a alimentao do motor durante toda
a operao.
2.18.5 CONTROLADOR DE COS 'ENERGY SAVE
Quando em operao permanente do motor, algumas chaves estaticas podem impedir
que o Iator de potncia piore em condies de operao com baixas cargas. No se trata de uma
correo de Iator de potncia, e sim de um sistema impede que o Iator de potncia se torne pior
do que ja esta, com os dados nominais do motor. Outros denominam essa Iuno de 'energy
save, visto que ocorre uma economia de energia reativa no sistema.
Quando opera com carga reduzida, o motor apresenta Iator de potncia abaixo do
nominal. A chave estatica otimiza o ponto de trabalho minimizando as perdas por reativos e
Iornecendo a potncia ativa requerida pela carga. Ou seja, o valor medio da tenso e reduzido,
resultando em uma otimizao do Iator de potncia e, conseqentemente, em economia de
energia.
AU1OMAO IADUS1RIAL 1cnicas de Acionamento
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 43
Figura 8. Atuao do soIt-starter somente na partida.
Figura 9. Atuao de um soIt-starter na partida de varios motores.
AU1OMAO IADUS1RIAL 1cnicas de Acionamento
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 44
2.19CONVERSOR DE FREQNCIA
Aproveitar as vantagens das novas tecnologias em acionamento signiIica escolher uma
soluo que atenda as necessidades atuais e antecipe as exigncias do Iuturo. Os avanos
tecnologicos recentes criaram conversores CA com desempenho mais elevado, capazes de
alcanar a perIormance do conversor CC em regulagem de velocidade e, na verdade, superando-
o em regulagem de torque.
Alimenta-se o Conversor de Freqncia com tenso triIasica senoidal e Ireqncia de
rede (60 Hz). Esta tenso de entrada e retiIicada no primeiro bloco do conversor, o bloco
RetiIicador (composto por um retiIicador triIasico), transIormando a tenso alternada triIasica
senoidal de entrada em tenso continua com intensidade igual a 1,35 x V entrada. Essa tenso de
corrente continua alimenta diretamente o Circuito Intermediario do conversor, que e constituido
pelo barramento de corrente continua, pelo banco de capacitores e pelo Circuito Chopper de
Frenagem, alem do Circuito Intermediario. O RetiIicador tambem Iornece tenso de alimentao
para o Circuito de Controle do Conversor de Freqncia, circuito este que e o responsavel pelo
controle de velocidade propriamente dito e pelo monitoramento das entradas e saidas do
equipamento (analogicas e digitais). O Circuito Intermediario alimenta o terceiro bloco do
Conversor de Freqncia, o bloco Inversor. Isso mesmo, este e o bloco responsavel pela inverso
do sinal retiIicado de corrente continua em sinal alternado. Composto por circuitos IGBT, e o
bloco Inversor o responsavel direto pelo Iornecimento da Iorma de onda PWM de saida do
Conversor de Freqncia. Veja as Iiguras 10 e 11.
Figura 10. Diagrama de blocos do conversor de Ireqncia.
AU1OMAO IADUS1RIAL 1cnicas de Acionamento
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 45
Figura 11. Descrio do processo PWM senoidal.
2.19.1 CONTROLE ESCALAR E CONTROLE VETORIAL
A corrente interna de um motor CA consiste de dois componentes distintos: corrente de
Iluxo, ou I
d
(que cria um campo magnetico no estator), e corrente de torque, ou I
q
(que produz
Iora de giro). A corrente total I e a soma vetorial daqueles dois componentes de corrente. O
nivel em que estes so identiIicados e independentemente controlados determina o desempenho
do conversor. Os tipos de conversores usam varias tecnologias para controlar um ou mais destes
componentes, a Iim de produzir niveis diversos de desempenho vetorial ou no-vetorial.
2.19.1.1 Controle Escalar
O mais basico dos conversores CA e chamado de Conversor Escalar. A tecnologia
empregada e V/Hz (tenso por Ireqncia).
A tecnologia V/Hz lida apenas com a corrente total I do motor e se baseia em esquemas
simples de limitao de corrente para reduzir condies que excedem a limitao, oIerecendo
solues simples de controle de velocidade.
Este conversor no e capaz de separar a corrente de Iluxo da corrente de torque. Ento,
o torque no pode ser regulado. A queda do torque do motor de induo assincrono acontece
devido as caracteristicas Iisicas do motor e no do conversor, mas como atraves do controle
escalar no e possivel se eIetuar o controle de torque, no ha a possibilidade de se corrigir este
eIeito no motor.
No Iuncionamento dos Conversores de Freqncia Escalares (V/I) utiliza-se
basicamente da tenso de saida (V) e da Ireqncia de saida (I) para controle e variao de
velocidade. Apesar de eIiciente, o modo de controle Escalar (V/I) possui algumas limitaes :
No usa a orientao do campo magnetico.
Ignora as caracteristicas tecnicas do motor.
No possui controle de torque.
Possui baixa dinmica.
2.19.1.2 Controle Vetorial
Visando melhorar a perIormance e as condies de Iuncionamento dos Conversores de
Freqncia Escalares Ioi desenvolvido um novo modo de controle, o VFC - Voltage Flux
Control, ou seja, um modo de controle que, diIerentemente do modo Escalar, eIetua a leitura da
corrente do estator e do modelo matematico do motor e assim deIine o escorregamento, que e
AU1OMAO IADUS1RIAL 1cnicas de Acionamento
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 46
corrigido atraves do controle da tenso do estator, por meio de Iunes especiIicas ja gravadas
internamente no microprocessador MC do conversor de Ireqncia (Fig. 12).
Com o objetivo de aumentar ainda mais sua dinmica e, por conseqncia, sua
perIormance, desenvolveu-se um modo de controle revolucionario e surpreendente, o modo de
controle CFC Currente Flux control, que mediante a leitura da corrente, da posio angular do
rotor (encoder) e do modelo matematico do motor, controla a corrente Iornecida ao estator do
motor.
A perIormance mais elevada disponivel com tecnologia vetorial resulta em um ou mais
dos seguintes pontos: aumento do torque de partida, aumento do torque em baixa velocidade,
Iaixa de velocidade operacional mais ampla, resposta mais rapida nas mudanas de carga,
regulagem com maior controle de velocidade ou regulagem de torque, ou outros parmetros
mensuraveis. Veja o diagrama de blocos de um conversor vetorial na Iigura 12.
Figura 12. Diagrama de blocos do conversor vetorial.
2.19.1.3 Conversor Vetorial Sensorless
O conversor vetorial sensorless e utilizado em aplicaes em que so necessarias boa
regulagem de velocidade e produo elevada de torque.
Alem de partida e torque de acelerao notaveis, este tipo de conversor oIerece boa
resposta para mudanas repentinas de carga, assim como uma ampla Iaixa de velocidade de
torque constante. E normalmente empregado em processos que operam em baixa velocidade,
mas necessitam manter uma saida de torque elevada, tal como prensa de estampagem. E tambem
utilizado em aplicaes que exigem elevado torque de partida.
O conversor vetorial sensorless e controlado em Ireqncia, utilizando uma
compensao de escorregamento para obter uma boa preciso de velocidade e manter a
velocidade real do motor proxima a desejada, numa Iaixa acima de 3 Hz.
AU1OMAO IADUS1RIAL 1cnicas de Acionamento
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 47
O conversor no regula a corrente, mas possui um esquema que a limita, reduzindo as
Ilutuaes de velocidade. Ao inves de utilizar um sensor ou encoder para realimentar dados do
motor ao conversor, o sensorless emprega um algoritmo matematico baseado nas caracteristicas
eletricas do motor.
O conversor opera minimizando a corrente vetorial de Iluxo a um nivel apenas
suIicientemente alto para manter a maquina devidamente magnetizada. Toda a corrente restante
do conversor esta, ento, disponivel para produzir torque.
2.19.1.4 Conversor Vetorial de Iluxo
A principal diIerena entre um conversor vetorial sensorless e um de Iluxo e que este
ultimo normalmente utiliza um resolver um sensor de realimentao acoplado ao motor ao
inves de um limitador de corrente. Este resolver Iornece dados de posio do rotor em relao ao
estator e estima ambos os vetores de corrente de torque e Iluxo no motor.
O conversor vetorial de Iluxo oIerece melhor desempenho em controle de velocidade e
permite controle de torque. E normalmente utilizado em aplicaes que requerem regulagem de
velocidade muito controlada muito controlada, de torque ou torque total em velocidade zero.
2.19.1.5 Conversor Vetorial de Controle Orientado de Campo
O conversor de controle orientado de campo oIerece o mais elevado desempenho de
tecnologia de conversores CA disponivel. A tecnologia FOC (Field Oriented Control) e assim
chamada porque pode separar e, independentemente, regular ambos os valores de corrente de
torque e de Iluxo, ao mesmo tempo em que controla a orientao destes dois componentes de um
para o outro.
O conversor FOC oIerece verdadeira regulagem de torque. Seu desempenho se compara
ao do conversor CC em regulagem de velocidade e supera o desempenho CC em regulagem de
torque.
2.19.2 ALIMENTAO EM CORRENTE E ALIMENTAO EM TENSO
Os conversores de Ireqncia, dependendo do tipo de alimentao continua na entrada
do inversor, podem ser alimentados por tenso (VSI) ou corrente (CSI). A diIerena Iundamental
no circuito de potncia entre estes dois equipamentos e que, para os primeiros, no existe uma
indutncia no circuito de interIace entre o retiIicador na entrada e o inversor na saida.
2.19.3 PARAMETRIZAO
Os conversores de Ireqncia precisam ser parametrizados para operarem
adequadamente. Cada modelo possui caracteristicas proprias e necessitam de parametrizao
especiIica. Alguns modelos possuem um modo de aprendizagem que dispensa a insero de
alguns parmetros por parte do usuario. Atualmente, alguns Iabricantes Iorne4cem, inclusive, um
soItware de programao que Iacilita o trabalho de parametrizao.
AU1OMAO IADUS1RIAL 1cnicas de Acionamento
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 48
2.19.3.1 Parmetros
A parametrizao consiste em programar o conversor com os dados do sistema. A
maioria dos conversores vem pre-ajustado de Iabrica com os dados padres para o motor padro
de acordo com o modelo do conversor. Entretanto, em muitos casos, e necessario ajustar algum
parmetro especiIico. Os seguintes dados minimos devem ser parametrizados:
Potncia do motor;
Tenso do motor;
Freqncia do motor;
Corrente do motor;
Velocidade nominal do motor;
Freqncia minima;
Freqncia maxima;
Tempo de acelerao;
Tempo de desacelerao;
Adaptao automatica do motor;
Freqncia de JOG;
A seguir so apresentados alguns parmetros que devem ser programados, embora esta
lista possa diIerir em Iuno do modelo e do Iabricante do conversor.
Habilita/desabilita JOG;
Tipo de controle (malha aberta de velocidade/malha Iechada de
velocidade/processo malha Iechada/controle de torque);
Habilita/desabilita reverso;
Caracteristicas do torque (baixo/alto/normal/sobrecarga);
Compensao de carga;
Torque de partida;
Funo de parada (inercia/Ireio/pre-magnetizao);
Freqncia minima para ativar a parada;
Corrente de Irenagem;
Tempo de Irenagem;
Freqncia de partida;
Tenso de partida;
Limite maximo da Ireqncia de saida;
Tipo de rampa;
Freqncias proibidas;
Limite de torque;
AU1OMAO IADUS1RIAL 1cnicas de Acionamento
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 49
2.19.4 Terminais de Entrada e Saida
Os conversores possuem terminais de entrada e saida digitais e analogicos que so
utilizados para a conIigurao do sistema de acionamento. Estes terminais podem ser utilizados,
por exemplo, para receber um sinal de partida ou parada remoto, emitir um alarme, enviar um
sinal de controle para um outro conversor ou CLP, etc.
As entradas analogicas, geralmente, so utilizadas para reIerncias de posio, torque ou
velocidade do motor.
2.20ACIONAMENTO CC
No motor CC, o campo magnetico e gerado a partir da corrente na bobina de campo no
estator. Este campo magnetico deve estar sempre orientado angularmente com o campo
magnetico gerado pela bobina de armadura do rotor. Nesta condio, conhecendo as orientaes
de campo, e gerado o torque maximo. E o comutador mecnico das escovas que mantem a
orientao do campo magnetico.
Com a orientao do campo alcanada, o torque do motor CC e controlado atraves da
variao da corrente de armadura e mantendo-se a magnetizao constante.
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 50
3. AUTOMAO
O segmento denominado 'AUTOMAO E INSTRUMENTAO e por demais
heterogneo em termos dos produtos nele englobados e que, muitas vezes se complementam.
Por razes de um melhor entendimento deste segmento, cabe dividi-lo:
- Instrumentao;
- Automao de Processos Industriais e No Industriais (Controle de Processos);
- Automao da ManuIatura.
A seguir, e apresentada uma ideia da abrangncia de cada uma destas areas:
3.1 INSTRUMENTAO
Esta area pode ser dividida em grandes subgrupos;
- Instrumentos de teste e medio - abrangem a gerao e a medio de grandezas
eletrnicas;
- Instrumentos para controle de processos - abrangem os instrumentos para painel e
campo, uteis na medida e no controle de grandezas Iisicas nos processos da Industria de
transIormao;
- Instrumentos para analises Iisicas, quimicas e ensaios mecnicos - (Analitica)
abrangem os instrumentos utilizados em laboratorios de pesquisas e controle de qualidade,
- Instrumentos de aplicao odonto-medico-hospitalar.
3.2 AUTOMAO DE PROCESSO INDUSTRIAL E NO INDUSTRIAL
(CONTROLE DE PROCESSO)
A Automao de Processos subdivide-se em dois setores:
- Processos Industriais:
- Siderurgica;
- Quimica e petroquimica;
- Gerao de energia, etc.
- Processos no Industriais:
- Sistemas de transporte;
- Distribuio de energia;
- Sistemas de servios urbanos, etc.
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 51
3.3 AUTOMAO DA MANUFATURA
Neste segmento, evidenciam-se as seguintes subareas:
- Comando numerico por computador;
- Projetos assistidos por computador (CAD-CAM);
- Robotica.
3.4 AUTOMAO
Conceito: E um conjunto de tecnicas atraves das quais se constroem sistemas ativos
capazes de atuar com uma eIicincia otima pelo uso de inIormaes recebidas do meio sobre o
qual atuam, com base nas inIormaes o sistema calcula a ao corretiva mais apropriada. Um
sistema de automao comporta-se exatamente como um operador humano o qual, utilizando as
inIormaes sensoriais, pensa e executa a ao mais apropriada.
As grandes Iunes da automao podem se resumir como se v na tabela abaixo.
As analogias com as Iunes de um operador humano podem esquematizar-se assim:
Sistema de Automao Operador Humano
InIormao ou comunicao Impresso sensorial
Computao Raciocinio
Controle Ao
E a conjugao destas trs Iunes que conIere a um sistema um comportamento global
capaz de duplicar a ao humana.
Na automao ha auto-adaptao as condies diIerentes de modo a que as aes do
sistema de maquinismo conduzam a resultados otimos.
3.5 APLICAES
No quadro seguinte resumem-se algumas utilizaes da automao.
Campos de Aplicao Exemplos de Aplicao
Industria
Quimica (reIinarias, amoniaco, plasticos, etc).
Pasta de papel
Mecnica e manuIaturas
Centrais de Iora
Comando numerico maquina Ierramenta
Controle
Outros campos
TraIego aereo e terrestre
Comunicaes
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 52
Controle de misseis e aeronautica
Navegao
Usos militares
Invest. Geral
Previses meteorologicas
Analise estatisticas
Tabelas de Iunes matematicas
Otimizao
Viagens espaciais
Projeto de reatores nucleares, resoluo
matematica.
Cincia
Simulao
Simuladores de treinamento
Investigao econmica
Dinmica de veiculos
Simulao de redes eletricas
Logistica militar
Jogos de empresa
Numerica
Contabilidade; controle de estoques; controle
econmico; analise econmica; analise do
mercado; gesto de projetos e de produo;
recenseamentos; distribuio e vendas; servios de
escritorio geral.
InIormatica
No numerica
Arquivo e procura de inIormaes (sistema de
inIormao); diagnose medica; arquivos em geral;
tradues automaticas; representaes visuais; (em
tubos de raios catodicos) de graIicos, esquemas:
gesto agricola, etc.
Projeto CAD
Desenho com lapis de luz em TCR: Projeto de
circuitos integrados, maquinas de desenhar, projeto
de navios e automoveis.
Outros Campos
Reconhecimento de Iormas
Sistemas adaptativos
Resoluo de problemas e jogos
Reconhecimento e reconstituio de sons e
palavras.
No campo industrial e, em particular, nas industrias petroquimicas, o operario,
operador de processo, tinha por Iuno, vigiar leituras de um grande numero de
instrumentos de medida. As presses, as temperaturas, as vazes, os niveis, as
composies quimicas, deveriam ser conhecidas a todos os instantes pelo operador, o
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 53
qual deveria detectar, de entre essa grande massa de dados, as variaveis que se desviavam
de certos valores preIixados e atuar sobre o complexo Iabril de modo a reconduzi-lo a um
Iuncionamento mais estavel ou mais econmico.
Porem as limitaes intrinsecas do homem oIerecem a este processo de
integrao uma lentido incompativel com as grandes produes das unidades Iabris
modernas. A ateno a dois Iatores simultneos e praticamente impossivel. Um esIoro
no sentido de uma maior rapidez acarreta um aumento dos erros e Ialsas manobras.
Nas ultimas decadas, as tecnicas do controle automatico permitiram liberar os
operadores Iabris de Iunes enIadonhas e que exigiam grande esIoro nervoso
permitindo, simultaneamente, que essas Iunes Iossem cumpridas com maior preciso,
rapidez e segurana.
O controle automatico e verdadeiramente a primeira Iase da automao.
4. INSTRUMENTAO
4.1 SENSORES
Sensores so dispositivos que mudam seu comportamento sob a ao de uma grandeza
Iisica, podendo Iornecer diretamente ou indiretamente um sinal que indica esta grandeza.
Quando operam diretamente, convertendo uma Iorma de energia em outra, so chamados
transdutores. Os de operao indireta alteram suas propriedades, como a resistncia, a
capacitncia ou a indutncia, sob ao de uma grandeza, de Iorma mais ou menos proporcional.
O sinal de um sensor pode ser usado para detectar e corrigir desvios em sistemas de
controle, e nos instrumentos de medio, que Ireqentemente esto associados aos SC de malha
aberta (no automaticos), orientando o usuario.
4.1.1 Caracteristicas Importantes
4.1.1.1Linearidade
E o grau de proporcionalidade entre o sinal gerado e a grandeza Iisica. Quanto maior,
mais Iiel e a resposta do sensor ao estimulo. Os sensores mais usados so os mais lineares,
conIerindo mais preciso ao SC. Os sensores no lineares so usados em Iaixas limitadas, em
que os desvios so aceitaveis, ou com adaptadores especiais, que corrigem o sinal.
4.1.1.2Faixa de atuao
E o intervalo de valores da grandeza em que pode ser usado o sensor, sem destruio ou
impreciso.
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 54
4.1.2 Aplicao dos Sensores
4.1.2.1Sensores de temperatura
O controle de temperatura e necessario em processos industriais ou comerciais, como a
reIrigerao de alimentos e compostos quimicos, Iornos de Iuso (produo de metais e ligas),
destilao Iracionada (produo de bebidas e derivados de petroleo), usinas nucleares e
aquecedores e reIrigeradores domesticos (Iornos eletricos e microondas, Ireezers e geladeiras).
4.1.2.2Tipos de sensores de temperatura
INSTRUMENTO GRANDEZA FIS.
ASSOCIADA
TRANSDUTOR FAIXA DE
MEDIO
(
O
C)
UTILIZAO
Termmetro
Acustico
Velocidade do
som
Cavidade acustica
de ressonncia
- 273 a - 223 Medio de
Laboratorio
Termmetro a
Vapor
Presso Bulbo metalico c/
capilar c/ vapor
saturado
- 269 a 100 Medies em Lab.
e Industrias
Termmetro de
Germnio
Resistncia
Eletrica
Capsula
Quadripolar de
"Ge"
- 271 a - 173 Med. padres em
Laboratorio
Termmetro a
Gas
Presso (geral/a
volume etc)
Bulbo metalico c/
capilar c/gas
- 269a 1064 Medies em
Laboratorio
Termistor Resistncia
Eletrica
Diodo
semicondutor de
oxido metalico
- 269 a 200 Contr. Indl. lab. e
cond. de ar
Termmetro de
Quartzo
Freqncia de
oscil. mecnica
Cristal de Quartzo
corte em Y
262 a 250 Laboratorios e
Industrias
Termmetro de
Resistncia
Resistncia
Eletrica
Bulbo de platina
Cu Ni
- 173 a 1064 Laboratorios e
industrias
Termopar Fora Eletromotriz Unio de Iios de
condut. diIerentes
- 253 a 2400 Med. e contr. em
lab. e industrias
Termmetro de
Pulso Acustico
Velocidade do
Som
Haste Metalica
(AI, W, Mo)
- 243 a 3100
nucleares
Laborat. e inds.
Termmetro de
liquido em haste
de vidro
Expanso Termica Bulbo de vidro
c/capilar
c/mercurio
- 200 a 500 Laboratorio e
industria
Termmetro
Bimetalico
Expanso Termica
diIerencial
Duas lminas ou
hastes aderentes
- 148 a 400 Contr. Indl. e
condic. de ar.
Pirmetro de
Radiao total
Radiao eletro
magnetica
Detector de
radiao
(termopilha)
0 a 5000 Medio e contr
industriais
Pirmetro de I.e.m. ou Foto-Diodo ou 0 a 5000 Medio e contr.
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 55
Radiao seletiva Resistncia sensor de radiao industriais
Pirmetro Optico
Automatico
Concentrao esp.
de radiao
Detector Ioto
eletrico
750 a 5000 Laboratorios e
industrias
Pirmetro Optico
Manual
Concentrao
Espectral de
luminosidade
Olho Humano 750 a 5000 Laboratorios e
industrias
Tabela de Sensores de Temperatura
A seguir, sera abordado o principio de Iuncionamento de alguns sensores de
temperatura.
4.1.2.2.1 Termistores
Termistores so resistores termicamente sensiveis. So semicondutores eletrnicos, cuja
resistncia eletrica varia a temperatura e so uteis industrialmente para deteco automatica,
medio e controle de temperatura.
Os termistores so extremamente sensiveis a mudanas relativamente pequenas de
temperatura; permitem a medio com intervalos de 1
0
C.
Os termistores que apresentam diminuio de resistncia eletrica (O) em Iuno do
aumento da temperatura so denominados termistores NTC (negative temperature coeIIicent); os
que apresentam aumento da resistncia eletrica (O) em Iuno do aumento da temperatura so
denominados PTC (positive temperature coeIIicent).
Passaremos discutir os termistores NTC, uma vez que os termistores PTC no so
usados como sensores, em virtude da Ialta de linearidade de sua curva caracteristica.
Os termistores possuem grandes coeIicientes de temperatura negativos, em contraste
com os termmetros de resistncia metalica que possuem pequenos coeIicientes de temperatura
positivos.
Os termistores so encontrados na Iorma de bolhas de 0,04 cm de dimetro, na Iorma de
discos variando de 0,5 a 2,5 cm de dimetro e na Iorma de hastes com dimetro entre 0,08 a 0,6
cm e comprimento de ate 5 cm.
Essas unidades so Ieitas de oxidos metalicos e suas misturas, que so prensadas ou
extraidos na Iorma desejada e conIeccionados para produzir um corpo denso como cermica.
O contato eletrico ode ser Ieito por Iios embutidos no material durante a personagem ou
extrao, por chapeamento ou por revestimento metalico-cermico.
O tempo de resposta pode variar desde uma Irao de segundos ate minutos,
dependendo do tamanho da massa detectora e da capacidade termica do termistor.
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 56
O limite superior de temperatura de Iuncionamento depende das mudanas Iisicas do
material ou solda usados para ligar as conexes eletricas e e geralmente de 400
o
C. O limite
inIerior de temperatura e -269
o
C, porem, industrialmente e usado ate -60
o
C.
Deve-se levar em considerao a manuteno de uma corrente de medio, a mais baixa
possivel, para se evitar o aquecimento da unidade detectora, de modo que qualquer variao da
resistncia dependa somente da variao da variao de temperatura da area em volta.
Os termistores podem ser usados para compensao das variaes de resistncia em
circuitos eletricos (principal aplicao), como chave de circuito de segurana e alarme, para
viabilizar a tenso de saida em circuitos com uma grave variao na tenso de saida em circuitos
com uma grande variao na tenso de entrada e varias outras aplicaes.
4.1.2.2.2 Sistemas Termais
Sistemas termais com capilar preenchido, so tradicionalmente utilizados em industrias
de papel, alimenticias e txteis.
Consistem de sensores (bulbos) conectados atraves de um tubo capilar contendo
elementos sensiveis a alteraes em presso e volume.
Tais sistemas so simples e baratos, geralmente dispem de altas respostas dinmicas.
Sua utilizao com transmissores eletrnicos ou pneumaticos, elimina as limitaes
inerentes as distncias, bem como minimiza o perigo de dano, ou varia no tubo capilar. Mais
ainda, a ampliIicao imposta pelo transmissor transIorma spans estreitos em ranges de aplicao
pratica, implementando ainda linearidade e resposta.
EspeciIicaes de aplicao dos varios tipos de sistemas de tubo preenchido esto
listados na tabela que segue. Nesta, temos a classiIicao dos sistemas termais segundo a SAMA
(ScientiIic Apparatus Makers Association), a qual deIine:
-Classe I (expanso de liquidos);
-Classe II (expanso de vapor);
-Classe III (presso do gas);
-Classe V (expanso mercurio);
A classiIicao Sama tambem inclui designao alIabeticas, A e B que respectivamente,
designam sensores com temperatura superior a caixa do instrumento (temperatura ambiente) e
sensores com temperatura inIerior a caixa do instrumento (e tubo capilar). C indica um sensor
que pode ser colocado no ambiente e D denota um sistema que pode operar a condies
ambientais.
Sistemas com expanso de liquidos caracterizam-se por apresentarem span estreito,
sensores pequenos, escalas uniIormes, alta preciso e capacidade de realizar medies
diIerenciais.
Dispositivos classe IA dispem de um capilar auxiliar e elemento para propiciar
compensao de temperatura ambiente. Sistemas de classe IB, Ireqentemente, utilizam tecnicas
bimetalicas.
Sistemas de expanso de liquidos completamente compensados so complexos e caros.
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 57
Tipo Lquido Vapor (a) Gs
Principio Alterao de volume Alterao de presso Alterao de presso
Classe SAM I II III
Fluidos Liquidos orgnicos
(Hidrocarbonos)
Liquidos orgnicos
(Hidrocarbonos)
Agua
Gases Puros
Limite de range
inIerior
-200
0
F (-130
0
C) -425
0
F (-225
0
C) -455
0
F (-270
0
C)
Limite de Range
superior
600
0
F (315
0
C)
600
0
F (315
0
C) 1400
0
F (760
0
C)
Span maximo 600
0
F (330
0
C) 400
0
F (215
0
C) 1000
0
F (550
0
C)
Span minimo (b) 40
0
F (25
0
C) 70
0
F (40
0
C) (c) 120
0
F (70
0
C)
Temperatura
Ambiente -
Compensao
IA -plena
IB -caixa
No requerida -
IIIIB- caixa
Tamanho do sensor media pequeno grande
tamanho tipico do
sensor (100
0
C span)
9,5mm (0,375in)x
48 mm (1,9in)
9,5mm (0,375in)x
50 mm (2in)
22 mm (7/8in)x
70 mm (6in)
capacidade de
sobrecarga
media pequena grande
EIeito de elevao do
sensor
nenhuma Classe II-A-Sim
Classe II-B-No
nenhuma
EIeito de presso
barometrica
nenhuma suave (maior sobre
pequenos spans).
suave (maior sobre
pequenos spans)
UniIormidade da
escala
uniIorme no-uniIorme uniIorme
Preciso 0,5p/ 1,0span 0,5p/ 1,0 Span 0,5p/ 1,0 span
Resposta (d)
#1 mais rapida
#4-mais lenta.
"4" # 1- Classe IIA
#3 - Classe IIB
#2
Custo o maior o menor medio
Comprimento capilar
Padro Maxima
Classe IA - 30 m ou
100 It
Classe IB - 6m ou 20
It
30 m ou It 30 m ou 100 It.
Tabela de instrumentos para sistemas termais
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 58
4.1.2.2.2.1Preciso dos sistemas termais
A preciso dos instrumentos com sistema termal e da ordem de 0,5 a 1 de largura da
Iaixa de medio.
Entretanto, essa preciso so pode ser obtida se o bulbo estiver imerso em um liquido
bem agitado e se o capilar e o instrumento em si estiverem a uma temperatura ambiente sem
grandes variaes.
4.1.2.2.3 Termopares
4.1.2.2.3.1DeIinio de termopar
O aquecimento da juno de dois metais gera o aparecimento de uma diIerena de
potencial (ddp). Este principio conhecido por eIeito Seebeck propiciou a utilizao de
termopares para a medio de temperatura
Um termopar consiste de dois condutores metalicos, de natureza distinta, na Iorma de
metais puros ou de ligas homogneas Os Iios so soldados em um extremo ao qual se da o nome
de junta quente ou junta de medio. A outra extremidade dos Iios e levada ao instrumento de
medio de ddp, Iechando um circuito eletrico por onde Ilui a corrente. O ponto onde os Iios que
Iormam o termopar se conectam ao instrumento de medio e chamado de junta Iria ou de
reIerncia.
Nas aplicaes praticas o termopar apresenta-se normalmente conIorme a Iigura.
4.1.2.2.3.2Leis Iundamentais
Da descoberta dos eIeitos termoeletricos partiu-se atraves da aplicao dos principios da
termodinmica, a enunciao das trs leis que constituem a base da teoria termoeletrica nas
medies de temperatura com termopares, portanto, Iundamentados nestes eIeitos e nestas leis,
podemos compreender todos os Ienmenos que ocorrem na medida de temperatura com estes
sensores.
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 59
4.1.2.2.3.2.1 Lei do Circuito Homogneo
"A ddp termal, desenvolvida em um circuito termoeletrico de dois metais diIerentes,
com suas junes as temperaturas T1 e T2, e independente do gradiente de temperatura e de sua
distribuio ao longo dos Iios. Em outras palavras, a ddp medida depende unica e
exclusivamente da composio quimica dos dois metais e das temperaturas existentes nas
junes.
Um exemplo de aplicao pratica desta lei e que podemos ter uma grande variao de
temperatura em um ponto qualquer, ao longo dos Iios termopares, que esta no inIluira na ddp
produzida pela diIerena de temperatura entre as juntas. Portanto, pode-se Iazer medidas de
temperaturas em pontos bem deIinidos com os termopares, pois o importante e a diIerena de
temperatura entre as juntas.
4.1.2.2.3.2.2 Lei dos Metais Intermediarios
"A soma algebrica das ddp termais em um circuito composto de um numero qualquer de
metais diIerentes e zero, se todo o circuito estiver a mesma temperatura".
Deduz-se dai que um circuito termoeletrico, composto de dois metais diIerentes, a ddp
produzida no sera alterada ao inserirmos, em qualquer ponto do circuito, um metal generico,
desde que as novas junes sejam mantidas a temperaturas iguais.
Onde se conclui que:
Se: T3 T4 E1 E2
T3 = T4 E1 = E2
Um exemplo de aplicao pratica desta lei e a utilizao e contatos de lato ou cobre,
para interligao do termopar ao cabo de extenso no cabeote.
4.1.2.2.3.2.3 Lei das Temperaturas Intermediarias.
"A ddp produzida em um circuito termoeletrico de dois metais homogneos e diIerentes
entre si, com as suas junes as temperaturas T1 e T3 respectivamente, e a soma algebrica da
I.e.m
E
A
B
T2 T1
I.e.m
E
A
B
T2 T1
T3
T4
I.e.m
E
A
B
T2 T1
I.e.m
E
C
B
T2 T1
A
A
T4
T3
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 60
ddp deste circuito, com as junes as temperaturas T1 e T2 e a ddp deste mesmo circuito com as
junes as temperaturas T2 e T3".
Podemos escrever:
E1 E(538-24)
E2E(538-38)
E3E(38-24)
Pode-se mostrar, tambem que a ddp pode ser medida num circuito termoeletrico, com
varios metais e junes a temperaturas diIerentes.
A milivoltagem E e igual a soma das milivoltagens de varios circuitos separados,
compostos dos mesmos metais e com as junes as mesmas temperaturas.
Um exemplo pratico da aplicao desta lei, e a compensao ou correo da temperatura
ambiente pelo instrumento receptor de milivoltagem.
4.1.2.2.3.3Correlao da I.e.m. em Iuno da temperatura.
Visto que a ddp gerada em um termopar depende da composio quimica dos
condutores e da diIerena de temperatura entre as juntas, isto e, a cada grau de variao de
temperatura, podemos observar uma variao da ddp gerada pelo termopar. Podemos, portanto,
construir uma tabela de correlao entre temperatura e a ddp por uma questo pratica
padronizou-se o levantamento destas curvas com a junta de reIerncia a temperatura de 0
0
C.
Essas tabelas Ioram padronizadas por diversas normas internacionais e levantadas de
acordo com a Escala Pratica Internacional de Temperaturas de l968 (IPTS-68), para os
termopares mais utilizados.
4.1.2.2.3.4Potncia Termoeletrica
E a relao que expressa a quantidade do milivoltagem, gerada a cada grau Celsius do
variao de temperatura. A expresso matematica que deIine a potncia termoeletrica e:
Pt mV/
0
C
538
O
C 38
O
C 24
O
C
E1
E2
E3
A
A
B
B
A
B
T3
T2 T1
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 61
Como a milivoltagem gerada por 1
o
C de variao e um numero, muito pequeno e como
a variao da I.e.m. gerada em Iuno da temperatura no e linear, e usual deIinir-se a potncia
termoeletrica media no intervalo de utilizao de cada termopar e multiplicar-se esse valor por
100
0
C.
A potncia termoeletrica e uma grandeza util na caracterizao e comparao de
termopares.
4.1.2.2.3.5Associao de termopares
Para uma melhor adaptao de termopares aos processos industriais e para atender os
objetivos de diversos tipos de medio, costuma-se utilizar de associao de termopares, em
serie ou em paralelo, cada qual com suas Iinalidades especiIicas.
4.1.2.2.3.5.1 Associao Serie
A associao em serie e utilizada quando se deseja ampliar o sinal eletrico gerado pelo
termopar. Como vemos na Iigura 23, o sinal de um termopar e a I.e.m. "E". Ao eIetuarmos a
associao em serie (no exemplo com 4 termopares iguais) a milivoltagem medida pelo
instrumento sera igual a 4E.
A aplicao mais comum desse tipo de associao e encontrada nas termo pilhas dos
Pirmetros de Radiao pois, como a intensidade de calor que atinge a junta de medida e muito
pequena precisamos de uma montagem em serie, para que a milivoltagem gerada seja suIiciente
para sensibilizar os aparelhos de medio.
4.1.2.2.3.5.2 Associao em paralelo
Para medirmos a temperatura media ao longo de um grande duto, em grandes Iornos ou
equipamentos onde a medida pontual no e signiIicativa, podemos usar os termopares, ligado
certo numero deles em paralelo. A milivoltagem no instrumento ou no ponto de conexo em
paralelo e a media daquela produzida pelo numero de termopares utilizados. Esta voltagem e
igual a soma das voltagens individuais, dividida pelo numero de termopares ou e a mesma
milivoltagem que poderia ser gerada por um unico termopar, na temperatura media.
As ligaes em paralelo dos termopares para medidas de temperatura media, e
vantajosa, isto porque a calibrao do instrumento pode ser a mesma para um unico termopar.
T1
A
B
-
T2
A
B
-
T3
A
B
-
T4
A
B
-
- 4E
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 62
Para se obter temperaturas medias reais, as caracteristicas temperatura versos I.e.m. dos
termopares devem ser lineares, atraves das Iaixas de temperaturas envolvidas, devendo o
instrumento operar dentro do principio de equilibrio nulo, onde no existe Iluxo de corrente na
ocasio da medida.
4.1.2.2.3.5.3 Medida de temperaturas diIerenciais
Dois termopares podem ser usados na medio de temperaturas diIerenciais entre dois
pontos. Dois termopares semelhantes so ligados junto com o Iio de extenso de mesmo material
usado nos termopares.
As conexes so Ieitas de tal modo, que as Ioras eletromotrizes desenvolvidas, opem-
se uma contra a outra. Assim se as temperaturas dos dois termopares Iorem iguais,
independentemente da magnitude, a I.e.m. resultante sera zero. Quando existem diIerentes
temperaturas, a milivoltagem produzida correspondera a esta diIerena de temperatura.
A preciso desta medida esta vinculada a linearidade da curva de I.e.m. gerada em
Iuno da temperatura e do tipo de termopar utilizado para o intervalo de temperatura que se esta
medindo.
Cuidados especiais devem ser tomados para no haver uma interpretao errada da
milivoltagem lida, quando tivermos termopares para medida de temperatura diIerencial. Devido
a no linearidade da curva do termopar, para mesmos diIerenciais de temperatura, teremos
diIerentes variaes de milivoltagem.
T1
A
B
-
T2
A
B
-
T3
A
B
-
-
E
E ( E1 E2 E3 ) /3
T1
A
B
-
T2
A
B
-
E
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 63
4.1.2.2.3.6Termopares Basicos
So assim chamados os termopares de maior uso industrial, em que os Iios so de custo
relativamente baixo e sua aplicao admite um limite de erro maior.
- -- - TIPO"T"
- Nomenclaturas:
T - Adotado pela Norma ANSI
CC- Adotado pela Norma JIS
Cu - Co
Copper-Constantan
- Liga: () Cobre - (99,9)
(- ) Constantan - So as ligas de Cu-Ni compreendidos no intervalo entre CU50
e Cu65 Ni35. A composio mais utilizada para este tipo de termopar e de Cu58 Ni42.
- IdentiIicao da polaridade; o positivo (cobre) e avermelhado.
- Caracteristicas:
- Faixa de utilizao: - 184 a 370
o
C
- I.e.m. produzida: - - 5,333 a 19,027 mV
- Potncia termoeletrica media: 5,14 mV/100
o
C(para temperaturas positivas)
- Pode ser utilizado em atmosIeras a vacuo, inertes, oxidantes ou redutoras.
- Apresenta boa preciso na Iaixa de utilizao, devido a grande homogeneidade do
cobre.
- Em temperaturas acima de 310
o
C o cobre comea a se oxidar e proximo de 400
o
C,
oxida-se rapidamente.
- Com certas precaues e devidamente aIerido, pode ser utilizado ate - 262
o
C.
- Aplicaes; Criometria (baixas temperaturas), Industrias de ReIrigerao, Pesquisas
Agronmicas e Ambientais, Quimica e Petroquimica.
- -- - TIPO "1"
- Nomenclatura:
J - Adotada pela Norma ANSI
IC - Adotada pela Norma JIS
Fe-Co
Iron-Constantan
- Liga: () Ferro - (99,5)
(- ) Constantan - Cu58 NI42, normalmente se produz o Ierro e a partir de sua
caracteristica casa-se o constantan adequado.
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 64
-IdentiIicao de polaridade: o positivo (Ierro) e magnetico, o negativo no e magnetico
- Caracteristicas:
- Faixa de utilizao: 0 a 760
o
C
- I.e.m. produzida: 0 a 42,922mV
- Potncia termoeletrica media: 5,65mV/100
o
C
- Pode ser utilizado em atmosIera a vacuo, inertes, oxidantes ou redutoras.
- Baixo custo relativo, sendo assim e um dos mais utilizados industrialmente.
- Tem baixa homogeneidade devido a diIiculdade de obteno de Ierro com alto teor de
pureza.
- Indicado para servios continuos ate 760
o
C em atmosIera neutra ou redutora.
- Limite maximo de utilizao em atmosIera oxidante de 760
o
C, devido a rapida
oxidao de Ierro.
- Utilizar tubo de proteo acima de 480
o
C.
- Pode ser utilizado, ocasionalmente, para temperaturas abaixo de 0
o
C, porem, a
possivel Ierrugem ou quebra do Ierro , sob esta condio, o tornam inadequado.
- Aplicao: Centrais de Energia, Metalurgica, Quimica, Petroquimica, Industria em
geral.
- -- - TIPO "E "
- Nomenclatura:
E - Adotada pela Norma ANS.
CE- Adotada pela Norma JIS
NiCr-Co
- Liga () Chromel - Ni
90
Cr
10
(- ) Constantan - Cu
58
NI
42
- IdentiIicao da polaridade: o positivo (Chromel) e mais duro.
- Caracteristicas:
- Faixa de utilizao: 0 a 870
o
- I.e.m. produzida: 0 a 66,473mV
- Potncia Termoeletrica media: 7,64mV/100
o
C
- Pode ser utilizado em atmosIeras a vacuo, inertes e oxidantes.
- Possui a maior potncia termoeletrica dos termopares mais utilizados.
- Em temperaturas abaixo de 0
o
C os Iios no soIrem corroso, podendo, assim ser
utilizado em temperaturas abaixo de 0
o
C.
- E utilizado em termopilha e em pirmetro de radiao.
- Possui alta estabilidade na I.e.m. (durabilidade) devido a sua resistncia a oxidao.
-Vulneravel a atmosIera redutora.
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 65
- Aplicaes: Quimica e Petroquimica
- -- - TIPO "K"
- Nomenclaturas:
K - Adotada pela Norma ANSI
CA- Adotada pela Norma JIS
NiCr-Ni- Adotada pela Norma DIN
- Liga: () Chromel - Ni
90
Cr
10
(-) Alumel - Ni
95,4
Mn
1,8
Si
1,5
AI
1,2-
- IdentiIicao da Polaridade: o negativo (alumel) e levemente magnetico, o positivo
no e magnetico.
- Caracteristicas:
- Faixa de utilizao: 0 a 1260
o
C
- I.em. Produzida: 0 a 50,990mV
- Potncia Termoeletrica media: 4,05mV/100
o
C
- Pode ser utilizado em atmosIeras inertes e oxidantes
- Em altas temperaturas (entre 800 a 1200
o
C) e mais resistente mecanicamente, do que
os tipos S e R, tendo uma vida util superior ao tipo J.
- Vulneravel em atmosIeras redutoras e sulIurosas, com gases como SO
2
e H
2
S,
requerendo substancial proteo quando utilizado nestas condies.
- Sua mais importante aplicao ocorre na Iaixa de 700 a 1260
o
.
- Pode ser utilizado, ocasionalmente, para temperaturas abaixo de 0
o
C
- Aplicaes: Metalurgicas, Siderurgicas, Fundio, Usina de Cimento e Cal, Vidros,
Cermica, Industrias em geral.
4.1.2.2.3.7Termopares Nobres
So aqueles que os pares so constituidos de platina. Embora possuam custo elevado e
exijam instrumentos receptores de alta sensibilidade, devido a baixa potncia termoeletrica,
apresentam uma altissima preciso, dada a homogeneidade e pureza dos Iios .
- -- - TIPO "S"
- Nomenclaturas:
S - Adotada pela Norma ANSI
- Liga: () Platina Rhodio 10
(- ) Platina 100
- IdentiIicao da polaridade: o positivo (Pt
90
R
h10
)e mais duro.
- Caracteristicas:
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 66
- Faixa de utilizao: 0 a 1480
o
C
- I.e.m. produzida: 0a 15,336mV
- Potncia termoeletrica media: 1,04mV/100
0
C
- Pode ser utilizado em atmosIeras inertes e oxidantes.
- Apresenta boa preciso em altas temperaturas.
- DeIine a Escala Internacional Pratica de Temperatura/IPTS na Iaixa de 630,74(ponto
de Iuso do antimnio) a 1064,43
o
C (ponto de Iuso do ouro), sendo adotado como padro nesta
Iaixa.
- Utilizado como padro na calibrao de outros termopares.
- Foi desenvolvido em 1886 por Le Chatelier.
- Usado em medidas de alta preciso.
- No devem ser utilizados em atmosIera redutora, requerendo substancial proteo
quando aplicado neste tipo de ambiente.
- Para altas temperaturas ( 1300
o
), devem ser utilizados isoladores e tubos protetores
de alta alumina (tipo 710)
- No deve ser utilizado em temperaturas abaixo de 0
o
C, pois sua curva de I.e.m.X
Temperatura varia irregularmente.
- Depois de submetido a altas temperaturas (acima 1480
0
C), para ser utilizado
novamente, deve ser aIerido.
- Com o uso proximo de seu limite de aplicao, a platina pura apresenta crescimento de
gro acentuado, tornado-se quebradia e isto pode tornar a vida util do termopar curta, quando
aplicado em processos sujeitos a esIoros mecnicos (vibrao)
- Aplicaes; Siderurgica, Fundio, Metalurgica, Usina de Cimento, Cermica, Vidro e
Pesquisa CientiIica.
E utilizado em Sensores Descartaveis na Iaixa de 1200 a 1768
o
, para medio de
temperatura de metais liquidos em Siderurgicas e Fundies.
- -- - TIPO"R "
- Nomenclaturas:
R - Adotada pela Norma ANSI
PtRh 18
- Liga: () Platina 87 Rhodio 13
(- ) Platina 100
- IdentiIicao da Polaridade: o positivo (Pt
87
Rh
13
) e mais duro.
- Caracteristicas:
- Faixa de utilizao: 0 a 1480
o
C
- I.e.m. produzida: 0 a 17,163mV
- Potncia termoeletrica media, 4,16mV/100
o
C
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 67
- Possui as mesmas caracteristicas gerais do tipo S, porem tem uso industrial menor que
este.
- Possui uma potncia termoeletrica cerca de 11 maior que o tipo S.
- E um tipo recente, surgido a cerca de 40 anos atras, devido a necessidade de se adaptar
a alguns instrumentos que apresentavam erros da ordem de 20.
- Aplicaes: As mesmas do tipo "S "
- -- - TIPO "B "
- Nomenclaturas:
B - Adotada pela Norma ANSI
Couple 18 (termopar 18) Na Alemanha
PtRh,30 - Pt Rh 6
- Liga: () Platina 70 Rhodio 30
(- ) Platina 94 Rhodio 6
- IdentiIicao da Polaridade: o positivo (Pt
70
Rh
30
) e mais duro.
- Caracteristicas:
- Faixa de utilizao: 870 a 1705
o
C
- I.e.m. produzida: 3.708 a 12,485mV
- Potncia termoeletrica media: 1,05mV/100
0
C
- Pode ser utilizado em atmosIeras inertes, oxidantes e por curto periodo de tempo em
vacuo.
- E utilizado em medidas constantes de temperaturas elevadas (acima de 1400
0
C)
- Apresenta melhor estabilidade na I.e.m. e resistncia mecnica, do que os tipos "S "e
"R"a temperaturas elevadas.
- No necessita de compensao da junta de reIerncia, se a temperatura desta no
exceder a 50
o
C.
- No necessita de cabo de compensao se a temperatura de seus terminais no exceder
a 100
o
C.
- No pode ser utilizado em temperatura inIerior a 100
0
C.
- Deve-se utilizar isoladores e tubos protetores de alta alumina (tipo 710)
- Aplicaes: Vidro, Siderurgica, alta temperatura em geral.
4.1.2.2.3.8Novos Tipos de Termopares
Aos longos dos anos os tipos de termopares produzidos oIerecem, cada qual, uma
caracteristica especial porem, apresentam restries de aplicao, que devem ser consideradas.
Novos tipos de termopares Ioram desenvolvidos para atender as condies de processo
onde os termopares basicos no podem ser utilizados.
Tungstnio - Rhnio
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 68
Tungstnio/Tungstnio 26 Rhnio
Tungstnio 3 Rhnio/Tungstnio 25 - Rhnio
Tungstnio 5 Rhnio/Tungstnio 26 - Rhnio
Destes, o primeiro e o mais barato, porem o "brao"de Tungstnio puro esta sujeito a
tornar-se quebradio.
Esses termopares podem ser usados continuamente ate 2300
o
C e por curto periodo ate
2750
o
C no vacuo, na presena de hidrognio puro ou gas inerte. A ASTM( American Society
Ior Testing and Materiais) tem publicado padres para os termopares 3/25 e 5/26 com uma
tolerncia de = 1 Isolao de BeO ou ThO
2
tem sido recomendada para esses termopares
embora alguma reao possa ocorrer entre os Iios e a isolao no limite superior a temperatura
de utilizao.
Iridio 40 Rhodio/Iridio
Termopares Ieitos a partir de precaues variaveis destes dois elementos. So os unicos
que podem ser usados sem proteo no ar ate 2000
o
C embora, somente por periodos limitados.
Podem ser usados no vacuo ou atmosIera inerte. Os Iios tornam-se quebradios e Irageis
devido ao crescimento dos gros apos longo periodo de exposio a altas temperaturas.
Platina - 40 Rhodio/Platina 20 Rhodio
Esses termopares so utilizados em substituio ao tipo B onde temperaturas um pouco
mais elevadas so requeridas. Podem ser usado continuamente ate 1600
o
C e por curto periodo ate
1800
o
C ou 1850
o
C.
Ouro - Ferro/Chromel
Esses termopares so desenvolvidos para trabalhar em temperaturas orognicas e podem
ser usados ate - 272, 15
o
, porem o coeIiciente de Seebeck, dr/dT soIre uma reduo abaixo de -
268,15
o
C, o que e o limite mais realistico.
Tabelas de reIerncia tm sido publicadas pela NBS (National Bureau oI Standards).
Nisil/Nicrosil
Desenvolvido pelo "Materiais Research Laboratories"do Departamento Australiano de
DeIesa, este termopar tem sido aceito e aprovado mundialmente, estando inclusive normalizado
pela ASTM e NBS.
Basicamente este novo par termoeletrico e um substituto para o par tipo K, apresentando
uma Iora eletromotriz um pouco menor em relao ao tipo K (conIorme NBS 161), maior
estabilidade a altas temperaturas, menor driIt x tempo, excelente resistncia a oxidao e maior
vida util.
4.1.2.2.3.9Limites de erro
Os termopares so normalmente Iornecidos na Iorma de pares de Iios "casados"
Nessas condies, estes devem obedecer a certas normas preestabelecidas, por
associaes de Normas Tecnicas.
Entende-se por erro de um termopar, o maximo desvio que este pode apresentar em
relao a um padro , que e adotado como "Padro Absoluto".
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 69
O erro do termopar pode ser expresso em graus de temperatura ou em porcentagem da
temperatura medida.
4.1.2.2.3.10 Fios e cabos de extenso e compensao
4.1.2.2.3.10.1 Consideraes Gerais
Na maioria das aplicaes industriais de medio de temperatura, atraves de termopares,
o elemento sensor no se encontra junto ao instrumento receptor.
Nessas condies torna-se necessario que o instrumento seja ligado ao termopar atraves
de Iios que possuam uma curva de Iora eletromotriz em Iuno da temperatura similar aquela
do termopar, a Iim de que no instrumento, possa ser eIetuada a correo da junta de reIerncia.
Em sintese, Iios e cabos de extenso e compensao nada mais so que outros
termopares cuja Iuno e compensar a ddp ocasionada pela diIerena e temperatura entre o
cabeote e o registrador.
Definies: Convenciona-se chamar de Iios aqueles condutores constituidos por um
eixo solido e de cabos aqueles Iormados por um Ieixe de condutores de bitola menor, Iormando
um condutor Ilexivel.
- Chamam-se Iios e cabos de extenso aqueles Iabricados com as mesmas ligas dos
termopares a que se destinam. Exemplo: Tipo TX, JX, EX, KX.
- Chamam-se Iios e cabos de compensao aqueles Iabricados com ligas diIerentes
das dos termopares a que se destinam, porem Iornecem a temperatura especiIicada
para sua utilizao uma curva da ddp em Iuno da temperatura equivalente a
destes termopares. Exemplo: WX, SX, BX.
4.1.2.2.3.10.2 Faixa de utilizao e limites de erro
Os Iios e cabos de extenso e compensao so recomendados, na maioria dos casos,
para utilizao desde a temperatura ambiente ate um limite maximo de 200
o
C.
4.1.2.2.3.10.3 Cabos de extenso e compensao com isolao mineral
Existem aplicaes especiIicas em que, devido as condies severas do ambiente -
temperatura, umidade, resistncia mecnica - no podem ser aplicados os cabos de extenso e
compensao com as isolaes "tradicionais". Nestes casos, utilizam-se cabos de extenso e
compensao com isolao mineral, que atendem as exigncias do ambiente de utilizao com
longa vida util, eliminando-se tambem a necessidade de utilizao de condutores.
4.1.2.2.3.10.4 Recomendaes para instalao de Iios e cabos de extenso e compensao.
No se recomenda a utilizao de cabos ou Iios menores que 16 AWG, para uso em
conduites, pois estes no tm suIiciente resistncia a trao. No entanto, os Iios de bitola 20
AWG podem ser usados quando em conjunto de Ieixes reIorados adequadamente (multi-cabo),
para dar maior resistncia a trao.
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 70
A resistncia total do Iio ou cabo e importante quando este Ior ligado a um instrumento
do tipo galvanometrico. Estes instrumentos requerem, muitas vezes, um valor deIinido da
resistncia de linha, sendo este valor inIormado pelo Iabricante do instrumento.
Para instrumentos do tipo potenciometrico, que possuem uma alta impedncia interna, o
valor da resistncia dos Iios de extenso no e critica e, portanto, no e levada em considerao.
A isolao usada nos cabos deve ser escolhida de tal maneira a resistir as condies do
ambiente onde ira trabalhar, levando-se em considerao todas as variaveis, tais como:
temperatura, solicitao mecnica, umidade, presena de oleo ou outros componentes quimicos.
Os Iios ou cabos devem ser sempre instalados de maneira a estarem protegidos do
aquecimento excessivo, que e nocivo a isolao e aos condutores.
Sempre que possivel devem ser instalados em conduites, de tal modo que no Iiquem
sujeitos a Ilexo ou curvaturas, que podem, eventualmente, alterar suas caracteristicas
termoeletricas: portanto, o layout do conduite para Iio de extenso ou compensao deve ser bem
planejado, sendo aconselhavel o caminho mais curto.
Esse deve, ainda, ir do cabeote ate o terminal do instrumento, em um comprimento
continuo sem emendas. Quando esta Ior inevitavel, deve ser Ieita de tal maneira que haja um
contato intimo ente os Iios no terminal de emenda e a polaridade deve ser observada com rigor.
Os Iios e cabos de extenso ou compensao no devem ser passados paralelamente ou
proximos as linhas de Iora.
Quando esses Iorem instalados sob a terra, deve-se utilizar isolaes a prova d'agua.
Os Iios e cabos devem ser limpos para Iixao no bloco terminal e no terminal do
instrumento, devendo-se obedecer, com rigor, a polaridade nas ligaes.
4.1.2.2.3.10.5 Erros produzidos pela inverso de Iios e cabos de extenso e compensao
A) Inverso simples
Inverso simples.
A pena do registrador ira bater no inicio de escala, pois esta recebendo uma
milivoltagem de - 19,202 mV.
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 71
Inverso dupla.
O registrador ira indicar que o Iorno esta a 511
o
C, quando na realidade esta a 538
o
C;
portanto, indicara com um erro de -27
o
C.
A dupla inverso acontece com Ireqncia pois, quando uma simples inverso e
constatada, e comum pensar-se que uma nova troca na ligao dos terminais compensara o erro,
Porem, isto no acontece. E evidente que, se o Cabeote e o Registrador estiverem a mesma
temperatura, a dupla inverso no ocasionara discrepncia na medio.
4.1.2.2.3.11 Recomendaes para seleo dos termopares
A escolha de um termopar para um determinado servio deve ser Ieita considerando-se
todas as caracteristicas e normas exigidas pelo processo, tais como:
a) Faixa de temperatura - A Iaixa de temperatura do termopar deve ser compativel com
a do processo.
b) Preciso - Escolher o termopar que melhor atende a preciso requerida pelo processo
ou por normas aplicaveis.
c) Potncia termoeletrica - Escolher o termopar que apresente maior potncia
termoeletrica na Iaixa de temperatura do processo, o qual sera aplicado.
d) Condies de trabalho - Analisar as condies de trabalho como exigncias
mecnicas e atmosIera do processo, para especiIicar convenientemente o material da proteo.
e) Velocidade de resposta - Em certos processo, a velocidade de resposta e importante,
portanto, nesses casos, deve-se dimensionar adequadamente o termopar para atender este item.
I) Custo - Deve-se escolher o termopar que atenda todas as exigncias tecnicas
requeridas e apresente o menor custo relativo.
A Iabricao de termopares requer tecnicas especiais, portanto, se o equipamento e
habilidade requerida para Iabricao dos mesmos no Iorem adequados, e recomendado que o
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 72
usuario compre os termopares prontos, pois tecnicas improprias podem resultar em erro
signiIicativos na medio de temperatura.
Os Iios para conIeco de termopares devem ser comprados de preIerncia em pares,
para assegurar a preciso dentro dos limites de erros normalizados.
E essencial que o termopar tenha a mesma calibrao que o instrumento com o qual
sera usado.
Para os termopares tipo "S ", "R " e "B ", recomenda-se que o isolante seja de oxido de
aluminio e em uma so pea em todo o seu comprimento, conseguindo-se assim um conjunto
adequado a minimizar o "cansao" do Iio de metal nobre.
A proteo e utilizada na maioria das instalaes dos termopares para prevenir a
contaminao destes, a proteo mecnica e a sustentao.
O dimetro da proteo deve ser adequado para acomodar o elemento do termopar,
entretanto, protees com dimetros maiores so necessarios para aumentar a resistncia
mecnica, permitir a introduo de um termopar de checagem e manter uma atmosIera oxidante
dentro do tubo de proteo para utilizao dos termopares tipo "K " e "E ".
4.1.2.2.3.12 Recomendaes para instalao dos termopares
A instalao do termopar deve ser perIeitamente adequada, para que este apresente boas
caracteristicas de preciso, manuteno e vida util.
O comprimento da proteo e do elemento do termopar deve ser de tal Iorma que
acomode a junta de medio , bem no meio do ambiente em que se deseja medir a temperatura.
Um comprimento de insero minimo recomendado e da ordem de 8 a 10 dimetros da
proteo, para minimizar o erro por conduo, Esta devera, ainda, estar internamente limpa e
livre de componentes sulIuricos, oleos, oxidos e umidade.
O cabeote e recomendado para que sejam Ieitas as conexes entre o termopar e o cabo
de extenso , permitindo tambem, a Iacil substituio do elemento termopar. A proteo devera
se estender ate a Iace externa do equipamento cerca de 100 mm, de tal modo que a temperatura
do cabeote seja aproximadamente igual ao ambiente externo do equipamento, devendo esta
nunca exceder a Iaixa de utilizao recomendada para Iios e cabos de extenso e compensao.
Isto deve ser rigorosamente observado quando se utiliza cabos de compensao.
Em equipamentos com aquecimento a gas ou oleo combustivel, a chama no deve
atingir a proteo diretamente pois, caso isto ocorra, teremos uma medida incorreta da
temperatura, alem de reduzir a vida util da proteo.
Quando se utilizam termopares com tubo de proteo cermica, antes de sua insero
em ambiente com temperatura elevada, deve-se pre-aquecer os tubos, a Iim de evitar o choque
termico e, conseqentemente, a quebra do tubo.
A proteo deve ser presa ao equipamento, de tal modo que se evite o escape de gases
do processo pois, caso isto ocorra, estes podem vir a atacar o elemento termopar, o que diminuira
sua vida util.
Nas medies de temperaturas elevadas deve-se, preIerivelmente, colocar o termopar
na vertical, para evitar, assim a deIormao da proteo, devido ao peso proprio.
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 73
4.1.2.2.4 Sensores de temperatura do tipo Bulbo de Resistncia
Os metodos de utilizao de resistncia para medio de temperatura iniciaram-se ao
redor de 1835, com Faraday, porem so houve condies de se elaborar as mesmas para utilizao
em processos industriais a partir de 1925.
Esses sensores adquiriram espao nos processos industriais por suas condies de alta
estabilidade mecnica e termica, resistncia a contaminao, baixo indice de desvio pelo
envelhecimento e tempo de uso.
Devido a estas caracteristicas, esse sensor e padro internacional para a medio de
temperatura na Iaixa de -270
o
a 660
o
C , em seu modelo de laboratorio.
4.1.2.2.4.1Principio de Iuncionamento
Os bulbos de resistncia so sensores que se baseiam no principio de variao da
resistncia em Iuno da temperatura. Os materiais mais utilizados para a Iabricao destes tipos
de sensores so a platina, cobre ou niquel, que so metais que apresentam caracteristicas de:
Alta resistividade, permitindo assim uma melhor sensibilidade do sensor.
Ter alto coeIiciente de variao de resistncia com a temperatura.
Ter rigidez e dutibilidade para ser transIormado em Iios Iinos.
4.1.2.2.4.2Construo Iisica do sensor
O bulbo de resistncia se compe de um Iilamento, ou resistncia de Pt, Cu ou Ni, com
diversos revestimentos, de acordo com cada tipo e utilizao.
As termorresistncias de Ni e Cu tm sua isolao normalmente em esmalte, seda,
algodo ou Iibra de vidro. No existe necessidade de protees mais resistentes a temperatura,
pois acima de 300
o
C o niquel perde suas caracteristicas de Iuncionamento como
termorresistncia e o cobre soIre problemas de oxidao em temperaturas acima de 310
o
C.
Os sensores de platina, devido a suas caracteristicas, permitem um Iuncionamento ate
temperaturas bem mais elevadas, tm seu encapsulamento normalmente em cermica ou vidro. A
este sensor so dispensados maiores cuidados de Iabricao pois, apesar da Pt no restringir o
limite de temperatura de utilizao, quando a mesma e utilizada em temperaturas elevadas, existe
o risco de contaminao dos Iios.
Para utilizao como termmetro padro, os sensores de platina so completamente
desapoiados do corpo de proteo. A separao e Ieita por isoladores e espaadores de mica. Esta
montagem no tem problemas relativos a dilatao, porem e extremamente Iragil.
Os medidores parcialmente apoiados tm seus Iios introduzidos numa pea de aluminio
de alta pureza com Iixador vitreo. E um meio termo entre resistncia a vibrao e dilatao
termica.
A verso completamente apoiada pode suportar vibraes muito mais Iortes, porem sua
Iaixa de utilizao Iica limitada a temperaturas mais baixas; devido a dilatao dos componentes.
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 74
4.1.2.2.4.3Caracteristicas da Termorresistncia tipo Pt 100 a 0
o
c
As termorresistncias Pt 100 O a 0
0
C so as mais utilizadas industrialmente, devido a
sua grande estabilidade, larga Iaixa de utilizao e alta preciso.
A estabilidade e um Iator de grande importncia na industria, pois e a capacidade do
sensor manter e reproduzir suas caracteristicas (resistncia - temperatura) dentro da Iaixa
especiIicada de operao.
Outro Iator importante num sensor Pt 100 e a repetibilidade, que e a caracteristica de
conIiabilidade da termorresistncia. Repetibilidade deve ser medida com leitura de temperaturas
consecutivas, veriIicando-se a variao encontrada quando de medio novamente na mesma
temperatura.
O tempo de resposta e importante em aplicaes onde a temperatura do meio em que se
realiza a medio esta sujeito a mudanas bruscas. Considera-se constante de tempo como
tempo necessario para o sensor reagir a uma mudana na temperatura e atingir a 63,2 da
variao de temperatura.
Outra caracteristica da termorresistncia Pt 100 e o auto-aquecimento, que e causado
pela corrente que passa pela resistncia.
4.1.2.2.4.4AIerio
Apesar de extremamente preciso em sua utilizao e de seus baixos limites de erro, so
necessarios metodos de aIerio para a determinao de sensores de alta preciso.
Para se eIetuar a ateno de um termmetro de resistncia utilizam-se 2 metodos
basicos, que so:
A) Mtodo dos pontos fixos:
Utilizam-se pontos Iisicos para veriIicao da aIerio do sensor. Os pontos Iixos
utilizados so:
Banho de gelo 0,00
o
C
Ponto triplo da agua 0,01
o
C
Ebulio da agua 100,00
o
C
SolidiIicao do estanho 231,9681
o
C
SolidiIicao do zinco 419,58
o
C
B) Mtodo da comparao:
Para se realizar esse metodo e necessaria a utilizao de um termmetro de resistncia ja
aIerido. Normalmente este padro e m sensor Pt 25 O a 0
o
C, com certiIicado de aIerio em
decimo de grau.
A comparao e eIetuada utilizando-se um Iorno de aIerio, tendo-se o cuidado de se
equalizar a temperatura no Iorno e nas termorresistncias.
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 75
4.1.2.2.4.5Recomendaes para instalao de termorresistncias
Para que se tenha um perIeito Iuncionamento do sensor, so necessarios certos cuidados
de instalao, bem como armazenagem e transporte, conIorme segue:
I- Deve-se especiIicar materiais da proteo e ligao capazes de operar na temperatura
de operao requerida.
II - O sensor deve ser imerso completamente no processo, para se registrar a
temperatura correta. A imerso minima deve ter o mesmo valor do corpo do sensor, excluindo-se
proteo.
III - Deve-se evitar choques mecnicos nas peas, pois estes podem daniIicar o sensor.
IV - Em locais sujeitos a vibrao, deve-se utilizar sensor com isolao mineral.
V - Deve-se utilizar Iios de mesma bitola para interligao da termorresistncia.
VI - Para se eIetuar o transporte, a embalagem deve ser adequada para evitar choques
mecnicos.
4.1.2.2.4.6Vantagens e desvantagens
A) Vantagens
I - Possuem maior preciso dentro da Iaixa de utilizao do que outros tipos de
sensores.
II - Com ligao adequada no existe limitao para distncia de operao.
III - Dispensa utilizao de Iiao especial para ligao,
IV - Se adequadamente protegido, permite utilizao em qualquer ambiente.
V - Tm boas caracteristicas de reprodutibilidade.
VI - A montagem do tipo isolao mineral pode ser utilizada como termopar de mesma
montagem, com preciso bem superior.
B) Desvantagens
I - So mais caras do que os sensores utilizados nessa mesma Iaixa.
II - Deterioram-se com mais Iacilidade, caso haja excesso na sua temperatura maxima
de utilizao.
III - Temperatura maxima de utilizao 630
o
C.
IV - E necessario que todo o corpo do bulbo esteja com a temperatura equilibrada para
indicar corretamente.
V - Alto tempo de resposta.
4.1.2.2.5 Sensores de temperatura NTC e PTC
So resistores dependentes de temperatura.
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 76
O NTC (Negative Temperature CoeIicient, CoeIiciente Negativo de Temperatura), tem
resistncia inversamente proporcional a temperatura. Ele e Ieito de compostos semicondutores,
como os oxidos de Ierro, magnesio e cromo. Segue a equao abaixo:
R A e B/T
A e B so coeIicientes que variam com a composio quimica e "e" e o numero de
Neper, 2.718. T e a temperatura, em graus Kelvin (some 273 a temperatura em Celsius, para
converso).
Sua curva caracteristica e, ento, exponencial decrescente.
Devido a seu comportamento no linear, o NTC e utilizado numa Iaixa pequena de
temperaturas, em que a curva e proxima de uma reta, ou com uma rede de linearizao.
O NTC e empregado em temperaturas de ate uns 150 C.
O PTC (Positive Temperature CoeIicient) tem resistncia proporcional a temperatura, e
atua numa Iaixa restrita. A variao da resistncia e maior que a de um NTC, na mesma Iaixa.
Seu uso e mais Ireqente como sensor de sobretemperatura, em sistemas de proteo, por
exemplo, de motores.
4.1.2.2.6 Diodos como sensores de temperatura
O diodo comum de silicio, polarizado diretamente com corrente de 1mA, tem queda de
tenso proxima de 0.62V, a 25oC. Esta tenso cai aproximadamente 2mV para cada C de
aumento na temperatura, e pode ser estimada pela equao:
Vd A - BT
A e B variam um pouco conIorme o diodo. Esta equao e de uma reta, e vale ate uns
125 C, limite para o silicio.
O diodo e encontrado em controles e termmetros de baixo custo e razoavel preciso,
ate uns 100 C.
4.1.2.2.7 Sensores integrados
Ha circuitos integrados sensores de temperatura, como o LM 335, da National.
OIerecem alta preciso, por conterem circuitos linearizados. Operam de 0 a 100C
aproximadamente.
4.1.2.3Sensores de luz
Alem de seu uso em Iotometria (incluindo analisadores de radiaes e quimicos), e a
parte de sistemas de controle de luminosidade, como os reles Iotoeletricos de iluminao publica
e sensores indiretos de outras grandezas, como velocidade e posio (Iim de curso).
4.1.2.3.1 LDR
O LDR (light dependent resistor, resistor dependente da luz) tem sua resistncia
diminuida ao ser iluminado. E composto de um material semicondutor, o sulIeto de cadmio,
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 77
CdS. A energia luminosa desloca eletrons da camada de valncia para a de conduo (mais longe
do nucleo), aumentando o numero destes, diminuindo a resistncia. A resistncia varia de alguns
mO, no escuro, ate centenas de O, com luz solar direta.
Os usos mais comuns do LDR so em reles Iotoeletricos, Iotmetros e alarmes. Sua
desvantagem esta na lentido de resposta, que limita sua operao.
4.1.2.3.2 Foto-diodo
E um diodo semicondutor em que a juno esta exposta a luz. A energia luminosa
desloca eletrons para a banda de conduo, reduzindo a barreira de potencial pelo aumento do
numero de eletrons, que podem circular se aplicada polarizao reversa.
A corrente nos Ioto-diodos e da ordem de dezenas de mA com alta luminosidade, e a
resposta e rapida. Ha Ioto-diodos para todas as Iaixas de comprimentos de onda, do
inIravermelho ao ultravioleta, dependendo do material.
O Ioto-diodo e usado como sensor em controle remoto, em sistemas de Iibra optica,
leitoras de codigo de barras, scanner (digitalizador de imagens, para computador), canetas
opticas (que permitem escrever na tela do computador), toca-discos CD, Iotmetros e como
sensor indireto de posio e velocidade.
4.1.2.3.3 Foto-transistor
E um transistor cuja juno coletor-base Iica exposta a luz e atua como um Ioto-diodo.
O transistor ampliIica a corrente, e Iornece alguns mA com alta luminosidade. Sua velocidade e
menor que a do Ioto-diodo.
Suas aplicaes so as do Ioto-diodo, exceto sistemas de Iibra-optica, pela operao em
alta Ireqncia.
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 78
4.1.2.4Sensores de velocidade
Empregam-se nos controles e medidores de velocidade de motores dentro de maquinas
industriais, eletrodomesticos como videocassete e CD, unidades de disquetes e Winchesters de
computadores, na gerao de eletricidade (garantindo a Ireqncia da CA), entre outros.
4.1.2.4.1 Tacogerador
E um pequeno gerador eletrico de CC, com campo Iornecido por im. A tenso gerada,
pela Lei de Faraday e proporcional a velocidade com que o Iluxo magnetico e cortado pelo
enrolamento do rotor. Assim, o Tacogerador e um transdutor mecnico eletrico linear.
V K n
K e uma constante que depende do campo do im, do numero de espiras e polos e das
dimenses do rotor; n e a rotao do eixo (por minuto, rpm, ou segundo, rps).
A polaridade da tenso gerada depende do sentido de rotao.
4.1.2.4.2 Interruptor de lminas
Conhecido como reed-switch (em ingls), compe-se de duas lminas de Ierro
proximas, dentro de um pequeno envoltorio de vidro. Ao se aproximar um im ou solenoide as
duas lminas se encostam, Iechando os contatos externos.
Instalando-se um im na periIeria de uma roda, que gira poucos mm em Irente ao
interruptor de lminas, este Iechara os contatos a cada volta. Se este Ior ligado a uma tenso
continua, gerara pulsaes numa Ireqncia proporcional a rotao da roda.
Alem de seu uso como sensor de velocidade, e encontrado em alarmes, indicando porta
ou janela Iechada (um im e instalado nesta, e o reed-switch no batente), e em sensores de Iim-
de-curso, em maquinas industriais, gavetas de toca-discos CD e videocassete, etc.
Como no ha possibilidade de um acesso direto as lminas, para que se possa
acionar o dispositivo, Iaz-se uso de um campo magnetico externo. Este campo magnetico
atua sobre as lminas que se magnetizam e com isso se Ilexionam para Iechar o circuito
encostando uma na outra ou ento Iazendo uma comutao num sistema de trs lminas.
O material com que so Iabricadas as lminas devem ter propriedades
Ierromagneticas, para que possam soIrer uma magnetizao sob a ao de um campo
externo. O material usado e o Ierro-niquel, uma liga de alta permeabilidade para que no
haja perda do Iluxo magnetico. A reteno magnetica deve ser o menor possivel para
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 79
evitar que o magnetismo remanescente prejudique o Iuncionamento do dispositivo
quando o campo externo desaparece. A presena desta reteno Iariam com que os
contatos "grudassem" permanecendo o dispositivo ligado mesmo depois de retirado o
campo externo de acionamento.
Nas ampolas que possuem sistemas reversiveis, existe uma pequena pastilha de
quartzo entre as lminas NA e NF, para garantir a isolao neste ponto em que existe uma
grande proximidade Iisica entre eles. conIorme a Iigura que segue.
As ampolas com contato NA de Rodio/rutnio, comutam, dependendo de seu
tamanho potncias de 10 a 15 watts.
Para comutao de potncia mais elevadas, ate 100 W com contatos NA, existem
ampolas com contatos de tungstnio, que tem um ponto de Iuso bem mais alto, de 3387
C, mas com resistncias de contato mais elevadas, da ordem de 500 miliohms.
4.1.2.4.3 Sensores opticos
Empregam Ioto-diodos ou Ioto-transistor e uma Ionte luminosa, lmpada, LED ou laser.
Ha dois tipos basicos:
1- Sensor de reIlexo
2- Interrupo de luz.
TIPO BARREIRA
OBJETO DETECTADO
FONTE DE LUZ SENSOR
TIPO REFLEXIVO
ELEMENTO TRANSMISSOR ESPELHO
ELEMENTO TRANSMISSOR
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 80
No sensor de reIlexo um Ieixe luminoso atinge um disco com um Iuro ou marca de cor
contrastante, que gira. O sensor recebe o Ieixe reIletido, mas na passagem do Iuro a reIlexo e
interrompida (ou no caso de marca de cor clara a reIlexo e maior), e e gerado um pulso pelo
sensor.
O sensor de interrupo de luz usa tambem um disco com Iuro, e a Ionte de luz e o
sensor Iicam em lados opostos. Na passagem pelo Iuro, o Ieixe atinge o sensor, gerando um
pulso.
A Ireqncia destes pulsos e igual a velocidade, em rps, nos dois tipos.
As vantagens destes sensores so o menor tamanho e custo, a maior durabilidade e a
leitura a distncia. E usado em sistemas de controle e tacmetros portateis.
4.1.2.5Sensores de vazo
Servem para medir o Iluxo de liquidos em tubulaes.
4.1.2.5.1 Sensor tipo pa rotativa
Se instalarmos uma turbina ou roda dentada numa tubulao, o Iluxo Iara esta girar,
convertendo a vazo em velocidade, que pode ser medida como ja visto.
4.1.2.5.2 Sensor de Iluxo
A Iuno destes equipamentos e detectar se uma tubulao apresenta ou no Iluxo em
seu interior, ou ainda acusar se houve aumento ou queda de vazo em relao a um valor pre-
estabelecido. Utilizados como elementos de proteo, podem ligar ou desligar alarmes, bombas
ou qualquer outro dispositivo de controle.
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 81
4.1.2.5.3 Sensor por diIerena de presso
Quando uma tubulao se estrangula, pela reduo do dimetro, ha uma queda de
presso, e a velocidade do Iluido aumenta. Medindo-se a diIerena de presso atraves do
desnivel numa coluna de mercurio, pode-se calcular a vazo.
Este processo e usado em medidores de vazo em processos industriais, no
automaticos.
4.1.2.5.4 Medidor de vazo tipo deslocamento positivo
Medidor de vazo VDP utiliza duas engrenagens que so acionadas pelo Iluido cuja
vazo esta sendo medida. Ims insertados nas engrenagens sensibilizam um sensor externo, sem
contato com o Iluido, gerando pulsos de saida. Cada pulso representa um volume bem
conhecido. A unidade eletrnica converte os pulsos em uma unidade de engenharia conhecida
podendo ser mostrado a distncia do display do indicador ou ser transmitido em sinal analogico
de 420mA ou ainda interligado a um equipamento por comunicao serial RS485.
4.1.2.5.5 Medidor de vazo tipo turbina
O medidor de vazo tipo turbina consiste basicamente de
um rotor, montado entre buchas, que gira com uma velocidade
proporcional a velocidade do produto dentro do corpo do medidor.
Um sensor eletromagnetico detecta a velocidade de giro do rotor
gerando um trem de pulsos, que sero condicionados pelo circuito
eletrnico, podendo ser lido em vazo instantnea ou totalizao nas
unidades de engenharia ou Iornecendo sinal de saida em 4 a 20 mA.
4.1.2.5.6 Sensor termico
Quando um gas ou liquido Ilui sobre um corpo aquecido, retira calor deste, reduzindo a
temperatura de Iorma proporcional a velocidade do Iluido.
Se colocarmos um sensor de temperatura, como um NTC, aquecido a uma temperatura
maior que a do Iluido, podemos avaliar a vazo pela variao da resistncia.
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 82
Para obtermos um sinal que compense as variaes na temperatura do Iluido, usamos
um sensor em Ponte de Wheatstone diIerencial. Ha dois NTC`s em contato com o Iluido, mas
um deles protegido do Iluxo, numa cavidade, o qual Iaz a compensao de temperatura. A
diIerena de tenso indica a vazo.
Este sensor em ponte tambem e usado para medir diIerenas de temperatura.
4.1.2.6Sensores de Posio
Em aplicaes em que se necessita monitorar a posio de uma pea, como tornos
automaticos industriais, ou contagem de produtos, ou veriIicar a posio de um brao de um rob
ou o alinhamento de uma antena parabolica com outra ou um satelite, usam-se sensores de
posio.
Os sensores se dividem em posio linear ou angular. Tambem se dividem entre
sensores de passagem, que indicam que Ioi atingida uma posio no movimento, os detectores de
Iim-de-curso e contadores, e sensores de posio que indicam a posio atual de uma pea,
usados em medio e posicionamento.
4.1.2.6.1 Chaves Iim-de-curso
So interruptores que so acionados pela propria pea monitorada. Ha diversos tipos e
tamanhos, conIorme a aplicao.
Ex: Nas gavetas de toca-discos laser e videocassetes ha chaves Iim-de-curso que
indicam que a gaveta esta Iechada, ou ha Iita. Estas inIormaes so necessarias ao
microprocessador, para o acionamento dos motores (e do LED laser).
Tambem se usam com motores, na limitao do movimento, como no caso de um
plotter ou impressora, ou abertura / Iechamento de um registro.
4.1.2.6.2 Sensores Iim-de-curso magnetico:
Quando se aplica um campo magnetico num condutor, as cargas eletricas se distribuem
de modo que as positivas Iicam de um lado e as negativas do lado oposto da borda do condutor.
No caso de um semicondutor o eIeito e mais pronunciado. Surge ento uma pequena tenso nas
bordas do material. E o EIeito Hall.
Ele e a base do sensor magnetico Hall. Atualmente so construidos sensores em circuito
integrado na Iorma de um transistor.
Este pode ser usado como sensor de posio se usado junto a um pequeno im, colocado
na pea. Quando esta e aproximada, o sensor atua, saturando o transistor Hall, Iazendo a tenso
entre coletor e emissor proxima de 0V.
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 83
4.1.2.6.3 Sensor com interruptor de lminas
Como o anterior, mas usando este interruptor acionado pelo im.
Obs: Os dois ultimos tambem se usam como sensores de posio angular. Uma
aplicao interessante e o motor C.C. sem escovas ("brush-less"), onde a comutao e eletrnica,
Ieita quando o rotor, com ims, passa por um sensor Hall, que envia um sinal ao C.I. controlador,
invertendo os polos do motor. E usado em videocassetes, CDP`s e unidades de disco de
computadores, pela grande preciso e Iacilidade de controle da velocidade.
4.1.2.7Sensores Iotoeletricos (opticos)
Os sensores Iotoeletricos, tambem conhecidos por sensores opticos, manipulam a luz de
Iorma a detectar a presena do acionador, que na maioria das aplicaes e o proprio produto.
Baseiam-se na transmisso e recepo de luz inIravermelha (invisivel ao ser humano), que pode
ser reIletida ou interrompida por um objeto a ser detectado.
Os Iotoeletricos so compostos por dois circuitos basicos: um responsavel pela emisso
do Ieixe de luz, denominado transmissor, e outro responsavel pela recepo do Ieixe de luz,
denominado receptor. O transmissor envia o Ieixe de luz atraves de um Iotodiodo, que emite
Ilashes, com alta potncia e curta durao, para evitar que o receptor conIunda a luz emitida pelo
transmissor com a iluminao ambiente. O receptor e composto por um Iototransistor sensivel a
luz, que em conjunto com um Iiltro sintonizado na mesma Ireqncia de pulsao dos Ilashes do
transmissor, Iaz com que o receptor compreenda somente a luz vinda do transmissor.
4.1.2.7.1 Sistema por barreira
O transmissor e o receptor esto em unidades distintas e devem ser dispostos um Irente
ao outro, de modo que o receptor possa constantemente receber a luz do transmissor. O
acionamento da saida ocorrera quando o objeto a ser detectado interromper o Ieixe de luz.
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 84
4.1.2.7.1.1Distncia sensora nominal (Sn)
A distncia sensora nominal (Sn) para o sistema por barreira e especiIicada como sendo
a maxima distncia entre o transmissor e o receptor, o que no impede o conjunto de operar com
distncias menores.
4.1.2.7.1.2Dimenses Minimas do Objeto
Quando um objeto possui dimenses menores que as minimas recomendadas, o Ieixe de
luz contorna o objeto e atinge o receptor, que no acusa o acionamento. Nestes casos deve-se
utilizar sensores com distncia sensora menor e conseqentemente permitem a deteco de
objetos menores.
4.1.2.7.2 Sistema por diIuso (Iotosensor)
Neste sistema o transmissor e o receptor so montados na mesma unidade. Sendo que o
acionamento da saida ocorre quando o objeto a ser detectado entra na regio de sensibilidade e
reIlete para o receptor o Ieixe de luz emitido pelo transmissor.
4.1.2.7.2.1Distncia sensora nominal (Sn)
A distncia sensora nominal no sistema por diIuso e a maxima distncia entre o sensor
e o alvo padro.
4.1.2.7.2.2Distncia sensora eIetiva (Su)
Valor inIluenciado pela industrializao e considera as variaes causadas pela
temperatura de operao:
0,9Sn Sr 1,1Sn
Su 10 Sr
0,81Sn Su 1,21Sn
4.1.2.7.2.3Distncia sensora operacional (Sa)
Para os modelos tipo Iotosensor existem varios Iatores que inIluenciam o valor da
distncia sensora operacional (Sa), explicados pelas leis de reIlexo de luz da Iisica.
Sa 0,81. Sn. F (cor, material, rugosidade, outros).
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 85
Abaixo, so apresentadas 2 tabelas que exempliIicam os Iatores de reduo em Iuno
da cor e do material do objeto a ser detectado.
Nota: Em casos onde ha a necessidade da determinao exata do Iator de reduo, deve-
se Iazer um teste pratico, pois outros Iatores podem inIluenciar a distncia sensora, tais como:
rugosidade, tonalidade, cor, dimenses, etc. Lembramos tambem que os Iatores so
acumulativos, como por exemplo: papelo (0,5) preto (0,5) gera um Iator de 0,25.
4.1.2.7.2.4Zona morta
E a area proxima ao sensor, onde no e possivel a
deteco do objeto, pois nesta regio no existe um ngulo de
reIlexo da luz que chegue ao receptor. A zona morta
normalmente e dada por: 10 a 20 de Sn.
4.1.2.7.3 Sistema reIletivo
Este sistema apresenta o transmissor e o receptor em uma unica unidade. O Ieixe de luz
chega ao receptor somente apos ser reIletido por um espelho prismatico, e o acionamento da
saida ocorrera quando o objeto a ser detectado interromper este Ieixe.
4.1.2.7.3.1Distncia sensora nominal (Sn)
A distncia sensora nominal (Sn) para o sistema reIletivo e especiIicada como sendo a
maxima distncia entre o sensor e o espelho prismatico, sendo possivel monta-los com distncia
menor.
4.1.2.7.3.2Espelho prismatico
O espelho permite que o Ieixe de luz reIletido para o receptor seja paralelo ao Ieixe
transmitido pelo transmissor, devido as superIicies inclinadas a 45, o que no acontece quando a
luz e reIletida diretamente por um objeto, onde a luz se espalha em varios ngulos. A distncia
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 86
sensora para os modelos reIletivos e em Iuno do tamanho (area de reIlexo) e, o tipo de
espelho prismatico utilizado.
4.1.2.7.3.3Deteco de transparentes
A deteco de objetos transparentes, tais como:
garraIas de vidro, vidros planos, etc; podem ser detectados com
a angulao do Ieixe em relao ao objeto, ou atraves de
potencimetros de ajuste de sensibilidade, mas sempre se
aconselha um teste pratico. A deteco de garraIas plasticas
tipo PET, requerem sensores especiais para esta Iinalidade.
4.1.2.7.3.4Deteco de objetos brilhantes
Quando o sistema reIletivo Ior utilizado na deteco de objetos brilhantes ou com
superIicies polidas, tais como: engradados plasticos para vasilhames, etiquetas brilhantes, etc;
cuidados especiais devem ser tomados, pois o objeto neste caso pode reIletir o Ieixe de luz.
Atuando assim, como se Iosse o espelho prismatico, ocasionando a no interrupo do Ieixe,
conIundindo o receptor que no aciona a saida, ocasionando uma Ialha de deteco. A Iim de
evitar que isto ocorra, aconselha-se utilizar um dos metodos:
4.1.2.7.3.4.1 Montagem angular
Consiste em montar o sistema sensor-espelho de Iorma que o Ieixe de luz Iorme um
ngulo de 10o a 30o em relao ao eixo perpendicular ao objeto.
4.1.2.7.3.4.2 Filtro polarizado
Existem sensores com Iiltros
polarizados incorporados, que dispensam o
procedimento anterior. Estes Iiltros
mecnicos servem para orientar a luz
emitida, permitindo apenas a passagem
desta luz na recepo; sendo diIerente da
luz reIletida pelo objeto, que se espalha
em todas as direes.
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 87
4.1.2.7.4 Imunidade a iluminao ambiente
Normalmente, os sensores opticos possuem imunidade a iluminao ambiente, pois
operam em Ireqncias diIerentes. Mas podem ser aIetados por uma Ionte muito intensa, como
por exemplo, uma lmpada Iluorescente de 40W a 15cm do sensor, ou um raio solar incidindo
diretamente sobre as lentes.
4.1.2.7.5 Meio de propagao
Entende-se como meio de propagao, o meio onde a luz do sensor devera percorrer. A
atmosIera, em alguns casos, pode estar poluida com particulas em suspenso, diIicultando a
passagem da luz. A tabela abaixo apresenta os Iatores de atmosIera que devem ser acrescidos no
calculo da distncia sensora operacional (Sa).
4.1.2.7.6 Aplicaes dos sensores opticos
Os sensores opticos possuem uma ampla gama de modelos, dependendo da aplicao.
4.1.2.7.6.1Sensores de contraste (detectores de marcas)
Atuam pelo mesmo principio das Iotocelulas de reIlexo diIusa (chaves
de proximidade) e so capazes de distinguir com preciso diIerentes tonalidades de
cor na escala do preto ao branco.
4.1.2.7.6.2Sensores tipo Iorquilha (garIo)
Sistema unidirecional. Emissor e receptor montados em um mesmo
modulo no Iormato de Iorquilha. Este simbolo tambem e utilizado para indicar
emissor e receptor em corpos separados.
4.1.2.7.6.3Sensores de distncia
Equipamentos que atuam pelo principio diIuso ou retrorreIlexivo,
avaliando o Ieixe de luz reIletido. Nesta operao, eles transIormam o Ieixe de luz
em distancia e Iornecem uma saida.
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 88
4.1.2.7.6.4Sensores de luminescncia
Trabalham pelo mesmo principio das Iotocelulas de reIlexo diIusa, e so
capazes de distinguir marcas impressas de baixo contraste e pigmentao
Iluorescente em materiais onde o olho humano no pode detectar. Os sensores de
luminescncia emitem radiao ultravioleta e recebem luz na mesma Ireqncia.
4.1.2.7.6.5Sensores de cor
Os sensores de cor operam pelo principio tricromatico. Emitem trs cores
basicas (vermelho, azul e verde) sobre os objetos a serem analisados e calculam o
percentual de cada cor no raio reIletido, comparando com os valores previamente
memorizados.
4.1.2.7.6.6Sensores de viso
Fotocelulas compostas por emissor e receptor de luz, instalados em uma unica caixa de
proteo que utilizam cabos de Iibra optica. Dependendo do tipo de cabo a ser
utilizado podem atuar com conIigurao unidirecional, retrorreIlexiva ou reIlexo
diIusa. So recomendadas para instalaes de diIicil acesso e podem identiIicar
objetos de tamanhos bastante reduzidos e em alta temperatura.
4.1.2.7.6.7Sensores de posio
Os sensores de posio so utilizados em aplicaes com armazens e
transportadores onde se necessita de preciso posicionamento de componentes.
4.1.2.7.6.8Sensores tipo grade (barreira) de luz
Trabalha com o principio de reIlexo, que se resume em um reIletor
montado de Iorma oposta ao sensor Iazendo a medio de produtos. Tambem
utilizados para determinar a altura, largura ou captura de objetos irregulares.
As barreiras Iotoeletricas so apropriadas para serem incorporadas em maquinas e
equipamentos perigosos que podem ser interrompidos instantaneamente, atraves de um boto de
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 89
emergncia (ou similar) ou ainda desconectando-se a alimentao, atraves de um dispositivo
chamado elemento de controle primario da maquina (MPCE).
Os sistemas no podem ser aplicados a maquinas ou equipamentos que no possam ser
interrompidos em qualquer posio de seu ciclo de operao.
4.1.2.7.6.9Sensor retrorreIlexivo
Trabalha com o principio de reIlexo e utiliza um reIletor, geralmente de
acrilico e Iormado por pequenos prismas, para reIletir o Ieixe de luz sobre a celula
sensora.
4.1.2.7.6.10 Sensor com cabo de Iibra optica
O Ieixe luz e conduzido por Iibras opticas. Geralmente e utilizado em areas
classiIicadas (ambientes com atmosIera explosiva).
4.1.2.8Sensores de posio especiIica
4.1.2.8.1 Potencimetro
Quando se aplica uma tenso nos extremos de um potencimetro linear, a tenso entre o
extremo inIerior e o centro (eixo) e proporcional a posio linear (potencimetro deslizante) ou
angular (rotativo).
Nos sistemas de controle usam-se potencimetros especiais, de alta linearidade e
dimenses adequadas, de Iio metalico em geral, com menor desgaste.
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 90
4.1.2.9Sensores Capacitivos
Os sensores de proximidade capacitivos so equipamentos eletrnicos capazes de
detectar a presena ou aproximao de materiais orgnicos, plasticos, pos, liquidos, madeiras,
papeis, metais, etc. O principio de Iuncionamento baseia-se na gerao de um campo eletrico,
desenvolvido por um oscilador controlado por capacitor.
O capacitor e Iormado por duas placas metalicas, carregadas com cargas eletricas
opostas, montadas na Iace sensora, de Iorma a projetar o campo eletrico para Iora do sensor,
Iormando assim um capacitor que possui como dieletrico o ar. Quando um material aproxima-se
da Iace sensora, ou seja, do campo eletrico, o dieletrico do meio se altera, alterando tambem o
dieletrico do capacitor Irontal do sensor. Como o oscilador do sensor e controlado pelo capacitor
Irontal, quando aproximamos um material, a capacitncia tambem se altera, provocando uma
mudana no circuito oscilador. Esta variao e convertida em um sinal continuo, que, comparado
com um valor padro, passa a atuar no estagio de saida.
4.1.2.9.1 Face sensora
E a superIicie onde emerge o campo eletrico. E importante notar que os modelos no
embutidos, com regio sensora lateral, so sensiveis aos materiais a sua volta.
4.1.2.9.2 Distncia sensora nominal (Sn)
E a distncia sensora teorica, a qual utiliza um alvo padro como acionador e no
considera as variaes causadas pela industrializao, temperatura de operao e tenso de
alimentao. E a distncia em que os sensores so especiIicados.
4.1.2.9.3 Distncia sensora eIetiva (Su)
Valor inIluenciado pela industrializao e considera as variaes causadas pela
temperatura de operao:
0,9Sn Sr 1,1Sn
Su 10 Sr
0,81Sn Su 1,21Sn
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 91
4.1.2.9.4 Distncia sensora operacional (Sa)
E a distncia que observamos na pratica, sendo considerados os Iatores de
industrializao (81 Sn) e um Iator que e proporcional ao dieletrico do material a ser detectado,
pois o sensor capacitivo reduz sua distncia quanto menor o dieletrico do acionador.
4.1.2.9.5 Material a ser detectado
A tabela abaixo indica o dieletrico dos principais materiais, para eIeito de comparao;
sendo indicado sempre um teste pratico para determinao da distncia sensora eIetiva para o
acionador utilizado.
4.1.2.9.6 Ajuste de sensibilidade
O ajuste de sensibilidade dos sensores capacitivos e protegido por um paraIuso, que
impede a penetrao de liquidos e vapores no sensor. O ajuste de sensibilidade presta-se
principalmente para diminuir a inIluncia do acionamento lateral no sensor, diminuindo-se a
distncia sensora. Permite ainda que se detecte alguns materiais dentro de outros, como por
exemplo: liquidos dentro de garraIas ou reservatorios com visores de vidro, pos dentro de
embalagens, ou Iluidos em canos ou mangueiras plasticas.
4.1.2.10 Sensores indutivos
Os sensores de proximidade indutivos so equipamentos eletrnicos capazes de detectar
a aproximao de peas, componentes, elementos de maquinas, etc, em substituio as
tradicionais chaves Iim de curso. A deteco ocorre sem que haja o contato Iisico entre o
acionador e o sensor, aumentando a vida util do sensor por no possuir peas moveis sujeitas a
desgastes mecnicos.
O principio de Iuncionamento baseia-se na gerao de um campo eletromagnetico de
alta Ireqncia, que e desenvolvido por uma bobina ressonante instalada na Iace sensora.
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 92
A bobina Iaz parte de um circuito oscilador, que em condio normal (desacionada),
gera um sinal senoidal. Quando um metal aproxima-se do campo, este por correntes de superIicie
(Foulcault), absorve a energia do campo, diminuindo a amplitude do sinal gerado no oscilador. A
variao de amplitude deste sinal e convertida em uma variao continua, que comparada com
um valor padro, passa a atuar no estagio de saida.
4.1.2.10.1 Face sensora
E a superIicie onde emerge o campo eletromagnetico.
4.1.2.10.2 Distncia sensora (S)
E a distncia em que se aproximando o acionador da Iace sensora, o sensor muda o
estado da saida.
4.1.2.10.3 Distncia de acionamento
A distncia de acionamento e em Iuno do tamanho da bobina. Assim, no podemos
especiIicar a distncia sensora e o tamanho do sensor simultaneamente.
4.1.2.10.4 Distncia sensora nominal (Sn)
E a distncia sensora teorica, a qual utiliza um alvo padro como acionador e no
considera as variaes causadas pela industrializao, temperatura de operao e tenso de
alimentao. E o valor em que os sensores de proximidade so especiIicados.
Como utiliza o alvo padro metalico, a distncia sensora nominal inIorma tambem a
maxima distncia que o sensor pode operar.
LD (se 3xSnD) ou
L3xSn (se 3xSn~D)
D - dimetro da area onde emerge o campo
eletromagnetico
Sn - distncia sensora nominal
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 93
4.1.2.10.5 Distncia sensora real (Sr)
Valor inIluenciado pela industrializao, especiIicado em temperatura ambiente (20oC)
e tenso nominal, com desvio de 10: 0,9Sn Sr 1,1Sn
4.1.2.10.6 Distncia sensora eIetiva (Su)
Valor inIluenciado pela temperatura de operao, possui um desvio maximo de 10
sobre a distncia sensora real.
0,81Sn Su 1,21Sn
4.1.2.10.7 Distncia sensora operacional (Sa)
E a distncia em que seguramente pode-se operar, considerando-se todas as variaes de
industrializao, temperatura e tenso de alimentao.
0 Sa 0,81Sn
4.1.2.10.8 Material do acionador
A distncia sensora operacional varia ainda com o tipo de metal, ou seja, e especiIicada
para o Ierro ou ao e necessita ser multiplicada por um Iator de reduo.
4.1.2.10.9 Histerese
E a diIerena entre o ponto de acionamento (quando o alvo metalico aproxima-se da
Iace sensora) e o ponto de desacionamento (quando o alvo aIasta-se do sensor). Este valor e
importante, pois garante uma diIerena entre o ponto de acionamento e desacionamento,
evitando que em uma possivel vibrao do sensor ou acionador, a saida oscile.
4.1.2.10.10 Repetibilidade
Pode ser considerado como a preciso do ponto de acionamento. Este parmetro
quantiIica a variao da distncia sensora nominal com as variaes de tempo, temperatura e
tenso de alimentao. E calculado como a maxima variao da distncia sensora, entre dois
acionamentos consecutivos em um processo de 8 horas (15oC temp 30oC) com 5de
derivao da tenso de operao, normalmente e expresso em mm.
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 94
4.1.2.11 ConIiguraes eletricas em corrente continua
Os sensores de proximidade possuem diIerentes tipos de estagio de saida, o que
chamamos de conIigurao eletrica do sensor. A conIigurao eletrica em corrente continua e
muito usual na area de automao de processos, e sempre deve ser a primeira opo durante o
projeto.
4.1.2.11.1 Sensores de corrente continua a 3 e 4 Iios
Os sensores de proximidade em corrente continua so alimentados por uma Ionte em
CC. Possuem no estagio de saida um transistor que tem como Iuno chavear (ligar e desligar) a
carga conectada ao sensor. Existe, ainda, dois tipos de transistor de saida, um que chaveia o
terminal positivo da Ionte de alimentao, conhecido como PNP; e o tipo que chaveia o negativo
da Ionte, conhecido como NPN.
4.1.2.11.1.1 Funo de saida
4.1.2.11.1.1.1 Normalmente aberto - NA
Onde o transistor de saida esta normalmente cortado, ou seja: com o sensor desatuado
(sem o acionador na regio de sensibilidade), a carga esta desenergizada, pois o transistor de
saida esta aberto (cortado). A carga so sera energizada quando o acionador entrar na regio de
sensibilidade do sensor.
4.1.2.11.1.1.2 Normalmente Iechado - NF
Onde o transistor de saida esta normalmente saturado, ou seja: com o sensor desatuado
(sem o acionador na regio de sensibilidade), a carga esta energizada, pois o transistor de saida
esta Iechado (saturado). A carga so sera desenergizada quando o acionador entrar na regio de
sensibilidade do sensor.
4.1.2.11.1.1.3 Saida reversora
Em um mesmo sensor, podemos ter uma saida normalmente aberta e outra normalmente
Iechada, que permutam quando o sensor e acionado.
4.1.2.11.1.2 Corrente de chaveamento
Esta e uma das caracteristicas mais importante dos sensores de corrente continua, pois
determina a potncia da carga. E conceituada como a maxima corrente que pode ser comutada
pelo transistor de saida sem daniIica-lo. Se o sensor no possui um circuito de proteo contra
curto circuito, qualquer sobrecarga daniIicara permanentemente o transistor de saida.
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 95
Cuidado:
Na instalao e manuteno, pois uma Ierramenta que
encoste nos terminais daniIica instantaneamente o sensor.
Lembre-se:
Valvulas solenoides, lmpadas, possuem alta corrente
de pico que pode daniIicar o sensor.
4.1.2.11.1.3 Tenso de alimentao
Normalmente, os sensores de proximidade indutivos apresentam uma Iaixa para a
tenso de alimentao, onde o sensor pode operar em qualquer tenso dentro da Iaixa, ex: 10 a
30Vcc.
4.1.2.11.1.3.1 Queda de tenso
E o residuo de tenso entre o coletor/emissor do transistor de
saida, sendo um valor normalmente abaixo de 2V.
Cuidado:
Quando utilizar sensores do tipo NPN comutando portas TTL,
veriIique se o sensor possui queda de tenso menor que 0,5V, pois a
queda de tenso pode ser interpretada como se o sensor estivesse
acionado.
4.1.2.11.1.4 Resistncia de saida
Os sensores indutivos normalmente so Iornecidos com
resistncia de coletor no transistor de saida, esta serve para diminuir a
impedncia do circuito quando o transistor esta cortado.
4.1.2.11.1.5 Proteo contra inverso de polaridade
Todos os sensores de corrente continua possuem proteo contra inverso de polaridade
(troca do terminal positivo pelo negativo).
4.1.2.11.1.6 Proteo contra curto-circuito
Quase todos os sensores possuem proteo contra curto circuito e sobrecarga.
Existem trs tipos de proteo disponiveis:
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 96
4.1.2.11.1.6.1 Proteo oscilante:
Esta proteo desliga o transistor de saida, quando a corrente de saida esta acima do
maximo permitido gerando um sinal pulsado sobre a carga.
4.1.2.11.1.6.2 Proteo termica
Neste tipo de proteo usa um resistor termico em conjunto com o transistor de saida,
que em condio normal de operao apresenta baixa impedncia (cerca de 1O) e em caso de
sobrecarga rapidamente eleva sua resistncia, desenergizando a saida, protegendo o sensor. Apos
a sobrecarga o sensor necessita de alguns segundos para restabelecer a impedncia do resistor
termico.
4.1.2.11.1.6.3 Proteo microprocessada
A sobrecarga e o curto circuito so testados rapidamente pelo microprocessador antes
mesmo que qualquer dano possa ocorrer no transistor de saida, sendo sinalizado pelo led do
sensor que pisca 2 vezes por segundo enquanto durar a anomalia.
E importante lembrar que mesmo os sensores com proteo podem ser daniIicados por
pulsos de tenso quando a energia Ior maior que a maxima suportada.
4.1.2.11.2 Modelos em corrente continua a 2 Iios
Nesta verso, o estagio de saida possui apenas dois terminais, que devem ser ligados em
serie com a carga. Quando a carga esta desenergizada, Ilui uma pequena corrente residual na
carga, e quando a carga esta energizada, surge uma queda de tenso no sensor. Isto porque o
sensor e alimentado pela carga (ligada em serie).
4.1.2.11.2.1 Tenso residual
Quando o sensor esta acionado, aparece uma queda de tenso de aproximadamente 5V,
que deve ser considerada para eIeito da energizao da carga, principalmente em circuitos
eletrnicos e controladores programaveis (exemplo: com a alimentao de 24Vcc, o sensor
Iornece 19V a carga, que deve seguramente ser necessaria para o acionamento da carga).
4.1.2.11.2.2 Corrente residual
E a corrente que circula pela carga quando o sensor esta desacionado, com valor de
aproximadamente 2,5 mA, necessaria para alimentao do sensor. Deve-se certiIicar que cargas
de alta impedncia, como controladores, no sejam acionadas devido a corrente de Iuga.
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 97
4.1.2.11.2.3 Carga minima
O sensor a dois Iios requer uma carga minima, aproximadamente 5 mA, para manter o
sensor alimentado enquanto a carga estiver energizada. Deve-se tomar o cuidado de checar a
corrente de consumo, principalmente de controladores logicos, visando a compatibilidade entre
os equipamentos.
4.1.2.11.3 Sensores de corrente continua tipo Namur
Esta conIigurao e muito semelhante aos sensores de corrente continua convencionais,
diIerenciando-se apenas por no possuir o estagio de saida, com o transistor de chaveamento.
Sendo normalmente utilizada para sensores indutivos de pequenas dimenses, onde circuitos
eletrnicos mais complexos e maiores no seriam possiveis de montar. Outra aplicao tipica
para os sensores Namur so as atmosIeras potencialmente explosivas de Industrias Quimicas e
Petroquimicas, pois no possuem estagio de saida comutando potncias elevadas. Podem ser
construidos segundo as Normas de Segurana Intrinseca, que prevem a manipulao de baixa
energia eletrica, evitando a detonao da atmosIera quer por Iaiscas eletricas ou pelo eIeito
termico de superIicies aquecidas.
4.1.2.11.3.1 Principio de Iuncionamento
Foram especialmente projetados segundo as especiIicaes da Norma Tecnica
DIN19234, que prev o sensor sem o estagio de saida. O circuito consome uma corrente de
aproximadamente 3 mA, quando esta desacionado. Com a aproximao do alvo metalico que
absorve energia do campo eletromagnetico, o consumo de corrente cai para aproximadamente 1
mA.
4.1.2.11.3.2 AmpliIicador externo
Como o sensor indutivo tipo Namur no possui
ampliIicador interno, deve ser conectado ao ampliIicador externo
que detectara a variao de corrente entre 3mA e 1mA, podendo
acionar um transistor para comutao de cargas de potncia.
4.1.2.11.3.3 Barreira de segurana intrinseca
Os sensores Namur devem ser conectados com Repetidores Digitais Intrinsecamente
Seguros (Barreiras de Segurana Intrinseca), que so os equipamentos capazes de limitar a
energia eletrica enviada ao sensor, de Iorma a no existir energia armazenada no sensor capaz de
detonar a atmosIera potencialmente explosiva.
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 98
Cuidado:
As Barreiras de Segurana Intrinseca podem apresentar-se como os ampliIicadores, que
no so proprios para instalaes intrinsecamente seguras e pem em risco a segurana da
instalao.
4.1.2.11.4 Associao de sensores
Os sensores de proximidade com conIigurao eletrica em corrente continua permitem a
associao em serie ou em paralelo, tomando-se os devidos cuidados.
4.1.2.11.4.1 Associao em serie
Neste tipo de associao nota-se que a tenso residual
pode chegar a valores signiIicativos, portanto aconselha-se
calcular a queda de tenso na carga:
Vc V - n . Vres
Vc - tenso minima permissivel
V - tenso de alimentao
Vres - tenso residual no sensor
n - numero de sensores
Deve-se ainda analisar a corrente de chaveamento, que
nos primeiros sensores pode chegar a valores acima do
permitido.
I Ic (n - 1) . Icons Im
I - corrente de chaveamento no 1o sensor
Ic - corrente de carga
Icons - corrente de consumo do sensor
Im - maxima corrente de chaveamento permissivel no 1o
sensor
n - numero de sensores
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 99
Obs: Tambem e possivel a conexo dos sensores com contatos mecnicos.
4.1.2.11.4.2 Associao em paralelo
Neste tipo de associao deve-se colocar um diodo em cada saida, para evitar que ao
acionar um sensor, no acenda o led dos outros.
Obs: Tambem e possivel a conexo dos sensores com contatos mecnicos.
4.1.2.12 Fonte de alimentao
A Ionte de alimentao para sensores em corrente continua e muito importante, pois
dela depende a estabilidade de Iuncionamento e a vida util do sensor. Uma boa Ionte de
alimentao deve possuir Iiltros que diminuem os eIeitos dos ruidos eletricos (transitorios)
gerados pelas cargas, que podem ate daniIicar os sensores de proximidade e outros equipamentos
eletrnicos, conectados a Ionte. Desta Iorma, indicamos a utilizao de Iontes reguladas ou
chaveadas, que apesar do custo inicial maior, propiciam maior conIiabilidade na instalao.
4.1.2.12.1 Onda completa
Esta Ionte no e adequada, pois o ripple e muito alto (ripple ~10) e existem os pontos
proximos a t1, t2, em que a tenso e praticamente nula, alem da tenso de pico ser muito maior
que o valor medio.
4.1.2.12.2 RetiIicada com Iiltro
Esta Ionte pode ser adequada dependendo do ripple, que deve ser calculado com todas
as cargas ligadas a Ionte. Ideal para cargas inIeriores a 300mA.
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 100
4.1.2.12.3 Fonte triIasica
Esta Ionte apresenta ripple 5sem o uso de capacitor de Iiltro e tambem pode ser
aplicada com sensores desde que no existam muitas cargas indutivas.
4.1.2.12.4 Regulada
Esta Ionte e a mais adequada para aplicao com sensores indutivos, pois a saida de
tenso permanece constante independentemente das variaes da rede eletrica.
4.1.2.12.5 Fontes chaveadas
As Iontes chaveadas normalmente possuem a saida protegida contra curto circuito na
carga, e completamente estabilizada independente das variaes da rede eletrica.
Devido ao sistema de retiIicao e oscilao, a Ionte elimina os picos de tenso gerados
pela rede, aumentando assim a vida util dos sensores de proximidade e outros circuitos
eletrnicos ligados a Ionte.
4.1.2.12.6 Ripple
O ripple e a ondulao da tenso continua, sendo uma componente CA, Iaz com que o
sensor oscile a saida (mantendo o led meio aceso) e podendo causar danos irreparaveis ao sensor.
Normalmente, os sensores suportam ate 10 de ripple.
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 101
4.1.2.12.7 Ruidos de linha
A Ionte de alimentao que servir a sensores de
proximidade e a elementos geradores de ruidos tais como: valvulas
solenoides, eletroims, etc; possuira ruidos que podero introduzir
acionamentos indevidos, ou ate mesmo daniIicar os sensores.
4.1.2.12.7.1 Exemplo de instalao desaconselhavel
Nota: Em sistemas com muitas cargas indutivas, aconselha-se utilizar Iontes separadas.
4.1.2.12.7.2 Exemplo com controlador programavel
A Ionte 1 e uma Ionte regulada de baixa potncia, somente para consumo dos cartes de
entrada do controlador. Ja a Ionte 2 e de potncia e no requer soIisticao, podendo ser
simplesmente um retiIicador, o que normalmente e suIiciente para cargas indutivas. E a queda de
tenso que permanece no sensor quando a carga esta energizada, torna-se importante com cargas
de alta impedncia. No sensor a 3 Iios a queda de tenso e muito pequena (1Vca) e nos sensores
a 2 Iios a queda e maior (de 4 a 10Vca dependendo do Iabricante), pois este residuo de tenso
mantem o sensor alimentado.
4.1.2.13 Sensores de corrente alternada
Os sensores de corrente alternada Ioram, verdadeiramente, desenvolvidos para a
substituio das chaves Iim de curso. Possuem o estagio de saida composto por um tiristor,
proprio para chaveamento de corrente alternada, conectado exatamente como um contato
mecnico.
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 102
4.1.2.13.1 Principio de Iuncionamento
O sensor de corrente alternada a 2 Iios possui no estagio de saida uma ponte retiIicadora
em conjunto com um SCR, tornando o sensor apto a conduzir corrente no polarizada
(alternada).
Quando o estagio de saida esta desacionado, o tiristor permanece bloqueado e a carga
desenergizada, sendo que uma pequena corrente de Iuga Ilui atraves da carga, necessaria para
manter o sensor Iuncionando e insuIiciente para causar queda de tenso signiIicativa na carga.
Quando o estagio de saida esta acionado, o tiristor de saida passa a conduzir,
energizando a carga, restando apenas uma pequena queda de tenso no sensor, que no interIere
no Iuncionamento e permite manter o sensor alimentado.
4.1.2.13.2 Modelos de 3 e 4 Iios
Estes modelos utilizam tecnologia mais antiga, sendo muito semelhantes aos sensores
de corrente continua, pois possui dois Iios para alimentao interna e um terceiro que e
conectado a carga, podendo ser normalmente aberto, Iechado ou reversivel.
4.1.2.13.3 Tenso de alimentao
Normalmente, os sensores de proximidade indutivos apresentam uma Iaixa para a
tenso de alimentao, onde o sensor pode operar em qualquer tenso dentro da Iaixa, exemplo:
20 a 250 Vca.
4.1.2.13.4 Tenso residual
E a queda de tenso que permanece no sensor quando a carga esta energizada, torna-se
importante com cargas de alta impedncia. No sensor a 3 Iios a queda de tenso e muito pequena
(1Vca) e nos sensores a 2 Iios a queda e maior (de 4 a 10Vca dependendo do Iabricante), pois
este residuo de tenso mantem o sensor alimentado.
4.1.2.13.5 Corrente maxima de chaveamento
E a maxima corrente que o sensor pode comutar sem daniIicar permanentemente o
tiristor de saida. Normalmente os sensores so Iabricados para 500mA.
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 103
4.1.2.13.6 Corrente de surto
E a maxima corrente de pico permitida no ligamento (na chamada) de um circuito
indutivo (solenoides, chaves magneticas, etc). Normalmente, e especiIicada com durao menor
que 20ms e uma Ireqncia de acionamento menor que 1Hz, com valores tipicos de 2A e 4A.
4.1.2.13.7 Corrente residual
E a corrente que circula pela carga quando o tiristor de saida esta bloqueado e e
necessaria para alimentao interna do sensor. No caso do sensor a 2 Iios, este valor
normalmente e menor que 5mA; e no modelo a 3 Iios e praticamente nulo.
Cuidado: em aplicaes com controladores programaveis e sensores a 2 Iios, veriIique
se a corrente residual no acionara o carto de entrada, pois pode causar queda de tenso
entendida como nivel logico '1".
4.1.2.13.8 Corrente de carga minima
Os sensores a 2 Iios necessitam de uma corrente minima, para manter o sensor
alimentado quando a carga estiver acionada. Portanto, a carga deve consumir no minimo 5 mA,
para evitar quedas de tenses elevadas quando o sensor esta desacionado.
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 104
4.1.2.13.9 Corrente de consumo
Este parmetro e aplicavel somente a sensores a 3 Iios, sendo medido com a carga
desconectada, indicando assim, a corrente que realmente e consumida apenas para o
Iuncionamento do sensor.
4.1.2.13.10 Protees
Os sensores indutivos CA possuem um varistor que limita a tenso contra-eletromotriz,
gerada na abertura das cargas indutivas. Quando a corrente de surto e acima do permitido pelo
sensor, o varistor tende a limitar, provocando a queima de seus cristais, reduzindo assim a vida
util do sensor.
4.1.2.14 Cuidados na instalao
Aqui, esto relacionados os principais cuidados que o usuario deve observar durante a
instalao e operao dos sensores eletrnicos de proximidade. A no observao destes itens
pode provocar o mau Iuncionamento e ate mesmo um dano permanente no sensor, com a
conseqente perda da garantia.
4.1.2.14.1 Cuidados gerais
Abaixo esto relacionados os principais cuidados que devem ser observados durante a
instalao do sensor.
4.1.2.14.1.1 Cabo de conexo
Evitar que o cabo de conexo do sensor seja submetido a qualquer tipo de esIoro
mecnico.
4.1.2.14.1.2 Oscilao
Como os sensores so impregnados com resina, e possivel utiliza-los em maquinas e
equipamentos com movimentos, mas devemos Iixar o cabo junto ao sensor, atraves de
braadeiras ou suporte com paraIuso, permitindo que somente o meio do cabo oscile, evitando
desta Iorma, a quebra do cabo.
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 105
4.1.2.14.1.3 Suporte de Iixao
Evitar que o sensor soIra impactos com outras partes ou
peas, e no seja utilizado como apoio.
4.1.2.14.1.4 Partes moveis
Durante a instalao, observar atentamente a distncia sensora do sensor e sua posio,
evitando desta Iorma, impactos com o acionador.
4.1.2.14.1.5 Porcas de Fixao
Evitar o aperto excessivo das porcas de Iixao, no ultrapassando o torque maximo.
4.1.2.14.1.6 Produtos Quimicos
Nas instalaes em ambientes agressivos, especiIicar o sensor mais adequado para cada
aplicao.
4.1.2.14.1.7 Condies ambientais
Evitar submeter o sensor a condies ambientais com temperatura de operao acima
dos limites do sensor.
4.1.2.14.2 Sensores Capacitivos
Os sensores capacitivos so inIluenciados pela densidade do meio onde o sensor esta
instalado, portanto, deve-se tomar cuidados adicionais com poeira, umidade e acumulo de
detritos proximo ao sensor.
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 106
Outro ponto importante do sensor capacitivo e o potencimetro de ajuste de
sensibilidade, que deve ser precisamente calibrado e lacrado pelo paraIuso de proteo.
4.1.2.14.3 Sensor Iotoeletrico
Os sensores Iotoeletricos tambem esto sujeitos a poeira e umidade, portanto, deve-se
promover periodicamente a limpeza dos espelhos e lentes.
Apesar do grau de proteo dos sensores opticos permitir ate respingos d`agua, deve-se
evitar o acumulo de liquidos junto as lentes, pois podera provocar um acionamento Ialso, quando
interromper o Ieixe de luz.
4.1.2.14.4 Sensores de corrente continua
Utilizar o sensor para acionar altas cargas indutivas, podera daniIicar permanentemente
o estagio de saida dos sensores sem proteo contra curto circuito, alem de gerar altos picos de
tenso na Ionte.
4.1.2.14.4.1 Fonte de alimentao
Vide as recomendaes do item 5 e evite utilizar a mesma Ionte de alimentao para
sensores de proximidade e circuitos de acionamento com altas cargas indutivas, principalmente
se a Ionte no Ior regulada.
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 107
4.1.2.14.4.2 Cablagem
ConIorme as recomendaes das normas tecnicas, deve-se evitar que os cabos de
sensores de proximidade e instrumentos de medio e controle em geral utilizem os mesmos
eletrodutos que os circuitos de acionamento.
Nota: apesar dos sensores possuirem Iiltros para evitar ruidos transitorios, se os cabos
dos sensores ou da Ionte de alimentao utilizarem as mesmas canaletas ou leitos de cabos de
circuitos com motores, Ireios eletricos, contactores e disjuntores, etc; as tenses induzidas podem
possuir energia suIiciente para daniIicar permanentemente os sensores.
4.1.2.14.5 Sensores de corrente alternada
No se deve utilizar lmpadas incandescentes com os sensores de corrente alternada,
pois a resistncia do Iilamento quando Irio provoca alto consumo de corrente, que pode daniIicar
permanentemente o sensor. As cargas indutivas, tais como contactores, reles, solenoides, etc;
devem ser bem especiIicados pois tanto a corrente de chaveamento como a corrente de surto
podem daniIicar o sensor. Os cabos dos sensores de corrente alternada devem tambem,
preIerencialmente, utilizar canaletas e eletrodutos separados dos elementos de potncia, evitando
a induo de correntes parasitas.
4.1.2.14.6 Capacitncia do cabo
Os cabos dos sensores, geralmente, possuem cerca de 2 metros de comprimento.
Quando necessario ampliar esta distncia, o comprimento excessivo do cabo introduz uma
capacitncia parasita que pode causar danos aos sensores durante o chaveamento dos mesmos.
Para minimizar este eIeito, recomenda-se instalar uma indutncia de cerca de 470 H em serie
com o cabo.
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 108
4.1.2.15 Sensores de nivel
4.1.2.15.1 Chave de nivel pendular tipo pra
Um interruptor de mercurio ou micro-switch
protegido contra choques por uma camada de silicone,
Iixados em posio adequada dentro de um involucro em
polipropileno, e suspenso por seu proprio cabo eletrico.
Quando o nivel do liquido aumenta (caixa d`agua ou
tanque de produto cheio), toca na parte abaulada do
regulador, este se inclina e neste momento o interruptor
de mercurio ou micro-switch abre um contato e Iecha
outro (SPDT), permitindo ou impedindo a passagem
eletrica, ligando ou desligando bomba ou alarmes sonoros
e visuais.
4.1.2.15.2 Chave de nivel tipo boia magnetica
Uma boia deslizando sobre uma haste vertical aciona por
acoplamento magnetico reed-switches, permitindo a passagem ou
obstruindo o sinal eletrico.
4.1.2.15.3 Chave de nivel tipo deslocador
Seu Iuncionamento baseia-se no principio de Arquimedes. E composto
por deslocadores Iixados em um cabo que por sua vez esta acoplado a uma mola
ligada a haste de um nucleo magnetico.
Na posio de repouso, (tanque, vazio), a mola esta esticada pelo peso
dos deslocadores, pois a unica Iora exercida neles e da gravidade. Quando o
nivel sobe, comea a existir a Iora de empuxo no deslocador, Iazendo que a
mola se contraia, esta empurra o nucleo magnetico ate o ponto de acionamento.
O im ao se movimentar pressiona a alavanca do microrruptor, o qual
abre ou Iecha os contatos.
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 109
4.1.2.15.4 Chave de nivel capacitiva
A sonda (haste ou cabo) e a parede metalica do
reservatorio Iormam um capacitor. Se a sonda esta no ar
(constante dieletrica 1) a capacitncia e pequena; se a
sonda e, ao menos parcialmente, coberta com o material
(constante dieletrica acima de 2), a capacitncia aumenta
e o rele e acionado.
4.1.2.15.5 Chave de nivel condutiva
Os eletrodos (sensores) so dispostos nas alturas
onde se deseja controlar os niveis do liquido, no
reservatorio. O liquido, atingindo o eletrodo terra e o
eletrodo de atuao, Iecha o circuito pela sua propria
condutividade, acionando um circuito eletrico que por sua
vez comuta o rele de saida. A sensibilidade do detector e
ajustavel em Iuno da condutividade do liquido a ser
controlado.
4.1.2.15.6 Chave de nivel vibratoria
Um oscilador piezo - eletrico excita a haste que passa a
vibrar, e quando o material envolve a mesma, muda a Ireqncia de
vibrao acionando um rel. No momento que o material baixa libera a
haste, esta volta a sua vibrao normal e o rel abre.
4.1.2.15.7 Chave de nivel ultra-snica
Chave de nivel pelo principio de ultra-som e utilizada onde se
necessita um controle pratico e preciso de nivel sem contato Iisico com o
produto. Controla nivel de liquidos, pastosos e solidos. Corpo em ao inox
304 ou em PVC. Alcance de ate 4 m para liquidos, com "trip" (contato)
ajustavel em qualquer ponto da Iaixa atraves de potencimetro e LED
indicador na parte traseira do equipamento.
4.1.2.15.8 Transmissor de nivel a dois Iios intrinsecamente seguro
Uma boia magnetica deslizante sobre uma haste vertical aciona por acoplamento
magnetico sensores eletrnicos que geram sinais de baixa energia. Estes sinais so ampliIicados
e convertidos pela unidade eletrnica em sinal padro de 4-20 mA para transmisso a longa
distncia.
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 110
4.1.2.15.9 Sensor de nivel condutivo
Desenvolvidos para aplicaes que envolvem o
controle/deteco de nivel de liquidos condutivos em
tanques, reservatorios, poos proIundos ou locais
remotos, so de Iacil instalao, no apresentam partes
moveis e portanto, praticamente no necessitam de
manuteno constante. Disponiveis em duas verses :
haste rigida e Ilexivel. Alarme de nivel
alto/intermediario/baixo em tanques ou poos artesianos,
controle de dispositivos como bombas/valvulas e controle
de nivel em caldeiras ou vasos de presso so aplicaes tipicas das chaves condutivas.
4.1.2.15.10 Sensor de nivel hidrostatico
So utilizados em aplicaes onde e
necessario monitorar o nivel de liquido
continuamente, seja em tanques, reservatorios ou
poos artesianos. No possuem partes moveis e no
so aIetados por turbulncia, espuma, gases/vapores
ou por variaes de determinadas caracteristicas do
Iluido como constante dieletrica ou condutividade.
Esto disponiveis em dois modelos : pendular e
lateral. Entre as aplicaes tipicas encontram-se :
medio de nivel de tanques contendo agua, liquidos
viscosos, produtos quimicos, alimenticios, etc., em
poos proIundos ou locais de diIicil acesso e instalao.
4.1.2.15.11 Sensor de nivel capacitivo
Desenvolvidos para a medio e controle/deteco de
nivel, estes instrumentos no apresentam partes moveis e devido
ao seu principio de operao (RHF/capacitncia), so
extremamente versateis, podendo ser utilizados com os mais
variados produtos: liquidos condutivos ou no, viscosos,
agressivos, materiais granulados, pos, polpas, entre outros.
Disponiveis em modelos para condies criticas de temperatura e
presso ou aplicaes pesadas como minerios, brita, entre outros.
4.1.2.15.12 Medidor de interIaces
Medidor de interIaces, como o proprio nome diz, e um instrumento cuja Iuno e
monitorar continuamente o nivel de material que se encontra assentado no Iundo do tanque, que
podem ser tanto abertos como Iechados. E composto por um sensor e uma unidade eletrnica.
Sua operao e baseada na emisso e recepo de pulsos de ultra-som que se propagam atraves
do meio liquido sendo analisados e processados por um circuito eletrnico microprocessado .
Dentre as varias aplicaes destacam-se : medio do nivel de lodo em sistemas de tratamento de
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 111
eIluentes (clariIicadores primario e secundario), tanques de licor (industrias de papel e celulose),
espessadores (minerao), etc.
4.1.2.16 Encoders
So sensores que atuam por transmisso de luz. Alem dos ja vistos, ha os encoders
(codiIicadores), que determinam a posio atraves de um disco ou trilho marcado.
Dividem-se em relativos, nos quais a posio e demarcada por contagem de pulsos
transmitidos, acumulados ao longo do tempo, e absolutos, onde ha um codigo digital gravado no
disco ou trilho, lido por um conjunto de sensores opticos (Ionte de luz e sensor). Os codigos
adotados so os de Gray, nos quais de um numero para o seguinte so muda um bit, o que Iacilita
a identiIicao e correo de erros.
A demarcao do disco ou trilho e Ieita atraves de Iuro ou ranhuras, ou por pintura num
disco plastico transparente, que podem ser Ieitos atraves de tecnicas IotolitograIicas, permitindo
grande preciso e dimenses micrometricas.
A Ionte de luz e geralmente o LED, e o sensor um Iotodiodo ou Iototransistor.
Estes sensores so muito precisos e praticos em sistemas digitais (encoder absoluto), e
usam-se em robs, maquinas-Ierramenta, CNC e outros.
4.1.2.17 Transmissores via radio
Sistema de transmisso de sinais via radio proporciona ao usuario grande versatilidade,
economia com condutores eletricos e conduites alem de ser Iacil de instalar e exigir quase
nenhuma manuteno. Este sistema e composto por um transmissor (proximo ao medidor de
campo) e um receptor (em uma sala de controle), podendo estar distantes um do outro ate 24 km
(vista a vista - dependendo do modelo de antena utilizado). O transmissor envia um sinal
analogico de 4-20 mA e dois sinais digitais (on-oII) para o receptor. Sua operao baseia-se na
tecnologia de espalhamento espectral (tecnica de saltos em Ireqncia). Possui varias aplicaes
como monitoramento e controle de tanques ou reservatorios distantes, sistemas de tratamento de
eIluentes, irrigao, controle de bombas, entre outros.
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 112
4.1.2.18 Indicadores e controladores
So instrumentos projetados para indicar os valores das varaveis medidas e/ou controla-
las. Podem receber uma grande variedade de sinais ou sensores, convertendo-os em indicao
visual, podendo transmitir o valor da variavel atraves de um sinal analogico linear ou digital
(RS), alem de permitir eIetuar o controle por meio de rels.
4.1.3 Aes de Controle
4.1.3.1Controle liga-desliga
O controlador compara o sinal de entrada com a realimentao, e se a saida supera a
entrada, desliga o atuador, se a realimentao Ior menor, liga o atuador.
Ex.: Nos Iornos eletricos e geladeiras, o caleIator ou compressor e controlado por um
termostato, que e um controlador liga-desliga com par bimetalico (um dos metais se dilata mais
que o outro, vergando-se e abrindo o contato). Ao se desligar, o ambiente Iaz a temperatura
mudar algum tempo depois e o bimetalico retorna a posio, Iechando o contato e ligando o
atuador.
As vantagens deste controlador so a simplicidade e o baixo custo, as desvantagens so
a continua oscilao da saida entre os limites de atuao do controlador, histerese, no
garantindo preciso e podendo desgastar controlador e atuador pelo excesso de partidas.
4.1.3.2Controle Proporcional
A saida e proporcional ao sinal de erro (diIerena entre entrada e realimentao), de
modo que o atuador opera continuamente, com potncia variavel. O controlador e simplesmente
um ampliIicador.
Este sistema e ainda simples e de baixo custo, tendo uma preciso boa, mas nem sempre
e rapido, e pode se tornar instavel, se o ganho Ior muito alto. Instabilidade e a situao em que o
controlador reage muito rapido, e a saida passa do valor na entrada sem que haja a reverso da
tendncia, o que pode levar a saturao do ampliIicador ou a oscilao continua em torno do
valor na entrada (gerao de onda senoidal na saida, sem entrada).
Ex.: Muitos dos sistemas de controle de velocidade de motores so proporcionais,
inclusive o controle de automoveis por um motorista.
Note que, sendo um ampliIicador do sinal de erro, sempre tem que haver um erro apos o
transitorio, periodo inicial durante o qual o controlador reage intensamente, para manter
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 113
acionado o atuador. E o erro de regime permanente, que e inversamente proporcional ao ganho
do controlador. O regime permanente e a Iase apos o transitorio, durante o qual a saida
permanece quase estavel (controlada).
Este erro limita a preciso do controle proporcional.
4.1.3.3Controle Integral
Este controle utiliza um integrador como controlador. O integrador e um circuito que
executa a operao matematica da integrao, que pode ser descrita como o somatorio dos
produtos dos valores instantneos da grandeza de entrada por pequenos intervalos de tempo,
desde o instante inicial ate o Iinal (periodo de integrao). Isto corresponde a area entre a curva
da grandeza e o eixo do tempo, num graIico.
Ex.: Se a grandeza Ior constante, G, a integral desta entre um tempo t1 0 e um tempo
t2 sera igual a G t2, que corresponde a area, no graIico da grandeza, de um retngulo naquele
intervalo de tempo. Se Iizermos um graIico da integral desde o tempo t1 ate t2, teremos uma reta
desde 0 ate G t2, pois a area (ou o somatorio) ira aumentando a medida que o tempo passa.
O uso do integrador como controlador Iaz com que o sistema Iique mais lento, pois a
resposta dependera da acumulao do sinal de erro na entrada, mas leva a um erro de regime
nulo, pois no e necessario um sinal de entrada para haver saida do controlador, e acionamento
do atuador apos o periodo transitorio. Assim o controle e muito preciso, embora mais lento.
4.1.3.4Controle Proporcional e Integral:
E a combinao dos dois controles anteriores, realizada pela soma dos sinais vindos de
um ampliIicador e um integrador.
Este controlador alia a vantagem do controle proporcional, resposta mais rapida, com a
do integral, erro de regime nulo. E mais usado que os anteriores.
4.1.3.5 Controle Proporcional e Derivativo:
Combinao entre o controle proporcional e o derivativo, que se baseia no
diIerenciador, um circuito que executa a operao matematica derivada. Esta pode ser entendida
como o calculo da taxa (ou velocidade) de variao da grandeza de entrada, em relao ao tempo
(ou outra grandeza). Isto se assemelha a media entre os valores da grandeza entre dois instantes,
se estes instantes Iorem sucessivos (intervalo muito pequeno), esta media sera a derivada da
grandeza no instante inicial. Assim, a derivada indica a tendncia de variao da grandeza.
O controle apenas derivativo no seria viavel, pois no responderia ao sinal de erro, mas
somente a sua tendncia de variao.
Quando somada a saida proporcional do ampliIicador com a do diIerenciador, ambos
tendo o sinal de erro na entrada, temos o controlador proporcional e derivativo.
A vantagem deste controle e a velocidade de resposta, que se deve a imediata reao do
diIerenciador: inicialmente, o erro e grande, e o diIerenciador Iornece um sinal Iorte ao atuador,
que provoca rapida variao na grandeza controlada, a medida que o erro vai diminuindo, o
diIerenciador apresenta uma saida menor (de acordo com a velocidade de variao na grandeza),
AU1OMAO IADUS1RIAL Instrumentao
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 114
reduzindo a ao do atuador, o que evita que se passe (ou passe demais) do valor desejado
(entrada).
A desvantagem e que o diIerenciador e um circuito muito susceptivel a ruidos de alta
Ireqncia, pois e um Iiltro passa-altas, o que pode levar a disturbios durante o processo de
controle.
4.1.3.6 Controle Proporcional, Integral e Derivativo:
E a combinao do anterior com o integral. Isto se Iaz somando os sinais de saida de um
ampliIicador, um diIerenciador e um integrador, todos eles com o sinal de erro aplicado na
entrada.
Assim, temos um compromisso entre a velocidade de atuao, devida ao diIerenciador,
e erro de regime nulo (preciso), devido ao integrador.
Este e o mais usado dos tipos de controle eletrnicos. Os parmetros deste sistema
podem ser alterados ajustando-se os potencimetros (que alteram as constantes de integrao e
diIerenciao), o que da Ilexibilidade a estes sistemas analogicos somente superadas pelos
digitais.
AU1OMAO IADUS1RIAL Controladores de Lgica Programvel - CLPs
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 115
5 CLP - CONTROLADOR DE LGICA PROGRAMVEL
5.1 INFORMAES GERAIS
5.1.1 Descrio
O primeiro CLP surgiu na industria automobilistica, ate ento, um usuario em potencial
dos reles eletromagneticos, utilizados para controlar operaes seqenciadas e repetitivas numa
linha de montagem.
A ideia de se criar um dispositivo do estado solido para controlar os processos
industriais nasceu em 1968, especiIicamente na Hydronic Division da General Motors, devido a
grande diIiculdade de mudar a logica de controle de paineis de comando a cada mudana na
linha de montagem. Tais mudanas implicavam em altos gastos de tempo e dinheiro.
Eles procuravam um sistema com as seguintes caracteristicas: um moderno sistema do
estado solido; a Ilexibilidade de um computador; um dispositivo que sobrevivesse nas mais
diversas condies da industria; Iacil programao; Iacil manuteno; reciclabilidade.
Sob a liderana do engenheiro Richard Morley, Ioi preparada uma especiIicao que
reIletia as necessidades de muitos usuarios de circuitos e rels, no so da industria
automobilistica como de toda a industria manuIatureira. Nasceu, ento, um equipamento bastante
versatil e de Iacil utilizao, que vem se aprimorando constantemente e diversiIicando cada vez
mais os setores industriais.
A primeira gerao de CLPs utilizou componentes discretos como transistores e CIs
com baixa escala de integrao.
Ate recentemente no havia nenhuma padronizao entre Iabricantes, apesar da maioria
utilizar as mesmas normas construtivas. Porem, pelo menos em nivel de soItware aplicativo, os
controladores programaveis podem se tornar compativeis com a adoo da norma IEC 1131-3,
que prev a padronizao da linguagem de programao e sua portabilidade.
Outra novidade que esta sendo incorporada pelos controladores programaveis e o
Iieldbus (barramento de campo), que surge como uma proposta de padronizao de sinais
em nivel de cho-de-Iabrica. Este barramento se prope a diminuir sensivelmente o numero de
condutores usados para interligar os sistemas de controle aos sensores e atuadores, alem de
propiciar a distribuio da inteligncia por todo o processo.
5.1.2 DeIinio Segundo a ABNT (Associao Brasileira de Normas Tecnicas)
E um equipamento eletrnico digital com hardware e soItware compativeis com
aplicaes industriais.
5.1.3 DeIinio Segundo a Nema (National Electrical ManuIacturers Association)
Aparelho eletrnico digital que utiliza uma memoria programavel para o
armazenamento interno de instrues para implementaes especiIicas, tais como logica,
seqenciamento, temporizao, contagem e aritmetica, para controlar, atraves de modulos de
entradas e saidas, varios tipos de maquinas ou processos.
AU1OMAO IADUS1RIAL Controladores de Lgica Programvel - CLPs
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 116
5.1.4 Caracteristicas
Basicamente, um controlador programavel apresenta as seguintes caracteristicas:
Hardware e/ou dispositivo de controle de Iacil e rapida programao ou
reprogramao, com a minima interrupo da produo.
Capacidade de operao em ambiente industrial.
Sinalizadores de estado e modulos tipo plug-in de Iacil manuteno e substituio.
Hardware ocupando espao reduzido e apresentando baixo consumo de energia.
Possibilidade de monitorao do estado e operao do processo ou sistema, atraves
da comunicao com computadores.
Compatibilidade com diIerentes tipos de sinais de entrada e saida.
Capacidade de alimentar, de Iorma continua ou chaveada, cargas que consomem
correntes de ate 2 A.
Hardware de controle que permite a expanso dos diversos tipos de modulos, de
acordo com a necessidade.
Custo de compra e instalao competitivo em relao aos sistemas de controle
convencionais.
Possibilidade de expanso da capacidade de memoria.
Conexo com outros CLPs atraves de rede de comunicao.
Todas estas consideraes mostram a evoluo de tecnologia, tanto de hardware quanto
de soItware, o que permite o seu acesso a um maior numero de pessoas tanto nos projetos de
aplicao de controladores programaveis quanto na sua programao.
5.1.5 Aplicaes
O controlador programavel existe para automatizar processos industriais, sejam de
seqenciamento, intertravamento, controle de processos, batelada, etc.
Este equipamento tem seu uso tanto na area de automao da manuIatura, de processos
continuos, eletrica, predial, entre outras.
Praticamente no existem ramos de aplicaes industriais onde no se possa aplicar os
CLPs, entre elas tem-se:
Maquinas industriais (operatrizes, injetoras de plastico, txteis, calados);
Equipamentos industriais para processos (siderurgia, papel e celulose,
petroquimica, quimica, alimentao, minerao, etc);
Equipamentos para controle de energia (demanda, Iator de carga);
Controle de processos com realizao de sinalizao, intertravamento e controle
PID;
Aquisio de dados de superviso em: Iabricas, predios inteligentes, etc;
Bancadas de teste automatico de componentes industriais;
Etc.
Com a tendncia dos CLPs terem baixo custo, muita inteligncia, Iacilidade de uso e
massiIicao das aplicaes, a utilizao deste equipamento no sera apenas nos processos mas
tambem nos produtos. Poderemos encontra-lo em produtos eletrodomesticos, eletrnicos,
residncias e veiculos.
AU1OMAO IADUS1RIAL Controladores de Lgica Programvel - CLPs
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 117
5.2 ESTRUTURA BASICA
O controlador programavel tem sua estrutura baseada no hardware de um computador,
tendo, portanto uma unidade central de processamento (UCP), interIaces de entrada e saida e
memorias.
As principais diIerenas em relao a um computador comum esto relacionadas a
qualidade da Ionte de alimentao, que possui caracteristicas otimas de Iiltragem e estabilizao,
interIaces de E/S imune a ruidos e um involucro especiIico para aplicaes industriais.
Tem tambem um terminal usado para programao do CLP.
O diagrama de blocos a seguir, ilustra a estrutura basica de um controlador
programavel:
Dentre as partes integrantes desta estrutura temos:
UCP
Memoria
E/S (Entradas e Saidas)
Terminal de Programao
5.2.1 Unidade Central de Processamento (UCP)
A Unidade Central de Processamento (UCP) e responsavel pelo processamento do
programa, isto e, coleta os dados dos cartes de entrada, eIetua o processamento segundo o
programa do usuario, armazenado na memoria, e envia o sinal para os cartes de saida como
resposta ao processamento.
Geralmente, cada CLP tem uma UCP, que pode controlar varios pontos de E/S (entradas
e saidas) Iisicamente compactadas a esta unidade - e a IilosoIia compacta de Iabricao de CLPs,
ou constituir uma unidade separada, conectada a modulos onde se situam cartes de entrada e
saida, - esta e a IilosoIia modular de Iabricao de CLPs.
Este processamento podera ter estruturas diIerentes para a execuo de um programa,
tais como:
Processamento ciclico;
Processamento por interrupo;
Processamento comandado por tempo;
Processamento por evento.
AU1OMAO IADUS1RIAL Controladores de Lgica Programvel - CLPs
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 118
5.2.1.1Processamento Ciclico
E a Iorma mais comum de execuo que predomina em todas as UCPs conhecidas, e de
onde vem o conceito de varredura, ou seja, as instrues de programa contidas na memoria so
lidas uma apos a outra seqencialmente do inicio ao Iim, dai retornando ao inicio ciclicamente.
Um dado importante de uma UCP e o seu tempo de ciclo, ou seja, o tempo gasto
para a execuo de uma varredura. Este tempo esta relacionado com o tamanho do programa do
usuario (em media 10 ms a cada 1.000 instrues).
5.2.1.2Processamento por Interrupo
Certas ocorrncias no processo controlado no podem, algumas vezes, aguardar o ciclo
completo de execuo do programa. Neste caso, ao reconhecer uma ocorrncia deste tipo, a UCP
interrompe o ciclo normal de programa e executa um outro programa chamado de rotina de
interrupo.
Esta interrupo pode ocorrer a qualquer instante da execuo do ciclo de programa. Ao
Iinalizar esta situao o programa voltara a ser executado do ponto onde ocorreu a interrupo.
Uma interrupo pode ser necessaria , por exemplo, numa situao de emergncia onde
procedimentos reIerentes a esta situao devem ser adotados.
5.2.1.3Processamento Comandado por Tempo
Da mesma Iorma que determinadas execues no podem ser dependentes do ciclo
normal de programa, algumas devem ser executadas a certos intervalos de tempo, as vezes muito
curto, na ordem de 10 ms.
Este tipo de processamento tambem pode ser encarado como um tipo de interrupo,
porem ocorre a intervalos regulares de tempo dentro do ciclo normal de programa.
5.2.1.4Processamento por Evento
Este e processado em eventos especiIicos, tais como no retorno de energia, Ialha na
bateria e estouro do tempo de superviso do ciclo da UCP.
AU1OMAO IADUS1RIAL Controladores de Lgica Programvel - CLPs
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 119
Neste ultimo, temos o chamado Watch Dog Time (WD), que normalmente ocorre como
procedimento ao se detectar uma condio de estouro de tempo de ciclo da UCP, parando o
processamento numa condio de Ialha e indicando ao operador atraves de sinal visual e, as
vezes, sonoro.
5.2.2 Memoria
O sistema de memoria e uma parte de vital importncia no processador de um
controlador programavel, pois armazena todas as instrues assim como o os dados necessarios
para executa-las.
Existem diIerentes tipos de sistemas de memoria. A escolha de um determinado tipo
depende:
Do tipo de inIormao armazenada;
Da Iorma como a inIormao sera processada pela UCP.
As inIormaes armazenadas num sistema de memoria so chamadas palavras de
memoria, que so Iormadas sempre com o mesmo numero de bits.
A capacidade de memoria de um CP e deIinida em Iuno do numero de palavras de
memoria previstas para o sistema.
5.2.2.1Mapa de Memoria
A capacidade de memoria de um CP pode ser representada por um mapa chamado
mapa de memoria.
5.2.2.2Arquitetura de memoria de um CP
A arquitetura de memoria de um controlador programavel pode ser constituida por
diIerentes tipos de memoria.
8, 16, ou 32 bits
255
511
Decimal Octal Hexadecimal
ENDEREO DAS PALAVRAS DE MEMRIA
377 FF
777 1FF
1023 1777 3FF
2047
4095
3777 7FF
7777 FFF
8191 17777 1FFF
AU1OMAO IADUS1RIAL Controladores de Lgica Programvel - CLPs
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 120
A memoria do computador e onde se armazenam os dados que devem ser manipulados
pelo computador (chamada memoria de dados) e tambem onde esta armazenado o programa do
computador (memoria de programa).
Aparentemente no existe uma diIerena Iisica entre as memorias de programa, apenas
utilizam-se memorias Iixas para armazenar dados Iixos ou programas e memorias que podem ser
alteradas pelo sistema para armazenar dados que podem variar de acordo com o programa.
Existem diversos tipos de memorias que podem ser utilizadas pelo computador: Iita magnetica,
disco magnetico e ate memoria de semicondutor em Iorma de circuito integrado.
As memorias a semicondutores podem ser divididas em dois grupos diIerentes:
- Memoria ROM (read only memory) memoria apenas de leitura.
- Memoria RAM (random acess memory) memoria de acesso aleatorio.
MEMORIAS
ROM RAM
ROM MASCARA PROM EPROM EEPROM EAROM ESTATICA DINMICA
As memorias ROM so designadas como memoria de programa por serem memorias
que no podem ser alteradas em estado normal de Iuncionamento, porem tm a vantagem de no
perderem as suas inIormaes mesmo quando e desligada sua alimentao.
1ipo de Memria Descrio Observao
RAM DINAMICA Memoria de acesso
aleatorio
- Volatil
- Gravada pelo usuario
- Lenta
- Ocupa pouco espao
- Menor custo
RAM
Memoria de acesso
aleatorio
- Volatil
- Gravada pelo usuario
- Rapida
- Ocupa mais espao
- Maior custo
ROM MSCARA Memoria somente de leitura - No Volatil
- No permite apagamento
- Gravada pelo Iabricante
PROM Memoria programavel
somente de leitura
- No volatil
- No permite apagamento
- Gravada pelo usuario
EPROM Memoria programavel/
apagavel somente de leitura
- No Volatil
- Apagamento por ultravioleta
- Gravada pelo usuario
EPROM
EEPROM
FLASH EPROM
Memoria programavel/
apagavel somente de leitura
- No Volatil
- Apagavel eletricamente
- Gravada pelo usuario
AU1OMAO IADUS1RIAL Controladores de Lgica Programvel - CLPs
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 121
5.2.2.3Estrutura
Independente dos tipos de memorias utilizadas, o mapa de memoria de um controlador
programavel pode ser dividido em cinco areas principais:
Memoria executiva
Memoria do sistema
Memoria de status dos cartes de E/S ou Imagem
Memoria de dados
Memoria do usuario
MEMRIA EXECUTIVA
MEMRIA DO SISTEMA
MEMRIA DE STATUS
MEMRIA DE DADOS
MEMRIA DO USURIO
5.2.2.3.1 Memoria Executiva
E Iormada por memorias do tipo ROM ou PROM e em seu conteudo esta armazenado
o sistema operacional responsavel por todas as operaes que so realizadas no CLP.
O usuario no tem acesso a esta area de memoria.
5.2.2.3.2 Memoria do Sistema
Esta area e Iormada por memorias tipo RAM, pois tera o seu conteudo constantemente
alterado pelo sistema operacional.
Armazena resultados e/ou operaes intermediarias, geradas pelo sistema, quando
necessario. Pode ser considerada como um tipo de rascunho.
No pode ser acessada nem alterada pelo usuario.
5.2.2.3.3 Memoria de Status de E/S ou Memoria Imagem
A memoria de status dos modulos de E/S so do tipo RAM. A UCP, apos ter eIetuado a
leitura dos estados de todas as entradas, armazena essas inIormaes na area denominada status
das entradas ou imagem das entradas. Apos o processamento dessas inIormaes, os resultados
sero armazenados na area denominada status das saidas ou imagem das saidas.
5.2.2.3.4 Memoria de Dados
As memorias de dados so do tipo RAM, e armazenam valores do processamento das
instrues utilizadas pelo programa do usuario.
AU1OMAO IADUS1RIAL Controladores de Lgica Programvel - CLPs
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 122
Funes de temporizao, contagem, aritmeticas e especiais, necessitam de uma area de
memoria para armazenamento de dados, como:
Valores pre-selecionados ou acumulados de contagem e temporizao;
Resultados ou variaveis de operaes aritmeticas;
Resultados ou dados diversiIicados a serem utilizados por Iunes de
manipulao de dados.
5.2.2.3.5 Memoria do Usuario
A UCP eIetuara a leitura das instrues contidas nesta area a Iim de executar o
programa do usuario, de acordo com os procedimentos predeterminados pelo sistema
operacional.
As memorias destinadas ao usuario podem ser do tipo:
RAM
RAM/EPROM
RAM/EEPROM
1ipo de Memria Descrio
RAM
A maioria do CLPs utiliza memorias RAM para
armazenar o programa d usuario assim como os dados
internos do sistema. Geralmente associada a baterias
internas que evitaro a perda das inIormaes em caso
de queda da alimentao.
RAM/EPROM
O usuario desenvolve o programa e eIetua testes em
RAM. Uma vez checado o programa, este e
transIerido para EPROM.
RAM/EEPROM
Esta conIigurao de memoria do usuario permite
que, uma vez deIinido o programa, este seja copiado
em EEPROM. Uma vez eIetuada a copia, o CLP
podera operar tanto em RAM como em EEPROM.
Para qualquer modiIicao bastara um comando via
soItware, e este tipo de memoria sera apagada e
gravada eletricamente.
5.3 DISPOSITIVOS DE ENTRADA E SAIDA
Os dispositivos de entrada e saida so os circuitos responsaveis pela interao entre o
homem e a maquina. So os dispositivos por onde o homem pode introduzir inIormaes na
maquina ou por onde a maquina pode enviar inIormaes ao homem. Como dispositivos de
entrada pode-se citar os seguintes exemplos: leitor de Iitas magneticas, leitor de disco magnetico,
leitor de carto perIurado, leitor de Iita perIurada, teclado, painel de chaves, conversor A/D,
mouse, scaner, etc. Estes dispositivos tem por Iuno a transIormao de dados em sinais
eletricos codiIicados para a unidade central de processamento.
Como dispositivos de saida pode-se citar os seguintes exemplos: gravador de Iitas
magneticas, gravador de discos magneticos, perIurador de carto, perIurador de Iita, impressora,
video, display, conversor D/A, canal de som, etc. Todos eles tm por Iuno a transIormao de
AU1OMAO IADUS1RIAL Controladores de Lgica Programvel - CLPs
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 123
sinais eletricos codiIicados pela maquina em dados que possam ser manipulados posteriormente
ou dados que so imediatamente entendidos pelo homem.
Estes dispositivos so conectados a unidade central de processamento por intermedio de
"portas" que so interIaces de comunicao dos dispositivos de entrada e saida.
A estrutura de E/S (entradas e saidas) e encarregada de Iiltrar os varios sinais recebidos
ou enviados para os componentes externos do sistema de controle. Estes componentes ou
dispositivos no campo podem ser botes, chaves de Iim de curso, contatos de reles, sensores
analogicos, termopares, chaves de seleo, sensores indutivos, lmpadas sinalizadoras, display
de LEDs, bobinas de valvulas direcionais eletricas, bobinas de reles, bobinas de contactores de
motores, etc.
Em ambientes industriais, estes sinais de E/S podem conter ruido eletrico, que pode
causar operao Ialha da UCP se o ruido alcanar seus circuitos. Desta Iorma, a estrutura de E/S
protege a UCP deste tipo de ruido, assegurando inIormaes conIiaveis. A Ionte de alimentao
das E/S pode tambem se constituir de uma unica unidade ou de uma serie de Iontes, que podem
estar localizadas no proprio compartimento de E/S ou constituir uma unidade a parte.
Os dispositivos do campo so normalmente selecionados, Iornecidos e instalados pelo
usuario Iinal do sistema do CLP. Assim, o tipo de E/S e determinado, geralmente, pelo nivel de
tenso (e corrente, nas saidas) destes dispositivos. Os circuitos de E/S so tipicamente Iornecidas
pelos Iabricantes de CLPs em modulos, cada um com 4, 8, 16 ou mais circuitos.
Alem disso, a alimentao para estes dispositivos no campo deve ser Iornecida
externamente ao CLP, uma vez que a Ionte de alimentao do CLPs e projetada para operar
somente com a parte interna da estrutura de E/S e no dispositivos externos.
5.3.1 Caracteristicas das Entradas e Saidas - E/S
A saida digital basicamente pode ser de quatro tipos: transistor, triac, contato seco e
TTL podendo ser escolhido um ou mais tipos. A entrada digital pode se apresentar de varias
Iormas, dependendo da especiIicao do cliente, contato seco, 24 VCC, 110 VCA, 220 VCA,
etc.
A saida e a entrada analogicas podem se apresentar em Iorma de corrente (4 a 20 mA, 0
a 10 mA, 0 a 50 mA), ou tenso (1 a 5 Vcc, 0 a 10 VCC, -10 a 10 VCC etc). Em alguns casos e
possivel alterar o range atraves de soItware.
5.3.1.1Modulos de Entrada
Os modulos de entrada so interIaces entre os sensores localizados no campo e a logica
de controle de um controlador programavel.
Estes modulos so constituidos de cartes eletrnicos, cada qual com capacidade para
receber em certo numero de variaveis.
Pode ser encontrado uma variedade muito grande de tipos de cartes, para atender as
mais variadas aplicaes nos ambientes industriais. Mas apesar desta grande variedade, os
elementos que inIormam a condio de grandeza aos cartes, so do tipo:
ELEMENTO DISCRETO: Trabalha com dois niveis deIinidos;
ELEMENTO ANALOGICO: Trabalha dentro de uma Iaixa de valores.
AU1OMAO IADUS1RIAL Controladores de Lgica Programvel - CLPs
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 124
5.3.1.1.1 Elementos Discretos
A entrada digital com Ionte externa e o tipo mais utilizado. Tambem, neste caso a
caracteristica da Ionte de alimentao externa dependera da especiIicao do modulo de entrada.
As chaves que acionam as entradas situam-se no campo.
5.3.1.1.2 Modulo de Entrada Digital em C.C.
A comutao executada por um transdutor digital de corrente continua pode ser do tipo
"P" ou do tipo "N", ou seja, o acionamento pode ser logica positiva (comum negativo) ou logica
negativa (comum positivo).
No existe nenhuma vantagem de um tipo sobre o outro, mas deve-se sempre adotar
apenas um deles, pois com a padronizao tem-se uma reduo de itens de estoque, alem de
evitar incompatibilidades. A Iigura abaixo exempliIica um circuito de entrada digital tipo P. Para
acionar a entrada tipo N e necessario Iornecer o potencial do borne negativo da Ionte auxiliar ao
borne da entrada.
Ionte
ENTRADA 1
ENTRADA 2
COMUM
PSH
CAMPO
BOTO
CHAVE
PRESSOSTATO
FLUXOSTATO
TERMOSTATO
FIM DE CURSO
TECLADO
CHAVE BCD
FOTOCELULA
OUTROS
CARTES
DISCRETOS
UCP
AU1OMAO IADUS1RIAL Controladores de Lgica Programvel - CLPs
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 125
5.3.1.1.3 Modulo de Entrada Digital em C.A.
Da mesma maneira que as entradas de corrente continua, as entradas digitais alternadas
lem sinais do processo, com a vantagem de permitir uma distncia maior entre o CLP e o
transdutor, pois a relao sinal/ruido e mais elevada em se tratando de sinais 110 V ou 220 V.
Via de regra, se os atuadores esto a uma distncia superior a 50 m do controlador,
deve-se comear a pensar em trabalhar com entradas CA. E importante lembrar que trabalhando
com niveis CA, deve-se tomar mais cuidado com relao a isolao geral da instalao.
A Iigura abaixo exempliIica um circuito de entrada digital em corrente alternada.
As entradas dos CLPs tm alta impedncia e por isso no podem ser acionadas
diretamente por um triac, como e o caso do acionamento por sensores a dois Iios para CA, em
razo disso e necessario, quando da utilizao deste tipo de dispositivo de campo, o acrescimo de
uma derivao para a corrente de manuteno do tiristor. Essa derivao consta de um circuito
resistivo-capacitivo em paralelo com a entrada acionada pelo triac, cujos valores podem ser
encontrados nos manuais do CLP, como visto abaixo.
Se Ior ser utilizado um sensor capacitivo, indutivo, optico ou indutivo magnetico, saida
a transistor com alimentao de 8 a 30 VCC, basta especiIicar um carto de entrada 24 VCC
comum negativo ou positivo dependendo do tipo de sensor, e a saida do sensor sera ligada
diretamente na entrada digital do CLP.
A entrada digital do tipo contato seco Iica limitada aos dispositivos que apresentam
como saida a abertura ou Iechamento de um contato. E bom lembrar que em alguns casos uma
saida do sensor do tipo transistor tambem pode ser usada, esta inIormao consta no manual de
ligao dos modulos de entrada.
FONTE
ENTRADA 1
COMUM
CAMPO
sensor indutivo 2 Iios
AU1OMAO IADUS1RIAL Controladores de Lgica Programvel - CLPs
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 126
5.3.1.1.4 Elementos Analogicos
C.A. - Carto Analogico
A entrada analogica em tenso e implementada diretamente no transmissor como mostra
o diagrama.
A entrada analogica em corrente necessita de um shunt para a converso do valor de
corrente em tenso, como mostra o diagrama O valor do resistor shunt dependera da Iaixa de
saida do transmissor e da Iaixa de entrada do ponto analogico. Para tal calculo utiliza-se a lei de
ohm ( R V / I).
5.3.1.2Tratamento de Sinal de Entrada
O tratamento que deve soIrer um sinal de entrada, varia em Iuno de sua natureza, isto
e, um carto do tipo digital que recebe sinal alternado, se diIere do tratamento de um carto
digital que recebe sinal continuo e assim nos demais tipos de sinais.
A seguir e mostrado um diagrama onde esto colocados os principais componentes de
um carto de entrada digital de tenso alternada :
Ionte
ENTRADA 1
ENTRADA 2
COMUM
P
CAMPO
T
Ionte
ENTRADA 1
ENTRADA 2
COMUM
PT
CAMPO
T
TRANSMISSORES
TACOGERADOR
TERMOPAR
TERMORESISTNCIA
SENSOR DE POSIO
OUTROS
CARTES
ANALGICOS
UCP
AU1OMAO IADUS1RIAL Controladores de Lgica Programvel - CLPs
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 127
B.C. - Bornes de conexo: Permite a interligao entre o sensor e o carto, geralmente
se utiliza sistema 'plug-in.
C.C. - Conversor e Condicionador: Converte em DC o sinal AC, e rebaixa o nivel de
tenso ate atingir valores compativeis com o restante do circuito.
I.E. - Indicador de Estado: Proporcionar indicao visual do estado Iuncional das
entradas.
I.El. - Isolao Eltrica: Proporcionar isolao eletrica entre os sinais vindos e que
sero entregues ao processador.
I.M. - Interface/Multiplexao: InIormar ao processador o estado de cada variavel de
entrada.
5.3.1.3Modulos de Saida
Os modulos de saida so elementos que Iazem a interIace entre o processador e os
elementos atuadores.
Estes modulos so constituidos de cartes eletrnicos, com capacidade de enviar sinal
para os atuadores, resultante do processamento da logica de controle.
Os cartes de saida iro atuar basicamente dois tipos:
ATUADORES DISCRETOS: Pode assumir dois estados deIinidos.
ATUADORES ANALOGICOS: Trabalha dentro de uma Iaixa de valores.
5.3.1.3.1 Atuadores Discretos
De acordo com o tipo de elemento de comando da corrente das saidas, estas apresentam
caracteristicas que as diIerem como as seguintes:
Saida a TRANSISTOR: promove comutaes mais velozes, mas so comporta
cargas de tenso continua;
Saida a TRIAC: tem maior vida util que o tipo a contato seco, mas so pode
acionar cargas de tenso alternada;
Saida a CONTATO SECO: pode acionar cargas alimentadas por tenso tanto
continua quanto alternada.
B.C.
C.C.
I.E.
I.El.
I.M.
UCP
Elementos Discretos
VALVULA SOLENOIDE
CONTATOR
SINALIZADOR
RELE
SIRENE
DISPLAY
OUTROS
UCP
CARTES
DISCRETOS
AU1OMAO IADUS1RIAL Controladores de Lgica Programvel - CLPs
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 128
5.3.1.3.2 Modulos de Saida Digital em C.C.
Tipo P: Nesta conIigurao deve-se ligar a carga entre o potencial negativo da Ionte de
alimentao de 24 Vcc e o borne de saida. A Iigura a seguir exempliIica o circuito de uma saida
digital tipo P. No caso da saida ser do tipo N deve-se ligar a carga entre o potencial positivo e o
borne de saida.
5.3.1.3.3 Modulos de Saida Digitais de C.A. com TRIAC
Os modulos de saida em corrente alternada so usados para acionar diretamente bobinas
de contactores. A alimentao normalmente e do tipo Iull range, ou seja, e possivel ligar cargas
cuja alimentao esteja entre 90 Vca a 240 Vca.
5.3.1.3.4 Modulos de Saidas Digitais a Rele
Muito utilizado, em Iuno da versatilidade quanto aos sinais a serem comutados,
podendo ser ligadas tanto cargas em C.C. ou C.A. As saidas a rel em geral possuem tempo de
resposta mais lento do que a as saidas a transistor ou a triac.
AU1OMAO IADUS1RIAL Controladores de Lgica Programvel - CLPs
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 129
A ligao dos circuitos de entrada e ou saida e relativamente simples, dependendo
apenas do tipo em questo.
A seguir vm-se os diagramas de ligao dos varios tipos.
As saidas digitais independentes possuem a vantagem de poder acionar no mesmo
modulo cargas de diIerentes Iontes sem o risco de interliga-las. Apresentam a desvantagem de
consumir mais cabos.
As saidas digitais com ponto comum possuem a vantagem de economia de cabo.
Se neste tipo de saida Ior necessario acionar cargas com Iontes incompativeis entre si,
sera necessaria a utilizao de reles cujas bobinas se energizem com as saidas do CLP e cujos
contatos comandem tais cargas.
carga
carga
Ionte
saida 1
saida
2
SAIDAS DIGITAIS
COM PONTO
COMUM
comum
CAMPO
carga
carga
Ionte
Ionte
saida 1
saida 2
SAIDAS DIGITAIS
INDEPENDENTES
CAMPO
AU1OMAO IADUS1RIAL Controladores de Lgica Programvel - CLPs
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 130
5.3.1.3.5 Atuadores Analogicos
A saida analogica em corrente ou tenso e implementada diretamente no dispositivo em
questo. E bom lembrar a questo da compatibilidade dos sinais, saida em tenso so pode ser
ligada no dispositivo que recebe tenso e saida em corrente pode ser ligada em dispositivo que
recebe corrente ou tenso, dependendo da utilizao ou no do shunt de saida.
5.3.1.4Tratamento de Sinal de Saida
Existem varios tipos de cartes de saida que se adaptam a grande variedade de atuadores
existentes. Por este motivo, o sinal de saida gerado de acordo com a logica de controle, deve ser
condicionado para atender o tipo da grandeza que acionara o atuador.
A seguir e mostrado um diagrama onde esto colocados os principais componentes de
um carto de saida digital de corrente continua:
I.M. - Interface/Multiplexao: Interpreta os sinais vindos da UCP atraves do
barramento de dados, para os pontos de saida, correspondente a cada carto.
M.S. - Memorizador de Sinal: Armazena os sinais que ja Ioram multiplexados pelo
bloco anterior.
I.E. - Isolao Eltrica: Proporciona isolao eletrica entre os sinais vindos do
processador e os dispositivos de campo.
E.S. - Estgio de Sada: TransIorma os sinais logicos de baixa potncia, em sinais
capazes de operar os diversos tipos de dispositivos de campo.
B.L. - Bornes de Ligao: Permite a ligao entre o carto e o elemento atuador, e
utiliza tambem o sistema 'plug-in.
POSICIONADOR
CONVERSOR
INDICADOR
VALVULA PROPORCIONAL
ATUADOR ELETRICO
OUTROS
UCP
CARTES
ANALGICOS
SAIDA 1
SAIDA 2
COMUM
POSICIONADOR
ATUADOR
E.S.
B.L. I.El. M.S. I.M. UCP
AU1OMAO IADUS1RIAL Controladores de Lgica Programvel - CLPs
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 131
5.3.2 Terminal de Programao
O terminal de programao e um dispositivo (periIerico) que conectado
temporariamente ao CLP, permite introduzir o programa do usuario e conIigurao do sistema.
Pode ser um equipamento dedicado, ou seja, um terminal que so tem utilidade como
programador de um determinado Iabricante de CLP, ou um soItware que transIorma um
computador pessoal em um programador.
Neste periIerico, atraves de uma linguagem, na maioria das vezes, de Iacil entendimento
e utilizao, sera Ieita a codiIicao das inIormaes vindas do usuario numa linguagem que
possa ser entendida pelo processador de um CLP. Dependendo do tipo de Terminal de
Programao (TP), podero ser realizadas Iunes como:
Elaborao do programa do usuario;
Analise do conteudo dos endereos de memoria;
Introduo de novas instrues;
ModiIicao de instrues ja existentes;
Monitorao do programa do usuario;
Copia do programa do usuario em disco ou impressora.
Os terminais de programao podem ser classiIicados em trs tipos:
Terminal Dedicado Portatil;
Terminal Dedicado TRC;
Terminal no Dedicado;
5.3.2.1Terminal Portatil Dedicado
Os terminais de programao portateis, geralmente so compostos por teclas que so
utilizadas para introduzir o programa do usuario. Os dados e instrues so apresentados num
display que Iornece sua indicao, assim como a posio da memoria endereada.
A maioria dos programadores portateis so conectados diretamente ao CP atraves de
uma interIace de comunicao (serial). Pode-se utilizar a Ionte interna do CP ou possuir
alimentao propria atraves de bateria.
Com o advento dos computadores pessoais portateis (Lap-Top), estes terminais esto
perdendo sua Iuno, ja que se podem executar todas as Iunes de programao em ambiente
mais amigavel, com todas as vantagens de equipamento portatil.
5.3.2.2Terminal Dedicado TRC
No caso do Terminal de programao dedicado tem-se como grandes desvantagens seu
custo elevado e sua baixa taxa de utilizao, ja que sua maior utilizao se da na Iase de projeto e
implantao da logica de controle.
Estes terminais so compostos por um teclado, para introduo de dados/instrues e
um monitor (TRC - tubos de raios catodicos) que tem a Iuno de apresentar as inIormaes e
condies do processo a ser controlado.
Como no caso dos terminais portateis, com o advento da utilizao de computadores
pessoais, este tipo de terminal esta caindo em desuso.
AU1OMAO IADUS1RIAL Controladores de Lgica Programvel - CLPs
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 132
5.3.2.3Terminal No Dedicado - PC
A utilizao de um computador pessoal (PC) como terminal de programao e possivel
atraves da utilizao de um soItware aplicativo dedicado a esta Iuno.
Neste tipo de terminal, tem-se a vantagem da utilizao de um micro de uso geral
realizando o papel do programador do CLP. Os custos deste hardware (PC) e soItware so bem
menores do que um terminal dedicado alem da grande vantagem de ter, apos o periodo de
implantao e eventuais manutenes, o PC disponivel para outras aplicaes comuns a um
computador pessoal.
Outra grande vantagem e a utilizao de soItwares cada vez mais interativos com o
usuario, utilizando todo o potencial e recursos de soItware e hardware disponiveis neste tipo de
computador.
5.4 PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO DE UM CLP
Um controlador logico programavel, tem seu Iuncionamento baseado num sistema de
microcomputador onde se tem uma estrutura de soItware que realiza continuamente ciclos de
varredura.
5.4.1 Estados de Operao
Basicamente a UCP de um controlador programavel possui dois estados de operao :
Programao
Execuo
A UCP pode assumir tambem o estado de erro, que aponta Ialhas de operao e
execuo do programa.
5.4.1.1Programao
Neste estado o CP no executa programa, isto e, no assume nenhuma logica de
controle, Iicando preparado para ser conIigurado ou receber novos programas ou ate
modiIicaes de programas ja instalados. Este tipo de programao e chamada off-line (Iora de
linha).
5.4.1.2Execuo
Estado em que o CP assume a Iuno de execuo do programa do usuario. Neste
estado, alguns controladores, podem soIrer modiIicaes de programa. Este tipo de programao
e chamada on-line (em linha).
5.4.2 Funcionamento
Ao ser energizado, estando o CP no estado de execuo, o mesmo cumpre uma rotina
de inicializao gravada em seu sistema operacional. Esta rotina realiza as seguintes tareIas:
AU1OMAO IADUS1RIAL Controladores de Lgica Programvel - CLPs
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 133
Limpeza da memoria imagem, para operandos no retentivos;
Teste de memoria RAM;
Teste de executabilidade do programa.
Apos a execuo desta rotina, a UCP passa a Iazer uma varredura (ciclo) constante, isto
e, uma leitura seqencial das instrues em loop (lao).
Entrando no loop, o primeiro passo a ser executado e a leitura dos pontos de entrada.
Com a leitura do ultimo ponto, ira ocorrer, a transIerncia de todos os valores para a chamada
memoria ou tabela imagem das entradas.
Apos a gravao dos valores na tabela imagem, o processador inicia a execuo do
programa do usuario de acordo com as instrues armazenadas na memoria.
Terminando o processamento do programa, os valores obtidos neste processamento,
sero transIeridos para a chamada memoria ou tabela imagem das saidas, como tambem a
transIerncia de valores de outros operandos, como resultados aritmeticos, contagens, etc.
Ao termino da atualizao da tabela imagem, sera Ieita a transIerncia dos valores da
tabela imagem das saidas, para os cartes de saida, Iechando o loop. Neste momento e iniciado
um novo loop.
O "Scan rate" ou "tempo de varredura" signiIica o tempo de execuo de um programa
desde a primeira ate a ultima instruo. A grosso modo neste tempo esto incluidos os seguintes
procedimentos de leitura e atualizao das entradas na memoria, execuo do programa de
usuario e atualizao de saidas na memoria e aplicao das mesmas aos terminais de saida.
O scan rate dos CLPs varia de 10 ms/1 kbyte de programao ate 1 ms/1 kbyte. O que
signiIica que em 1 segundo, o controlador executa de 100 a 1000 ciclos respectivamente para
cada 1 kbyte de programao. Um programa bem elaborado tambem contribui para diminuir o
scan rate do controlador, assim, o usuario sempre deve ter o habito de trabalhar de maneira
estruturada, valendo-se do recurso de sub-rotinas, blocos de Iunes e logicas que otimizam
desta Iorma a seqncia das instrues .
Para a veriIicao do Iuncionamento da UCP, e estipulado um tempo de processamento,
cabendo a um circuito chamado de Watch Dog Time supervisiona-lo. Ocorrendo a ultrapassagem
deste tempo maximo, o Iuncionamento da UCP sera interrompido, sendo assumido um estado de
erro.
AU1OMAO IADUS1RIAL Controladores de Lgica Programvel - CLPs
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 134
Fluxograma de funcionamento de um CLP
START
PARTIDA
- Limpeza de memria
- Teste de RAM
- Teste de Execuo
OK
Tempo
de Varredura
OK
Atualizao da
Tabela Imagem das
Entradas
Execuo do Programa do
Usurio
Atualizao da
Tabela Imagem das
Sadas
STOP
PARADA
Leitura dos
Cartes de
Entrada
Transferncia da
Tabela para
a Sada
No
No
Sim
Sim
AU1OMAO IADUS1RIAL Controladores de Lgica Programvel - CLPs
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 135
5.5 LINGUAGEM DE PROGRAMAO
Na execuo de tareIas ou resoluo de problemas com dispositivos microprocessados,
e necessaria a utilizao de uma linguagem de programao, atraves da qual o usuario se
comunica com a maquina.
A linguagem de programao e uma Ierramenta necessaria para gerar o programa, que
vai coordenar e seqenciar as operaes que o microprocessador deve executar.
5.5.1 ClassiIicao
Linguagem de baixo nivel
Linguagem de alto nivel
5.5.1.1Linguagem de Baixo Nivel
5.5.1.1.1 Linguagem de Maquina
E a linguagem corrente de um microprocessador ou microcontrolador, onde as
instrues so escritas em codigo binario (bits 0 e 1). Para minimizar as diIiculdades de
programao usando este codigo, pode-se utilizar tambem o codigo hexadecimal.
Cdigo Binrio
Endereo Contedo
0000000000000000 00111110
0000000000000001 10000000
0000000000000010 11010011
0000000000000011 00011111
0000000000000100 00100001
0000000000000101 00000000
Cdigo Hexadecimal
Endereo Contedo
0000 3E
0001 80
0002 D3
0003 1F
0004 21
0005 00
Cada item do programa, chama-se linha ou passo, representa uma instruo ou dado a
ser operacionalizado.
AU1OMAO IADUS1RIAL Controladores de Lgica Programvel - CLPs
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 136
5.5.1.1.2 Linguagem Assembler
Na linguagem assembler o programa e escrito com instrues abreviadas chamadas
mnemnicos.
Endereo Contedo
0000 MVI A,80H
0002 OUT 1FH
0004 LXI ,1000H
0007 MOV A,M
0008 INX H
0009 ADD M
Cada microprocessador ou microcontrolador possui estruturas internas diIerentes,
portanto seus conjuntos de registros e instrues tambem so diIerentes.
5.5.1.2Linguagem de Alto Nivel
E uma linguagem proxima da linguagem corrente utilizada na comunicao de pessoas.
5.5.1.2.1 Compiladores e Interpretadores
Quando um microcomputador utiliza uma linguagem de alto nivel, e necessario a
utilizao de compiladores e interpretadores para traduzirem este programa para a linguagem de
maquina.
5.5.1.2.2 Vantagem
Elaborao de programa em tempo menor, no necessitando conhecimento da
arquitetura do microprocessador.
5.5.1.2.3 Desvantagem
Tempo de processamento maior do que em sistemas desenvolvidos em linguagens de
baixo nivel.
Exemplos de linguagens de alto nivel
Pascal
C
COMPILADORES
OU
INTERPRETADOR
PROGRAMA
1111
0000
0101
0100
AU1OMAO IADUS1RIAL Controladores de Lgica Programvel - CLPs
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 137
Fortran
Cobol
Etc.
5.6 PROGRAMAO DE CONTROLADORES PROGRAMAVEIS
5.6.1 Norma IEC 1131
A 'International Electrotechnical Commission (IEC) designa ao 'Comit de
Investigao 65A a deIinio de uma norma especiIica reIerente aos Controladores Logicos
Programaveis com o objetivo de responder a crescente complexidade dos sistemas de controle e
a diversidade de controladores incompativeis entre si.
IEC 1131-1- InIormaes gerais (1992).
IEC 1131-2- EspeciIicaes e ensaios de equipamentos (1992).
IEC 1131-3- Linguagens de programao (1993).
IEC 1131-4- Recomendaes ao usuario.
IEC 1131-5- EspeciIicaes de servios de mensagem.
A norma deIine para todas as linguagens de programao ( LAD, list, graIcet ... )
basicamente a sintaxe e representao graIica dos objetos, estrutura de programas e declarao
de variaveis.
Vantagens da norma IEC 1131-3
Diminuio dos problemas de Iormao
Homogeneidade na documentao das aplicaes: estrutura de programas
idnticas, objetos pre deIinidos, etc
Variedade de linguagens standard
Cada Iuno de uma aplicao pode ser programada na linguagem que melhor se
adapte para assegurar o melhor resultado
Facilidade para a portabilidade dos programas
5.6.1.1Linguagens normalizadas
Normalmente podemos programar um controlador atraves de um soItware que
possibilita a sua apresentao ao usuario em quatro Iormas diIerentes:
Diagrama de contatos (Ladder diagram - LD);
Diagrama de blocos logicos (Function Block Diagram - FBD);
Lista de instrues (Instruction List- IL);
Texto estruturado (Structuresd Text ST);
Linguagem seqencial GraIcet IEC 848 (Sequencial Function Chart SFC);
Linguagem corrente;
Alguns CLPs, possibilitam a apresentao do programa do usuario em uma ou mais
Iormas.
AU1OMAO IADUS1RIAL Controladores de Lgica Programvel - CLPs
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 138
5.6.1.2Objetos linguagem
Os objetos pre deIinidos deveram ter o nome e o tipo declarado pelo programador e
esto deIinidos praticamente em 3 zonas:
Zona de entradas (Iy.z)
Zona de saidas (Qy.z)
Zona de memoria (Mz)
Zona de sistema (Sz)
Zona de entradas analogicas (IWy.z)
Zona de saidas analogicas (QWy.z)
Zona de memoria de palavras(MWz)
Zona de palavras do sistema (SWz)
Zona de temporizadores (TMz)
Zona de contadores (Cz)
* y representa o endereo do modulo e z o endereo do elemento.
Essas zonas podem ser declaradas atraves do soItware de programao das seguintes
maneiras:
Bits (X)
Bytes (B)
Constant (K)
Words (W)
Double word (D)
Flouting number (F)
Word long (L) de 64 bits
5.6.2 Diagrama de Contatos (Ladder)
Tambem conhecida como:
Diagrama de reles;
Diagrama escada;
Diagrama 'ladder.
Esta Iorma graIica de apresentao esta muito proxima a normalmente usada em
diagrama eletricos.
Exemplo:
AU1OMAO IADUS1RIAL Controladores de Lgica Programvel - CLPs
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 139
5.6.3 Diagrama de Blocos Logicos
Mesma linguagem utilizada em logica digital, onde sua representao graIica e Ieita
atraves das chamadas portas logicas.
Exemplo:
As portas logicas so identiIicadas pelos simbolos que so colocados no interior dos
quadros.
& Funo E
~1 Funo OU
3
1 Funo OU pelo uma das entradas em nivel logico 1
3
n Funo OU pelo n das entradas em nivel logico 1
~n/2 Funo OU mais da metade das entradas em nivel logico 1
1 Ou Exclusivo somente uma entrada tiver nivel logico 1
m Somente m das entradas tiverem nivel logico 1
2k1 Um numero impar de entradas tiverem nivel logico 1
2k Um numero par de entradas tiverem nivel logico 1
Funo coincidncia nenhuma ou todas as entradas tiverem nivel logico 1
A natureza do sinal de saida correspondente deve ser escrita dentro de um retngulo:
S ao memorizada (set)
NS no memorizada
DY ao dinmica (impulso)
tc tempo de controle
tw tempo de espera
5.6.4 Lista de Instruo
Linguagem semelhante a utilizada na elaborao de programas para computadores.
Exemplo:
LD IX1
ANDN MX5
~1
&
&
~1
I 0.0
Q 0.0
Q 0.2
I 0.6
I 0.2
I 0.4
Q 0.0
Q 0.2
AU1OMAO IADUS1RIAL Controladores de Lgica Programvel - CLPs
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 140
ST QX2
LD IW12
ADD 1
ST MW41
5.6.5 Texto Estruturado ST
O programa e desenvolvido em alguma linguagem de programao de medio ou alto
nivel. Por exemplo: Pascal; C; C; Delphi; etc.
5.6.6 Linguagem Seqencial SFC
O sistema SFC conhecido como GRAPH 5 e, atualmente, muito conhecido como
GraIcet, permite programar o CLP graIica e diretamente em blocos de comandos seqenciais.
Um passo elementar e representado por um retngulo. Os diIerentes passos so unidos
estruturalmente por linhas de atuao vertical. Uma transio se representa traando uma linha
perpendicular a linha de atuao entre dois passos. Cada passo corresponde a um conjunto de
operaes e cada transio a um conjunto de condies.
5.6.7 Linguagem Corrente
E semelhante ao basic, que e uma linguagem popular de programao, e uma linguagem
de programao de alto nivel. Comandos tipicos podem ser "Iechar valvula A" ou "desligar
bomba B", "ligar motor", "desligar solenoide",
5.6.8 Analise das Linguagens de Programao
Com o objetivo de ajudar na escolha de um sistema que melhor se adapte as
necessidades de cada usuario, pode-se analisar as caracteristicas das linguagens programao
disponiveis de CLPs.
Esta analise se detera nos seguintes pontos:
Quanto a Iorma de programao;
Quanto a Iorma de representao;
Documentao;
Conjunto de Instrues.
5.6.8.1Quanto a Forma de Programao
Programao Linear - programa escrito escrita em unico bloco
Programao Estruturada - Estrutura de programao que permite:
Organizao;
Desenvolvimento de bibliotecas de rotinas utilitarias para utilizao em
varios programas;
Facilidade de manuteno;
AU1OMAO IADUS1RIAL Controladores de Lgica Programvel - CLPs
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 141
Simplicidade de documentao e entendimento por outras pessoas alem do
autor do soItware.
Permite dividir o programa segundo criterios Iuncionais, operacionais ou
geograIicos.
5.6.8.2Quanto a Forma de Representao
Diagrama de Contatos;
Diagrama de Blocos;
Lista de Instrues.
Estes ja citados anteriormente.
5.6.8.3Documentao
A documentao e mais um recurso do editor de programa que de linguagem de
programao. De qualquer Iorma, uma abordagem neste sentido torna-se cada vez mais
importante, tendo em vista que um grande numero de proIissionais esto envolvidos no projeto
de um sistema de automao que se utiliza de CLPs, desde sua concepo ate a manuteno.
Quanto mais rica em comentarios, melhor a documentao que normalmente se divide
em varios niveis.
5.6.8.4Conjunto de Instrues
E o conjunto de Iunes que deIinem o Iuncionamento e aplicaes de um CLP.
Podem servir para mera substituio de comandos a reles:
Funes Logicas;
Memorizao;
Temporizao;
Contagem.
Como tambem manipulao de variaveis analogicas:
Movimentao de dados;
Funes aritmeticas.
Na UCP o programa residente possui diversos tipos de blocos de Iunes. Na listagem a
seguir apresentamos alguns dos mais comuns:
Contador;
Temporizao de energizao;
Temporizao de desenergizao;
Adio de registros;
Multiplicao de registros;
Diviso de registros;
Extrao de raiz quadrada;
Bloco OU logico de duas tabelas;
Bloco E logico de duas tabelas;
Ou exclusivo logico de duas tabelas;
Deslocar bits atraves de uma tabela-direita;
Deslocar bits atraves de uma tabela-esquerda;
Mover tabela para nova localizao;
AU1OMAO IADUS1RIAL Controladores de Lgica Programvel - CLPs
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 142
Mover dados para memoria EEPROM;
Mover inverso da tabela para nova localizao;
Mover complemento para uma nova localizao;
Mover valor absoluto para uma nova localizao;
Comparar valor de dois registros;
Ir para outra seqncia na memoria;
Executar sub-rotina na memoria;
Converter A/D e localizar em um endereo;
Converter D/A um dado localizado em um endereo;
Executar algoritmo PID;
Etc.
5.6.8.5Instrues Basicas
As instrues basicas so representadas por blocos Iuncionais introduzidos na linha de
programao em logica ladder. Estes blocos Iuncionais podem se apresentar de Iormas diIerentes
de um CLP para outro, mas a IilosoIia de Iuncionamento e invariavel. Estes blocos auxiliam ou
complementam o controle do equipamento, introduzindo na logica ladder instrues como de
temporizao, contagem, soma, diviso, subtrao, multiplicao, PID, converso BCD/Decimal,
converso Decimal/BCD, raiz quadrada, etc.
5.6.8.5.1 Funcionamento dos Principais Blocos
S1
E2
BLOCO
FUNCIONAL
O bloco Iuncional possui pontos de entrada ( localizados a esquerda ) e pontos de saida
(localizados a direita do bloco), tambem possui campos de entrada de inIormaes como;
numero do registro, memoria, ponto de entrada analogico, bit de saida, bit de entrada, ponto de
saida analogico, constantes, etc.
As instrues seguintes sero explicadas supondo um byte (oito bits). A analise para
uma word (dezesseis bits) e exatamente a mesma.
5.6.8.5.2 Instruo de Temporizao
O temporizador conta o intervalo de tempo transcorrido a partir da sua habilitao ate
este se igualar ao tempo pre-estabelecido. Quando a temporizao estiver completa esta instruo
eleva a nivel 1 um bit proprio na memoria de dados e aciona o operando a ela associado.
S1
E2
TEMPORIZADOR
T1 = 30 SEG
AU1OMAO IADUS1RIAL Controladores de Lgica Programvel - CLPs
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 143
Em alguns casos, esta instruo apresenta duas entradas uma de habilitao da
contagem e outra para zeramento ou reset da saida.
Para cada temporizador destina-se um endereo de memoria de dados onde o valor
preIixado sera armazenado.
Na memoria de dados do CLP, o temporizador ocupa trs bytes para o controle. O
primeiro byte reservado para o dado preIixado, o segundo byte reservado para a temporizao e
o terceiro byte reservado para os bits de controle da instruo temporizador.
Os temporizadores podem ser TON ( temporiza no acionamento ) e TOFF ( temporiza
no desacionamento).
5.6.8.5.3 Instruo de Contagem
O contador conta o numero de eventos que ocorre e deposita essa contagem em um byte
reservado. Quando a contagem estiver completa, ou seja , igual ao valor preIixado, esta instruo
energiza um bit de contagem completa. A instruo contador e utilizada para energizar ou
desenergizar um dispositivo quando a contagem estiver completa.
CONT ADOR
C1
PULSOS=50
E1
E2
S1
Para cada contador destina-se um endereo de memoria de dados onde o valor preIixado
sera armazenado.
Na memoria de dados do CLP, o contador ocupa trs bytes para o controle. O primeiro
byte reservado para o dado preIixado, o segundo byte reservado para a contagem e o terceiro
byte reservado para os bits de controle da instruo contador.
5.6.8.5.4 Instruo Mover
A instruo mover transIere dados de um endereo de memoria para outro endereo de
memoria, manipula dados de endereo para endereo, permitindo que o programa execute
diIerentes Iunes com o mesmo dado.
MOVER
D1 ===>D2
E1
S1
5.6.8.5.5 Instruo Comparar
A instruo comparar veriIica
se o dado de um endereo e igual,
maior, menor, maior/igual ou
CO MP AR A R
D 1> D 2
E 1 S 1
CO MP A R AR
D 1 < D 2
E 1 S 2
AU1OMAO IADUS1RIAL Controladores de Lgica Programvel - CLPs
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 144
menor/igual que o dado de um outro endereo, permitindo que o programa execute diIerentes
Iunes baseadas em um dado de reIerncia.
5.6.8.6Instrues Matematicas
5.6.8.6.1 Instruo Soma
Permite somar valores na memoria quando habilitado. Nesta instruo podem-se usar os
conteudos de um contador, temporizador, byte da memoria imagem, byte da memoria de dados.
SOMA
D1+D2=D3
E1
S1
Caso o resultado da soma no ultrapasse o limite maximo (overIlow), a saida S1 sera
acionada. Em alguns casos o bit um, do byte de controle da instruo soma, assume valor logico
'1, determinando o estouro da capacidade. Atraves deste bit e possivel se determinar quando a
soma ultrapassou ou no o valor maximo.
5.6.8.6.2 Instruo Subtrao
Permite subtrair valores na memoria quando habilitado. Nesta instruo podem-se usar
os conteudo de um contador, temporizador, byte da memoria imagem, byte da memoria de
dados.
SUBTRAO
D1-D2=D3
E1 S1
Caso o resultado da subtrao possua sinal negativo (underIlow), a saida S1 sera
acionada. Em alguns casos o bit um, do byte de controle da instruo subtrao, assume valor
logico '1. Atraves deste bit e possivel de se determinar quando a subtrao resultou positiva ou
negativa.
AU1OMAO IADUS1RIAL Controladores de Lgica Programvel - CLPs
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 145
5.6.8.6.3 Instruo Multiplicao
Permite multiplicar valores na memoria
se a condio Ior verdadeira.
5.6.8.6.4 Instruo Diviso
Permite dividir valores na memoria quando habilitado.
DIVISO
D1 / D2 = D3 , D4
E1 S1
5.6.8.7Instrues Logicas
Estas instrues destinam-se a comparao logica entre bytes. So recursos disponiveis
para os programadores, podendo ser empregadas na analise de byte e diagnose de dados.
5.6.8.7.1 Instruo AND
Permite executar Iuno AND com valores da memoria quando habilitada .
AND
D1 . D2 = D3
E1 S1
5.6.8.7.2 Instruo OR
Permite executar Iuno OU com valores da memoria quando habilitada analisar valores
na memoria quando habilitada.
OR
D1 + D2 = D3
E1 S1
MULTIPLICAO
D1 . D2 = D3
E1 S1
AU1OMAO IADUS1RIAL Controladores de Lgica Programvel - CLPs
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 146
5.6.8.7.3 Instruo XOR
Permite executar Iuno ou exclusivo com valores da memoria quando habilitada.
XOR
D1 + D2 = D3
E1
S1
Obviamente estas so apenas algumas instrues que a programao ladder dispe. Uma
serie de outros recursos e disponivel em Iuno da capacidade do CLP em questo.
As instrues apresentadas serviro como base para o entendimento das instrues de
programao ladder de qualquer CLP, para tal conte e no dispense o auxilio do manual ou help
on-line quando disponivel no soItware de programao.
A utilizao do soItware de programao e uma questo de estudo e pesquisa, uma vez
que o layout de tela e comandos no so padronizados.
5.7 EQUACIONAMENTO DE SISTEMAS
O metodo de como equacionar ou resolver os problemas de comando de sistemas e
Iundamental para o responsavel pela automao. Ele e bem simples e de Iacil compreenso. E
empregado sempre que o numero de variaveis e elevado ou o comando envolve varias operaes.
Envolve as seguintes etapas:
1- Apresentao do problema.
2- Esclarecimento e analise.
3- Algoritmo.
4- Representao graIica.
5- Esquema Iuncional.
6- Circuitos de comando.
AU1OMAO IADUS1RIAL Controladores de Lgica Programvel - CLPs
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 147
5.7.1 Apresentao e Analise do Problema
A etapa de apresentao do problema consiste na descrio do processo ou sistema que
se quer automatizar, Ieita numa linguagem simples e compreensivel. A esta, por conseqncia,
sucede-se uma etapa de analise que consiste em esclarecer e analisar o problema. Nesse instante,
a descrio do processo e reIinada, podendo resultar ate em uma melhoria no so da
apresentao como tambem do processo, eliminando passos desnecessarios e adicionando os
indispensaveis.
Exemplo: Trocar um pneu Iurado do carro. (este no e exatamente um problema
relacionado com automao industrial, mas e bem conhecido e possibilitara explicar melhor o
metodo).
5.7.1.1Apresentao
Com a ajuda de um macaco, levantar o carro, desapertar os paraIusos do pneu Iurado e
troca-lo por outro bom.
5.7.1.2Analise
Apos um estudo pormenorizado do problema ou do sistema a automatizar, deIine-se o
seguinte:
Dar um leve desaperto nos paraIusos.
Levantar o carro com o macaco.
CertiIicar-se de que o carro esta Ireado.
Soltar os paraIusos.
VeriIicar se tem estepe.
Trocar o pneu Iurado pelo estepe.
Apertar os paraIusos.
Arriar o carro.
Dar o aperto Iinal nos paraIusos.
5.7.2 Descrio das TareIas e Representao GraIica
Descrever as operaes de um sistema e, em sua essncia, descrever todas as tareIas que
o mesmo deve realizar.
5.7.2.1Algoritmo
O algoritmo e uma descrio passo a passo do processo e na seqncia certa de
execuo. E, basicamente, o que Ioi visto na primeira etapa, porem com maior preocupao na
seqncia dos eventos e no detalhamento do sistema a automatizar. Com relao ao exemplo
citado, pode-se deIinir o seguinte algoritmo:
1- Frear o carro.
2- VeriIicar se possui estepe e se esta em bom estado.
3- Em caso negativo, procurar um borracheiro.
4- Em caso aIirmativo, pegar as Ierramentas e o estepe.
AU1OMAO IADUS1RIAL Controladores de Lgica Programvel - CLPs
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 148
5- Dar um leve desaperto nos paraIusos.
6- Levantar o carro.
7- Soltar os paraIusos.
8- Trocar o pneu.
9- Apertar os paraIusos.
10-Baixar o macaco.
11-Dar o aperto Iinal nos paraIusos.
12-Guardar as Ierramentas e o pneu Iurado.
13-Fim.
5.7.2.2Fluxograma Analitico
A representao graIica do algoritmo e o Iluxograma analitico que mostra, de modo
mais claro, a seqncia de operaes de um comando.
5.7.2.2.1 Simbologia utilizada na elaborao de um Iluxograma analitico
Este bloco e utilizado nas operaes de modo geral, em que se representa um
evento deIinido. Internamente ao bloco se descreve a natureza do evento.
Bloco de entrada e saida em que se representam os sinais de entrada no sistema
de controle, ou saida para o exterior.
Este bloco e utilizado sempre que ha interveno do operador no processo.
Internamente se descreve a natureza da interveno.
E o sinal de sub-rotina, ou seja, um desvio da rotina principal para executar
determinado controle e simpliIicar o Iluxograma principal. No seu interior
descreve-se a sub-rotina.
Terminal em que se indicam o inicio e o Iim de um programa.
Bloco de deciso por meio do qual se indicam condies para executar o desvio.
Conector utilizado para Iracionar o Iluxograma, no qual se indica internamente
a mesma notao para duas ou mais conexes.
Conector de pagina no qual so indicados os pontos de ligao entre duas
paginas.
AU1OMAO IADUS1RIAL Controladores de Lgica Programvel - CLPs
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 149
5.7.3 Esquema Funcional
A premissa para se resolver racionalmente uma tareIa de comando e uma representao
logica e inequivoca da mesma.
O esquema Iuncional e a representao graIica das condies de comando e controle
que pode ser apresentado de duas Iormas: diagrama de blocos logicos ou na Iorma de Iluxograma
do processo. A representao deve ter caracteristicas que permitam traduzi-la em um circuito de
comando eletrico.
5.7.3.1Fluxograma do Processo
O esquema Iuncional na Iorma de diagrama de blocos logicos, muitas, vezes, se torna
diIicil de entender, quando o sistema de comando e controle envolve varias operaes que se
realizam em uma determinada seqncia. O Iluxograma do processo e o esquema de
Iuncionamento por meio do qual se representam as condies do sistema de uma Iorma mais
compacta, em que o sistema e dividido em eventos ou passos.
O numero 'n representa a posio do evento.
Dentro do retngulo 'X indica-se a Iuno desse evento de uma Iorma clara e curta.
As condies de liberao do passo ou entradas so indicadas textualmente e resumidas.
As ordens de saida da etapa so colocadas em retngulos a direita do passo.
Quando as ordens a direita Iorem condio para a liberao de outros passos, devem ser
numeradas.
Caso seja necessario colocar alguma condio adicional as entradas, pode-se utilizar os
mesmos simbolos usados em diagramas de blocos logicos.
Memorias, temporizadores, contadores, etc., so representados como na simbologia em
diagrama de blocos logicos.
AU1OMAO IADUS1RIAL Controladores de Lgica Programvel - CLPs
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 150
5.7.4 Exemplo de programa: Sala Inteligente
Este exercicio tem como objetivo o uso dos contatos; NA (Normal Aberto), NF (Normal
Fechado), P (ativo em borda de subida), N (ativo em borda de descida) e tambem o uso das
saidas normais, S (Set) e R (Reset) que podem ser utilizadas tanto para o acionamento de algum
dispositivo como para setar (nivel alto) ou resetar (nivel baixo) uma posio de memoria
qualquer.
Imaginemos uma sala composta por dois soIas, dois armarios, uma mesa de centro e
uma mesa no canto com uma cadeira e um microcomputador a automatizao desta sala atraves
do CLP deve ocorrer da seguinte maneira. Quando passar uma pessoa pela porta a luz da sala
deve ser acesa ( sensor S1) e, se esta pessoa sentar em um dos soIas e a temperatura ambiente
estiver acima de 25C (temperatura detectada pelo sensor sensor S3) , o ventilador sera ligado
pois os soIas esto longe da janela (a pessoa sera detectada no soIa pelo sensor S2). No caso
desta pessoa sair do soIa, o ventilador sera desligado e se esta pessoa sair da sala a luz sera
apagada:
Para Iazermos o EX1 utilizando os contatos P (ativo em subida de borda) , N (ativo em
descida de borda), NA (normalmente aberto) NF (normalmente Iechado) e saidas normais, S
(set), R (reset) que sero utilizadas para acionar as saidas do CLP (QX.Y), setar uma posio
de memoria (MX) ou saidas do CLP iremos construir a primeira linha do diagrama ladder
colocando um contato P com endereo em serie com uma saida S.
Abaixo esta o diagrama em ladder da automatizao da sala, proceda inserindo os
contatos e saidas como Ieito anteriormente:
AU1OMAO IADUS1RIAL Controladores de Lgica Programvel - CLPs
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 151
Variaveis utilizadas
I1.0 Sensor ultra-som responsavel em ligar e desligar a lmpada.
I1.1 Sensor ultra-som responsavel em ligar e desligar o ventilador (se estiver
alguem no soIa).
I1.2 Sensor ultra-som responsavel em detectar se ha ou no alguem no soIa.
5.7.5 Exemplo de programa - Setor de Pintura de Objetos:
Este exercicio tem como objetivo o uso de contadores, temporizadores e monoestaveis.
Uma Iabrica de um determinado objeto utiliza uma esteira para transportar os objetos que sero
pintados. O objeto e colocado em uma das extremidades da esteira e sendo transportado pela
esteira ele passa por um sensor que detecta que a pea estara entrando no setor de pintura e
quando sair deste setor, outro sensor detectara que a pea esta saindo do setor de pintura em um
tempo esperado, ou seja, tudo ocorreu corretamente, caso contrario (a pea no passe entre os
sensores no tempo determinado) o sistema entre na situao de emergncia. Nesta situao e
acionado uma saida do CLP indicando alarme durante 5 segundos, a esteira para e atraves de
duas chaves o operador tem um controle manual sobre a esteira , caso ele habilite uma chave o
motor da esteira gira para um lado, caso ele habilite a outra chave, o motor da esteira gira para o
outro lado. Esta situao permanece ate que o operador habilite uma chave de reconhecimento do
alarme.
Rung ou Logica 1: Responsavel em ligar ou desligar o motor ou inverter seu sentido de
rotao.
AU1OMAO IADUS1RIAL Controladores de Lgica Programvel - CLPs
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 152
Rung ou Logica 2: Este Rung e responsavel pela logica de acionamento do sensor 1 que
Iaz a temporizao da passagem da pea pelo setor de pintura.
Rung ou Logica 3: Este e responsavel pela logica de acionamento do sensor 2 e
contagem das peas. Para inserir o contador e o mesmo procedimento que o temporizador, porem
ao invez de selecionarmos a opo TM iremos selecionar a opo C e inseri-la no diagrama
dando um clique com o mouse.
Rung ou Logica 4 Este Rung e responsavel pelo acionamento do alarme, caso a pea
no passe pelo sensor 2 no tempo determinado.
AU1OMAO IADUS1RIAL Controladores de Lgica Programvel - CLPs
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 153
Rung ou Logica 5: Rung responsavel em manter a condio de alarme.
Rung ou Logica 6: Responsavel pela temporizao da passagem da ultima pea pela
esteira.
I1.0 Chave On/OII que liga o motor da esteira (Start);
I1.1 Sensor 1 da esteira (responsavel pela deteco da entrada da pea no setor de
pintura);
I1.2 Responsavel pela contagem das peas;
I1.3 Chave On/OII que ativa a esteira em sentido horario no modo manual
(Emerg.);
I1.4 Chave On/OII que ativa a esteira em sentido anti-horario no modo manual
(Emerg.);
AU1OMAO IADUS1RIAL Controladores de Lgica Programvel - CLPs
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 154
I1.5 Boto On/OII responsavel em desativar o alarme (boto de reconhecimento);
M1 Garante a temporizao da pea pelo setor de pintura;
M2 Quebra o selo de M1;
M3 Para o motor da esteira em uma situao de emergncia;
M30 Aciona a temporizao para passagem da ultima pea (TM 1, Rung 6 );
M50 Contato responsavel pelo acionamento do modo manual na situao de
emergncia;
Q2.0 Liga o motor da esteira;
Q2.5 Saida acionada para reconhecimento do alarme;
TM0 Faz a temporizao da passagem da pea pelo setor de pintura;
TM0.Q Contato do temporizador 0 responsavel em acionar o monoestavel;
TM 1 Responsavel pela temporizao da passagem da ultima pea.
TM1.Q Responsavel em parar a esteira apos a passagem da ultima pea;
S6 Bit de sistema oscilador (1s);
MN0 Monoestavel responsavel em acionar uma saida sinalizando um alarme
durante 5s;
AU1OMAO IADUS1RIAL Comunicao Industrial
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 155
6 REDES NA AUTOMAO INDUSTRIAL (FIELDBUS)
6.1 REDES DE COMUNICAO INDUSTRIAL
A Automao no e uma tecnica atual, ela passou por varios processos de modernizao
ate chegar ao que e hoje.
Depois do advento dos CLPs e dos computadores de processo, o 'estado da arte em
automao industrial so atualmente as redes de automao, mais conhecidas como 'Fieldbus.
Fieldbus e um termo generico para sistemas de comunicao serial industrial e
representa um sistema de comunicao digital bidirecional que interliga equipamentos
inteligentes de campo com sistema de controle ou equipamentos localizados na sala de controle.
Toda maquina ou processo industrial necessita de um 'cerebro, ou seja, um
equipamento que vai comandar o Iuncionamento da mesma.
Hoje em dia, o equipamento que mais se utiliza e o CLP (Controlador Logico
Programavel), que nada mais e do que um computador-dedicado padro industrial, cuja
programao e intuitiva para pessoas com Iormao na area eletrica. Ha ainda aplicaes que
empregam o PC como elemento controlador de um sistema, por exemplo o controle de uma
maquina, e tambem existem sistemas mais soIisticados como os SDCDs (Sistema Digital com
Controle Distribuido) que normalmente so utilizados em plantas quimicas, petroquimicas e
siderurgicas.
Todos esses sistemas possuem algo em comum que e a ligao Iisica com o dispositivo
de campo, isto e, precisa existir algum componente no sistema que tenha a Iuno de Iazer a
ligao do elemento controlador com os sinais de entrada e saida de campo (I/O). Por exemplo:
sensores, chaves Iim-de-curso, valvulas, motores, variaveis analogicas provenientes de
transdutores de temperatura, etc...
Figura 5.1 Ligao paralela.
Quando alguma maquina ou processo e automatizado utilizando uma arquitetura dessas,
chamamos esse sistema de centralizado, pois todos os dispositivos no campo esto ligados Iio-a-
Iio nesse painel, Iormando uma ligao paralela, como esta ilustrado na Iigura 5.1.
p
I
c
PLC
AU1OMAO IADUS1RIAL Comunicao Industrial
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 156
6.1.1 Automao Centralizada
A automao centralizada Ioi a primeira a ser utilizada na industria. Com o passar dos
anos a automao Ioi evoluindo juntamente com o numero de pontos de uma aplicao (entende-
se como numero de pontos o numero de elementos de entrada e saida que uma aplicao possui).
Para uma automao centralizada isto comea a representar um problema, pois aumentando o
numero de pontos aumenta-se tambem:
- O tamanho do painel eletrico;
- O numero de Iios e multicabos entrando no painel;
- Erros nas ligaes dos Iios;
- O espao Iisico onde os paineis esto instalados;
Com tudo isso, aumentam tambem os custos da automao como um todo.
Na Iigura 5.2 vemos um diagrama que representa um sistema centralizado, podemos
observar que todos os elementos de campo esto ligados diretamente no CLP.
Figura 5.2. Sistema centralizado.
6.1.2 Automao Descentralizada
Para contornar este problema tiveram a ideia de descentralizar as placas de entrada e
saida de um CLP (Iigura 5.3), isto e, tirar do rack do CLP as placas que causam a maior
concentrao de pontos do sistema, permanecendo apenas a Ionte, a CPU e tambem uma placa
responsavel por converter os dados que provem serialmente do campo e disponibiliza-los para
CLPs. Ai estava nascendo o 'Fieldbus, um sistema serial para a troca de dados entre o campo e
o CLP.
So ocorria um problema ate ento: existiam varios Iabricantes de CLPs e milhares de
Iabricantes de dispositivos de entrada e saida, e todos eles tinham que se comunicar uns com os
outros.
Deveria existir um padro de comunicao entre esses equipamentos, pois, imaginem
que cada Iabricante de CLP estipulasse seu proprio padro de Fieldbus, todos os Iabricantes de
I/Os teriam que adotar esse padro caso quisessem que seu produto se comunicasse com um
sistema que utiliza esse tipo de CLP, e isso se tornaria inviavel.
AU1OMAO IADUS1RIAL Comunicao Industrial
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 157
Figura 5.3. Sistema descentralizado.
6.1.3 Em Busca de Uma Padronizao
Em 1992, surgiram dois grupos, cada grupo com as maiores empresas portadoras de
tecnologia da epoca, que emergiram na dianteira do mercado com a soluo para o Fieldbus. O
ISP (Interoperable Systems Project) e o WorldFIP (Factory Instrumentation Protocol) ambos
compartilhando diIerentes vises de como deveria ser implementado o Fieldbus, eles
reivindicaram que seus produtos teriam conIormidade com o padro ISA SP50 quando ele Iosse
Iormalizado.
O comit SP50 decidiu concentrar a soluo sobre o Fieldbus em 4 camadas:
Camada Fsica: deIine o meio eletrico da transmisso dos dados.
Camada de Dados: deIine a logica da comunicao, o Iormato dos Irames e os
metodos de deteco de erros.
Camada de Aplicao: deIine o Iormato das mensagens no qual todos os
dispositivos que estiverem conectados na rede possam entender e prover
recursos para o controle de dados na rede, suportando com isso a camada do
usuario.
Camada de Usurio: conecta partes individuais de plantas de processo. E
implementada utilizando Iunes de controle de alto nivel.
Em setembro de 1994, o WorldFIP e o ISP juntaram suas Ioras e Ioi criado o Fieldbus
Foundation (FF), em uma tentativa de aumentar a velocidade do processo de padronizao do
Fieldbus.
Finalmente, em 2000 Ioi deIinido um padro, ou melhor, 7 padres de redes para
automao industrial, a norma e a IEC 61158, que e composta pelas redes:
- ControlNet
- ProIibus
- Interbus
- T-Net
- WorldFIP
- SwiItNet
- Fieldbus Foundation.
bus
PLC
AU1OMAO IADUS1RIAL Comunicao Industrial
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 158
6.1.4 Niveis de Automao
A Automao no esta presente apenas nos elementos Iinais de campo, mas tambem em
todos os niveis de uma empresa. Podemos ver na Iigura 5.4 os niveis de automao presentes em
uma industria.
Figura 5.4. Niveis de Automao Industrial.
No principio, o Fieldbus atendia somente ao nivel mais baixo da pirmide com o intuito
de substituir a comunicao paralela de dados por um simples cabo de comunicao serial,
entretanto, com o aumento da tecnologia de automao ele tambem subiu ao nivel de sistema
interligando varios CLPs em rede e Iazendo tambem troca de dados com soItwares supervisorios.
Para cada nivel de aplicao precisa-se ter um desempenho diIerente. Por exemplo, em
uma rede no nivel de sensor/atuador espera-se:
Tempos de resposta extremamente baixos, pois uma rapida atuao de um
elemento e vital ao processo;
Poucos dados a serem transmitidos;
ConIorme os niveis Iorem atingindo o topo da pirmide o volume de dados tende a
aumentar, porem os tempos envolvidos deixam de ser criticos ao sistema. Mas para qualquer
nivel uma rede Fieldbus deve apresentar:
Alta conIiabilidade na transmisso dos dados;
Alta imunidade contra interIerncias eletromagneticas;
Otimo diagnostico de localizao de Ialhas, pois um processo parado envolve
perda na produo, e isso acarreta em perda de dinheiro;
Facilidade de expanso;
O 'Fieldbus no e apenas uma substituio do sinal de transmisso analogico de 4 a 20
mA por um digital, interligando os instrumentos de campo a sala de controle. Algumas
vantagens desta nova tecnologia so:
Reduo no custo de Iiao, instalao, operao e manuteno de plantas
industriais;
InIormao imediata sobre diagnostico de Ialhas nos equipamentos de campo.
Os problemas podem ser detectados antes deles se tornarem serios, reduzindo
assim o tempo de inatividade da planta;
AU1OMAO IADUS1RIAL Comunicao Industrial
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 159
Distribuio das Iunes de controle nos equipamentos de campo - instrumentos
de medio e elementos de controle Iinal. Sero dispensados os equipamentos
dedicados para tareIas de controle;
Aumento da robustez do sistema, visto que dados digitais so mais conIiaveis
que analogicos;
Melhoria na preciso do sistema de controle, visto que converses D/A e A/D
no so mais necessarias. Consequentemente a eIicincia da planta sera
aperIeioada.
Reduo do tempo de maquina parada.
Ampliaes e modiIicaes simpliIicadas.
Aumento da produtividade.
Aumento da Ilexibilidade.
6.1.5 Tipos de Fieldbus
Ha varios tipos de Fieldbus sendo que alguns so mais simples e outros mais
complexos. Alguns tipos podem ser aplicados para longas distncias enquanto outros somente
servem para distncias curtas. Alguns representam sistemas abertos podendo trabalhar com
equipamentos de diIerentes Iabricantes enquanto que outros so sistemas proprietarios
(Iechados) e consistem de equipamentos Iornecidos por um unico Iabricante.
6.1.5.1Sistemas Fechados
Sysmac (Omron)
JETWay-R (Jetter)
Pneubus (Norgren)
Link Bus (Allen Bradley)
Melsec (Mitsubishi)
6.1.5.2Sistemas Abertos
Device-Net
Interbus-S
ProIibus FMS
ProIibus DP
AS-InterIace
6.1.6 Comunicao Serial
A transmisso serial de dados e o metodo mais comum para transmitir dados. Os dados
so Iormados por seqncias de '0 e '1 que representam os estados 'ligado e 'desligado e
so chamados de bit. Um bit representa a menor quantidade de inIormao possivel. Os dados
AU1OMAO IADUS1RIAL Comunicao Industrial
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 160
so enviados em um Iluxo, um bit de cada vez, atraves de um canal. Os bits so reunidos para
Iormar palavras e as palavras Iormam as mensagens.
6.1.7 Topologias das Redes
A Topologia da Rede se reIere as Iormas geometricas de construo possiveis para um
barramento. Dependendo do tipo de barramento, algumas destas conIiguraes so possiveis:
6.1.7.1Topologia em Estrela
Multiplas linhas partem radialmente do controlador central (Iigura 5.5).
Figura 5.5. Topologia em estrela.
6.1.7.2Topologia em Linha
Um cabo simples passa atraves de todos os nos (Iigura 5.6).
Figura 5.6. Topologia em linha.
6.1.7.3Topologia em Linha com Derivaes
Topologia em linha onde outros cabos derivam do cabo principal. Cada derivao
possui apenas um no (Iigura 5.7).
Figura 5.7. Topologia em linha com derivaes.
bus
bus
AU1OMAO IADUS1RIAL Comunicao Industrial
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 161
6.1.7.4Topologia em Linha em Anel
Topologia em linha que utiliza cabo de 5 vias. Um cabo envia o sinal enquanto o outro
recebe. O quarto cabo e o terra e o quinto a blindagem (Iigura 5.8).
Figura 5.8. Topologia em linha em anel.
6.1.7.5Topologia em Anel
Um cabo passando por todos os nos e Iechando um loop completo retornando ao
controlador. Cada no repete a mensagem recebida.
Figura 5.9. Topologia em anel.
6.1.7.6Topologia em Arvore
E uma topologia que apresenta multiplas derivaes tanto do cabo principal como das
derivaes.
Figura 5.10. Topologia em arvore.
6.1.8 Nos e I/O
Cada modulo de um barramento possui um unico endereo e e chamado de no. Um no
consiste de um dos seguintes elementos:
Um modulo de saidas remotas (simples ou multiplas);
Um modulo de entradas remotas (simples ou multiplas);
Um componente especiIico para barramento (entrada ou saida);
bu
s
bus
bu
s
AU1OMAO IADUS1RIAL Comunicao Industrial
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 162
Um grupo de componentes especiIicos para barramento(entrada ou saida);
Os nos podem estar em qualquer posio ou seqncia.
6.1.9 Comunicao
A comunicao e a transIerncia de inIormaes de um ponto para outro. Para se
estabelecer uma comunicao e preciso ter um transmissor, um receptor e um meio pelo qual os
dados iro traIegar.
Um no envia mensagens para o controlador e recebe dele em uma seqncia de estados
de '0 e '1 do barramento chamados de bits. Eles so transmitidos em centenas de milhares de
bits por segundo e isto e chamado de 'Taxa de Transmisso (Baud Rate). Todos os modulos em
um sistema trabalham em uma mesma taxa de transmisso e podem ser acessados e responder
muitas vezes a cada segundo.
Porem no estamos nos reIerindo somente aos CLPs, mas tambem a todos os
equipamentos eletroeletrnicos, pneumaticos e hidraulicos utilizados em uma automao
industrial. Com essa grande variedade de equipamentos e Iabricantes e preciso seguir alguma
padronizao para a troca de dados, e vale e a pena ressaltar que, nesse ponto do texto, no
estamos abordando a padronizao de um sistema Fieldbus como um todo, mas sim, niveis mais
basicos que envolvem uma comunicao como, por exemplo, os niveis dos sinais eletricos em
um cabo de interligao entre dois equipamentos.
Ha um modelo de comunicao desenvolvido pela ISO (International Standards
Organization) chamado OSI (Open Systems Interconnection), com a ajuda do qual podemos ter
uma boa ideia de como um Fieldbus e estruturado.
6.1.10 Modelo de ReIerncia - ISO/OSI
Esse modelo Ioi idealizado para estruturar redes e aplicativos em computadores, mas
analogamente a uma rede Fieldbus, ele tambem eIetua troca de dados e podemos aproveitar
alguns de seus preceitos para uma melhor compreenso e diviso dos componentes que
envolvem a troca de dados em um sistema Fieldbus. De acordo com esse modelo, os
processamentos de uma comunicao devem ser estruturados em ate sete camadas ou niveis,
como podemos ver na Iigura 5.11.
As camadas do modelo OSI seguem as seguintes regras:
O caminho da comunicao do 'usuario ate o meio de transmisso passa
atraves de sete camadas estabelecidas;
Cada camada tem uma Iuno especiIica dentro do modelo;
As camadas possuem bibliotecas de servios que podem ser utilizadas pelas
camadas superiores, sendo que estas para eIetuar uma comunicao, enviam um
pacote com dados contendo a requisio do servio que este deseja da camada
inIerior;
AU1OMAO IADUS1RIAL Comunicao Industrial
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 163
Figura 5.11. As sete camadas do modelo de comunicao OSI.
Essas regras permitem que uma tareIa complicada como a 'comunicao possa ser
dividida em pequenas e gerenciaveis tareIas, e com isso e possivel a troca de conteudo de uma
camada somente em caso de necessidade, sem alterar as demais.
No e necessario para um sistema de comunicao implementar as sete camadas do
modelo, ou seja, pode-se deixar camadas 'vazias.
6.1.11 O Caminho dos Dados Entre Dois Equipamentos
A Iigura 5.12 ilustra como dois sistemas abertos trocam dados de acordo com o modelo
OSI.
O equipamento A insere os dados na camada de aplicao do sistema A. Esses dados
so passados de uma camada para outra.
Na ultima delas, que e o nivel Iisico, os dados so eIetivamente transIeridos para o nivel
Iisico do sistema B. A partir desta, os dados so transIeridos camada por camada ate estes
estarem disponiveis para o equipamento B.
Figura 5.12. Troca de dados entre dois sistemas utilizando o modelo OSI.
Com a implementao das camadas e possivel assegurar a validade dos dados, o correto
envio dos dados para o endereo de destino 'equipamento B (supondo que existam mais de
dois participantes na rede), o controle dos processos de comunicao, e tambem a
AU1OMAO IADUS1RIAL Comunicao Industrial
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 164
implementao de servios Iaceis para o usuario, por exemplo: o acesso aos dados de entradas
analogicas do equipamento B a partir do equipamento A.
6.1.12 Camadas no Modelo OSI
6.1.12.1 Fisica
Na camada Iisica, uma seqncia de bits representa os dados que esto sendo
transmitidos pelo canal de comunicao.
Deve ser assegurado nesta camada que o nivel logico do bit, os 0s e 1s, sejam
reconhecidos pelo receptor exatamente como o transmissor os enviou. E possivel codiIicar esses
niveis logicos de diversas Iormas: niveis de tenses, presena ou no de luz, entre outros.
Principal tarefa
A correta transmisso de uma seqncia de bits.
A transmisso pode se proceder atraves de diIerentes meios de transmisso, por
exemplo: cabo de cobre tranado, cabo coaxial, Iibras opticas, inIravermelho.
6.1.12.2 Enlace
A camada de enlace passa para a camada Iisica, alem dos dados, tambem uma
inIormao para a segurana dos mesmos.
So incluidos nos dados codigos de proteo e redundncia dos mesmos Iormando, com
isso, um pacote de dados. Esses codigos podem ser metodos simples de reconhecimento de erros
(checksum) ou codigos de correo de erros (exemplo: Hamming codes).
Principal tarefa
Proteo dos dados.
Havera problemas se todo o pacote de dados Ior destruido, uma vez que a mensagem de
erro que sera gerada tambem podera ser daniIicada no retorno.
A camada enlace devera assegurar tambem que o receptor pode aceitar o pacote de
dados por completo e passa-los adiante em tempo determinado. Controle dos Iluxos de dados e
ate buIIers de dados podem ser implementados para isso.
6.1.12.3 Rede
Nesta camada e controlado o acesso a um determinado equipamento atraves, por
exemplo, de um endereo. Ha basicamente dois tipos de comunicao que uma variedade de
redes pode implementar: ponto-a-ponto e comunicao broadcast.
Para comunicao ponto-a-ponto, a tareIa da camada e selecionar e estabelecer rotas
entre o equipamento transmissor e o equipamento receptor.
Comunicaes do tipo broadcast so mensagens que so enviadas a mais de um
participante na rede e esse tipo de mensagem tem que ser tratado de uma Iorma especial para no
haver mais de um equipamento acessando um unico canal de comunicao simultaneamente.
O protocolo mais conhecido para essa camada e o IP (Internet Protocol).
AU1OMAO IADUS1RIAL Comunicao Industrial
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 165
Principal tarefa
Selecionar rotas entre os elementos participantes da comunicao.
6.1.12.4 Transporte
A camada de transporte aceita dados da camada de seo e passa para a camada de rede
um pacote de dados cujo tamanho possa ser transmitido. Um pacote de dados da camada de
seo e quebrado em diversos e pequenos pacotes para serem transmitidos sem sobrecarregar a
rede e chegando ao destino sejam remontados Iormando o bloco original dos dados.
Essa no e uma tareIa Iacil, pois uma vez que os pacotes so quebrados, eles podem
traIegar pela rede por diversos caminhos e, com isso, chegaro ao destino em tempos diIerentes,
isso quer dizer 'Iora de ordem, e como traIegam por caminhos diIerentes, pode ser que alguns
deles tenham que ser retransmitidos devido a erros e outros no, atrasando ainda mais a
montagem do pacote Iinal.
O protocolo mais conhecido para essa camada e o TCP (Transmission Control
Protocol).
Principal tarefa
Preparao dos dados para a camada de rede.
6.1.12.5 Seo
E nessa seo que se Iaz um controle global da comunicao. Comunicaes com
propositos especiIicos so iniciadas e terminadas, e esta tambem prov uma serie de servios
para as camadas posteriores.
Principal tarefa
Disponibiliza servios para as camadas de apresentao e aplicao.
6.1.12.6 Apresentao
Uma vez que varios equipamentos e sistemas estejam disponiveis para a troca de dados,
e util que uma camada possa Iazer determinados tipo de converses, tais como converso de
Iontes, diIerentes representaes de numeros (decimal, hexadecimal, binario), etc., e tambem e
nessa camada que e realizada a criptograIia dos dados para autenticidade e sigilo dos mesmos .
Principal tarefa
Converso na estrutura de dados.
6.1.12.7 Aplicao
Ao contrario das outras camadas, esta disponibiliza servios para o usuario. Como os
dados so transmitidos ou recebidos, eles so transparentes para o usuario.
Principal tarefa
Disponibilizar servios aos usuarios Iinais.
AU1OMAO IADUS1RIAL Comunicao Industrial
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 166
Como Ioi dito anteriormente, nem toda a rede de comunicao necessita dos sete niveis
do modelo OSI para ser implementada. A maioria das redes Fieldbus precisa somente de trs
niveis: nivel 1- Fisico, nivel 2- Enlace e o nivel 7 aplicao. Podemos citar como exemplo as
redes Interbus e ProIibus.
6.1.13 Meios de Transmisso
A transmisso dos dados em uma rede Fieldbus pode traIegar por varios canais de
comunicao. Podemos citar alguns, como:
Fibra ptica esta e utilizada em meio industrial no pela sua capacidade de
alcanar grandes distncias sem a perda do sinal, mas sim, para isolar
eletricamente os equipamentos e tambem para proteger a integridade dos dados
contra interIerncias eletromagneticas.
Slip-Ring tambem chamado coletor rotativo, este equipamento e empregado
quando que temos que transmitir os dados em nos que Iicam em partes rotativas
de uma maquina, por exemplo.
Guia de ondas - possui a mesma IilosoIia do slip-ring, porem para maquinas
com deslocamentos lineares;
Infravermelho e utilizado onde no ha possibilidade de passar nenhum tipo
de cabo ou em ambientes onde a temperatura e muito alta.
Cabo de cobre e o meio de transmisso mais utilizado dentre todos os citados.
Todos esses meios de transmisso mencionados acima so meios de transmisso serial e
no paralela, porque a transmisso serial elimina a quantidade de cabos condutores, que e
justamente a IilosoIia do Fieldbus.
6.1.14 Sistema Mestre-Simples Multi-Escravo
Em um sistema de um mestre e muitos escravos, o controlador e que inicia a interao
com cada no. Cada no e acessado em seqncia e o controlador espera pela resposta antes de
acessar o no seguinte. Cada mudana de estado da inIormao sera transIerida dentro de um
ciclo.
Figura 5.13. Sistema de um mestre e muitos escravos.
6.1.15 Multi-mestre Multi-escravo
Um sistema multi-mestre multi-escravo permite que nos e mestres enviem mensagens
sempre que necessitarem. SoItwares anti-coliso evitam que dois ou mais nos tentem enviar
mensagens ao mesmo tempo.
AU1OMAO IADUS1RIAL Comunicao Industrial
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 167
Figura 5.14. Sistema de muitos mestres e muitos escravos.
6.1.16 Gateways (portas)
Um gateway e um dispositivo que converte um tipo de protocolo em outro para permitir
a comunicao entre redes de tipos diIerentes.
Figura 5.15. Gateways
6.1.17 Protocolo
Um protocolo de um determinado tipo de barramento e um conjunto de regras que
determinam a estrutura e o tamanho das mensagens e a ordem na qual elas sero montadas.
6.1.18 Mensagem
Cada tipo de barramento Fieldbus possui um protocolo diIerente. Abaixo, v-se um
exemplo de uma mensagem que poderia ser montada com as seguintes partes: codigo de inicio
de mensagem / codigo do endereo de origem / codigo do endereo de destino / codigo da
instruo / codigo do dado da instruo / somatorio (checksum) / codigo de Iim da mensagem.
Figura 5.16. Exemplo de mensagem de Fieldbus.
PROFI BUS DP
AS-I
Gateway/
ControIIer
Gateway/
ControIIer
AS-I
PLC
0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
start source dest instr data end
0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
checksum
AU1OMAO IADUS1RIAL Comunicao Industrial
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 168
6.1.19 Velocidade
A combinao de taxa de transmisso, comprimento da mensagem, numero de nos no
sistema e programa de comunicao determinaro a velocidade de um barramento de Fieldbus.
Sistemas complexos necessitam de estruturas de mensagens longas para transmitir
inIormaes complexas. Mensagens simples neste sistema sero transmitidas com muito mais
bits do que seriam em um sistema mais simples. Ento Iica evidente que sistemas mais simples
com baixas taxas de transmisso podem ser consideravelmente mais rapidos que um sistema
complexo com altas taxas de transmisso.
5.3.1 RS-485 O Meio Fisico Mais Comum na Industria em Modbus
Em um cabo de cobre pode haver varios tipos de codiIicao para a transmisso de
sinais. Assim, Ioram criados alguns padres para garantir a conectividade entre equipamentos
eletricos que so utilizados em todas as areas de Eletrnica e tambem em Automao Industrial.
Esses padres Ioram normalizados pela EIA (Electronics Industry Association) e
consistem em padronizaes eletricas mecnicas e Iuncionais. Citaremos aqui o padro mais
empregado em redes Fieldbus, que e o RS-485. Normalmente e chamado de RS-485, mas seu
nome oIicial e EIA-485.
O padro de transmisso de dados no que chamamos Iorma diIerencial, e ideal para a
transmisso de dados em altas taxas de transmisso, em longas distncias e ate mesmo em
condies de interIerncia eletromagnetica (dentro dos limites estipulados pela norma).
Podemos visualizar uma transmisso diIerencial na Iigura 5.21.
A transmisso diIerencial anula os eIeitos de variao de terra e ruidos em uma linha de
transmisso, pois estes aparecem em modo comum na linha de transmisso, explicando melhor:
um ampliIicador operacional em modo diIerencial veriIica a diIerena das tenses nos seus
terminais de entrada. Como o cabo e tranado, ao haver algum tipo de induo eletromagnetica
nele, esta induz igualmente nos dois condutores, elevando a tenso por igual na entrada do
ampliIicador diIerencial; porem como ele veriIica a diIerena das tenses nas suas entradas, no
havera alterao na tenso resultante. Exemplo: condio normal entrada A 5V e entrada B
-5V tenso resultante e A-B 5 -(-5) 10V, vamos supor que um ruido induziu 2V nos
condutores, ento entrada A 7V e entrada B -3V tenso resultante e A-B 7 (-3) 10V,
com isso podemos provar que uma transmisso serial e ideal para uma rede Fieldbus.
As principais caracteristicas do protocolo RS-485 so:
Transmisso diIerencial.
Funcionamento com uma simples Ionte de 5Vdc.
Permite ate 32 estaes na rede.
Velocidade de transmisso de ate 10Mbps (com distncia de ate 12m).
Distncia de ate 1200m (com velocidade ate 100Kbps).
As portas de comunicao no so queimadas se a linha entrar em curto-circuito.
No necessita de um sinal de reIerncia entre os nos.
AU1OMAO IADUS1RIAL Comunicao Industrial
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 169
Figura 5.21. Topologia em linha utilizando padro RS-485 (diIerencial).
Resistores de terminao devem estar em paralelo com a linha de transmisso de dados
nas extremidades da rede, o valor desses resistores e de 100, todavia podem ser empregadas
outras tecnicas de terminao segundo a norma NA-903/EIA.
O intuito desses resistores envolve teorias mais detalhadas, mas podemos dizer que,
com a incluso dos resistores, melhora-se a qualidade do sinal.
Distncia maxima de transmisso e de 400m.
O shield (malha eletrica do cabo) deve ser conectado as duas pontas com uma boa
condutividade utilizando uma boa area de contato.
E recomendavel que o cabo de dados da rede Modbus esteja separado de cabos de baixa
tenso.
Alem do meio Iisico RS-485, as Fibras Opticas tambem so muito utilizadas em
Modbus e os modelos delas so:
Fibra optica polimerica: entre as Iibras opticas e a mais utilizada, por ser a mais
Iacil de se trabalhar, a mais Ilexivel em ambiente industrial e a mais barata, sua
distncia maxima depende do modulo em questo, existem modulos para 50
metros e modulos para 70 metros;
Fibra optica HCS: e uma Iibra polimerica com o nucleo de vidro, sendo a
segunda mais utilizada com Interbus, pois permite uma distncia maior (ate 370
metros) e sua conectorizao e Iacil de Iazer, dispensando empresas para a sua
conIeco. Seu custo e um pouco maior que o da Iibra polimerica e menor que o
da Iibra de vidro. Com essa Iibra e necessario um maior cuidado para se
trabalhar, pois seu nucleo e de vidro, Iacilmente quebravel;
Fibra de vidro multimodo: quando temos grandes distncias envolvidas, elas so
empregadas. Seu custo e o mais caro das trs, porem, e a que alcana a maior
distncia, aproximadamente 3300 metros entre modulos. Requer o maximo de
cuidado no manuseio e sua conectorizao depende de empresas especializadas
para Iaz-la.
AU1OMAO IADUS1RIAL Comunicao Industrial
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 170
Lembramos que o uso de Iibra optica em meio industrial e empregado na maioria das
aplicaes onde temos um alto indice de interIerncias eletromagneticas ou quando precisamos
isolar dois modulos eletricamente, e no somente pela distncia envolvida ou por uma suposta
melhoria de perIormance (a taxa de transmisso e Iixa, independentemente do cabo utilizado).
6.2 CABOS PARA REDES FIELDBUS
6.2.1 Fibras Opticas
As Fibras Opticas so utilizadas na rede ProIibus em ambientes com alto indice de
interIerncia eletromagnetica ou para isolar equipamentos eletricamente, ou ainda para aumentar
a distncia entre elementos da rede. Podemos ver na tabela os tipos de Fibras Opticas
empregadas com a rede ProIibus.
Alguns Iornecedores de produtos para a rede ProIibus disponibilizam alem da
tradicional conexo em cobre, tambem a conexo em Fibra Optica, porem quando isso no
ocorrer se Iara necessario o uso de conversores de sinal.
Tipo de Fibra Caracteristicas
Fibra de Vidro Multimodo Distncias medias que variam de 2 a 3 km
Fibra de Vidro Monomodo Grandes distncias podem chegar ate 15 km
Fibra HCS ou PCS Distncias pequenas de ate 500 m
Fibra polimerica Distncias pequenas de ate 80 m
Uma Iibra optica e um capilar Iormado por materiais cristalinos e homogneos,
transparentes o bastante para guiar um Ieixe de luz (visivel ou inIravermelho) atraves de um
trajeto qualquer. A estrutura basica desses capilares so cilindros concntricos com determinadas
espessuras e com indices de reIrao tais que permitam o Ienmeno da reIlexo interna total. O
centro (miolo) da Iibra e chamado de nucleo e a regio externa e chamada de casca. Para que
ocorra o Ienmeno da reIlexo interna total e necessario que o indice de reIrao do nucleo seja
maior que o indice de reIrao da casca.
6.2.1.1Fibra de Indice Degrau (Step Index)
Este tipo de Iibra Ioi o primeiro a surgir e e o tipo mais simples. Constitui-se
basicamente de um unico tipo de vidro para compor o nucleo, ou seja, com indice de reIrao
constante. O nucleo pode ser Ieito de varios materiais como plastico, vidro, etc. e com dimenses
que variam de 50 a 400 m, conIorme o tipo de aplicao.
A casca, cuja a Iuno basica de garantir a condio de guiamento da luz pode ser Ieita
de vidro, plastico e ate mesmo o proprio ar pode atuar como casca (essas Iibras so chamadas de
bundle).
Essas Iibras so limitadas quanto a capacidade de transmisso. Possuem atenuao
elevada (maior que 5 dB/km) e pequena largura de banda (menor que 30 MHz.km) e so
utilizadas em transmisso de dados em curtas distncias e iluminao.
AU1OMAO IADUS1RIAL Comunicao Industrial
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 171
6.2.1.2Fibra de Indice Gradual (Graded Index)
Este tipo de Iibra tem seu nucleo composto por vidros especiais com diIerentes valores
de indice de reIrao, os quais temo o objetivo de diminuir as diIerenas de tempos de
propagao da luz no nucleo, devido aos varios caminhos possiveis que a luz pode tomar no
interior da Iibra, diminuindo a disperso do impulso e aumentando a largura de banda passante
da Iibra optica.
A variao do indice de reIrao em Iuno do raio do nucleo obedece a seguinte
equao n(r)n
1
.(1-(r/a)
.), onde
n(r) e o indice de reIrao do ponto r
n
1
e o indice de reIrao do nucleo
r e a posio sobre o raio do nucleo
e o coeIiciente de otimizao
e a diIerena entre o indice de reIrao da casca e do nucleo
Os materiais tipicamente empregados na Iabricao dessas Iibras so silica pura para a
casca e silica dopada para o nucleo com dimenses tipicas de 125 e 50 m respectivamente.
Essas Iibras apresentam baixas atenuaes (3 dB/km em 850 nm) e capacidade de transmisso
elevadas. So, por esse motivo, empregadas em telecomunicaes.
6.2.1.3Fibra Monomodo
Esta Iibra, ao contrario das anteriores, e construida de tal Iorma que apenas o modo
Iundamental de distribuio eletromagnetica (raio axial) e guiado, evitando assim os varios
caminhos de propagao da luz dentro do nucleo, consequentemente diminuindo a disperso do
impulso luminoso.
AU1OMAO IADUS1RIAL Comunicao Industrial
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 172
Para que isso ocorra, e necessario que o dimetro do nucleo seja poucas vezes maior que
o comprimento de onda da luz utilizado para a transmisso. As dimenses tipicas so 2 a 10 m
para o nucleo e 80 a 125 m para a casca. Os materiais utilizados para a sua Iabricao so silica
e silica dopada.
So empregadas basicamente em telecomunicaes pois possuem baixa atenuao (0,7
dB/km em 1300 nm e 0,2 dB/km em 1550 nm) e grande largura de banda (10 a 100 GHz.km).
6.2.2 Guiamento de Luz Em Fibras Opticas
6.2.2.1Abertura Numerica
E um parmetro basico para Iibras multimodos (degrau e gradual) que representa o
ngulo maximo de incidncia que um raio deve ter, em relao ao eixo da Iibra, para que ele
soIra a reIlexo interna total no interior do nucleo e propague-se ao longo da Iibra atraves de
reIlexes sucessivas.
6.2.3 Propriedades das Fibras Opticas
A Iibra optica apresenta certas caracteristicas particulares, que podemos tratar como
vantagens, quando comparadas com os meios de transmisso Iormados por condutores metalicos,
tais como:
Imunidade a ruidos externos em geral e interIerncias eletromagneticas em
particular, como as causadas por descargas atmosIericas e instalaes eletricas
de altas tenses;
Imunidade a interIerncias de Ireqncias de radio de estaes de radio e radar, e
impulsos eletromagneticos causados por exploses nucleares;
Imune a inIluncia do meio ambiente, como por exemplo umidade;
Ausncia de diaIonia;
Grande conIiabilidade no que diz respeito ao sigilo das inIormaes
transmitidas;
Capacidade de transmisso muito superior a dos meios que utilizam condutores
metalicos;
Baixa atenuao, grandes distncias entre pontos de regenerao;
Cabos de pequenas dimenses (pequeno dimetro e pequeno peso) o que implica
em economia no transporte e instalao.
AU1OMAO IADUS1RIAL Comunicao Industrial
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 173
6.2.4 Aplicaes das Fibras Opticas
Redes de telecomunicaes
Entroncamentos locais
Entroncamentos interurbanos
Conexes de assinantes
Redes de comunicao em Ierrovias
Redes de distribuio de energia eletrica (monitorao, controle e proteo)
Redes de transmisso de dados e Iac-simile
Redes de distribuio de radiodiIuso e televiso
Redes de estudios, cabos de cmeras de TV
Redes internas industriais
Equipamentos de sistemas militares
Aplicaes de controle em geral
Veiculos motorizados, aeronaves, navios, instrumentos, etc.
6.2.5 Caracteristicas de Transmisso da Fibra Optica
6.2.5.1Atenuao
A atenuao ou perda de transmisso pode ser deIinida como a diminuio da
intensidade de energia de um sinal ao propagar-se atraves de um meio de transmisso. A Iormula
mais usual para o calculo da atenuao e a seguinte 10 log
P
P
s
e
, onde
P
s
e a potncia de saida
P
e
e a potncia de entrada
Nas Iibras opticas, a atenuao varia de acordo com o comprimento de onda da luz
utilizada. Essa atenuao e a soma de varias perdas ligadas ao material que e empregado na
Iabricao das Iibras e a estrutura do guia de onda. Os mecanismos que provocam atenuao so:
Absoro.
Espalhamento.
DeIormaes mecnicas.
6.2.5.1.1 Absoro
Os tipos basicos de absoro so
Absoro material.
Absoro do ion OH
-
.
AU1OMAO IADUS1RIAL Comunicao Industrial
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 174
A absoro material e o mecanismo de atenuao que exprime a dissipao de parte da
energia transmitida numa Iibra optica em Iorma de calor. Neste tipo de absoro temos Iatores
extrinsecos e intrinsecos a propria Iibra.
Como Iatores intrinsecos, temos a absoro do ultravioleta, a qual cresce
exponencialmente no sentido do ultravioleta, e a absoro do inIravermelho, provocada pela sua
vibrao e rotao dos atomos em torno da sua posio de equilibrio, a qual cresce
exponencialmente no sentido do inIravermelho.
Como Iatores extrinsecos, temos a absoro devido aos ions metalicos porventura
presentes na Iibra (Mn, Ni, Cr, U, Co, Fe e Cu) os quais, devido ao seu tamanho, provocam picos
de absoro em determinados comprimentos de onda exigindo grande puriIicao dos materiais
que compem a estrutura da Iibra optica.
A absoro do OH
-
(hidroxila) provoca atenuao Iundamentalmente no comprimento
de onda de 2700 nm e em sobre tons (harmnicos) em torno de 950 nm, 1240 nm e 1380 nm na
Iaixa de baixa atenuao da Iibra. Esse ion e comumente chamado de agua e e incorporado ao
nucleo durante o processo de produo. E muito diIicil de ser eliminado.
6.2.5.1.2 Espalhamento
E o mecanismo de atenuao que exprime o desvio de parte da energia luminosa guiada
pelos varios modos de propagao em varias direes. Existem varios tipos de espalhamento
(Rayleigh, Mie, Raman estimulado, Brillouin estimulado) sendo o mais importante e
signiIicativo o espalhamento de Rayleigh. Esse espalhamento e devido a no homogeneidade
microscopica (de Ilutuaes termicas, Ilutuaes de composio, variao de presso, pequenas
bolhas, variao no perIil de indice de reIrao, etc.
6.2.5.1.3 DeIormaes Mecnicas
As deIormaes so chamadas de microcurvatura e macrocurvatura, as quais ocorrem
ao longo da Iibra devido a aplicao de esIoros sobre a mesma durante a conIeco e instalao
do cabo.
As macrocurvaturas so perdas pontuais (localizadas) de luz por irradiao, ou seja, os
modos de alta ordem (ngulo de incidncia proximo ao ngulo critico) no apresentam condies
de reIlexo interna total devido a curvaturas de raio Iinito da Iibra optica.
As microcurvaturas aparecem quando a Iibra e submetida a presso transversal de
maneira a comprimi-la contra uma superIicie levemente rugosa. Essas microcurvaturas extraem
parte da energia luminosa do nucleo devido aos modos de alta ordem tornarem-se no guiados.
Existem trs comprimentos de onda tipicamente utilizados para transmisso em Iibras
opticas:
850 nm com atenuao tipica de 3 dB/km
1300 nm com atenuao tipica de 0,8 dB/km
1550 nm com atenuao tipica de 0,2 dB/km
AU1OMAO IADUS1RIAL Comunicao Industrial
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 175
6.2.5.2Disperso
E uma caracteristica de transmisso que exprime o alargamento dos pulsos transmitidos.
Este alargamento determina a largura de banda da Iibra optica, dada em MHz.km, e esta
relacionada com a capacidade de transmisso de inIormao das Iibras. Os mecanismos basicos
de disperso so:
Modal.
Cromatica.
6.2.5.2.1 Disperso Modal
Este tipo de disperso so existe em Iibras do tipo multimodo (degrau e gradual) e e
provocada basicamente pelos varios caminhos possiveis de propagao (modos) que a luz pode
ter no nucleo. Numa Iibra degrau, todos os modos viajam com a mesma velocidade, pois o indice
de reIrao e constante em todo o nucleo. Logo, os modos de alta ordem (que percorrem
caminho mais longo) demoraro mais tempo para sair da Iibra do que os modos de baixa ordem.
6.2.5.2.2 Disperso Cromatica
Esse tipo de disperso depende do comprimento de onda e divide-se em dois tipos:
Disperso material.
Disperso de guia de onda.
6.2.5.3Disperso Material
Como o indice de reIrao depende do comprimento de onda e como as Iontes
luminosas existentes no so ideais, ou seja, possuem uma certa largura espectral Iinita (),
temos que cada comprimento de onda enxerga um valor diIerente de indice de reIrao num
determinado ponto, logo cada comprimento de onda viaja no nucleo com velocidade diIerente,
provocando uma diIerena de tempo de percurso, causando a disperso do impulso luminoso.
6.2.5.4Disperso de Guia de Onda
Esse tipo de disperso e provocado por variaes nas dimenses do nucleo e variaes
no perIil de indice de reIrao ao longo da Iibra optica e depende tambem do comprimento de
onda da luz. Essa disperso so e percebida em Iibras monomodo que tem disperso material
reduzida ( pequeno em torno de 1300 nm) e e da ordem de alguns ps/(nm.km).
Os tipos de disperso que predominam nas Iibras so
Degrau: modal (dezenas de MHz.km).
Gradual: modal material (menor que 1 GHz.km).
Monomodo: material guia de onda (10 a 100 GHz.km).
AU1OMAO IADUS1RIAL Comunicao Industrial
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 176
6.2.6 Instalao de Cabos
Cabos opticos requerem cuidados especiais para instalao pois as Iibras so materiais
Irageis e quebradios. Deve-se observar que:
O cabo no deve soIrer curvaturas acentuadas, o que pode provocar quebra das
Iibras em seu interior.
O cabo no deve ser tracionado pelas Iibras ou elementos de enchimento adjacentes
a elas, mas sim pelos elementos de trao ou ao existentes no cabo.
A velocidade de puxamento no deve ser muito elevada para permitir uma
paralisao imediata se necessario.
No se deve exceder a maxima tenso de puxamento especiIicada para o cabo. Esta
deve ser monitorada, atraves de uma celula de carga ,durante todo o puxamento.
O cabo deve ser limpo e lubriIicado a Iim de diminuir o atrito de tracionamento.
Deve-se puxar o cabo com um destorcedor para permitir uma acomodao natural
do cabo no interior do duto ou canalizao.
6.2.7 ConIeco de Emendas
Existem dois tipos basicos de emendas que podem ser eIetuadas:
Emenda por Iuso.
Emenda mecnica.
6.2.7.1Emenda por Fuso
Neste tipo de emenda a Iibra e introduzida numa maquina , chamada maquina de Iuso,
limpa e clivada, para , apos o alinhamento apropriado, ser submetida a um arco voltaico que eleva a
temperatura nas Iaces das Iibras, o que provoca o derretimento das Iibras e a sua soldagem. O arco
voltaico e obtido a partir de uma diIerena de potencial aplicada sobre dois eletrodos de metal.
Apos a Iuso a Iibra e revestida por resinas que tem a Iuno de oIerecer resistncia
mecnica a emenda, protegendo-a contra quebras e Iraturas. Apos a proteo a Iibra emendada e
acomodada em recipientes chamados caixa de emendas.
As caixas de emendas podem ser de varios tipos de acordo com a aplicao e o numero de
Iibras. Umas so pressurizaveis ou impermeaveis, outras resistentes ao sol, para instalao aerea.
A CLIVAGEM e o processo de corte da ponta da Iibra optica. E eIetuada a partir de um
pequeno Ierimento na casca da Iibra optica (risco) e a Iibra e tracionada e curvada sob o risco, assim
o Ierimento se propaga pela estrutura cristalina da Iibra.
A qualidade de uma clivagem deve ser observada com microscopio.
AU1OMAO IADUS1RIAL Comunicao Industrial
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 177
6.2.7.2Emenda Mecnica
Este tipo de emenda e baseado no alinhamento das Iibras atraves de estruturas mecnicas.
So dispositivos dotados de travas para que a Iibra no se mova no interior da emenda e contem
liquidos entre as Iibras , chamados liquidos casadores de indice de reIrao, que tem a Iuno de
diminuir as perdas de Fresnel (reIlexo). Neste tipo de emenda as Iibras tambem devem ser limpas e
clivadas.
Este tipo de emenda e recomendado para aqueles que tem um numero reduzido de emendas
a realizar pois o custo desses dispositivos e relativamente barato, alem de serem reaproveitaveis.
6.2.8 Par Tranado
Ha alguns anos a rede Ieita com cabo de par tranado vem substituindo as redes
construidas com cabos coaxiais de 50 Ohms devido principalmente a Iacilidade de manuteno,
pois com o cabo coaxial e muito trabalhoso achar um deIeito devido que se houver um mau
contato ou qualquer problema com as conexes em algum ponto da rede o problema se reIletira
em todas as maquinas da rede, o que no acontece em uma rede de par tranado.
Outro motivo e a vantagem de se atingir maior taxa de transIerncia podendo trabalhar
no somente a 10 Mbps, mas tambem a 100 Mbps (Fast Ethernet) ou ate 1000 Mbps (1 Gigabite
Ethernet).
Da-se o nome de cabo de par tranado devido que os pares de Iios se entrelaarem por
toda a extenso do cabo, evitando assim interIerncias externas, ou do sinal de um dos Iios para
o outro.
Se utilizarmos cabos convencionais havera comunicao sim , mas com ruidos que
prejudicaria muito a comunicao entre as maquinas.
Como em qualquer comunicao que estejam varias maquinas envolvidas os dados so
podem ser recebidos ou enviados por uma maquina por vez, enquanto as outras maquinas
esperam para enviar os seus dados, se o pacote de dados chegar corrompidos, a maquina que os
recebeu pede que eles sejam enviados novamente e isto custara mais tempo de espera das outras
maquinas, ento quanto mais perIeito a linha que traIega os dados, mais rapida sera a rede,
utilizando-se placas especiais Fast Ethernet e cabos CAT 5 chegarmos ate a 100 Mb por
segundo.
Com a popularizao das conexes rapidas ( Speed, Cabo etc... ) as placas de 100 Mb e
os Hubs tornaram-se acessiveis no seu preo, portanto so as ideais para uma pequena rede ou
rede domestica, e tambem deve ser utilizado o cabo UTP CAT 5.
Deve-se veriIicar tambem a ligao do cabo de acordo com os sinais envolvidos, como
no conector RJ 45 para a ligao de rede convencional (10 ou 100 Mbps) somente os pinos 1,2,3
e 6 so na verdade utilizados ento devemos Iazer a ligao de acordo com o mostrado na Iigura
2, se ligarmos os pinos de acordo com a Iigura 1, a rede tambem Iuncionaria, mas com ruidos a
menos de 10 Mb/s e jamais Iuncionaria a 100 Mb/s podendo ate travar os computadores da rede.
AU1OMAO IADUS1RIAL Comunicao Industrial
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 178
6.2.8.1Tipos de Cabo Par Tranado
Existem dois tipos basicos de cabos par tranado:
UTP - Unshielded Twisted Pair - Par tranado sem blindagem.
Este e sem duvida o cabo mais utilizado neste tipo de rede, o cabo UTP e de Iacil
manuseio, instalao e permite taxas de transmisso em ate 100 Mbps com a utilizao do cabo
CAT 5 so usados normalmente tanto nas redes domesticas como nas grandes redes industriais e
para distancias maiores que 150 metros hoje em dia e utilizados os cabos de Iibra otica que vem
barateando os seus custos.
STP - Shielded Twisted Pair - Par tranado com blindagem.
O cabo brindado STP e muito pouco utilizado sendo basicamente necessarios em
ambientes com grande nivel de interIerncia eletromagnetica. Deve-se dar preIerncia a sistemas
com cabos de Iibra otica quando se deseja grandes distncias ou velocidades de transmisso,
podem ser encontrados com blindagem simples ou com blindagem par a par.
6.2.8.2O Cabo UTP
Os cabos UTP Ioram padronizados pelas normas da EIA/TIA com a norma 568 e so
divididos em 5 categorias, levando em conta o nivel de segurana e a bitola do Iio, onde os
numeros maiores indicam Iios com dimetros menores, veja abaixo um resumo simpliIicado dos
cabos UTP.
Tipo Uso
Categoria 1 Voz (Cabo TeleInico)
Categoria 2 Dados a 4 Mbps (LocalTalk)
So utilizados por equipamentos de
telecomunicao e no devem ser
usados para uma rede local
Categoria 3 Transmisso de ate 16 MHz. Dados a 10 Mbps (Ethernet)
Categoria 4 Transmisso de ate 20 MHz. Dados a 20 Mbps (16 Mbps Token Ring)
Categoria 5 Transmisso de ate 100 MHz. Dados a 100 Mbps (Fast Ethernet)
AU1OMAO IADUS1RIAL Comunicao Industrial
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 179
6.2.8.3Cabo UTP Seco
6.2.9 Conector RJ-45
6.2.9.1Pinagem
NUMERO DOS
PINOS
DESTINAO
1 TD Transmite dados
2 TD- Transmite dados
3 RD Recebe dados
6 RD- Recebe dados
4, 5, 7, 8 Reservados ( no utilizados )
6.2.9.2Conector RJ-45 (Tomada) Pinagem
6.2.9.3Conector RJ-45 Montado
A seqncia de cores na pratica no e importante mas a norma EIA/TIA 568A
determina: branco e verde, verde, branco e laranja, azul, branco e azul, laranja, branco e marrom,
marrom.
Essa seqncia deve ser usada pra ligar um computador a um hub. Se voc quer ligar dois
AU1OMAO IADUS1RIAL Comunicao Industrial
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 180
computadores diretamente deve ter o cuidado de inverter os Iios 1 de um conector com o 3 do
outro e o 2 de um com o 6 do outro.
6.2.10 Padres de Conectorizao
Conectorizao T568A (Strainght Through) para 10BaseT e 100BaseT
Cor Pino Funo Cor
1 TD Vd/Br
2 - TD Verde
3 RD Lr/Br
4 N/Utilizado Azul
5 N/Utilizado Az/Br
6 - RD Laranja
7 N/Utilizado Mr/Br
8 N/Utilizado Marrom
Esquema de ligao sem cruzamento algum (Strainght Through) conIorme
norma EIA/TIA 568A "Este e o esquema de ligao mais utilizado em todo
o mundo"
Conectorizao T568B (HalI Cross) para 10BaseT e 100BaseT
Cor Pino Funo Cor
1 TD Lr/Br
2 - TD Laranja
AU1OMAO IADUS1RIAL Comunicao Industrial
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 181
3 RD Vd/Br
4 N/Utilizado Azul
5 N/Utilizado Az/Br
6 - RD Verde
7 N/Utilizado Mr/Br
8 N/Utilizado Marrom
Esquema de ligao com cruzamento parcial de T568A (HalI Cross)
conIorme norma EIA/TIA 568A
Conectorizao T568A (Strainght Through) para 1000BaseT (Gigabit Ethernet)
Cor Pino Funo Cor
1 BIDA Vd/Br
2 - BIDA Verde
3 BIDB Lr/Br
4 BIDC Azul
5 -BIDC Az/Br
6 - BIDB Laranja
7 BIDD Mr/Br
8 - BIDD Marrom
Esquema de ligao conIorme norma EIA/TIA 568A para 1000BaseT, a
codiIicao das cores e a mesma, modiIicando-se somente os sinais e que
neste tipo de ligao se utiliza todos os pinos de ligao para os sinais (Iull
duplex)
Conectorizao Cross Over (Cruzamento Total) T568A para 1000BaseT (Gigabit
Ethernet)
Cor Pino Funo Cor
1 BIDA Lr/Br
2 - BIDA Laranja
3 BIDB Vd/Br
4 BIDC Mr/Br
AU1OMAO IADUS1RIAL Comunicao Industrial
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 182
5 -BIDC Marrom
6 - BIDB Verde
7 BIDD Azul
8 - BIDD Az/Br
AU1OMAO IADUS1RIAL Comunicao Industrial
CEDUP Hermann Hering Blumenau Prof Eng Deonisio L. Lobo 183
7 REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
CASTRUCCI, Plinio de Lauro; MORAES, Cicero Couto de. Engenharia de
Automao Industrial. LTC. 2001.
VIANNA, William da Silva. Fieldbus. CeIet. 1999.
VIANNA, William da Silva. Controlador Lgico Programvel. CeIet. 1998.
Profibus. Associao ProIibus Brasil. 2000.
Curso Bsico de CLP. Brum Corporation. 2000.
Como Implementar Projetos com Fieldbus Foundation. SMAR Equipamentos
Industriais Ltda. 1998
www.ab.com
www.bb-elec.com
www.conexaopcpc.com
www.controlnet.org
www.Iesto.com.br
www.Iieldbus.org
www.Iieldbusworld.com
www.interbusclub.com
www.isa.org
www.li.Iacens.br/eletronica
www.lin-subbus.org
www.odva.org
www.phoenixcontact.com
www.proIibus.com
www.schneider.com.br
www.sense.com.br
www.sew.com.br
www.sick.com.br
www.siemens.com.br
www.suetron.com
Você também pode gostar
- Manual de OperacaoDocumento132 páginasManual de OperacaoRoberto FerreiraAinda não há avaliações
- Manual Indicador SBR 140 SaturnoDocumento32 páginasManual Indicador SBR 140 SaturnoMat Max80% (5)
- Manual Manual Do Do Propriet Proprietá Ário Rio: Chave de Transferência (20-2000 A)Documento128 páginasManual Manual Do Do Propriet Proprietá Ário Rio: Chave de Transferência (20-2000 A)Henrique Ferreira100% (1)
- Unidades Modulares Linha RVT - RTC e Ruv - RutDocumento128 páginasUnidades Modulares Linha RVT - RTC e Ruv - RutJoão Pedro Lopes100% (4)
- Manutenção Motores DieselDocumento40 páginasManutenção Motores DieselGiancarlo Moraes100% (1)
- Modelagem de DroneDocumento32 páginasModelagem de DroneEwerton Cristhian100% (1)
- Apostila LubrificacaoRev 1Documento151 páginasApostila LubrificacaoRev 1Raisa B. Lobo CarideAinda não há avaliações
- PCF Ii Eletrotécnica 2015 2Documento122 páginasPCF Ii Eletrotécnica 2015 2NAURI LEITEAinda não há avaliações
- Disciplina de Acionamentos ElétricosDocumento122 páginasDisciplina de Acionamentos ElétricosNAURI LEITEAinda não há avaliações
- Apostila Curso Manutenção Ar Condicionado Split System - Felipe S. ZDocumento50 páginasApostila Curso Manutenção Ar Condicionado Split System - Felipe S. ZMUILLAR BENTO100% (1)
- Excel - 2010Documento85 páginasExcel - 2010BRENO SILVAAinda não há avaliações
- DT 5 - Especificação de GeradoresDocumento75 páginasDT 5 - Especificação de GeradoresOdair Ghilhermino de OliveiraAinda não há avaliações
- WEG Curso DT 5 Caracteristicas e Especificacoes de GeradoresDocumento66 páginasWEG Curso DT 5 Caracteristicas e Especificacoes de GeradoresVeronica GreenAinda não há avaliações
- Manual Jul HoDocumento134 páginasManual Jul Hofrancisco1fernand-11Ainda não há avaliações
- Automação Mecânica 2007Documento113 páginasAutomação Mecânica 2007Rodrigo SudarioAinda não há avaliações
- PM Chiziane FinalDocumento110 páginasPM Chiziane FinalJulio joaquim tembisseAinda não há avaliações
- The Curse of Crimson Throne - Conversão para o Pathfinder 2EDocumento147 páginasThe Curse of Crimson Throne - Conversão para o Pathfinder 2EPedro HenriqueAinda não há avaliações
- Sebenta MF II - Teoria - V1Documento78 páginasSebenta MF II - Teoria - V1Joana CostaAinda não há avaliações
- Ras Apucarana PDFDocumento205 páginasRas Apucarana PDFmateushpeixotoAinda não há avaliações
- Memorial Descritivo DE Instalações Elétricas: Revisão 00 Setembro / 2011Documento51 páginasMemorial Descritivo DE Instalações Elétricas: Revisão 00 Setembro / 2011Jonathan Carlos Nunes Do NascimentoAinda não há avaliações
- Apostila CorrosãoDocumento95 páginasApostila CorrosãoGDSDUARTEAinda não há avaliações
- Ciclos TermodinâmicosDocumento36 páginasCiclos TermodinâmicosLucrecio de MaioAinda não há avaliações
- Manual Refrigeradores R130 R310 R360 R280 DC360 E D440Documento58 páginasManual Refrigeradores R130 R310 R360 R280 DC360 E D440Paulo ricardo RicardoAinda não há avaliações
- Manual Do Expositor AMWC 2024Documento47 páginasManual Do Expositor AMWC 2024fferrattAinda não há avaliações
- Compress I Bili Da Deadens Amen ToDocumento176 páginasCompress I Bili Da Deadens Amen ToGabriel Miranda de OliveiraAinda não há avaliações
- Tecnologia de Equipamentos ElétricosDocumento221 páginasTecnologia de Equipamentos ElétricosRamon CardozoAinda não há avaliações
- Quimica GeralDocumento176 páginasQuimica GeralIFÁC EDUCACIONALAinda não há avaliações
- Diário de Classe Automação Mecânica 2018Documento107 páginasDiário de Classe Automação Mecânica 2018LeonardoAinda não há avaliações
- WEG Curso DT 6 Motores Eletricos Assincrono de Alta Tensao Artigo Tecnico Portugues BRDocumento96 páginasWEG Curso DT 6 Motores Eletricos Assincrono de Alta Tensao Artigo Tecnico Portugues BRSouzLuc100% (1)
- DT 6 Motores Eletricos Assincronos MaterialDocumento96 páginasDT 6 Motores Eletricos Assincronos MaterialBenny LagartoAinda não há avaliações
- TMMD4.02ptDocumento84 páginasTMMD4.02ptBueno MouraAinda não há avaliações
- Manual Do Expositor AGRISHOW 2024 - Atualizado em 25.03.2024 1Documento64 páginasManual Do Expositor AGRISHOW 2024 - Atualizado em 25.03.2024 1felipeaguiarpereiraAinda não há avaliações
- Manual de Operação e Manutenção - SE SobradoDocumento284 páginasManual de Operação e Manutenção - SE SobradoClebson AlvesAinda não há avaliações
- Manual C152Documento57 páginasManual C152Robson RodriguesAinda não há avaliações
- Kntssuper - Manual Tecnico - Tubo Pead Corrugado Com Parede Lisa - 30-06-2022Documento57 páginasKntssuper - Manual Tecnico - Tubo Pead Corrugado Com Parede Lisa - 30-06-2022Anderson Fernandes BorgesAinda não há avaliações
- Pilotagem em Condies Adversas Veic 4X4 e 4X2Documento86 páginasPilotagem em Condies Adversas Veic 4X4 e 4X2Erisson F VieiraAinda não há avaliações
- Manual KNTS SuperDocumento57 páginasManual KNTS SuperTen FreireAinda não há avaliações
- Túnel de Vento AtualizadoDocumento44 páginasTúnel de Vento AtualizadoandersonAinda não há avaliações
- Construcao DBOs ThinTemplatesDocumento54 páginasConstrucao DBOs ThinTemplatesGiuliaAinda não há avaliações
- Eia Rima Congonhas Vol 2 Residuos SolidosDocumento208 páginasEia Rima Congonhas Vol 2 Residuos SolidosGustavo Aiex LopesAinda não há avaliações
- Man TS8200Documento55 páginasMan TS8200Antonio Laruta ChoqueAinda não há avaliações
- Apostila Eletrotécnica GeralDocumento61 páginasApostila Eletrotécnica GeralWanderley SousaAinda não há avaliações
- UNESP Bauru SP Lajes de Concreto Paulo Bastos Nov 2005Documento86 páginasUNESP Bauru SP Lajes de Concreto Paulo Bastos Nov 2005Wagns Felix de MeloAinda não há avaliações
- Manual RL's 1 - 10Documento66 páginasManual RL's 1 - 10José Edson Marques de LimaAinda não há avaliações
- Produção de Desenhos para Construção CivilDocumento17 páginasProdução de Desenhos para Construção CivilFranciele SouzaAinda não há avaliações
- Alvenaria em blocos de concreto: Projeto estrutural de acordo com a NBR 16868 - 1, 2 ABNT, 2020No EverandAlvenaria em blocos de concreto: Projeto estrutural de acordo com a NBR 16868 - 1, 2 ABNT, 2020Ainda não há avaliações