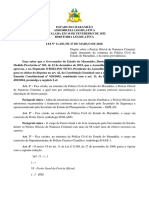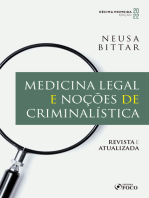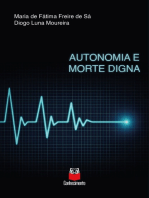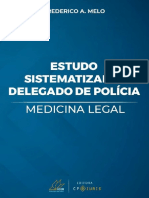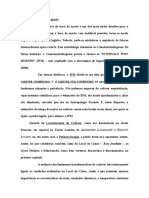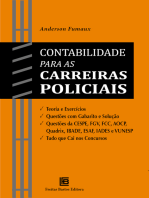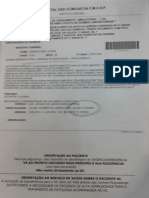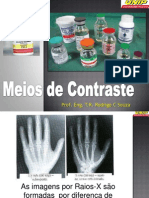Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Medicina Legal - Eduardo Roberto Alcantara
Medicina Legal - Eduardo Roberto Alcantara
Enviado por
Dani RamosDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Medicina Legal - Eduardo Roberto Alcantara
Medicina Legal - Eduardo Roberto Alcantara
Enviado por
Dani RamosDireitos autorais:
Formatos disponíveis
..
\"
t",!" . <
Adniinislral!v. - No,neu
Civil ) - Parle Gerol- Murilo Sethieri (oslo Neves
Civil 2 - Direilo das Obriga!ijes - Murilo Sechieri (oslo Neves
Civil 3 - Direilo dos (onlralos - Vilor Frederico Kumpel
Civil 4 - DireHo das (oisas - V#or Frederico Kumpel
Civil S - Direilo de Familia - Murilo Sechieri (osttiNeves
CIVil 6 - Diretto das Sucessoes - Murilo Sechieri (oslo Neves
Comercial ) - lose Marcelo Martins Proenro
Comerdal 2 - jose Marcelo Martins Proen,o
Conslilucional) -loseeorlos Toseffi Borruffini
Consfifudonal 2 - lose (arias Toseffi Barruffini
Eleiloral- (elsa Spitzcovsky e Fabio Nilson Soares de Moraes
do Infanda e d. Juvenlude - Roberto Borhoso Alves
. Penal ) - Parle Gerol- Andr. Eslefam
PenOl 2 - Parle Especial- Edils.n Mougenol Bonfim
Penal 3 - Parle Especial- Andre Eslefom e Pedro Franco de (ainpos
Penal 4 - Parle Espedal- Andre Estefam .
Previdendario - lonas Deda Gon,alves
do Trabalho - Carlos Frederico Zimmerman Neto
Tribuliirio - (ristiano Frederico Ruschmann
rofission.1 d. Adoa,aci. - Haralda Pari mhos (ordella
IS Especiais Civeis Criminais - Allan Helher de Oliveira, Marcelo Dias GOIlfl1lvesVilelae A,,11re.Eslefan(.
riio Espedal- Inleresses Oilusos e (alelivos - Fahio Ramozzini Bechara ..
fiia Penal Espedal- (rimes Hediondos, Abuso de Auloridade,T6xiios;ConlroveQliIes, PorlOide
:rimes conlra a Ordem Tribuloria - Fahio RamalliniBeChaTa
a Legal- Eduardo Roberto Alcanlara Del-(ampo . ,.. ,.'.' ...
a Civil) - Processo d. (onhecimenlo - Allan Helher de Oliveira .MarceloOids Gonjalves .
a Civil 2 - Processo de Execu!"o - Allan Helber de Oliveira e Alareeio Oias GonlaLve; .. ..
a Civil 3 - Processo (aulelor - Allan Helber de Oliveira e Mareelo Dias GonralvesVilela(nopielo)
D Civil 4 - Procedimenlos Especiois - Allan Helber de Oliveira Vilelq
D Penal ) - Dos Fundamenlos il Senlenla - Edilson Mougenol Bonfim
I Penal 2 - Dos Procedimenlos oos Recursos _ Edilson Mougenol Bri;lim
I da Trabalha - (arias Frederico Zimmerman
EDILSON MOUGENOT BONFIM
Del-Campo
Medicina Legal
!
"
r
i-.
i'
I
}.
I
!
t-
I
t.
!!
r:.;
I.
Colefiio Curso 0- Concurso
COORDENAc;AO EDILSON MOUGENOT BONFIM
Eduardo Roberto Alctintara Del-Campo
Medicina Legal
2007
n1. Editori! .
Sara Iva
1;:,.
'<
ISBN 978-85-02-05943-2 obra completa
ISBN 978-85-02-06383-9
Dadas Internacionais de CataJogac;:ao na Publicac;:ao (CIP)
(Camara Brasileira do L1vro, SP, Brasil)
Del-Campo. Eduardo Roberto Alcantara
Medicina legal 1 Eduardo Roberto Alcantara Del-
Campo. - 4. ed. - Sao Paulo: Saralva. 2007. -
(Colec;:ao curso & concurso I coordenac;:ao Edilson
Mougenot Bonfim)
1. Medicina legal 2. Medlcina legal - Brasil I. Bonfim.
Edilson Mougenot. II. Tftulo. 111. Serie.
07-2550 CDU-340.6(81)
fndice para catalogo sistematico:
1. Brasil: Medicina legal: Direlto 340.6(81)
Data de fechamento da edlc;ao: 14-5-2007.
n,.EdHo",
~ Saraiva
Av. Marqu&s de Sao Vicente. 1697 - CEP 01139-904 - Barra Funda - Sao Paulo-SP
Vendas: (11) 3613-3344 (lei.) I (11) 3611-3268 (fax) - SAC: (11) 3613-3210 (Grande SP) I 0800557688
(outras localidades) - E-mail: saraivajur@editorasaraiva.com.br - Acesse: www.saraivajur.com.br
Flllais
AMAZONASJRONOCNIAJRORAIMAJACRE
Rua costa Azevedo, 56 - Centro
Fone: (92) 3633-4227 - Fax: (92) -3633-4782
Manaus
BAHlAISERGIPE
Rua Agrlplno D6rea, 23 - Brotas
Fane: (71) 3381-5854/3381-5895
Fax: (71) 3381-0959 - Salvador
BAURU (SAO PAULO)
Rua Monsenhor Claro. 2-55/2-57 - Centro
Fane: (14) 3234-5643 - Fax: (14) 3234-7401
Sauru
CEARA/PIAUfIMARANHAo
Av. Alomeno Gomes, 670 - Jacarecanga
Fane: (85) 3238-2323/3238-1384
Fax: (85) 3238-1331 - Fortaleza
OISTRITO FEDERAL
SIG QD 3 BI. B - LoJa 97 - Setor Industrial Grafioo
Fane: (61) 3344-2920 /3344-2951 -.
Fax: (61) 3344-1709 - Brasfila
GOIASlTOCANTlNS
Av. Independmcia, 5330 - Setor Aeroparto
Fane: (62) 3225-2882 t3212-2806 .
Fax: (62) 3224--3016 - GolAnla
MATO GROSSO DO SUUMATO GROSSO
Rua 14 de Julho, 3148 - Centro
Fane: (67) 3382-3682 - Fax: (67) 3382-0112
Campa Gmnde
MINAS GERAIS
Rua Alilm Parafba, 449 - Lagolnha
Fane: (31) 3429-8300 - Fax: (31) 3429-8310
Bela Horlzonte
PARAtAMAPA
Travessa Aplnagils, 186 - Batista Campos
Fane: (91) 3222-9034/3224-9038
Fax: (91) 3241-0499-Belilm
PARANA./sANTA CATARINA
Rua Conselhelro Laurindo, 2895 - Prado Velho .
FoneiFax: (41) 3332-4894 - Curltiba
. PERNAMBUCO/PARAfBAIR. G. 00 NORTEIALAGOAS
Rua Corredor do Bispo, 185 - Boa Vista
Fane: (81) 3421-4246 - Fax: (81) 3421-4510
Recife
RIBEIRAo PRETO (SAO PAULO)
Av. Franclscq Junquelra, 1255 - Centro
Fane: (16) 3610-5843 - Fax: (16) 3610-8284
Rlbelrao Preto
RIO DE JANEIROIESpfRITO SANTO
Rua Vlsconde de Santa Isabel, 113 a 119 -Vila Isabel
Fane: (21) 2577-9494 - Fax: (21) 2577-8867 12577-9565
Rio de Janeiro .
RIO GRANDE DO SUL
Av. Ceara., 1360 - Sao Geraldo
Fane: (51)"3343-146713343-7563
Fax: (51) 3343-2986/3343-7469 - Porto Alegre
sAo PAULO '
Av. Marqu/!s de Sao Vicente, 1697 - Barra Funda
Fane: PABX (11) 3613-3000 -Sao Paulo
f
~
f<
~
)}
'-"l
.]
-;
'I;'
~
~
I
'i.:. {
~
ft
k'
!?i
~
{ ~
1:1
Ao SiLUdoso Mestre e amigo
Jose Lopes Zarzuela, sem cujos
ensinamentos esta obra nito
teria sido possivel.
A minha esposa, Luciana, e minhas filhas,
Gabriela e Victoria, porque iluminaram
minha existencia.
it
;;
t.f"
(i
i
}'j
:iii
t
:"<
L:Ti
,-"
:\Ci:
-'"
;,-"
I
'.',
;.
I
F
........ ' ..
t
i ..... :.'
, ..
h
k
r
1
........
,
r
F
l
J .
t:
f
!:'
+ '
L
!.
L
li
ABREVIATURAS
a.C. - antes de Cristo
ADN - acido desoxirribonuc1eico
art. - artigo
atm. - atmosfera
BlC - Boletim de Identifica<;:ao Criminal
C - centigrado
Cap. - capitulo
CAT - Comunica<;:ao de Acidente do Trabalho
CBC - Companhia Brasileira de Cartuchos
ctc - combinado com
CC - C6digo Civil
CFM - Conselho Federal de Medicina
cm - C6digo Intemacional de Doen<;:as
CLT - Consolidac;;ao das Leis do Trabalho
CP - C6digo Penal
CPC - C6digo de Processo Civil
CPM - C6digo Penal Militar
CPP - C6digo de Processo Penal
CPPM - C6digo de Processo Penal Militar
CREMEC - Conselho Regional de Medicina do Ceara
CTB - C6digo de Transito Brasileiro
dB - decibel
d.C. - depois de Cristo
DGP - Delegacia Geral de Policia
DIRD - Departamento de Identificac;;ao e Registros Diversos
DNA - deoxyribonucleic acid
---VII ..
~
i'
~ ~
~ ..
~
DSM - Manual de Diagn6stico e Estatfstica das Perturba-
r;:6es Mentais
ECA - Estatuto da Crianr;:a e do Adolescente
ECD - exame de corpo de delito
g- grama
HLA - human leucocyte antigen
IC - Instituto de Crirninalistica
llRGD - Instituto de Identificar;:ao Ricardo Gumbleton Daunt
IML - Instituto Medico-Legal
JTACrimSP - Jurisprudencia do Tribunal de AI(Jada Criminal de
Silo Paulo
kg - quilograma
kgf - quilograma-fon.a
km - quilometro
kmJh - quilometros por hora
lb. - libra
LCP - Lei das Contravenr;:6es Penais
LEP - Lei de Execur;:ao Penal
m- metro
rom - rnilfmetro
mls - metros por segundo
n.- mlmero
OMS - Organizar;:ao Mundial de Saude
p. ex. - por exemplo
s. - seguintes
SIDA - Sfndrome da ImunodeficienciaAdquirida
SNC - sistema nervoso central
STF - Supremo Tribunal Federal
Sum. - 'sumula
SVO - Servir;:o de Verificar;:ao de 6bitos
""
~
~ ~
:'if
...
INDICE
Abreviaturas . .... ...................... ......... .............. ...... .... ....... .... ..... VII
CAPiTULO 1 - INTRODU<;AO .................................... 1
1. Conceito de medicina legal ............................................. .
2. Escorr;:o hist6rico ................. , ........................................... .
2.1. Periodo antigo .......................................................... .
2.2. Periodo romano ........................................................ .
2.3. Periodo da Idade Media ........................................... .
2.4. Periodo canonico ...................................................... .
2.5. Periodo moderno ou cientffico ................................. .
3. Classificar;:ao .................................................................... .
3.1. Medicinalegal geral ................................................. .
3.2. Medicina legal especial .......... ; .................................
4. Medicina legal, crirninalistica e crirninologia ................. .
5. Pericias e peritos .............................................................. .
5.1. Conceito ................................................................... .
5.2. Classificar;:ao das pericias ......................................... .
5.3. Peritos, c1assificar;:ao, investidura e n11mero necessario ..
5.3 .1. Investidura ...................................................... .
5.3.2. Numero de peritos .......................................... .
5.4. Corpo de delito e exame de corpo de delito ............. .
6. A Policia Cientffica no Estado de Sao Paulo ................... .
6.1. 0 Instituto Medico-Legal ............... : ......................... .
6.2. 0 Instituto de Criminalistica .................................... .
6.3. 0 Instituto de Identificar;:ao Ricardo Gumbleton Daunt ..
7. Documentos medico-Iegais ............................................. .
7.1. Conceito e caracteristicas ......................................... .
7.2. Classificar;:ao ............................................................ .
7.3. Atestados ou certificados medicos ........................... .
1
3
3
4
5
6
7
9
10
11
12
15
15
15
17
19
19
20
21
22
24
24
24
24
25
25
7.3.1. Atestados clinicos ........................................... 25
VIlI - - I!l - IX
:,
.\;1
L(
,
Ii:
!!i
;::.
7.3.2. Atestados para fins previdencianos ............... .
7.3.3. Atestados de 6bito .......................................... .
704. Notifica<;;oes compuls6rias ......................... : ............. .
704.1. Doen<;;as de notifica<;;ao compuls6ria .............. .
704.2. Comunica<;;ao de acidente do trabalho - CAT
704.3. Comunica<;;ao da ocorrencia de crime de a<;;ao
penal publica incondicionada ......................... .
70404 .. Comunica<;;ao da ocorrencia de morte encefaIica .
704.5. Ocorrencias induzidas ou causadas por alguem
nao medico ..................................................... .
704.6. Violencia contra a mulher .............................. .
7 A. 7. Esteriliza<;;oes cirUrgicas ................................. .
704.8. A ocorrencia de maus-tratos contra crian<;;a ou
adolescente ..................................................... .
704.9. A ocorrencia de maus-tratos contra idoso ...... .
7.4.10.Tortura ............................................................ .
7.5. Relat6rios medico-Iegais .......................................... .
7.6. Pareceres ou consultas medico-Iegais ...................... .
7.7. Quesitos .................................................................... .
7.8. Falsa perfcia - divergencia entre peritos ................ .
7.9. Prazo para realiza<;;lio das perfcias e entrega dos laudos ..
7.9.1. Realiza<;;ao da perfcia ..................................... .
7.9.2. Prazo para entrega dos relat6rios .................... .
7.9.3. Resumo .......................................................... .
7.10. Suspei<;;ao, incompatibilidade e impedimento ........ .
7.10.1. Suspei<;;ao .................................................... .
7.10.2. Incompatibilidade e impedimento .............. .
8. Principais dispositivos 1egais relacionados ...................... .
CAPITuLo 2 - BREVE ESTUDO DAS REGIOES
CORPOREAS ......... :., ............................................... .
1. Regioes anatornicas anteriores do corpo humano ........... .
2. Regioes anatornicas poiiteriores do corpo humano .......... .
3. Regioes anatornicas anteriores do tronco ......................... .
4. Regioes anatornicas da face lateral direita do tronco ...... .
5. Regioes anatornicas da cabe<;;a e pesco<;;o ........................ .
x
27
27
31
32
34
35
36
36
37
38
38
38
39
39
40
40
41
42
42
43
44
45
45
46
47
52
52
53
54
55
56
""
I
I
:3
,
i
,;-
C;;
."'-
W "
IT'
,;--
/2::
t;
r-
r_-
,
tt
l;--
L
F
i-
l,:.
h
!.
[;
i'--
L{:
"
l!
6. Regioes da face anterior do membro superior direito ...... .
7. Regioes das faces palmar e dorsal da mao direita ........... .
8. Regioes da face anterior do membro inferior direito ....... .
9. Regioes anatOrnicas do perineo ....................................... .
10. Regioes auditivas e oculares externas .............................. .
CAPiTULO 3 - ANTROPOLOGIA FORENSE .......... .
1. Identidade e identifica<;;ao ............................................... .
1.1. Hist6rico ................................................................... .
1.1.1. Metodos mais rec"entes ................................... .
1.2. Requisitos tecnicos dos metodos de identifica<;;ao ... .
1.3. Identidade medico-legal ........................................... .
104. Ra<;;as ........................................................................ .
1.5. Sexo .......................................................................... .
1.6. Idade ......................................................................... .
1.7. Caracterfsticas particulares ffsicas naturais .............. .
1. 8. Caracterfsticas particulares ffsicas adquiridas .......... .
1.9. Caracterfsticas psfquicas .......................................... .
2. Biometria ......................................................... '" ............ .
2.1. Caracterfsticas .......................................................... .
2.2. Principais sistemas biometricos ............................... .
3. Sistema datilosc6pico de Vucetich .................................. .
3.1. Atribui<;;ao e terminologia ........................................ .
3.2. Genese dos desenhos papilares ................................ .
3.3. Terminologia ............................................................ .
304. Tomada de impressoes dfgito-papilares em locais de
crime - reveladores ................................................ .
3.5. Tomada de impressoes digito-papilares da pessoa ... .
3.5.1. Tomada de impressoes na pessoa viva ........... .
3.5.2. Tomada de impressoes no cadaver ................. .
3.6. Boletim de Identifica<;;ao Crirninal- BIC .............. .
3.7. Classifica<;;ao - 0 sistema de Vucetich .................... .
3.7.1. Elementos daimpressao digital ..................... .
3.7.2. Linhas albodatilosc6picas e albodatilograma .
3.7.3. Pontos caracterfsticos ..................................... .
56
57
57
58
58
59
59
59
61
63
64
65
66
67
67
68
68
68
69
69
72
74
75
76
78
82
82
84
85
88
88
89
89
XI
3.7.4. Poros .............................................................. . 89
4.1. Mon6xido de carbona ............................................... 132
3.7.5. Deltas ............................................................ . 89 5. Energias de ordem fisico-qufmica .................................... 135
3.7.6. TIpos fundamentais ........................................ . 91
5.1. Morte por enforcamento ............................................ 137
3.7.7. F6rmula datilosc6pica- os sistemas de arquivos 93
5.2. Estrangulamento ........................................................ 142
3.7.8. A compara<;ao - pontos caracterfsticos ........ . 95 5.3. Esganadura ................................................................ 143
3.8. Impressoes paImares e plantares .............................. . 97
5.4. Sufoca<;ao ......... :........................................................ 144
3.9. Poroscopia ., .............................................................. . 99 5.5. Coloca<;1io da vitima em meio liquido - afogamento 145
3.10. Anomalias .............................................................. . 99 5.5.1. Afogado azul e afogado branco ....................... 145
CAPITULO 4 - TRAUMATOLOGIA FORENSE ..... .
1. Conceito ........................................................................... .
2. Energias de ordem mecfurica ........................................... .
2.1. Classifica<;ao dos instrumentos mecfuricos .............. .
2.2. Instrumentos perfurantes ou punct6rios ................... .
2.3. Leis de Filh6s e Langer ............................................ .
2.4. Instrumentos cortantes .............................................
2.5. Instrumentos contundentes ....................................... .
2.6. Conforma<;ao das lesoes contusas ............................ .
2.7. Instrumentos perrurocortantes .................................. .
2.8. Instrumentos perrurocontundentes ........................... .
2.9. Instrumentos cortocontundentes ............................... .
2.10. Instrumentos lacerante& ou dilacerantes ................. .
3. Energias de ordem fisica ................................................. .
3.1. Lesoes produzidas pelo calor ................................... .
102
102
1\'
102
103
I
104
I
104
106
108
111
112
113
t-:
114
l'"'!
f;:'!
114 :,.',
116
"
116
I_
, 5.5.2. Fases da morte afogamento ....................... 146
5.5.3. Principais sinais ............................................... 147
5.6. Imersao em atmosfera de gases irrespir:iveis ............ 148
6. Energias de ordem bioqufmica ......................................... 150
6.1. Inani<;ao ..................................................................... 150
6.2. Doen<;as carenciais ................... ..... .......... ........ .......... 152
6.3. Intoxica<;oes a1imentares ........................................... 157
6.4. Auto-intoxica<;oes ..................................................... 157
6.5. Infec<;oes ................................................................... 157
7. Energias de ordem biodinfunica - choque ...................... 158
8. Energias de ordem rnista .............. .... ................................ 160
8.1. Fadiga........................................................................ 160
8.2. Doen<;as parasitanas .................................................. 161
8.3. Sevicias ..................................................................... 162
8.3.1. Sindrome da crian<;a maltratada . ............. ........ 162
8.3.2. Sindrome do anciao maltratado ...................... 164
3.2. Lesoes produzidas pelo calor frio ............................. . 117
8.3.3. Tortura .............................................................. 165
3.3. Lesoes produzidas pelo calor quente ........................ .
3.3.1. Termonoses .................................................... .
117
118 CAPiTULO 5 - BALISTICA FORENSE ...................... 167
3.3.2. Queimaduras .... :: ................. : .......................... . 119 1. Conceito............................................................................ 167
3.3.3. Etiologia cia motte pelas queimaduras ........... . 121 2. As armas de fogo .............................................................. 167
3.4. Lesoes produzidas p>,la pres sao ............................... . 122 3. Classifica<;1io das armas de fogo ....................................... 167
3.5. Lesoes produzidas pela eletricidade ......................... . 124 3.1. Classifica<;1io das armas quanto a alma do cano ... ..... 168
3.6. Lesoes Woduzidas pe1'a radioatividade ..................... . 126 4. Algumas considera<;oes sobre 0 rev6lver ......................... 169
3.7. Lesoes produzidas pela luz ....................................... . 127 5. Algumas considera<;oes sobre as pistolas semi-automaticas ... 170
3.8. Lesoes produzidas pelo som ...................................... . 128 '6. Algumas considera<;oes sobre as armas 10ngas ......... ....... 172
4. Energias de ordem qufmica ............................................. . 130 6.1. Espingarda e escopeta . ..... ................ ......................... 172
XIT xm
,
i'!
~
~
~
fl
~
~
i ;
~
~ i
11-
'
~
~
~ ..
6.2. Carabina ................................................................... .
6.3. Rifle .......................................................................... .
6.4. Fuzil .......................................................................... .
6.5. Mosquetiio ................................................................ .
7. Calibre das armas de fogo ............................................... .
7.1. Calibre das armas de alma raiada, de seus cartuchos
de munic;:ao e proj eteis .............................................. .
7.2. Calibre das armas de alma lisa, sua munic;:ao e projeteis .
8. Munic;:ao ........................................................................... .
8.1. Partes do cartucho de munic;:ao ................................. .
9. Ferimentos produzidos por projeteis de arma de fogo .... .
9.1. Ferimentos de entrada .............................................. .
9.2. Ferimentos de safda .................................................. .
9.3. Ferimentos produzidos porprojeteis mUltiplos (balins) ..
9.4. Ferimentos produzidos por projeteis unitarios ......... .
9.5. Orlas ou halos de contusao, enxugo e escoriac;:ao .... .
9.6. Zonas de cbamuscamento, esfumac;:amento e tatuagem ..
9.7. Disparos encostados .................................................. .
9.8. Disparos em ossos ................................................... ..
9.9. Detenninac;:ao da dist1l.ncia de disparo ...................... .
CAPiTuLo 6 - SEXOLOGIA FORENSE ................... .
1. Conceito de sexo .......................... : .............................. ; ... .
2. Sexo genetico ................................... c
2.1. Sfndrome de Thrner .................................................. .
2.2. Sfndrome de Klinefelter ........................................... .
2.3. Polissomia dos cromossomos sexuais ...................... .
2.3.1. Aneuploidias autossomicas ............................ .
2.4. Sfndrome de Down . ~ ................................................ .
2.5. Sfndrome de Edwards .............................................. .
2.6. Sfndrome de Patau ., ........................................... ; ...... .
3. Sexo endocrino .......... ;; .................................................... .
4. Sexo morfologico ............................................................ .
5. Sexo psicologico ....................................... : ..... c :
6. Sexo jurfdico .................................................................... .
XIV
172
172
173
173
173
174
175
177
177
177
178
178
179
180
181
184
188
189
189
192
192
192
194
194
195
195
196
196
197
198
199
199
199
7. Distt1rbios do instinto sexual ........................................... . 200
,"
7.1. Erotismo ................................................................... . 201
7.2. Lubricidade senil ...................................................... . 201
7.3. Anafrodisia ............................................................... . 202
7.4. Frigidez .................................................................... . 202
7.5. Erotomania ............................................................... . 202
III 7.6. Auto-erotismo ou aloerotismo .................................. . 202
7.7. Erotografia ou erotografomania ............................... . 202
7.8. Exibicionismo .......................................................... 203
7.9. N arcisismo ................................................................ . 203
7.10. Mixoscopia ou voyeurismo ..................................... . 203
7.11. Fetichismo .............................................................. . 203
7.12. Gerontofilia ou crono-inversao .............................. . 203
7.13. Cromo-inversao ...................................................... . 203
7.14. Etuo-inversao .......................................................... . 204
7.15. Topo-inversao ......................................................... . 204
7.16. Troca de casais ou troca interconjugal .................... . 204
7.17. Onanismo ................................................................ . 204
7.18. Edipismo ................................................................. . 205
7.19. Pedofilia e hebefilia ................................................ . 205
7.20. Pigmalionismo ........................................................ . 205
7.21. Frotteurismo ...................................................... :.:.:: " 205
7.22. Pluralismo ou triolismo .......................................... . 206
7.23. Vampirismo ....................................................... _ ... . 206
7.24. Riparofilia ............................................................... . 206
7.25. Urolagnia ................................................................ . 206
7.26. Coprofilia ................................................................ . 206
7.27. Coprolalia ............................................................... . 206
7.28. Bestialismo, zoolagnia, zoofilismo, zoofilia e zooe-
rastia ....................................................................... . 207
7.29. Necrofilia ................................................................ . 207
7.30. Sadismo .................................................................. . 207
7.31. Masoqnismo ........................................................... . 207
7.32. Sadomasoquismo .................................................... . 207
, ""-'XV
7.33. Flage1atismo ou flage1a<;;iio ...................................... 207
7.34. Homossexualismo ................................................... 208
8. Gravidez, parto e puerperio . .... ................. ....................... 208
8.1. Desenvo1vimento sexual........................................... 208
8.2. Gravidez .................................................................... 210
8.3. Diagn6stico da gravidez ............................................ 211
8.4. Nascimento................................................................ 213
8.5. Puerperio e estado puerperal ..................................... 213
9. Pericias relacionadas ........................................................ 214
9.1. Sedu<;;iio ..................................................................... 214
9.2. Estupro e posse sexual mediante fraude .................... 216
9.3. Atentado vio1ento ao pudor e atentado ao pudor me-
diante fraude .............................................................. 217
9.4. Aborto ....................................................................... 218
9.5. Infanticidio ................................................................ 220
10. As impotencias ................................................................. 223
11. Investiga<;;iio de paternidade ...................................... ....... 224
11.1. Provas mendelianas niio sangfifneas ........................ 226
11.2. Provas mendelianas sangiifueas ............ ................... 227
11.3. Sistema ABO ........................................................... 228
11.4. Fatores MN .............. .......................... ...................... 230
11.5. Fatores Rherh ........................ ; .............................. ;. 230
11.6. Outros fatores ............................. ;............................ 231
11.7. SistemaHLA ........................................................... 231
11.8. DNA .................................................... '..................... 233
CAPITULO 7 - TANATOLOGIA .................................. 236
1. Conceito de morte ............. ,............................................... 236
2. Tanatognose e ...................................... 238
2.1. Fenomenos cadavericos ............................................ 238
2.2. FenomeJ;ios cadaveric6s abi6ticos imediatos ............. 239
2.3. Fenomenoscadavericos abi6ticos consecutivos ....... 240
2.3.1. Resfriamento do corpo - algidez cadaverica 240
2.3.2. Rigidez cadaverica .......................................... 241
I.
XVI
,I;
""1l
jl,)
i' ....
I
i
Ii.'.
"i!
.H?
2.3.3. Livores cadavericos e hip6stases .................... 242
2.3.4. Desidrata<;;iio .................................................... 243
2.4. Fenomenos cadavericos transformativos .................. 244
2.4.1. Aut6lise (transformativo destrutivo) ............... 244
2.4.2. Putrefa<;;iio (transformativo destrutivo) ........... 245
2.4.3. Macera<;;iio (transformativo destrutivo) ........... 247
2.4.4. Saponifica<;;iio ou adipocera (transformativo
conservador).................................................... 247
. 2.4.5. Mumifica<;;iio (transformativo conservador)... 248
2.4.6. Calcifica<;;iio (transformativo conservador) ..... 248
2.4.7. Corifica<;;iio (transformativo conservador) ...... 248
3. Fauna cadaverica .............................................................. 249
3.1. Fauna ao ar livre ........................................................ 249
3.2. Fauna dos nimu10s ..................................................... 251
3.3. Fauna aquatica ................................................... ,....... 252
4. Primoriencia e comoriencia .............................................. 252
5. Diagn6stico juridico da morte - aspectos gerais ............ 252
5.1. Morte suspeita subita e morte por inibi<;;iio (reflexo
de Hering).................................................................. 253
5.2. Morte suspeita de vio1encia oculta ............................ 255
5.3. Morte suspeita de violencia indefinida...................... 255
5.4. Morte suspeita de vio1encia definida......................... 255
5.5. Morte de infort1inio do trabalho ................................ 255
6. 0 exame medico-legal...................................................... 256
6.1. Necropsia (aut6psia) .................................................. 256
6.1.1. Tecnica ............................................................ 256
6.1.2. Necropsias brancas ......................................... 257
CAPiTULO 8 - TOXICOLOGIA FORENSE .............. 260
1. Caracteristicas gerais ........................................................ 260
2. Farmacodependencia ........................................................ 261
3. Classifica<;;iio..................................................................... 261
4. Principais drogas ................ ...... .......... ........ .............. ........ 265
4.1. Barbiniricos ............................................................... 265
XVII
4.2. Benzodiazepfuicos .................................................... . 266
4.3. Anfetaminas ............................................................. . 266
404. Ecstasy (MDMA) ..................................................... .. 267
4.5. Special K (Ketamina) .............................................. .. 268
4.6. GBH ou "Lfquido X" .............................................. .. 268
4.7. 6pio .......................................................................... . 269
4.8. Mor.fma ..................................................................... . 270
4.9. Herofna ..................................................................... . 270
4.10. Cocafua ................................................................... . 270
4.11. Maconha ................................................................. . 271
4.12. Mescalina ................................................................ .
4.13. LSD-25 ................................................................... .
4.14. Ester6ides ou anabolizantes .................................... .
4.15. Inalantes .................................................................. .
4.16. Tabaco ..................................................................... .
4.17. Cafefna .................................................................... .
4.18. Poppers ................................................................... .
5. Alcoolismo ...................................................................... .
5.1. Alcoolismo agudo - embriaguez ............................ .
5.2. Alcoolismo agudo - embriaguez pato16gica .......... .
5.3. Alcoolismo cronico .................................................. .
504. Psicoses alco6licas com sintomas psiqniatricos ...... ..
5.4.1. Delirio alco6lico .............. > .......... .............. ..
504.2. Depressao alco6lica aguda .... : ........................ .
504.3. Alucinose auditiva aguda .............................. ..
50404. Paran6ia alco6lica - delirio de ciumes ........ ..
504.5. Dipsomania .................................................... .
5.5. Psicoses alco6licas com smtomas psiqniatricos e neu-
ro16gicos ......................... " ......................................... .
5.5.1. Psicose polineuqtica de Korsakoff ................ .
5.5.2. Encefalopatia de ............................ ..
5.5.3. porto-cava ............................... .
5.504. Sfndrome de Marchiafava .............................. .
271
I
272
272
: 'Ii
;i
273
I 274
275
l'if
,
275
t
276
277
.d
282 l
"
283
284
:g-:
"F
284
"\
284
t,
284
il
284
285
:1
285
285 \
286
. I
,
286
J 286
5.5.5. Epilepsia alco6lica ........................................ ..
5.5.6. Demencia alco6lica ........................................ .
287 \
287
\
XVIII
5.6. Exame de avalia .. ao de dependencia de drogas ......... 287
5.6.1. Procedimento para realiza .. ao do exame ......... 291
5.6.2. Prazo para realiza .. ao da pecicia ...................... 291
5.6.3. Quesitos ........................................................... 292
5.7. Tratamento ffi<edico e medida de seguran .. a............... 293
5.7.1. Inimputabilidade ............................................. 294
5.7.2. Especie de tratamento a ser aplicado............... 295
5.7.3. Serni-imputabilidade ....................................... 296
5.8, Tratamento medico no.ECA .................................. 297
CAPITULO 9 - PSICOPATOLOGIA FORENSE ...... ..
1. Psiquiatria e psicologia forense ...................................... ..
2. Normalidade e anormalidade .......................................... ..
3. Capacidade civil e criminal ............................................ ..
4. Nota sobre a nomenclatura e classifica .. ao dos transtomos
mentais ............................................................................. .
5. Limitadores e modificadores da capacidade civil e imputa-
bilidade penal .................................................................. .
6. Fatores bio16gicos ........................................................... ..
6.1. Ra .. a ......................................................................... ..
6.2. Idade ......................................................................... .
6.3. Sexo .......................................................................... .
604. Emo .. ao e paixao ...................................................... .
6.5. Agonia ...................................................................... .
6.6. Epilepsia ................................................................... .
6.7. Cegueira .................................................................. ..
7 F
. l' . .
. atores pSlcopato ogIcos ................................................ ..
7.1. Transtomos do sono ................................................ ..
7.2. Transtomo misto da linguagem receptivo!expressiva-
surdimutismo ........................................................... ..
7.3. Transtomos da linguagem expressiva - afasia ...... ..
7 A. Transtomos obsessivo-compulsivos - prodigalidade ..
7.5. Transtomos relacionados a substilncias - embriaguez
e toxicomanias .......................................................... .
298
298
298
299
301
304
306
306
306
307
308
308
309
309
310
310
312
312
312
313
XIX
8. Fatores psiquiatricos ........................................................ . 313
8.1. Estados demenciais .................................................. . 314
8.2. Retardos mentais (oligofrenias) ............................... . 314
8.3. Esquizofrenias e outros transtornos psic6ticos ........ . 316
8.3.1. Psicoses - transtomos bipolares .................. . 317
8.3.2. Transtomos da personalidade (personalidades
psicopaticas) ................................................... 318
.8.3.3. Personalidade paran6ica ou paran6ide ........... . 318
8.3.4. Personalidade esquiz6ide ............................... . 319
8.3.5. Personalidade esquizotfpica ........................... . 319
8.3.6. Personalidade anti-social ou dis social (socio-
patas) .............................................................. . 319
8.3.7. Transtomo de personalidade com instabilidade
emocional (borderline e ............... . 320
8.3.8. Personalidade narcisista ................................. . 320
8.3.9. Personalidade histrionica ............................... . 321
8.3.10. Personalidade obsessivo-compulsiva (anan-
castica) ......................................................... . 321
8.3.11. Personalidade ansiosa (esquiva) ................... . 321
8.3.12. Personalidade dependente (astenica) ............ . 321
8.3.13. Personalidades psicopaticas ......................... . 322
8.3.14. Sfndromes psicopaticas ................................. . 325
8.4. Transtomos diversos - neuroses ............................ . 326
9. Fatores mesol6gicos ........................................................ . 328
9.1. Civilizaiio - silvicolas .......................................... . 328
9.2. Psicologia das multidoes .......................................... . 329
10. Fatores legais - reincidencia penal ................................ . 329
11. Temperamento ................................................................. 330
Bibliografia ............................ :: .............................................. 333
xx
"
t'
'-I'
(Ii
i:
r
""
1
t
'1
' t
-t
H
.
.,
1
CAPiTULO 1
INTRODUCAo
1. CONCEITO DE MEDICINA LEGAL
Apesar do infindavel debate te6rico para encontrar uma defini-
iio precis a sobre 0 que e 0 direito, e possivel inferir que ele nasce das
necessidades basicas da sociedade e para ela e voltado como condi-
iio precipua de sua sobrevivencia. Esta e a raziio pela qual todos os
campOs do conhecimento humano tern repercussiio na esfera juridica
e vice-versa.
Com as ciencias medicas niio seria diferente, pois inumeras ques-
toes levadas aos nossos tribunais acabam por abranger discussoes
tecnicas puramente afetas a area medica, tomando indispensavel a
interveniio de profissional qualificado.
Dai a necessidade de delimitar urn subconjunto de conheci-
mentos comuns a essas areas do saber humane Guridico e medico), e
COIn ele procurar conceituar medicina legal.
Doutrinariamente encontramos tres correntes que procuram de-
limitar 0 campo de abrangencia e conceituar medicina legal (Flamfnio
Favero, Medicina legal: introdur{io ao estudo da medicina legal, 1975,
p. 13-16):
Correntes doutrimuias que
definem a medicina legal {
corrente restritiva
corrente extensiva .
corrente intermediana ou ec1etica
Para os partidiirios da corrente restritiva, a medicina legal niio cons-
titui ciencia autonoma, por niio apresentar objeto e metoda pr6prios,
podendo ser aplicada por qualquer medico no interesse da justia.
Os que defendem a corrente extensiva afinnam que a medicina
legal possui objeto e metoda pr6prios, podendo ser exercida apenas
por uma parcela de especialistas denorninados medicos-legistas.
1
A corrente intennediana ou ecletica, de que slio partidarios, entre
outros, nomes como Flamfnio Favero, Almeida Junior, Hilario Veiga
de Carvalho, Leilo Bruno e Emflio Frederico Pablo Bonnet, afirma
que a medicina legal e, ao mesmo tempo, ciencia e arte. Ciencia por-
que tem tecnicas e metodos sistematizados, voltados para uma finali-
dade propria, e arte porque, nas mlios do perito, aplica esses precei-
tos com 0 objetivo de solucionar uma questlio real colocada. Dessa
maneira, embora nlio possua metoda e objeto exclusivos, tem algu-
mas particularidades que a diferenciam de outras ciencias. Essa e a
posic;:lio mais aceita atualmente.
Dentre as in6meras definic;:oes para a medicina legal, cada autor
procura trazer sua contribnic;:lio, salientando este ou aquele atributo
da materia. Todos os conceitos, no entanto, procuram demonstrar a
intima relaC;:lio existente entre ela e 0 direito.
Vejamos algumas definic;:oes mais conhecidas:
"A aplicac;:lio dos conhecirnentos medico-biologicos na elabo-
rac;:lio e execm;lio das leis que deles carecem" (Favero, 1975, p. 14).
''A medicina a servic;:o das ciencias juridicas e sociais" (Genival
Veloso de Franc;:a, Medicina legal, 1998, p. 3).
"0 conjunto de conhecirnentos medicos e paramedicos destina-
dos a servir ao Direito, cooperando na elaborac;:lio, auxiliando na in- .
terpretac;:lio e colaborando na execuc;:lio dos dispositivos legais, no
seu campo de ac;:lio de medicina aplicada" (Helio Gomes, Medicina
legal, 1989, p. 7).
''A ciencia e arte extrajuridica auxiliar alicerc;:ada em urn conjun-
to de conhecirnentos medicos, paramedicos e biologicos, destinados a
defender os direitos e os interesses dos homens e da sociedade" (Delton
Croce e Delton Croce Junior, Manual de medicina legal, 1998, p. 1).
"A ciencia de aplicac;:lio dos conhecimentos medico-biologicos
aos interesses do Direito constitq{do, do Direito constituendo e 11 fis-
calizac;:lio do exercicio medico-profissional" (Odon Ramos Maranhlio,
Curso basico de medicina legal,+002, p. 25).
Poderiamos enumerar um sem-numero de outras definic;:oes,
procurando dar uma vislio geral da medicina legal, e todas, como
definic;:oes que slio, passiveis de criticas por enfocarem deterrninada
2
particularidade, esquecendo-se de outras de interesse. 0 mais impor-
tante e demonstrar a intima relac;:ao entre os conhecirnentos de natu-
reza medica e biologica colocados a servic;:o dajustic;:a para esclareci-
mento de questoes com repercusslio no universo juridico.
2. ESCOR(,;O IUSTORlCO
A historia da medicina legal confunde-se, um pouco, com a da
pr6pria medicina e pode ser dividida em cinco periodos (Dicionario
Dechambre, apud Gomes, 1989, p. 17):
periodo antigo;
periodo romano;
periodo da Idade Media;
periodo canonico; e
periodo modemo ou cientffico.
2.1. Periodo antigo
Do perlodo antigo temos apenas alguns registros esparso
s
nas
legislac;:oes dos primeiros povos. A medicina e 0 direito, nessa epoca,
eram bastante empfricos e de cunho predominantemente religioso.
Os sacerdotes englobavam as func;:oes de medico, legislador e julgador,
procurando aplacar a ira divina, representada pelas doenc;:as e outros
infortdnios que eventoalmente recaiam sobre 0 grupo, ora com sacri-
ffcios e orac;:oes, ora com 0 uso rodimentar de ervas medicinais.
Os medicos egipcios foram os primeiros a distinguir os varios
tipos de fratoras experimentadas pelos escravos afetos 11 construc;:ao
das pirlimides. Ravia, tambem, as tecnicas empregadas no
embalsamamento de cadaveres, 0 que lhes valeu 0 titulo de
"tanat610go
s
mais completos da antiguidade" (Emilio Frederico Pablo
Bonnet, Medicina legal, 1993, p. 50).
lmotep (3000 a.C.), arqoiteto da grande pirilmide de Sakara, e apon-
tado como sendo 0 primeiro perito medico-legal (J. Pinto da Costa, Ori-
gens da medicina legal, in www.geocities.com.IjaflOOO/mljpchtm).
o docurnento mais antigo em que e possivel vislumbrar uma
associac;:ao entre medicina e direito e 0 C6digo de Rammurabi (1900
3
a.C.), na Babilonia, que previa alguns dispositivos regulamentadores
da rela9ao medico/paciente.
Os hebreus, ja no livro de Moises e posteriormente no Talmude,
registram a descri9ao de costumes e obriga90es relacionados com a
atividade sexual, assim como causas medicas de nulidade de matri-
monio e div6rcio (Gisbert Calabuig, Medicina legal y toxicologfa,
1998, p. 8).
o C6digo de Manu Manusrti (200 a.C. a 200 d.C.), na India,
assentava que crian9as, velhos, embriagados, deficientes mentais e
loucos nao podiam ser ouvidos como testemunhas (Hygino de Car-
valho Hercules, Hist6ria da medicina legal, Revista Academica da
UFRJ, 1988, p. 53).
Na Persia antiga (atual Ira), as leis previam uma c1assifica9ao
das lesoes corporais por ordem de gravidade, com 0 objetivo de fixar
multa por parte do agressor.
Da Grecia antiga vern os fundamentos da medicina legal do tra-
balho, particularmente da obra de Platiio (427 a 347 a.C.), que des-
creve as deforma90es experimentadas por artesaos em razao de seu
oficio.
Ainda na Grecia, importante salientar os trabalhos de Hip6crates
(460 a 377 a.C.), considerado 0 pai da antiga medicina. A ele sao
atribuidos estudos relacionados com o progn6stico de enfermidades,
articula90es e fraturas, feridas na cabe9a, partos prematuros e regras
para 0 exercicio da medicina, encabe9adas pe10 celebre juramento,
ate hoje realizado pelos medicos no inicio de sua atividade profissional.
A China deu os primeiros passos no que toca ao exame pericial
dos locais de crime, com a obra denominada Si-yuan-lu, atribuida a
Song Ts' eu, publicada em 1248, onde encontramos algumas regras
gerais a serem seguidas no exame de urn local em que ocorreu urn
delito, assim como regras para Qistin9ao de lesoes produzidas em
vida e post mortem.
2.2. Periodo romano ..
No periodo romano os relatos sao tambem iso1ados, mas em
maior numero.
4
Consta que Numa Pompilio, segundo lendano rei de Roma (715
a 673 a.C.), teria ordenado exame das mulheres antes de sua execu-
9
ao
para verificar se estavam gravidas.
A Lei das XII Tabuas (449 a.C.) deterrninava, entre outras pres-
c
ri
9
0es
, que a dura9ao maxima prevista para a gravidez seria de dez
meses, antecipando 0 atual prazo de impedimento matrimonial por
viuvez (art. 1.523, 11, do CC).
Ha 0 relato do exame do cadaver de JUlio Cesar, pelo medico
Antistius (44 a.C.), que comprovou que apenas urn dos vinte e tres
ferimentos era letal. .
Embora as necropsias fossem proscritas, por respeito ao cada-
ver, ha noticia de exames extemos efetuados por medicos. Tito Livio
(59 a.C. a 17 d.C.) menciona que urn medico examinou os corpos de
Tarqufnio e Germi'inico, suspeitos de assassinato.
o C6digo de Justiniano (483 a 565 d.C.) trazia algumas deter-
min
a
9
0es
referentes a exames medicos relacionados com a indica9ao
da data de nascimento, sobre 0 exame das mulheres gravidas, ques-
toes relacionadas com 0 casamento e 0 reconhecimento de que os
medicos eram testemunhas especiais emjulzo.
2 3 ~ Periodo da [dade Media
Na Idade Media destacam-se a Lei Sdlica (511 d.C.), lei dos
francos que exc1uia as mulheres do trono, e as Capitulares de Carlos
Magno (742 a 814 d.C.), que traziam pondera90es a respeito de res-
sarcimento das vitimas e descri9ao de possiveis lesoes, assim como
indicavam meios de prova destinados a comprova9ao da impotencia
sexual.
Nessa epoca prevaleciam os orddlios, ou Juizos de Deus (prati-
cados ate 0 IV Condlio de Latriio, em 1215 d.C., e ate hoje em algu-
mas sociedades primitivas), que consistiam em fazer 0 acusado pas-
sar por diversas provas de natureza fisica.
Alguns exemplos sao a prova da cruz, consistente em colocar
os litigantes frente a frente com os bra90s abertos ate que urn deles,
vencido pelo cansa90, os deixasse cair, perdendo a contenda; 0 orddlio
do ferro em brasa, em que 0 acusado era obrigado a segurar uma
5
barra candente, sendo inocentado na hip6tese (remota) de nao sofrer
queimaduras; ou 0 omalio da agua, geralmente apJicado as muIheres
adulteras, que eram lano;;adas no rio com urna pesada pedra amarrada
ao pescoo;;o, ficando inocentadas se flutuassem.
NaPrano;;a, Felipe, "0 audaz", emite as Cartas Patentes, em 1278,
criando a figura de cirurgioes juramentados junto a coroa.
A obrigatoriedade de pericia medica em casos de morte violen-
ta, entretanto, s6.teve lugar com a promulgao;;ao do C6digo
Bambergense, em 1507 (Hercules, 1988, p. 54).
2.4. Periodo canonico
Poi no periodo cani3nico, ja na baixa Idade Media, que, em 1209,
tivemos 0 infcio da pericia medica propriamente dita, pois, a partir de
um decreto de Inocencio ill, os feridos levados aos tribunais passa-
ram a ser examinados por medicos.
Em 1234, 0 Papa Greg6rio IX editou a bula Peritorum Indicio
Medicaram, segundo a qual somente 0 medico poderia indicar en-
tre vanos ferimentos aquele que teria sido 0 causador da morte. 0
mesmo documento manda substituir 0 juramento pelo exame me-
dico de virgindade e institui a "prova do congresso", para os ca-
sos de anulao;;ao do casamento e comprovac;ao da impotencia do
marido.
Em 1374, ano da grande peste, 0 Papa Greg6rio XI concedeu a
faculdade de Montpellier, na Pranc;a, a autorizac;ao para a realizac;ao
de necropsias (Hercules, 1988, p. 54).
Em 1521 0 corpo do Papa Leao X, suspeito de ter sido morto
por envenenamento, foi necropsiado.
Para Lazzaretti, 0 infcio da medicina legal pratica ocorreu na
Italla, em 1525, com 0 Ediro della Gran Carta della Vicaria di Napoli,
que tomou obrigat6rio 0 parecer de.peritos profissionais (Favero, 1975,
p.18).
o grande marco, entretanto, medicina legal, no seculo XVI,
foi a promulgac;ao, em 1532, pelo Imperador Carlos V, na Alemanha,
da Constituinte Criminalis Carolina (C6digo Criminal Carolino); que
permitiu a realizac;ao de necropsias em caso de morte violenta, pri-
6
'r;'"
1\
", I
i
!
meiro passo no sentido de tomar obrigat6ria essa pratica (Hercules,
1988, p. 55).
2.5. Periodo modemo ou cientifico
o periodo moderno ou cientffico inicia-se em 1575, quan-
do 0 cirurgiao frances Ambroise Pare publica a obra intitulada
Des rapports et des moyens d'embaumer les corps morts, consi-
derado 0 primeiro livro ocidental de medicina legal
considera a obra mencionada .como a ultima do periodo anterior
- 1998, p. 7).
Valero menc;ao, no mesmo periodo, Baptista Condronchius, com
a obra Methodus testificandi, em 1597, que relata questoes medico-
legais de traurnatologia, sexologia e toxicologia, e Severin Pineau,
em 1598, que relatou, pela primeira vez, a existencia de himens com-
placentes.
Em 1602, Fortunatus Fidelis, de Palermo, lanc;ou 0 primeiro
tratado de medicina legal, intitulado De relatoribus libri quator in
quibus ea omnia quae inforensibus ac publicis causis medici preferre
solent plenissime traduntur; que dedicava todo urn capitulo as enfer-
midades simuladas.
Paulus Zacchias (1584 a 1659), medico do Papa Inocente X,
com seu principal trabalho, a obra Quaestiones medico legales opus
jurisperitis maxime necessarium medicis peritile, publicada em dez
volumes, entre os anos de 1621 e 1658 e considerada pela maioria
dos autores como fiindadora da medicina legal, respondeu a centenas
de questoes te6ricas e praticas relacionadas ao direito e a saude pu-
blica, englobando todo 0 conhecimento cientffico desde a
de c1assica ate 0 seculo XVII.
A Alemanha, a partir de 1650, registra grandes nomes da medi-
cina legal, valendo mencionar os trabalhos de Gottfried Welsch (1618
a 1690), Christian Friedrich Michaelis (1754 a 1814), que ministr6'u
o primeiro curso de medicina legal, e Friedrich August Von Ammon"
(1799 a 1861), todos da Universidade de Leipzig.
Em 1682, Jan Schreyer aplica, pela primeira vez, a docimasia- ,>"
de Galeno, tecnica teorizada, em 1677, por J. Swammemam, consis-
7
I
quisadores e papiloscopistas do IIRGD. As especifi-
cas de cada urn desses ramos serao mais bern analisadas no capi-
tulo seguinte.
Medicina legal sob 0 aspecto perici.al-
profissional cnmzna[fstica - pentas cnnunats .
medicina legal antropol6gica -llRGD
Finalmente, segundo aspecto didtitico, temos:
Mediciua legal sob 0
aspecto didatico
geral
especial
{
deontologia medica
diceologia medica
antropologia mewco-Iegal ou forense
asfixiologia medico-legal au forense
criminologia
genetica mewco-Iegal
infortunfstica
policiologia cientffica
psicologia medico-legal au farense
psiquiatria medico-legal au farense
sexologia medico-legal all farense
tanatologia medico-legal au farense
toxicologia medico-legal au farense
traumatologia medico-legal au farense
vitimologia
A acima difere daquela apresentada par Genival
Veloso de Fran<;a (1998, p. 5), no sentido de excluir a criminalistica,
que entendemos ser ciencia autonoma, e incluir a policiologia cientl-
fica (Croce, 1998, p. 9).
3.1. Medicina legal geral
A medicina legal geral, tambem chamada de medicina legal
pro fissional oujurisprudencia medica, trata do estudo dos direitos e
deveres dos profissionais da medicina e divide-se em deontologia e
diceologia medicas. ", '" " '
A deontologia medica e 0 ramo da medicina que se preocupa
com os principios e fundamentos do exercicio profissional.
10
r
i
"
normas a serem observadas pelos medicos em suas rela<;oes com pa-
cientes, colegas e com a sociedade em geral, como, par exemplo,
exercicio legal e ilegal, segredo medico, etica e responsabilidade
medicas.
A diceologia medica e parte que trata dos direitos do profissio-
nal da medicina, por exemplo, honoranos, horano de trabalho, repre-
senta<;ao e tratamento protocolar.
,3.2. Medicina legal especial
A medicina legal especial divide-se em vanos capitulos, ou
subareas:
a) antropologia medico-legal ou forense - trata basicamente
das questoes relativas a identidade e identifica<;ao;
b) asfixiologia medico-legal ou forense - cuida dos achados
medico-legais referentes as asfixias, como esganadura, estrangula-
mento, soterramento, afogamento etc.;
c) criminologia - preocupa-se com a origem e a dinfunica do
crime, particularmente sob 0 aspecto do criminoso e da vitima;
d) geniftica medico-legal ouforense - trata de questOes perti-
neIites a determina<;ao da paternidade e tambem a identifica<;ao, nes-
te caso, relacionada com a heran<;a genetica;
e) infortunrstica - cuida dos ambientes e acidentes do trabalho
assim como das doen<;as profissionais;
f) policiologia cientfjica - estuda os metodos cientificos, de
interesse medico-legal, empregados pela policia nas investiga<;oes
criminais;
g) psicologia medico-legal ouforense- estuda opsiquismo da
pessoa normal e as altera<;oes emocionais que podem influenciar nas
confissoes e testemunhos prestados emjuizo;
h) psiquiatria medico-legal ou forense - estuda os processos
mentais patol6gicos, particularmente aqueles ligados com as ques-
tOes de capacidade civil e criminal;
i) sexologia medico-legal ou forense - estuda a sexualidade
humana normal, anormal ou criminosa;
11
tente em colocar os pulmoes do infante morto em agua para determi-
nar se houve ou nlio nascimento com vida (respira\ilio).
Em 1710, Johann Bohn publica 0 trabalho De ren.unciatione
vulnerum, em que e proposta urna classifica\ilio das lesoes e urn rotei-
ro para 0 diagn6stico diferencial daquelas produzidas em vida e ap6s
amorte.
Em 1722, Hermann Friedrich Teichmeyer lan\ia 0 livro intitulado
Institutiones medicinae legalis velforensis.
Foi no final do seculo XIX e inicio do XX, porem, que a medi-
cina legal se estabeleceu definitivamente.
A Fran\ia desponta com nomes como Jose Boaventura Orfila
("pai da toxicologia" -1821), Philippe Pinel (1745 a 1826, psiqni-
atria forense), Alphonse Devergie (1798 a 1879), Ambroise Auguste
Tardieu (1818 a 1879), Alphonse Lacassagne (1843 a 1924), Paul
Camille Hippolite Brouardel (1869 a 1906), Edmond ocard (1877 a
1966) e Camile Simonin (1891 a 1961). NaAlemanha, Carlos Liman
(1818 a 1891) e Richard Ebing (1840 a 1902). Na Inglaterra, John
Gordon Smith, que, em 1821, publicou 0 primeiro livro de medicina
legal, Harvey Littlejohn e John Glaister. Na Itilia, houve urna mesc1a
entre medicos-legistas e penalistas, podendo ser citados: Cesare
ombroso (1835 a 1909), Barzelloti, Martini, Perrone, Garofalo,
Virgaio, Nicefaro, Falconi e Ferri. Na Russia, Balk, Sergie Gromov,
S. G. Georguiejf, Dragendorjf e Pirogoff.
NaAustria, Hoffmann e Bernt criam em Viena 0 primeiro insti-
tuto medico-legal, em 1818, desenvolvendo a cienciajuntamente com
Haberda, Schneister e Paltauf.
De registrar, tambem, no periodo, a prolifera\ilio dos cranio-
10gistas e frenologistas, como Franz Joseph Gall, que, apesar de pro-
curarem revestir suas atividades d.e aparencia cientffica, apresenta-
yam metodos e conc1usoes de discutfvel eficacia.
No Brasil a medic;:ina legal s6.s'e desenv01ve a partir do Periodo
Colonial, com alguns docurnentos esparsos. Apenas em 1832, com a
regulamenta\ilio do processo penal, e que passam a ser reconhecidos
alguns regramentos.
8
J
".j
>i
.'1
'j
!
I
I
I
Apesar disso, os autores brasileiros desfrutam de consideravel "
prestfgio nos meios internacionais. Podemos citar nomes como
Alctlntara Machado, Alvaro Doria, Delton Croce, Flamfnio Fdvero,
Garcia Moreno, Genival Veloso de Franf;a, Helio Gomes, Hildrio
Veiga de Carvalho, Oscar Freire e innmeros outros.
3. CLASSIFICA;AO
Classifica-se a medicina legal segundo tres criterios: historico,
projissional e diddtico (Fran\ia, 1998, p. 5).
Sob 0 ponto de vista hist6rico, divide-se a medicina legal de
acordo com suas quatro fases evolutivas:
{
medicina legal pericial
Medicina legal sob 0 medicina legallegislativa
aspecto hist6rico medicina legal doutriofuia
medicina legal filos6fica
A medicina legal pericial, medicina legal administrativa,
tecnica pericial forense ou judicidria, corresponde a forma ini-
cial da ciencia, voltada unicamente para a solu\ilio dos problemas
afetos a justi\ia.
A medicina legal legislativa procura assessorar os processos
legislativos que envolvam materias relacionadas com as areas medi-
ca e bio16gica.
A medicina legal doutrindria pretende contribuir para a dis-
cusslio e fundamenta\ilio de institutos juridicos ligados as areas medi-
ca e bio16gica.
A medicina legaljilosojica, mais recente, discute assuntos li-
gados a etica do exercfcio da medicina, no relacionamento entre pro-
fissional e paciente.
Segundo Genival Veloso de Frant;a (1998, p. 8), sob 0 as-
pecto profissional, busca-se c1assificar a medicina legal segundo
a maneira como a materia e exercida na pratica, de acordo com as
atribui\ioes conferidas aos profissionais da area. Divide-se em me-
dicina legal pericial, afeta aos medicos-legistas, criminaUstica,
ligada aos peritos criminais, e antropologica, exercida pelos pes-
9
quisadores e papiloscopistas do IIRGD. As atribui<;;oes especlfi-
cas de cada urn desses ramos serao mais bern analisadas no capi-
tulo seguinte.
Medicina legal sob 0 aspecto
profissional cnmmalzstlca - pentos Cnrnm3.1S
medicina legal antropo16gica -URGD
Finalmente, segundo aspecto didatico, temos:
Medicina legal sob 0
aspecto didatico
geral
especial
{
deontologia medica
diceologia niedica
antropologia medico-legal ou forense
asfixiologia medico-legal au foreDse
criminologia
genetica medico-legal
infortunistica
pOliciologia cientifica
pSicologia medico-legal au forense
psiquiatria medico-legal ou forense
sexologia medico-legal au forense
tanatologia medico-legal ou forense
toxicologia medico-legal ou forense
traumatologia medico-legal ou forense
vitimologia
A c1assifica<;;ao acirna difen; daquela apresentada por Genival
Veloso de Frant;a (1998, p. 5), no sentido de exc1uir a criminalfstica,
que entendemos ser ciencia autonoma, e inc1uir a policiologia cient(-
fica (Croce, 1998, p. 9).
3.1. Medicina legal geral
A medicina legal geral, tambem 'chamada de medicina legal
pro fissional ou jurisprudencia medica, trl,lta do estudo dos direitos e
deveres dos profissionais dl! medicina e divide-se em deontologia e
diceologia medicas .
. A deontologia medica e 0 ramo da medicina que se preocupa
com os princfpios e fundamentos do exercfcio profissional. Trac;;a
10
normas a serem observadas pelos medicos em suas rela<;;oes com pa-
cientes, colegas e com a sociedade em geral, como, por exemplo,
exercfcio legal e ilegal, segredo medico, etica e responsabilidade
medicas.
A diceologia medica e parte que trata dos direitos do profissio-
nal da medicina, por exemplo, hononl.rios, horiirio de trabalho, repre-
senta<;;ao e tratamento protocolar.
3.2. Medicina legal especial
A medicina legal especial diiride-se em viirios capftulos, ou
subareas:
a) antropologia medico-legal ou forense - trata basicamente
das questoes relativas a identidade e identifica<;;ao;
b) asfixiologia medico-legal ouforense - cuida dos achados
medico-Iegais referentes as asfrxias, como esganadura, estrangula-
mento, soterramento, afogamento etc.;
c) criminologia - preocupa-se com a origem e a dinfunica do
crime, particularmente sob 0 aspecto do criminoso e da vftima;
d) genetica medico-legal ou forense - trata de questoes perti-
nentes a deterrnina<;;ao da paternidade e tamMm a identifica<;;ao, nes-
te caso, relacionada com a heran<;;a genetica;
e) infortun(stica - cuida dos ambientes e acidentes do trabalho
assim como das doen<;;as profissionais;
f) policiologia cient(fica - estuda os metodos cientfficos, de
interesse medico-legal, empregados pela policia nas investiga<;;oes
criminais;
g) psicologia medico-legal ouforense - estuda 0 psiquismo da
pessoa normal e as aJtera<;;oes emocionais que podem influenciar nas
confissoes e testemunhos prestados emjufzo;
h) psiquiatria medico-legal ou forense - estuda os processos
mentais patol6gicos, particularmente aque1es ligados com as ques-
toes de capacidade civil e criminal;
i) sexologia medico-legal ou forense - estuda a sexualidade
humana normal, anorrnal ou criminosa;
11
:1 '.;: ..
, ,
I'll
.
' .. i.'.'j" ,
'I l'
,iiL
\ill
litH
!Uff
1111
:.,11
1
1
'iil
1m
Ill'
1'" I
I;
.\
'll
,I!
1:1
la
:In
,Ill
',.. [',1
, tl
,II
Iii
1[11
{
,[1'
'I'
1.1
:1
I"
i
j) tanatolo gia medico-legal ou forense - estuda 0 morto e a
morte, assim como os fenamenos dela decorrentes;
1) toxicologia medico-legal ou forense - estuda os efeitos das
diversas substancias qufmicas no organismo, particularmente os caus-
tieos, os venenos e os toxicos (iilcool e drogas em geral);
m) traumatologia medico-legal ouforense - estuda as lesoes
corporais e as energias causadoras dessas lesoes; e
n) vitimolo gia - estuda a vftima e seu comportamento na ocor-
rencia e desenrolar dos delitos.
Ha autores que se referem, ainda, a uma medicina legal social,
cujo objeto de estudo subdivide-se em medicina do trabalho, medicina
legal preventiva e medicina legal securitiiria (Maranhao, 2002, p. 30).
{
medicina legal do trabalho
Medicina legal social medicina legal preventiva
medicina legal securitana
It claro que as subareas mencionadas nao se esgotam nelas mes-
mas, interagindo entre si e com outras areas do conhecimento humano.
4. MEDICINA LEGAL, CRIMINALISTICA E CRIMINO
LOGIA
Uma questao muito comum em concursos publicos e aquela
ferente it diferen<;:a existente entre medicina legal, criminalfstica e
criminologia. Ainda que tenhamos esbo<;:ado urn principio de defini-
<;:ao, e preciso diferenciar claramente 0 campo de atua<;:ao de cada
uma dessas ciencias ou areas do conhecimento humano.
" A medic ina legal, como vimos, e ciencia autanoma ou ramo da
'I" medicina (conforme 0 conceito adotado) que estuda os fenamenos
biologicos de interesse judicial, quer na esfera dvel, quer na penal ou
traba1hista. Seu objeto, portanto, e 0 corpo humano, vivo ou morto, e
sUas intera<;:oes com 0 ambiente.
A criminologia e subarea da propria medicina legal que estu-
da 0 crime e sua rela<;:ao com a personalidade do crirninoso e' 0
comportamento das vftimas. Analisa, basicamente, 0 delito enquanto
12
r
I
fenameno social, procurando em sua genese a melhor forma de pre-
ven<;:ao.
Segundo Sutherland, a criminologia "e a ciencia que estuda os
fenamenos e as causas da criminalidade, a personalidade do crimino-
so, sua conduta delituosa e a maneira de ressocializa-Io" (Edwin H.
Sutherland, Principles of criminology, 1960, p. 27).
A partir de 1970, inicialmente nos Estados Unidos e na Ingla-
terra e depois se irradiando para outros paises da Europa, surgiu urn
movimento, de forte inspira<;:ao marxista, ao qual se convencionou
chamar de nova criminologia, crimiiwlogia radical ou criminologia
crltica, que buscava na desigualdade social e no sistema de produ<;:ao
capitalista a genese da criminalidade.
Num segundo momento, essas teorias iniciais cederam lugar as
tres distintas tendencias da crirninologia moderna: 0 neo-realismo de
esquerda, 0 chamado direito penal mlnimo e 0 abolicionismo.
Os neo-realistas de esquerda defendem a ideia de que a caren-
cia leva it inconforrnidade e que a ausencia de solu<;:oes polftieas con-
duz ao delito. Propugnam uma modifica<;:ao do Direito Penal, substi-
tuindo os tipos sancionadores atuais por outros que melhor tutelem
os direitos das classes trabalhadoras, mas aceitam a ideia do carcere
para situa<;:oes extremas.
Os defensores do direito penal minimo fazem uma releitura da
teoria da rotula,{fo social (labelling approach) e propugnam uma
redu<;:ao e uma readapta<;:ao do Direito Penal em prol dos menos favo-
recidos. "Deve-se deixar de atribuir relevo aos pensamentos tradicio-
nais da criminalidade de massas ou criminalidade de rna (furto, rou-
bo etc.) para pensar uma 'crirninalidade dos oprimidos': racismo,
discrirnina<;:ao sexual, crirninalidade de colarinho-branco, crimes eco-
logicos, belicismo etc." (Shecaira, Criminologia, 2004, p. 343).
Finalmente, os partidiirios do abolicionismo propoem a elimi-
na,{fo do sistema punitivo atual sob 0 argurnento de que 0 Direito
Penal nao tern feito mais que justificar as desigualdades e injusti<;:as
sociais (Shecaira, Criminologia, cit., p. 345) e que a sociedade deve
organizar-se de modo diferente para superar esses conflitos.
A essas teorias se contrapoem os movimentos radicais ditos de
13
1m
:t
'J
il
f;
'1
'I"
I!'I"
I"
I ...', .. '
'I
"I
.. : ..;I
,
,'1
'I
'I
,
t
il
I
i
\,
I
Ii
"
, I
"I
direita, como, por exemplo, os movimentos "lei e ordem" e "toleran-
cia zero".
A criminaUstica e a ciencia que estuda os vestigios deixados
pelo crime no local do fato, objetivando a sua comprova<;ao e a
identifica<;ao do criminoso. Embora tenba muitos pontos em co-
mum com a medicina legal, e ciencia autonoma, com objeto e me-
, todos pr6prios.
'.
A diferen<;a biisica entre a medicina legal e a criminalistica pode
ser aquilatada no conceito de Del-Picchia, segundo 0 qual esta ulti-
ma "e a disciplina que cogita do reconbecimento e aniilise dos vestl-
gios extrfnsecos relacionados com 0 crime ou com a identifica<;ao de
seus participantes". "0 exame e a aniilise dos vestigios intrfnsecos do
corpo humano (da pele para dentro)" sao da al<;ada medico-legal (Jose
Del-Picchia Filho e Celso Mauro Ribeiro Del-Picchia, Tratado de
documentoscopia, 1976, p. 5).
o esquema a seguir da uma boa demonstra<;ao das diferen<;as
existentes entre as mencionadas ciencias e os ramos do conbecimento
humano,
CriminaJistica Criminologia Medicina legal
Ciencia autonoma. Ramo da medicina legal. Ciencia autonoma.
Estuda vestigios e indi- Estuda a etiologia do de- Estuda as bi<;>-
dos deixados no local do lito, as causas que leva- psico16gicas do organis-
crime pelo fata delituoso. ram 0 agente ao cometi- rno humano, vivo ou mor-
mento do crime. to, que tern interesse ju-
dicial (civil ou crimiual),
Preocupa-se mais com a Estuda 0 comportamen- Estuda 0 comportamen-
identificat;3.o do delin- to do deliuqiiente, to da pessoa humana.
qUente e corn a produs;ao
de prova.
Interpreta9ao dos ele- Estuda a personalidade Estuda a personalidade
mentos encontrados no do crirninoso e, os meios da pessoa humana.
local dos fatos a fun de de do de-
comprovar Oll nao a ver- linqtlente.
sao apresentada emjuizo
- dinfunica do evento.
14
':;
,
"
:1
"
j!,
it!
I
,t
5. PERICIAS E PERITOS
5.1. Conceito
LI' (. Todos os exames levados a efeito por profissionais da medicina
(clinicos, laboratoriais ou necrosc6picos) e que sao destinados a uso
,
, judicial denominam-se pericias medico-legais.
Da mesma maneira, todos os exames elaborados por profissio-
nais de outras areas do conhecimento humano, que nao medicos, desde
que destinados a usa como meio de prova em jufzo, sao denomina-
dos, simplesmente, pericias.
Como as questoes levadas a jufzo sao muito variadas, a na-
tureza da perfcia depende da natureza do exame considerado,
requerendo urn profissional especializado que podera ou nao ser
urn medico. Tratando-se de materia medica 0 profissional deve-
ni ser medico, e 0 exame produzido, uma perfcia medica. Em
caso de materia referente, por exemplo, a constru<;ao civil, 0
perito indicado devera ser engenheiro ou arquiteto, e 0 exame
produzido, uma perfcia de engenharia, portanto, afeta a area da
criminal1stica.
[
Peritos, pois, sao todos aqueles tecnicos, de myel superior ou
4> nao, concursados ou nao, mas especialistas em determinada area do
, conhecimento humano e que, por designa<;ao da autoridade compe-
I tente, prestam servi<;os a justi<;a ou a policia a respeito de fatos, pes-
\ ou coisas.
5.2. Classificafiio das pericias
As perfcias podem ser c1assificadas segundo varios crite-
rios.,No quadro abaixo mostramos apenas alguns, a tflulo de
exemplo:
15
\,[
HI
:L
:n
I"
n
',ij
iP
:,1
'II'
.,
ill
II
1:1
i!
:J
iil
1.
fu
i'j
'III
i.1
, ,
I
-
'II
If
,
',
:,1
Ii
"I
,I!
I:
, I
,I
I
das
pericias
medicas traumatol6gica
{
psiquiatriea
necrosc6pica
segundo a materia
nao medicas
sexol6gica
etc.
contabil
de engenharia
quimica
ffsica
balfstica
etc.
segundo 0 modo como se realiza 0 exame
{
direta
indireta
quanto ao ramo do direito relacionado criminal
{
elvel
trabalhista
{
de retrata'tao - percipiendi
quanta aos fins - deduciendi
opmatlva
quanta ao momenta de realiza'tao
{
prospectlva
A perfcia sera direta quando, no caso da medicina legal, por
exemplo, 0 medico examinar diretarnente a pessoa ou 0 corpoda
vftima e indireta quando 0 exarne for realizado por intermedio de
fichas hospitalares ou outros documentos.
A perfcia de retratar;iio, tambem denominada percipiendi, visa
apenas a descriao pura e simples daquilo que foi observado pelo
perito. A maior parte das perfcias resume-se a narraao minuciosa
daquilo que foi observado no local, nos instrumentos do crime ou no
corpo da vftima, sem que 0 tecmco venha a emitir uma conc1usao
especffica.
Essa modalidade de exarne perlcial e bastante comum, particu-
larrnente ern laudos relacionados corn exame de local de crime. 0
proprio sfmbolo do Instituto de Criminalfstica de Sao Paulo, no
aforismo latino visum et repertum, retrata essa realidade.
16
"
t
(.
:;10
s
'.
A perfcia interpretativa ou deduciendi e a que se realiza por
interrnedio de urn processo cientffico de interpretaao dos fatos ou de
suas circunstancias, no qual 0 perito, apos analisar todos os elemen-
tos encontrados em seu objeto de estudo, lana uma conc1usao tecni-
ca relacionada com 0 fato colocado a sua apreciaao.
Perfcias opinativas sao aquelas em que sao exarados pareceres
dos especialistas sobre deterrninado assunto.
No que toca ao momenta de sua realizaao, as perfcias podem
ser retrospectivas ou prospectivas. As retrospectivas constituem exa-
mes realizados no presente, mas relacionados corn fatos pass ados,
corn 0 objetivo de perpetuar os elementos de prova. Constituem a
maior parte das perfcias.
As perfcias prospectivas objetivarn 0 exame de situaoes pre-
sentes cujos efeitos deverao ocorrer no futuro. E 0 caso, por exem-
plo, do exarne de cessaao de periculosidade, previsto no art. 775 do
Codigo de Processo Penal.
5.3. Peritos, classificm;iio, investidura e numero necessario
Os peritos, de acordo corn a investidura, classificarn-se ern ofi-
cia is, louvados ou nomeados e assistentes tecnicos.
{
ofieiais
Peritos
asslstentes tecrucos
Na area penal os peritos, medicos ou nao, devem atuar por de-
ver de offcio, sao funcionarios publicos concursados para exercer
exatamente 0 mister de realizar perfcias nas diversas areas (ver item
6 - a Polfcia Cientffica no Estado de Sao Paulo).
Quando a perfcia for de natureza medico-legal, 0 exame devera,
preferencialmente, ser realizado por profissional medico, tambem
denominado perito medico ou medico-legista. Quando de outra natu-
reza, a responsabilidade devera recair sobre profissional de curso su-
perior denominado perito criminal.
Na ausencia de peritos oficiais, ou se a instituiao publica nao
dispuser de servi<;:o proprio para 0 exarne que se pretende realizar, 0
17
I
I
,
1"
t
I
t
J ,
L
I
,
juiz poden'i, mesmo na esfera penal, nomear pessoas idoneas, de m-
vel superior, para a realizac;:ao da pericia. E 0 que dispoe 0 1" do art.
159 do C6digo de Processo Penal.
/
') \ Tais peritos sao tambem chamados de peritos leigos au ad hoc e
'--deverao ser sempre profissionais de curso superior.
CPP-Art.159 ....
1 Nao havendo oficiais, 0 exame sera realizado por duas pessoas id3-
neas, portadoras de diploma de curso superior, escolhidas, de preferencia, entre
as que tiverem habilita<;8.o tecnica relacionada a natureza do exame.
[, Na esfera dvel, ate pela diversidade de questoes, os exames
b ,geralmente nao sao realizados por peritos oficiais, e sim por peritos
I
"1 nomeados pelo juiz. Sao os peritos nomeados ou louvados, nos ter-
\ mos do art. 421 do C6digo de Processo Civil:
CPC
Art. 421. 0 juiz nomeara 0 petito, fixando de imediato, 0 prazo para a entrega do
lando.
Apesar de, na esfera civil, 0 juiz nao ficar adstrito 11 indicac;:ao
de peritos oficiais, a regra do art. 434 do C6digo de Processo Civil
manda que 0 magistrado, em questOesmedico-legais ou relacionadas
com falsidades documentais, escolha 0 peritopreferencialmenteen-
tre os oficiais.
CPC
Art. 434. Quando 0 exame tiver por objeto a autenticidade ou a falsidade de
documento, ou for 4e natureza medico-legal, 0 petito sera escolhido, de prefe-
rencia, entre os tecnicos dos estabelecimentos oficiais especializados. 0 juiz au-
torizan1- a remessa dos autos, bern como do material sujeito a exame, ao diretor
do estabelecimento.
Finalmente telQos a figura assistentes tecnicos, que nada
mais sao que profissionais da confianc;:a das partes, no processo ci-
vil, iudicadospara acompanhar 0 exame do perito nomeado' pelo
juiz.
18
.,
!l1
:-1?oi
:r
J
f
I
!
i
1
,
;f
5.3.1. Investidura
Os peritos oficiais sao designados para atuar neste ou naquele
processo ou procedimento por determinac;:ao ou do diretor da reparti-
c;:ao publica a que estlio JpdiGi(irio_e prestam
compromisso uma unica vez, ao assumir 0 cargo.
"'u Em havendo nomeac;:ao de peritos ad hoc, por inexistencia dos
oficiais, nos termos do 1 g do art. 159 do C6digo de Processo Penal,
o compromisso devera ser prestado. E 0 que dispoe 0 2" do mesmo
dispositivo:
cpp-Art. 159_ ...
22. Os peritos nao oficiais prestarao 0 compromisso de bem e fielmente desem-
penbar 0 encargo.
Na esfera dvel, 0 compromisso foi abolido com a edic;:ao da Lei
n. 8.455, de 24 de agosto de 1992, que modificou 0 art. 422 do C6di-
go de Processo Civil:
CPC
Art. 422. 0 perito cumprini escrupulosamente 0 encargo que the foi cometido,
independentemente de termo de compromisso. Os assistentes tecnicos sao de
da parte. nao sujeitos a impedimento ou
5.3.2. Nlimero de peritos
Na area penal, a questlio do numero de peritos gera discussao hi!
'<- algum tempo. Com 0 advento da Lei n. 8.862, de 28 de marc;:o de
'1
1994
, que alterou dispositivos do CPP, passoucse a exigir expressa-
, mente 0 concurso de dois peritos para a realizac;:ao do exame:
'-
cpp
Art. 159. Os exames de corpo de delito e as outras perfcias serao feitos por dois
peritos oficiais.
Tal exigencia, como grande parte das leis no Brasil, por total
ausencia de recursos humanos e materiais, deixa de ser cumprida. Os
exames continuam sendo realizados por um unico perito e assinados
19
,11
Iql
i
i
III
Ie
j;
I
I
,
1
1
,
d
d'
ii
11
if
::
!i
'I
.
11
II
I'
Ii
I'
Ii
por urn segundo, a titulo de revisor, que na maior parte das vezes e
mero subscritor, em confianc;a, de traba!bo a!beio.
Por outro lado, se houver nomeac;ao de peritos nao oficiais, nos
termos do I" do art. 159 do C6digo de Processo Penal, 0 nilmero de
peritos deverii ser necessariamente dois, conforme a Silmula 361 do STF:
Sumula 361. No processo penal, e nulo 0 exame realizado por wn 86 pento.
considerando-se impedido 0 que tiver funcionado, anteriormente, na diligSncia
de apreensao.
r No processo dvel, em regra, ha urn unico perito nomeado pelo
" c) juiz e a possibilidade de indicac;ao de dois assistentes tecnicos, urn
\) r para cada parte, mas 0 numero pode aumentar de acordo com a ne-
! cessidade do caso.
..-
A Lei n. 10.358, de 27 de dezembro de 2001, acrescentou 0 art.
431-B ao C6digo de Processo Civil, visando flexibilizar, em caso de
complexidade, 0 numero de peritos e assistentes tecnicos atuantes.
epe
Art. 431-B. Tratando-se de pericia complexa. que abranja roais de uma area de
conhecimento especiaUzado, 0 juiz padeni nomear mais de urn perito e a parte
indicar mais de urn assistente teemeD.
Na Justic;a do Trabalho a materia vern regulada pela Lei n. 5.584,
de 26 dejunho de 1970, que, emseu art. 3", preve a nomeac;ao de urn
unico perito e a possibilidade de nomeac;ao de assistente pelas partes:
Lei n. 5.584170
Art. 3!.! Os exarnes periciais serae realizados por perito unico designado pele juiz,
que fixara 0 prazo para entrega do laudo.
Panigrafo tinieD. Pennitir-se-a a cada parte a indica<;ao de urn assistente, cujo
laudo ted que ser apresentado no mesmb-prazQ assinado para 0 perito, sob pena
de ser desentranhado dos autos.
5.4. Corpo de delitoe exame de corpo de delito
Algumas infrac;oes penais, como a injuria verbal, nao deixam
vestigios (delicta facti transeuntis). Outras, como 0 homiddio ou a
20
"
,;
f
,i
,
maioria dos delitos patrimoniais, deixam modificac;oes no rnundo
material que podern ser percebidas por nossos sentidos ou por apare-
!bos especiais (delicta facti permanentis). Nesses casos e necessaria
a realizac;ao do exame de corpo de delito, cujo resultado sera posteri-
ormente apresentado sob a forma de minucioso relat6rio.
Para Jose Lopes Zarzuela, a expressao "corpo de delito"
corresponde "i\ sornat6ria de elementos vestigiais encontradic;os nos
Iocais de fato, no instrumento relacionado com a pratica de uma in-
frac;ao penal, no exame das pec;as ou na pessoa ffsica, viva ou morta,
deixados pelo sujeito ativo da infrac;ao penal, que serao apreciados,
interpretados e descritos em laude periciaI" (conceito ministrado em
aula proferida na Academia de Policia do Estado de Sao Paulo).
Assim, distingue-se 0 corpo de delito, que, nas palavras de
Fernando Capez, constitui "0 pr6prio crime em sua tipicidade", do
exame de corpo de delito, que e todo exame realizado no local dos
fatos, nos instrumentos relacionados e, inclusive, nas pessoas envol-
vidas (Fernando Capez, Curso de processo penal, 1998, p. 254).
Exame de corpo de delito nao e apenas 0 exame realizado na pessoa, mas todo
exarne relacionado com fato criminoso, inclusive aquele feito no local e os
exames laboratoriais subseqiientes.
6. A POLicIA CIENTIFICA NO ESTADO DE sAo PAULO
No Estado de Sao Paulo, por iniciativa do Govemador Mario
Covas, atraves do Decreto Estadual n. 42.847, de 9 de fevereiro de
1998, foi implementada a Superintendi!ncia da PoUcia Tecnico-Cien-
tifica, Iigada diretamente ao Gabinete do Secretario da Seguranc;a
Publica.
Antiga aspirac;ao de seus membros, 0 mencionado decreto pre-
ve que a Superintendencia da Policia Tecnico-Cientffica deve ser
dirigida, altemadamente, por peritos criminais e medicos legistas,
para urn perfodo de dois anos.
A chamada policia cientifica, antiga policia tecnica, assim se
estrutura atualmente:
21
r -,
....
11
.... ....' ..
"'i
::->
:1,
:1
d
iill
'ill
!lH
1
'
II
,i.I'" 'I'
1< !
IJ 1
;
"1;
'II
'l!
,",
q
I"
I !
I'
i; :
I:il
'I'
11
,:1'
III
'I
illl
!
;'I
i
iii
Secretaria dos Neg6cios
,--
da I---
Seguran<;a Publica
Superlntendencia da Pol(eia
Delegacla Garal de Polfcia
T ecnicoMC ie nUfica
(DGP)
j
J
IML IC
Departamento de
Identific898.0 e Registros
Diversos (DIRD)
j
J
postos da postas da
capital e do capital e do
"RGD DPC interior Interior
t
pastos da
capital e do
interior
6.1. 0 Instituto Medico-Legal
o Instituto Medico-Legal (IML) tern por finalidade a elabora-
91[0 das perfcias medico-Iegais e toxicol6gicas.
Aos medicos legistas ficam afetas as necropsias, exuma90es
e ex ames na pessoa humana. ds exames toxicol6gicos e
laboratoriais, relacionados, embora realizados no IML, nlio slio
da alt;ada dos medicos-legistas,mas sim de peritos criminais ali
alocados.
o quadro a seguir elenca os exames de corpo de delito privati-
vos dos medicos-Iegistas (apud Jose Lopes Zarzuela, Minoru
Matunaga e Pedro Louren90 Thomaz, Laudo pericial - aspectos
tecnicos e jurfdicos, 2000, p. 230 - 231):
22
f
'"
'It
fri'
;1
..
i!!l
fj
.
iIi. '
.f
Il
!i
I
If:
Ii
-;r;
;;
f
i
1
'b
'I ':"
I
?
t
I
{
J
Pericia
Exame de sanidade fisica
Embriaguez
Acidente do trabalho
Les6es corporais
Verificac;ao de idade crono16gica
Exame de sanidade mental
Determinru;ao de personalidades
psicopaticas, psie6tieas, dissoeiais,
neur6tieas e oligofrenieas
da ausencia ou da
persistencia da perieulosidade do
condenado
Necropsia
Exame eadaverico
Dosagem alco6liea em material bio16gico
de pessoas vivas au mortas
Estado puerperal
Exames radiol6gicos
de aborto reeente
Verifieru;ao de gravidez
Exame de conjunc;ao carnal reeente
Estupro recente
de contagio venereo
Atentado ao
Parto recente
do sexo em casos de estados
intersexuais quando interessam aos
inqueritos polieiais e/ou processo penal
Pericias em ossos em geral, dentes e pelos
Detennina<;iio da especie animal em ossadas
Determinac;ao da estarura por meio de
perfeias em ossos longos
Determinac;ao da
Pesquisas bacterio16gicas de materiais
org3.nicos, sangue, pus, esperma, urina.
fezes, meconio, colostro. leite, de
origem humana oriundes do vivo e do
cadaver
Nucleo responsavel
Sec;ao de Clinica
Sec;ao de Clinica
Se'tao de Clinica
de Clinica Medica
Se<;ao de Clinica-Sede
de Psiquiatria
de Psiquiatria
Hospital de Custodia e Tratamento
Psiquiatrico
T6cnica de Necropsia
Tecnica de Necropsia
Sec;ao Tecnica de Necropsia
,
Sec;ao Tecnica de Pesquisa e dosagem de
Alcool
Sec;ao Tecnica de Psiquiatria
Sec;ao Teeniea de Radiologia
Secrao Tecniea de Sexologia Forense
Secrao Tecniea de Sexologia Forense
Secrao T6cnica de Sexologia Forense
Secrao Tecniea de Sexologia Forense
T6cnica de Sexologia Forense
Sec;ao Tecniea de Sexologia Forense
T6cnica de Sexologia Forense
Sec;ao T6cnica de Sexologia Forense
Setor Teenico de Antropologia
Setor Teenieo de Antropologia
Setor Teenieo de Antropologia
Setor Teenieo de Antropologia
Setor Teenieo de Biologia Forense
23
,I
Hi'
'Il
i:
):,1 ,
:::1'
'l
:Iil -,j
'\'i
ill I! H
, ,!
'.
III
II"
1..11
1
111
Ili;
1
111
a,
m
1ll
:,!lj
';]'1
iii'
Hi
,
II:
iJ
1
.:
II!
I':
,I,
III
"
f
11'
[,
Iii
il
!
"
II
"
ll' I':
:l,
'Ii
i
6.2. 0 Instituto de Criminalistica
o Instituto de Criminalistica (IC) subdivide-se em diversas se-
90es e setores, realizando pericias tanto em locais de crimes como
em documentos e pe9as relacionadas. A gama de exames realizados
pelo Instituto de Criminalistica e enorme, atingindo a maioria das
areas do conhecimento humano, como, por exemplo, as pericias em
documentos, som e imagem, balistica, crimes contra a pessoa, contra
o patrimonio, acidentes de transito etc.
6.3. 0 Instituto de Identificafiio Ricardo Gumbleton Daunt
o Instituto de Identificar;iio Ricardo GumbletonDaunt (IIRGD)
encarrega-se da pesquisa de impressoes digito-papilares, identifica-
9ao dactilosc6pica e expedi9ao de Carteiras de Identidade.
Curioso que, embora 0 IIRGD realize pericias, tanto em locais
de crime como de compara9ao de impressoes papilares, seus agentes
nao sao conhecidos como peritos, mas sim como pesquisadores
papilosc6picos e papiloscopistas policiais. Aos primeiros,pesquisa-
dores papilosc6picos, esta afeta a tarefa de pesquisar e coletar im-
pressoes nos locais de crime. Aos papiloscopistas, a c1assifica9ao, 0
estudo e 0 cotejo de tais impressoes.
7. DOCUMENTOS MEDICO-LEGAlS
7.1. Conceito e caracterfsticas
Documentos medico-legais ou medico-judiciiirios sao todas as
informa90es de conteudo medico, apresentadas por medico, verbal-
mente ou por escrito, que tenham interesse judicial.
Sao caracteristicas dos documentos medico-legais:
ser elaborado por medico devidamente habilitado na forma da
legisla9ao vigente;
decorrer de exame que corre,sponda a ato medico especffico,
assim entendidos aqueles pr6prios do exercfcio da medicina, com
exce9ao dos pareceres, em que 0 profissional podera valer-se de dou-
trilla preexistente;
apresenta9ao verbal ou por escrito; e
24
:r
-[
i-
t
'1
\i"
objetivar 0 esc1arecimento de quesilio colocada perante a justi9a.
7.2. Classificafiio
Documentos
{
oficiosos
atestados cJinjcos administrativos
judiciarios
atestados ou
certificados medicos atestados para fins previdenci:irios
atestados de 6bito { clinico
aficial
doem;as de notific3c;ao compu1s6ria
comunic3<tao de acidente do trabalho - CAT
medico-Iegais I notifica,oes
compulsorias
de crime de ac;ao penal publica incondicionada
comunicac;ao da ocorrencia de morte encefaIica
6bitos ou les6es a saude produzidos por nao-medico
violencia contra a mulher atendida em servi\os de saude
cin1rgicas
maus-tratos contra crianc;a ou adolescente
maus-tratos contra idoso
tortura
{
auto medico-legal
relat6rios medico-Iegais laudo medico-legal
pareceres ou consultas medico-legais
depoimentos orais
7.3. Atestados ou certificados medicos
Atestados medicos ou certificados medicos sao inforrna90es pres-
tadas por escrito a respeito de urn deterrninado fato de interesse medico,
assim como de suas posslveis conseqiiencias. Subdividem-se em ates-
tados c/{nicos, atestados parafins previdencitirios e atestados de 6bito.
7.3.1. Atestados c1fnicos
Os atestados clinicos slio simples dec1ara90es de natureza me-
dica prestadas por profissional habilitado, como, por exemplo, a de-
clara9ao destinada a justificar ausencia no trabalho. A expedi9ao do
atestado, quando solicitado pelo paciente ou seu responsavel legal,
25
'.iffi.'
. lit
,
''-Ki
cill
!B".i
:tH
i';t
;j
fl
'j
II.'"
iI!
, 't
:a,
'II
"II
,l'
"
it
ill!
!L
,!1
il
'i
II
1
1
'1j
If j'
,I
).1
; 1
.
11
1
, '
'II
I'll
]
. i
::
it,
lf
i
1\
constitui uma obrigalio do medico, de acordo com 0 art. 112 do
C6digo de Etica Medica (Resolulio n. 1.246/88 do Conselho Fe-
deral de Medicina).
C6digo de Etica Medica
13 vedado ao medico:
Art. 112. Deixar de atestar atos executados no exercicio profissional, quando
solicitado pelo sen paciente au sen responsavellegal.
Paragrafo unieD. 0 atestado medico e parte integrante do ato au tratamento medi-
co, seuda 0 sen fomecimento direito inquestionavel do paciente, DaD importando
em qualquer majorac;:ao dos honor3rios.
Embora nlio exista grande formalidade para a obtenlio do ates-
tado clinico, os arts. 39 e 110 do C6digo de Etica Medica vedam seu
fomecimento de forma irregular ou sem que 0 profissional tenha efe-
tivamente praticado 0 ate que 0 justifique, ou que nlio corresponda a
verdade. Mais que infralio etica, 0 fato de dar 0 medico atestado
falso no exercicio da profisslio configura crime previsto no art. 302
do C6digo Penal.
C6digo de Etica Medica
13 vedado ao medico:
Art. 39. Receitar au atestar de forma secreta ou ilegivel-, assim como assinar em
branco foIbas de receituanos, landos, atestados ou outros documentos
medicos.
Art. 110. Fomecer atestado sem ter praticado 0 ato profissional que 0 justifique,
ou que naD corresponda a verdade.
CP
Art. 302. Dar 0 medico, no exercfcio da sua juofissao, atestado falso:
Pena - de urn mes a urn ano:'
Paragrafo linieo. Se 0 erime e cometido ,eqm 0 fim de lucro. apliea-se tambem
multa.
Conforme 0 destinaiario, os atestados clinicos podem dividrr-se
ainda em: oficiosos, administrativos ou judiciarios.
26
:
,
j
l
.\
I.
E
,:.
.'.!.
,
i
II
Atestados oficiosos slio destinados a justificar fatos do dia-a-
dia, como ausencia as aulas ou ao trabalho, sem qualquer cunho de
oficialidade.
Atestados administrativos slio aqueles apresentados no servio
publico para abono de faltas ou obtenlio de aposentadoria e relacio-
nam-se com 0 exercicio de determinada funlio publica.
Atestados judiciarios slio os destinados a usc pela justia.
Para Delton Croce, "somente os atestados judiciarios consti-
tuem documentos medico-legais" (1998, p. 29). E bern verdade que a
validade juridica de tais atestados, .principalmente pela ausencia de
formalidades legais, e questionavel, mas podem ser classificados como
documentos medico-legais, em sentido amplo, se utilizados como
principio de prova de fatos de relevancia jurfdica.
7.3.2. Atestados para fins previdenciarios
Os atestados para fins previdenciarios slio aqueles destin ados a
comprovar determinado estado pato16gico especificamente perante a
Previdencia. Sua principal caracterfstica e a necessidade do diagn6sti-
co, segundo sua classificalio de acordo com 0 C6digo Intemacional
de Doenas (CID), publicado pela OMS - Organizalio Mundial de
Saude (atualmente estamos na 10" revislio - CID 10 - aprovada pela
Conferencia Intemacional para a Decima Revislio, em 1989, e adotada
pela Quadragesima TerceiraAssembleia Mundial da Saude). Esta foi a
maneira encontrada para permitir ao medico a indicalio do diagn6sti-
co sem a quebra do sigilo profissional a que estil obrigado.
Ver tambem a Resolulio do Conselho Federal de Medicina n.
1.488, de 11 de fevereiro de 1998, que trata do atestado de saude
ocupacional ASO.
7.3.3. Atestados de 6bito
Juridicamente a morte pode ser natural, violenta ou nao natural
e suspeita. Sera considerada violenta ou nao natural quando decor-
rente da alio de energias extemas, ainda que tardiamente, assumin-
do a forma de acidente, suiddio ou crime (apud Helio Gomes, atua-
lizado por Hygino Hercules, Medicina legal, 2003, p. 39). Sera tida
como suspeita se inesperada e sem causa evidente.
Os atestados de 6bito slio documentos necessarios para que possa
ocorrer 0 sepultamento (art. 77 da Lei n. 6.015, de 31-12-1973 -
Registros Piiblicos). Podem ser cl(nicos ou oficiais.
27
$
CI: . i
f
.J)
:'.
,
,Hi
!I
1:.1.111
Ii
;I!i
]
!j!
H
1M
Iii
I'
p,
,I
iii
:if
If
I
'
"
" P
J
i
a atestado de 6bito sera clfnico quando a morte for natural e
tiver ocorrido com assistencia medica. a fomecimento do atestado,
nessas e dever do medico, como determina 0 art. 115 do
C6digo de Etica Medica.
Nesses casos, a de 6bito deve ser fomecida preferen-
cialmente pelo medico que vinha prestando assistencia (art. 22, 1, n,
a, da n. 1.779/05 do Conselho Federal de Medicina).
Na bip6tese de paciente internado sob regime hospitalar, 0 ates-
tado pode ser fornecido pelo medico assistente ou substituto perten-
cente 11 instituis;ao (art. 22, 1, n, b, da Res. n. 1.779/05).
Se 0 paciente estava em tratarnento sob regime ambulatorial, 0
atestado deve ser fornecido pelo medico designado pela instituis;ao que
prestava assistencia ou pelo sva (art. 22, 1, n, c, da Res. n. 1.779/05).
A de 6bito do paciente em tratarnento sob regime
domiciliar (Programa Saude da FamI1ia, domiciliar,
homecare e outros) devera ser fornecida pelo medico pertencente ao
programa ao qual 0 paciente estava cadastrado, ou pelo sva, caso 0
medico nao consiga correlacionar 0 6bito com 0 quadro clfnico
concernente ao acompanhamento do paciente (art. 22, 1, n, d, da Res.
n. 1.779/05).
"Em caso de morte fetal os medicos que prestaram assistencia 11
mae ficam obrigados a fomecer a de 6bito do feto, quan-
do a tiver igual ou superior a 20 semanas ou 0 feto
tiver peso corporal igual ou superior a 500 (quinhentos) gramas e/ou
estatura igual ou superior a 25 cm" (art. 22, 2, da Res. n. 1.779/05).
Se 0 6bito foi natural, mas sem assistencia medica ao falecido,
ou sendo a morte violenta ou suspeita (nao natural), 0 medico nao
podera fomecer 0 atestado. .
Nas mortes naturais nito assistidas 0 corpo deverli ser encaminha-
do preferencialmente para 0 de de abitos (SVa) ou,
na sua ausencia, para medicos do publico de saude (art. 22, 1, I, a
e b, da Res. n. 1.779/05).
No caso de mortes violentas ou suspeitas, ao IML, onde serao
realizados exames destinados a comprovar a causa mortis (art. 22,3, da
Res. n. 1.779/05). '.
Tambem deverao ser encarninhadas ao IML as ocorrencias em
que a morte possa ter decorrido de "alguma medida com
diagn6stica ou terapeutica iiIdicada por agente nao-medico ou realiza-
da por quem nao esteja habilitado para faze-Io" (art. 12 da n.
1.641, de 12 de julho de 2002, do Conselho Federal de Medicina).
28
'II
!
,
l
,l
-:1
{'
C6digo de Etica Medica
E vedado ao medico: C ... )
Art. 114. Atestar 6bito quando nao 0 tenha verificado pessoaImente. ou quando
nao tenha prestado assistencia ao paciente. salvo, no Ultimo caso, se 0 fIzer como
plantonista. medico substituto, ou em caso de necropsia e medico-
legal.
Art. 115. Deixar de atestar 6bito de paciente aD qual vinha prestando assistencia,
exceto quando hOllver indicios de morte violenta.
CFM n. 1.779/05
Art. 12 0 preenchimento dos dados constantes na Declarac;ao de 6bito e da res-
ponsabilidade do medico que atestou a mQrte.
Art. 22 Os medicos, quando do preenchimento da de 6bito, obedece-
rao as seguintes nonnas:
1) Morte natural:
I. Morte sem assistencia medica:
a) Nas localidades com de de 6bitos CSVO): I
A de 6bito devera ser fomecida pelos medicos do SVO.
b)Nas localidades sem SVO:
A de 6bito devera ser fomecida pelos medicos do pu-
blico de san.de mais pr6ximo do local onde ocorreu 0 evento; na sua ausen-
cia, por qualquer medico da localidade.
ll. Morte com assistencia medica:
a) A de 6bito devera ser fomecida, sempre que posslvel, pelo me-
dico que vinha prestando assistencia ao paciente.
b) A de 6bito do paciente intemado sob regime hospitalar devera
ser fomecida pelo medico assistente e, na sua falta, por medico substituto
pertencente a instituic;ao.
c) A de 6bito do paciente em tratamento sob regime ambulatorial
devera ser fomecida por medico designado pela instituic;:ao que prestava
assistencia, ou pelo SVO.
d) A Declara.iio de 6bito do paciente em tratamento sob regime domiciliar
(Programa Sande da Familia, intemac;ao domiciliar e outros) devera ser
fomecida pelo medico pertencente ao programa aD qual 0 paciente estava
cadastrado, ou pelo SVO, caso 0 medico nao consiga correlacionar 0 6bito
com 0 quadro clfnico concemente ao acompanhamento do paciente.
2) Morte fetal:
Em caso de morte fetal, os medicos que prestaram assistencia a mae ficam
obrigados a fomecer a Declarar;ao de Obito quando a gestac;:ao tiver durac;ao
igual ou superior a 20 semanas ou 0 feto tiver peso corporal igual ou superior
a 500 Cquinhentos) gramas e/ou estatura igual ou superior a 25 cm.
3) Mortes violentas ou nao naturais:
A Dec1arac;:ao de 6bito devera, obrigatoriamente, ser fomecida pelosservic;:os
medico-legais.
Paragrafo unico. Nas localidades onde existir apenas 1 Cum) medico, este e 0
responsavel pelo fomecimento da de 6bito.
Art. 3
2
Esta resoluc;:ao entra em vigor na data de sua publicac;:ao e revoga a Reso-
CFM n. 1.601100.
29
"
Ii
:1
1!
it
Ii:
\lr
if
Ii
r
If
it
II
I,
.,
,
e-
I
I
:
:)
,i
'f
I,
I
I
!I[I
I
!
ii
CFM n. 1.641102
Art. 1 iii: E vedado aos medicos conceder de 6bito em que 0 evento que
levan a morte possa ter sido alguma medida com diagn6stica ou tera-
peutica indicada por agente nao-medico ou realizada por quem nao esteja habili-
tado para fazelo, devendo, neste caso, tal fatD sel comunicado a autoridade poli-
cia! competente a fun de que 0 corpo possa ser encaminhado ao Instituto Medico
Legal para da causa mortis.
Em Sao Paulo, 0 Servi<;o de Verifica<;ao de 6bit05 foi regu-
lamentado, na Capital, pelo Decreto n. 4.967, de 13 de abril de
1931, modificado pela Lei n. 10.095, de 3 de maio de 1968, e
pelo Decreto n. 51.914, de 5 de dezembro de 1968, e em todo 0
Estado, pela Lei n. 5.452, de 22 de dezembro de 1986, que esta-
belece:
Lei Estadual n. 5.452/86
Artigo 2' Os de de 6bitos tem por fioalidade:
I - esc1arecer a causa mortis em casos de 6bito por mole'stia mal definida ou sem
assistencia medica;
II - prestar colaborac;ao tecnica, didatica e cientffica aos Departamentos de Pato-
logia das Faculdades de Medicina, 6rgaos afins Oll outros interessados, partici-
pando de sellS trabalhos e podendo funcionar nas suas dependencias e instala-
'.toes.
Artigo 3" Compete aos de de 6bitos:
I - realizar as necropsias de pessoas falecidaS de morte natural sem assistencia
medica ou com atestado de 6bito de moIestia mal defin.lda, inclusive os que The
forem encaminhados pelo Instituto Medico Legal do Estado - IML, fomecendo
os respectivos atestados de 6bito;
IT - proceder ao registro de 6bito e expedir guia de sepultamento, dentro dos
prazos legais, para corpos necropsiados e nao reclamados. Nesse caso, 0 sepulta-
mento podera ser feito 48 horas ap6s a necropsia. salvo no caso de cada.veres
putrefatos, hip6tese em que podera ser feita :hnediatamente;
ill - remover para 0 IML os casos suspeitos\de morte violenta verificados antes
ou no decorrer, da necropsia e aqueles, de morte natural, de desco-
nhecida, enviando, sempre que couber, a autoridade palicial;
IV - fiscalizar 0 embarque de cadaveres,: au restos exumados, para fora
de cadamunicfpio, expedi..n.do os competentes "livre trAnsito", nos casos de mor-
te natural;
V - realizar e/ou fiscalizar embalsamamentos e de acordo COIn a
sanitaria e intemacionais em vigor;
30
' . .-'1
1;,
.
1\
\
\
---------------------
VI _ lacrar as umas funenlrias que se ao Exterior. nos casas de morte
natural;
VII- fazer as necessmas comunica'.toes a funda'.tao Sistema Estadual de Anilise
de Dados _ SEADE e, quando solicitado, a outros 6rgaos interessados, nos ca-
sas em que, ap6s exames complementares, for modificado au completado 0 diag-
n6stico da causa basica da morte.
Paragrafo Unico. As atribui'.toes a que se referem os incisos IV e VI, quando se
tratar de morte violenta, serao de competencia do IML.
A respeito dos Servi"os de Verifica<;ao de 6bito, ver tambem
portaria MS/GM n. 1.405, de 29 de junho de 2006, que instituiu a
Rede Nacional de Servi<;os de Verifica<;ao de 6bito e Esclarecimento
da Causa Mortis (SVO) .
do medico - mortes naturais, desde que tenha assistido a paciente
para atestar
o6bito
S 0 { mortes naturais quando nao ha medico para atestar
V mal defiuidas
IML - mortes nao naturais (violentas all suspeitas)
7.4. Notificar;iies compuls6rias
Notifica<;oes compuls6rias sao comunica<;oes obrigat6rias fei-
tas pelo medico (ou eventuaImente por outros profissionais de saude)
as autoridades competentes, por razoes sociais ou sanitiirias. Sao eIas:
doen<;as de notifica<;ao compuls6ria;
comunica<;ao de acidente do trabalho - CAT;
notifica"ao de crime de a<;ao penal publica incondicionada que
teve ciencia no exercfcio da medicina (art. 66da LCP);
comunica<;ao da ocorrencia de morte encefilica;
comunica<;ao dos 6bitos Oll casos de lesao ou dano a saude
induzidos ou causados por alguem nao-medico (art. 4" da Resolu<;ao
CFM n. 1.641102);
a violencia contra a muIher atendida em servi<;os de saude
publicos e privados (Lei n. 10.778/03);
as esteriliza<;oes cirt1rgicas (Lei n. 9.263/96);
31
:
!,
\.
,i:'
,)
i
maus-tratos contra crian<;a ou adolescente (ECA, arts. 13 e 245);
maus-tratos contra idoso (Lei n. 10.741103, art. 19); e
tortura (art. 53, panigrafo iinico, do C6digo de Etica Medica)
(Resolu<;ao CFM n. 1.246/88).
7 .4.1. de notifical;ao compulsoria
As notifica<;6es ou atestados para intema<;ao compuls6ria sao
informa<;6es que 0 medico esta obrigado a prestar para a autoridade
competente sobre moIestias infecto-contagiosas.
Os parametros para a inclusao de determinada moIestia no rol
daquelas de comunica<;ao obrigat6ria sao tra<;ados pela Lei n. 6.259,
de 30 de outubro de 1975, e pelo Decreto n. 78.231, de 12 de agosto
de 1976, que a regulamentou. Ambos os diplomas legais atribuem ao
Ministerio da Saiide a normatiza<;ao da materia.
Lei n. 6.259175
Art. 7
2
Sao de compuls6ria as autoridades sanit3..rias as casas suspei-
tos ou confirmados:
I - de que podem implicar medidas de isolamento ou quarentena, de
acardc com 0 Regulamento Sanitaria Internacional;
II - de doent;as constantes de relac;ao elaborada pelo Ministerio da Sal1de, para
cada Unidade da Federac;ao, a ser atualizada periodicamente.
12 Na rela<;ao de doenc;as de que trata 0 inciso II deste artigo seni incluido item
para casos de "agravo inusitado a saude".
22 0 Ministerio da Sande podeni exigir dos Servic;os de Saude a notificac;ao
negativa da ocorrencia de doenc;as constantes da relac;ao de que tratam as itens I
e II deste artigo.
Atualmente, sao agravos de notifica<;ao compuls6ria em todo 0
territ6rio nacional, segundo a Portarla n. 5, de 21 de fevereiro de
2006, da Secretaria de Vigilancia em'SaUde:
32
I. Botulismo
II. Carbiinculo ou "Antraz" ,
III. C6lera
IV. Coqueluche
V. Dengue
1
r
}
f"
l'-
:'cC
".
(
t
.
-.ro
";1
t.-
VI. Difteria
VII. Doen<;a de Creutzfeldt-Jacob
VIII. Doen<;as de Chagas (casos agudos)
IX. Doen<;as Meningoc6cicas e outras Meningites
X. Esquistossomose (em area nao endemica)
XI. Eventos Adversos P6s-Vacina<;ao
XII. Febre Amarela
XIII. Febre do Nilo Ocidental
XIV. Febre Maculosa
XV. Febre Tif6ide
XVI. Hanseniase
XVII. Hantaviroses
XVIII. Hepatites Vrrais
XIX. Infec<;ao pelo virus da imunodeficiencia humana HIV
em gestantes e crianas expostas ao risco de transmissao
vertical
XX. Influenza humana por novo subtipo (pandemico)
XXI. Leishmaniose Tegumentar Americana
XXII. Leishmaniose Visceral
XXIII. Leptospirose
XXIV. Malaria
XXV. Meningite por Haemophilus influenzae
XXVI. Peste
XXVII. poliomielite
XXVIII. Paralisia Flacida Aguda
XXIX. Raiva Humana
XXX. Rubeola
XXXI. Sindrome da Rubeola Congenita
XXXII: Sarampo
XXXIII. Sffilis Congenita
33
,
I
I
" H
;\
II
I
',I
I
I
'i
I
XXXIv. SiTilis em gestante
xxxv. Sfndrome da Imunodeficiencia Adquirida _ AIDS
XXXVI. Sfndrome Febril fctero-hemomigica Aguda
xxxvn. Sfndrome Respirat6riaAguda Grave
xxxvrn. Tetano
XXXIX. Thlaremia
XL. Thberculose
XLI. Variola
Ao deixar de comunicar it autoridade sanitiiria competente a
ocorrencia de moIestia de compuls6ria de que teve cien-
cia no exercfcio da medicina, pode 0 medico cometer 0 delito previs-
to no art. 269 do C6digo Penal:
CP - Omissao de de
Art. 269. Deixar 0 medico de denunciar a autoridade publica cuja notifi-
ca'.tao e compuls6ria:
Pena - detenl,tao. de seis meses a dais anos, e multa.
7.4.2. de acidente do trabalho _ CAT
Por do que dispoe 0 art. 169 da CLT, os medicos do
lho estiio obrigados a comunicar it Previdencia a ocorrencia de aci-
dentes e profissionais ou produzidas em virtu de de condi-
especiais de trabalho.
CLT
Art. 169. Sera obrigat6ria a notifica'.tao das profissionais e das produzi-
das em virtude de condic;oes especiais de trabalho, comprovadas ou objeto de
sllspeita, de cOnfonnidade com as instruc;oes expedidas pelo Ministerio do Tra-
balho.
A Lei n. 8.213, de 24 de jUlho de 1991, que regulamentou <;>s
beneficios da Previdencia Social; 0 conceito de acidente do
trabalho para incluir as profissionais e do trabalho.
34
_-f>;:;
!iJ
J
iIJ
""",'
':::
Lei n. 8.213/91
Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho. nos tennos do artigo anterior, as
seguintes entidades m6rbidas:
1-doenc;a profissional, assim entendida a produzida au desencadeada pelo exer-
cicio do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva rela-
elaborada pe10 Ministerio do Trabalho e da Previd8ncia Social;
D - doen'ia do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em fun-
'iao de condi-;oes especiais em que 0 trabalho e realizado e com ele se relacione
diretamente, constante da rela'iao mencionada no inciso I.
A de acidente do trabalho - CAT e obrigat6ria
mesmo nas hip6teses em que niio hi! afastamento do trabalho. A falha
na tambem pode configurar 0 delito previsto no art.
269 ao C6digo Penal.
7.4.3. da ocorrencia de crime de penal publi-
ca incondicionada
o Decreto-lei n. 3.688, de 3 de outubro de 1941, Lei das Con-
Penais, estabeleceu, em seu art. 66, n, a figura da omissiio
de comunica<;iio de crime, levando it obrigatoriedade de 0 medico
informar, para a autoridade competente, sobre a ocorrencia de crime
de aiio penal publica incondicionada de que teve ciencia noexercf-
cio da profissiio, desde que a noticia nao exponha 0 cliente a procedi-
mento criminal.
LCP - Omissao de comunica'iao de crime
Art. 66. Deixar de comunicar a autoridade competente:
IT - crime de a'iao publica, de que teve conhecimento no exercfcio da medicina
ou de outra profissao sanitaria, desde que a penal nao dependa de represen-
ta<tao e a comunica<tao nao exponba 0 cliente a procedimento criminal:
Pena - multa.
Interessante ressaltar que a norma contravencional niio fi-
xou prazo para a dificultando a do
tipo.
35
7.4.4. da ocorrencia de morte encefalica
A Lei n. 8.489, de 18 de novembro de 1992 (revogada),jaestabele-
cia, em seu art. 12, a obrigatoriedade de comunicaglio, em. carater
emergencial, dos diagn6sticos de morte encefilica ocorridos nos hospi-
tais pnblicos e privados, de maneira a permitir 0 transplante de 6rglios.
Mais recentemente a Lei n. 9.434, de 4 de fevereiro de 1997,
que trata especificamente dos transplantes de 6rglios, no mesmo sen-
tido, estabeleceu que:
Lei n. 9.434/97
Art. 13. E obrigat6rio, para todos as estabelecimentos de saude, notificar, as cen-
trais de e distribuit;ao de 6rgaos da unidade federada oude
ocorrer, 0 diagn6stico de morte encefalica feito em pacientes por eles atendidos.
A responsabilidade pelo descumprimento, na hip6tese, nlio e
penal, sendo inaplicavel 0 disposto no art. 269 do C6digo Penal. Pri-
meiro, por nlio se tratar de doen,a cuja notificaglio e compuls6ria,
segundo, porque a obrigaglio de comunicar e do estabelecirnento, fi-
cando a cargo de seus administradores, inexistindo responsabilidade
penal objetiva, e, por derradeiro, porque 0 art. 22, 1 Q, da Lei n.
9.434/97 preve a aplicaglio de multa para a instituiglio em caso de
ornisslio em face do art. 13.
Lei n. 9.434/97
Art. 22. As institui"oes que deixarem de manter em arquivo relat6rios dos trans-
plantes realizados, confonne 0 disposto no art. 3!:!. 1
2
, au que nao enviarem os
relat6rios mencionados no art. 3!;!, 22., ao 6rgao de gestao estadual do Sistema
Vnieo de Saude, estao sujeitas a multa, de 100 a 200 dias-multa.
}2 Incorre na mesma pena 0 estabelecimento de saude que deixar de fazer as
notificas;6es previstas no art. 13.
7.4.5. Ocorrencias induzidas ou causadas por aIguem nao medico
A Resoluglio n. 1.641, de 12 de julho de 2002, do Conselho
Federal de Medicina a necessidade de comunicaglio das
ocorrencias de 6bitos ou casos de leslio ou dana it sande induzidos ou
caus.ados p'or alguem nlio medico para a autoridade policial e para <>
respectivo Conselho Regional de Medicina.
36
CfM n. 1.641102
Art. 12 E vedado aos medicos conceder de 6bito em que a evento que
levou a morte possa tef sido alguma medida com diagn6stica au tera-
peutica indicada por agente nao-medico ou realizada por quem nao esteja habili-
tado para faze-la, devendo, neste caso, tal fato ser comunicado a autoridade poli-
cial competente a fun de que 0 corpo possa ser encaminhado ao Instituto Medico
Legal para da causa mortis.
Art. 22 Sem prejuizo do dever de assistencia, a a autoridade polici-
al, visando 0 encaminhamento do paciente ao Instituto Medico Legal para exame
de corpo de delito, tambem e devida, mesmo na ausencia de 6bito, nos casos de
lesao au dana a saude induzida all causada por alguem nao-medico.
Art. 42. Nos casos mencionados nos arts. 12. e 2.11 deve ser feita imediata comunica-
ao Conselho Regional de Medicina local.
7.4.6. Violencia contra a mulher
A Lei n. 10.778, de 24 de novembro de 2003, regulamentada
pelo Decreto n. 5.099, de 3 dejunho de 2004, estabeleceu a obriga-
toriedade da notificaglio compuls6ria dos casos de violencia contra a
mulher atendida em servi<;os de sande pnblicos e privados:
Lei n. 10.778/03
Art. I Q Constitui objeto de compuls6ria, em todo 0 territ6rio nacional, a
violencia contra a mulher atendida em serviij:os de saude publicos e privados.
12. Para os efeitos desta Lei, deve-se entender por violencia contra a mulher
qualquer au conduta, baseada no genera, que Cause morte, dana all sofri-
mento fisico, sexual ou psicologico a muTher, tanto no ambito publico como no
privado.
22. Entender-se-a que violencia contra a muTher inclui violencia fisica, sexual e
psicol6gica e que:
1-tenha ocorrido dentro da familia ou unidade domestica ou em qualquer Dutra
interpessoal, em que 0 agressor conviva ou haja convivido no mesmo
domicilio que a muTher e que compreende, entre outros, estupro, maus-
tratos e abuso sexual;
II - tenha ocorrido na comunidade e seja perpetrada por qualquer pessoa e que
compreende, entre outros, violas;ao, abuso sexual, tortora, maus-tratos de pes-
soas, trafico de mullieres, fon;ada. sequestro e assedio sexual no
lugar de trabalho, bern como em instituiij:6es educacionais, estabelecimentos de
saude Oll qualquer outro lugar; e
ill - seja perpetrada ou tolerada pelo Estado ou seus agentes, onde quer que
ocorra.
32. Para efeito da defini<;ao serao observados tambem as convenij:oes e acordos
intemacionais assinados pelo Brasil, que disponham sobre prevenij:ao, puni<;ao e
da violencia contra a mulher.
37
7.4.7. cirnrgicas
A Lei n. 9.263, de 12 de janeiro 1996 (planejamento familiar),
em seu art. 11, determina sejam comunicadas as cirUr-
gicas para a do Sistema Unico de Sande, prevendo figura
penal em caso de descumprimento:
Lei n. 9.263/96
Art. 16. Deixar 0 medico de notificar a autoridade sanitaria as ci-
nlrgicas que reaIizar.
Pena - detenr;ao, de seis meses a dais anos, e multa.
7.4.8. A ocorrencia de maus-tratos contra ou adolescente
o art. 13 do Estatuto da e do Adolescente estabelece a
necessidade de casos de suspeita ou de maus-tratos con-
tra ou adolescente serem obrigatoriamente comunicados ao
Conselbo Tutelar da 'respectiva localidade, sem prejuizo de outras
providencias legais.
o art. 245 do mesmo diploma legal preve uma ad-
ministrativa em caso de descumprimento, mencionando expres-
samente os medicos responsaveis por estabelecimentos de aten-
a sande:
ECA
Art. 245. Deixar 0 medico, professor ou responsavel por estabelecimento de aten-
1,;3.0 a saude e de ensina fundamental, pre-escola all creche, de comunicar a auto-
ridade competente as casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita au
confinna<;ao de mans-tratos contra crianr;a au adolescente:
Pena - multa de tris a vinte sahlrios de aplicando-se 0 dobro em
caso de reincidencia.
7.4.9. A ocorrencia de mans-tratos contra idoso
'.
A Lei n. 10.741, de 12de outubro de 2003, estabeleceu a
obrigatoriedade de os profissionais de sande comunicarem os casos
confirmados ou nao de maus-tratos contra idoso:
38
11
ii
11'
:jijl
il
'ii
n
'1
.ll':r;
lei
"
-1>
"1
"'"
.'C.
,;"
!
\
(
\
Lei n. 10.741103
Art. 19. Os casos de suspeita ou de maus-tratos contra idoso serao
obrigatoriamente eomunicados pelos prQfissionais de saude a quaisquer dos se-
guinles 6rgaos:
I - autoridade policial;
IT - Ministerio PUblico;
ill - Conselho Municipal do Idoso;
IV - Conselho Estadual do Idoso;
V - Conselho Naeional do Idoso.
7.4.10. Tortura
o C6digo de Etica Medica CFM n. 1.246/88) preve
a obrigat6ria, para a autoridade competente, dos atos
lesivos a personalidade ou a sande fisica ou psfquica do paciente sob
cuidado medico.
Art. 53. ( ... )
Paragrafo linieo. Ocorrendo quaisquer atos lesivos a personalidade e a sande ffsi-
ea on psiquica dos pacientes a ele eonfiados, 0 medico esta obrigado a dennnciar
o fato a autoridade eompetente e ao Conselho Regional de Medicina.
E born lembrar que, em se tratando de norma de cunho etico,
nao obriga 0 profissional, e 0 seu descumprimento pode acarretar
apenas administrativas.
7.5. Relat6rios medico-legais
Os relat6rios medico-Iegais sao, em ultima analise, os do-
cumentos resultantes da do medico-legal. Subdivi-
dem-se em autos medico-Iegais e laudos medico-legais.
Nao ha, em essencia, entre auto e laudo medico-legal.
Se 0 relatorio for ditado ao escrivao ou escrevente, na da
autoridade, policial ou judiciacia, sera chamado de auto medico-le-
gal. Por outro lado, caso seja elaborado posteriormente pelo proprio
perito, estaremos diante do laudo medico-legal (mais comum).
Tambem nao hii uma forma legal para do relat6-
rio, seja ele urn auto medico-legal ou laudo .. Entretanto, geralmente
os laudos apresentam, no mfnimo:
39
preilmbulo ou intr6ito - onde 0 perito fomece dados gerais,
como autoridade requisitante, objeto do exame, data etc.;
hist6rico ou anamnese - com urn resumo dos antecedentes
do caso de interesse pericial;
descri(:tio - todas as etapas, 0 mais pormenorizadamente pos-
sivel, dos exames realizados;
discusstio - dos achados e exames complementares;
conclusoes - as ilaoes e ponderaoes decorrentes do exame;
res posta aos quesitos - aos quesitos oficiais (ver) e aos de-
mais, quando formulados;
fecho ou encerramento.
7.6. Pareceres ou consultas medico-legais
Os pareceres medico-legais sao consultas feitas a profissionais
de reconhecido renome na area medica para utilizaao como prova
em processo judicial ou administrativo.
Sao documentos oficiosos, particulares, geralmente encomen-
dados pelas partes para reforar sua tese sobre determinado assunto
de interesse e, por isso mesmo, nao obstante 0 renome do autor, de-
vern ser analisados com cautela, raramente se sobrepondo aos exa-
mes oficiais.
7.7. Quesitos
Quesitos sao perguntas espedficas, dirigidas pelo juiz ou pelas
partes aos peritos, objetivando esclarecer deterrninado ponto referen-
te ao exame realizado.
Os quesitos, alem de ajudar a esclarecer pontos obscuros, ser-
vern de orientaao ao perito para a elaboraao de seu relat6rio, uma
vez que tera de dirigir seus trabalhos no sentido de responder as ques-
toes formuladas.
Nao se pode esquecer que os peritos, embora especialistas na
,
sua area de atuaao, nao em regra, conhecimento juridico. Daf a
necessidade de que respondam a deterrninadas perguntas, relevantes
para 0 direito, mas aparentemente sem importlincia para urn tecnico
de outra area do saber humano.
40
;\
I
f-
\
}-
\
I
I
Na area penal existem quesitos-padrao, chamados oficiais, na
dependencia do tipo de exame realizado. Sao exemplos de quesitos
oficiais na area medico-legal:
No exame cadaverico:
Houve morte?
Qual a causa da morte?
Qual 0 instrumento ou meio que produziu a morte?
Foi produzida por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia,
tortura ou outro meio insidioso ou cruel?
Na lesao corporal:
Houve of ens a a integridade ffsica ou a saude do paciente?
Qual 0 instrumento ou meio que produziu a of ens a?
A of ens a foi produzida por meio de veneno, fogo, explosivo,
asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel?
Resultou incapacidade para as funoes habituais por mais de
30 dias?
Resultou perigo de vida?
Resultou debilidade permanente ou perda de membro, sentido
oufunao?
Resultou incapacidade para 0 trabalho, enferrnidade incuravel
ou deforrnidade permanente?
Resultou aceleraao de parto ou aborto?
Na area dvel naO ha quesitos previamente estabelecidos, 0 que
perrnite ao juiz e as partes formula-los livremente de acordo com as
particularidades especfficas do caso.
7.S. Falsa pericia - divergencia entre peritos
A falsa pericia e delito previsto no art. 342 do C6digo Penal:
CP _ Fa1.so testemunho ou falsa pencia
Art. 342. Fazer falsa, ou negar Oll calar a verdade, como testemunha,
perito, contador, tradutor ou interprete em processo judicial. ou administrativo,
inquerito palicial, ou em juizo arbitral:
- - - - - - - --
41
- -- -- - - - - - - - - - - - -.-- - -- -- --
1 As penas aumentam-se de urn sexto a urn tertio, se 0 crime e praticado me-
diante subomo au se cometido com 0 tim de obter prova destinada a produzir
efeito em processo penal, all em processo civil em que for parte entidade cia
publica direta au indireta.
20: 0 fato deixa de ser punivel se, antes da no processo em que ocorreu
o ilicito, 0 agente se retrata Oll declara a verdade.
E preciso diferenciar a falsa pen cia, em que 0 especialista, oficial
-ou nao, propositadamente, faz afinna .. ao falsa, nega a verdade ou si-
lencia sobre fato relevante, de eventual erro cometido no exercicio do
mister, ou mesmo colocaliao divergente por entendimento diverso.
Dessa forma, e perfeitamente possIvel que as conclusoes de pe-
ritos diversos sejam divergentes ou mesmo contradit6rias (pertcia
contradit6ria). Isso ocorren'i:
por urn deles ter lanliado propositadamente conclusoes erroneas;
por ter urn deles analisado de modo diverso os achados peri-
ciais; ou
por erro.
Apenas na primeira hip6tese e que se podera falar em falsa
pericia.
Alias, 0 pr6prio C6digo de Processo Penal, em seu art. 168,
1
2
, fala do exame complementar, em caso de lesoes corporais, e na
possibilidade de retiJicat;iio do laudo inicial.
cpp -Art. 168 .... lSI; No exame complementar. as peritos tedia presente 0 auto
de carpa de delito, a fun de suprir-lhe a deficiencia au retifica-Io.
7.9. Prazo para realizafiio das pericias e entrega dos laudos
7.9.1. Realiza .. lio da pericia
o prazo para realiza .. ao da perichi (ou do exame de corpo de
delito) ha de ser forliosamente curto: Velho brocardo utilizado pelos
peritos criminais da bern a ideia da importilncia de urn exame ceIere:
"0 tempo que passa e a que foge".
Nesse sentido a disposic;ao dos arts: 6
2
e 161 do C6digo de Pro-
cesso Penal:
42
.11
1
\{.
1
1
.{
cPP
Art. (fJ. Logo que tiver conhecimento da pratica da infrac;ao penal. a autoridade
policial devera:
1-dirigir-se aD local. providenciando ,para que naD se alterem 0 estado e con-
das coisas, ate a chegada dos peritos criminais; .
VII _ detenninar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a
quaisquer outras pencias;
cpP -Art. 161. 0 exame de corpo de delito podera ser feito em qualquer dia e
a qualquer hora.
as unicos prazos para a realiza .. ao da pericia, fixados no C6di-
go de Processo Penal, sao na verdade prazos minimos, de 6 horas
para a realiza .. ao do exame necrosc6pico (art. 162, caput, do CPP) e
de 30 dias para a realiza .. ao do exame comp1ementar de classificac;ao
das lesoes corporais (art. 168, 2', do CPP).
cpP
Art. 162. A aut6psia sera feita pelo menos seis horas depois do 6bito. salvo se as
petitos. pela evidencia dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes
daquele praza, 0 que dec1ararao no auto.
Art. 168 ....
22 Se 0 exame tiver por funprecisar a do delito no art. 129, 1', I,
do C6digo Penal, deveni ser feito logo que decorra 0 praza de trinta dias, contado
da data do crime.
No C6digo de Processo Civil, por outro lado, nao haprazo fixa-
do para a realiza .. ao dos exames.
7.9.2. Prazo para entrega dos reiatorios
Para a entrega dos relat6rios 0 CPP estabelece 0 prazo generico
de 10 dias (art. 160, paragrafo unico).
CPP-Art. 160 ....
Paragrafo unico. 0 laudo pericial sera elabor.do no prazo maximo de dez dias,
podendo este prazo ser prorrogado. em casas excepcionais. a requerimento dos
petitos.
43
;' .. ,
Ha prazos especiais, como, por exemplo, aquele designado pelo
juiz para a verifica9ao da cessa9ao da periculosidade (art. 777, 2",
do CPP) ou 0 do exarne decorrente do incidente de insanidade (art.
150, 12, do CPP), que nao pode ultrapassar 45 dias.
No C6digo de Processo Civil os prazos sao flXados pelo juiz,
que devera atentar para a data da audiencia de instru9ao e juigarnento
(arts. 421 e 433 do CPC), tendo os assistentes tecnicos 0 prazo co-
mum de 10 dias para a apresenta<;ao de seus pareceres, depois de
intimadas as partes da apresenta<;ao do Iaudo (art. 433, paragrafo Unico,
do CPC).
epe
Art. 421. 0 juiz nomeani 0 perito, fixando de imediato 0 praza para a entrega do
laudo.
Art. 433. 0 perito apresentara 0 laudo em cart6rio, no praza fixado pelo juiz,
pelo menos vinte dias antes da audiencia de instru<;ao e julgamento.
Paragrafo Unico. Os assistentes tecnicos oferecerao seus pareceres no praza co-
mwn de dez dias, ap6s intimadas as partes da apresenta<;ao do laudo.
Caso 0 prazo fixado pelo juiz nao seja suficiente para a realiza-
<;ao da pericia, podera ser prorrogado uma unica vez:
epe
Art. 432. Se 0 perito, por motivo justificado, nao puder apresentar 0 laudo dentrD
do praza, 0 juiz conceder-lhe-a. por uma vez, prorroga<;ao, segundo 0 seu pru-
dente arbitrio.
7.9.3. Resumo
Prazos epp
44
para a exame
para entrega
do laudo
1
- 0 mais nipido passivel
minima de 6 horas para 0 exame
_ . necrosc6pico
mi' d 30 di
" rumo e as para 0 exame
: { complementar de les6es corporais
regra --:, 10 dias
'. lcessar;ao da periculosidade
_ incidente de insanidade
excer;oes dilar;ao solicitada pe10s peritos
outras hip6teses
r
;
I
I
I
ii
:!.
:t
n
'-\fl
;';1-
r
,
i'
,
para 0 exame - logo ap6s a pelo juiz
Prazos' epe
{
regra - prazo detenninado pelo juiz
para entrega dilar;ao solicitada pelos peritos
do laudo excer;6es comum 10 dias para os
asslstentes tecmcos
7.10. Suspeit;iio, incompatibilidade e impedimento
Em primeiro Iugar e necessario diferenciar, ainda que rapida-
mente, as hip6teses de suspei<;ao, incompatibilidade e impedimento.
Muito embora as expressoes sejarn norrnalmente confundidas e
usadas ate indiscriminadarnente umas pelas outras, descrevem situa-
<;oes que afastarn a competencia do juiz e tarnbem a atribui<;ao dos
6rgaos auxiliares da justi<;a (peritos).
A suspeif;iio decorre de vinculo do juiz, ou de auxiliar, com as
partes; 0 impedimento indica reIa<;ao de interesse com 0 objeto do
processo; e a incompatihilidade advem de outras razoes de conve-
niencia, nao abrangidas pelas hip6teses de suspei<;ao e impedimento,
previstas geralmente nas leis de organiza<;ao judiciaria.
7.10.1. Suspei<;iio
A suspei<;ao nadamais e que a argiii<;ao de que 0 juiz, em decor-
rencia de interesses ou sentimentos pessoais (arnor, 6dio, medo etc.),
nao podera juigar a causa com a isen<;ao e imparcialidade necessarias
a aplica<;ao da justi<;a.
As hip6teses de suspei<;ao estao elencadas no art. 254 do CPP:
epp
Art. 254. 0 juiz dar-se-a por suspeito, e, se nao a fizer, podeni ser recusado par
qualquer das partes:
1-se for amigo intima au inimigo capital de qualquer deles;
II - se ele. seu conjuge, ascendente ou descendente. estiver respondendo a pro-
cesso par fato anaIogo. sobre cujo carater crirninoso haja controversia;
ill - se ele, seu conjuge, au parente. consangiiineo. ou afim, ate 0 terceiro grau,
inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado
por qualquer das partes;
45
'i''Hi"
" iii,;
iJi
Jlr
i!1:ji:'
1 .
i: !
el' J. ;,
,.
'II
:l
i.
q
11:
d'
';1:.1
'1
1
"
.
q,
fl!
,If
-al
'I,',
'ii'
::',1
,i i '
II
iii,
'"
i,!i
;1 f
m
'::I-l
Ii
:11,
i
\:1
I,j!
:'11
Ii
Ii
i\:
,I
I
'i
i:
d
---------------------
IV - se tiver aconselhado qualquer das partes;
V _ se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes;
VI - se for s6cio, acionista au administrador de sociedade interessada no processo.
As hipoteses de suspei<;:ao dos jufzes aplicam-se aos orgaos au-
xiliares da justi<;:a, vale dizer, peritos, por expressa disposi<;:ao do art.
280 do CPP:
cpp
Art. 280. E extensivo aos peritos, no que lhes for aplicavel, 0 disposto sabre
dos jufzes.
7.10.2. Incompatibilidade e impedimento
Diz 0 art. 112 do Codigo de Processo Penal que "0 juiz, 0 orgao do
Ministerio PUblico, os serventuarios ou funcion3rios de justi<;:a e os peri-
tos ou interpretes abster-se-ao de servir no processo, quando houver in-
compatibilidade ou impedimento legal, que declararao nos autos ... ".
As hipoteses de incompatibilidade e impedimento vern
elencadas, indistintamente, nos arts. 252 e 253 do CPP:
cpp
Art. 252. 0 juiz nao podera exercer no processo em que:
1- tiver funcionado seu conjuge au parente. consangilineo au afun, em linha
reta au colateral ate a terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado. 6rgao
do Ministerio PUblico, autoridade policial, auxiliar da ou perito;
II _ ele pr6prio houver desempenhado qualquer dessas ou servido como
testemunha;
ill _ tiver funcionado como juiz de outra instancia, pronunciando-se, de fato au
de direito, sabre a questao;
IV _ ele pr6prio ou seu conjuge ou parente, e ou afrrn em linha
reta ou colateral ate 0 terceiro grau, inclusive. for parte ou diretamente interessa-
do no feito. "
Art. 253. Nos jufzos coletivos, nao podet"ao servir nO mesmo processo os jufzes
que forem entre si pareI+tes, consangilineos ou afins, em linha reta OU colateral
ate 0 terceiro gran, inclusive.
o Codigo de Processo Civil trata das hipoteses de suspei<;:ao,
46
I
I
I
i
B
I
U
a
o
{;
,I'
incompatibilidade e impedimento nos arts. 134 e 135, estendendo
sua aplica<;:ao aos peritos por expressa disposi<;:ao do art. 138, Ill.
Como bern salienta Tourinho Filho (Processo penal, 1987, p.
493), a distin<;:ao entre incompatibilidade e impedimento e
despicienda e sem qualquer cunho pr:itico, pois, quer se trate da-
quela, quer se trate deste, os atos processuais realizados sao como
se nao existissem.
vinculo do perito com as partes - art. 254 cpp
Impedimento de interesse COIn 0 objeto do processo
Incompatibilidade
Qutras razoes de conveniencia previstas nas leis de
judici3ria
8. PRINCIPAlS DISPOSITIVOS LEGAlS RELACIONADOS
cpp cpc CPPM
Apreensao de objetos 6
2
,11,527 842, 3' -
276,278,
421, 1', 1,422, -
Assistentes tecnicos - 428,429,431B,
433, (lnleo,
435, 446, 452
Aut6psia 162 -
333,334
Boletim de identificagao 809, caput e -
616,655
Capacitalf80 tecniea 159, l' 145,434 48,
318
Compromisso dos peritos e 159,2!1. 422 48, unico
assistentes lecnicos
ConducB.o do perito 278 -
51
Contraprova - - 340
ou omissao do 168,1
2
438 323,331, 12
laudo perieial
Desapareclmento dos vestrgios 167 -
328, unico
Dermatoglifia judicia ria 6,VIII, -
337
166
47
I'f
l
f
!Illi
;.> tl
ill!
p:
H-l)l.,
I:.M
:"Wj
"i'
,!"",
;-1i
,,1
1:1<'
):!
','j
j.
, ill
!
'IVI
11 'I ,
i ; I
f< I i
\11
11 ,
IV
fl'
iT
Iii
"i'
'Il'
,1'.1
1
'
a,i:
'iii,
,i
,ith
II'"
I
1Y'
,1,1',
Iq
'I'"
III"
:l[
WI
Iii
111
,,1
',1
'l!l
i,,\,!
"j
!.L
CPP
Daveres dos parilos e 277, caput
assistentes tecnicos e unico
Direitos dos peritos e -
assistentes lecnicos
Divergencia entra as peritos 180
Oesenhos 165,
169, caput, 170
Dinlmica des fates 169, (mico
Disciplina judiciaria 275
Escusa do perito 277
Esquemas
165,
169, caput, 170
Exame do corpo de delito 6", VII, 158, 161,
167,184,525,
564, III, b
Exame extemo do cadaver 162, unico
Exame para classificac;iio das 168. capute 1
2
6
les6es corporais no art. 129, 2"
1
2
, I, deep
Estatfstica criminal 23,694,
709, caput e 12.,
747
Exame complementar
168. e 22.,
181
Exame do cadaver (ver aut6psia) 162 a 166
,
Exame medico-legal 149, caput,
775, II .
ExumaQao 163,166
Falsa perfcia 342 do CP
.
Fatos que nao demandam 167, 184
perfcia
48
CPC
433,
435,
452, I
33,146,429,432
435,436,437,438
429
-
421
146,423
429
-
-
-
-
437,
438
-
218,434,877
-
147,
683, I. 2A figura,
1.010, I, 2.11. figura
420, unico, I a III,
427
CPPM
48, unico,
49,
319
13. i,
48,137,
157, l' e 2",
320
322
324
-
48, unico
49,50
324
13, t,
27,185, 2.2.,
315,328,329,
331, 12 e 4.!!.,
333, a, 432, b,
500, b, 516, g
335
331, caput e
616,
655
323,
331. caput e
335,337
321,334,
600, unico
330, d, 338
346doCPM
315, unico
I
III
.
, .
I
I
)
'!f:
T
;0.
,
! :
Ii i
:. I
Cpp CPC
CPPM
Fotografla judicia ria 164,165, 429 324
169, caput, 170
Honorarios dos pernos - 33 -
Horario de reallzaQao 161,163 431-A 327,329
Idade mfnima 279,111 - 52,d
IdentiflcaQao do cadaver 166. caput - 337
Identiflcar;a,o do indiciado 6", VIII 330, e
Impedimentes e suspeiQoes 105,112,252, 134,135, 37, a,
253,254,255, 138, III, 52,53,137,
279,280 423 139, 334, unico
lmpossibilidade de realizaQae 167, 420, unico, III 328, (Jnice
do ECD 168,3'
[ncandie - - 343
Incidente de insanldade 149 - 156,
162, 1',
330,c, 332
Indeferimento da pericia 184 420, unico 315, unico
InfraQoes penais que deixam 6", VII, 158,525, - 27,314,
vestrgios 535, 111-. 328, caput,
564, III, b 341,500, III, b
Infclo do ECO 161,162 421 329,334
Insalubridade - - -
Instrumentos do crime 11,171,175 - I 320,330, g,
341,345
Interdh:;ao - 1.183 -
Laudo imperfeito 181 435, 437, 438, 323,
439 331, 12
Laude paricial 153,160,165, 218, 1', 421, 429, 50, unico, c,
169,178, 432,433,436,607, 160,162,
179, unico, 681, 722, 1', 319,322,
180,181,182, 878,957,976, 323,325,
2n, unico, c, 978, 1,009, 1,011, 326,
527,528, 529, 1.036, 1
2
e 2
2
, 600, unice
775, II 1.045, 1.066, 2
2
,
1.183,1.186,
1.207
Laudos complementares 168, l!1-e 2
2
, 437, 323,
'---
181 438 331.1!1.
49
CPP CPC CPPM
CPP CPC
CPPM
Natureza da prava periclal
-
420 330 preservactao do local
{)Q, I, -
339
169, caput
Numero de panlos 159, caput, 421. 318
527. 431-8.
775.11 842. 3"
Quesitos
160. 276,278, 48, unico,
176, 421. 1'.11. 65, c,
177 425.426, 159,316.317,
Nae podem ser perites 279. 424. I e II 52
(ver Incompatibilldade e 280
suspeh;ao)
435.452.1 319,325,346
,
RealizactAo de outras
- -
158
I
dillgencias
Nomeagao de peritos e 159, 1
2
e211, 421. 48
assistentes teen/cos 276 431-8.
Reconhecimento de escritos
- -
344
Novo exame 180. 437.438.439. 322.
Reconhecimento do cadaver
166 -
337
181. unico 1.066, 22 326
ReconstituictAo
7' 442.111 13, unico
Nulidade 564.111. b - 500.III.b
Orgaos auxiliares da juslh;B
- 139 318
Rejeictao do laude
182 436.437. 326
438.439
Org808 que podem requisitar 6". VII e VIII. - 315.
exames 7".13. II. 321
47.149.156.
271,1
2
,
366.423.499.502.
509. 538. 757
Pareceres teenicos
- 427 -
Penalidades adminislrativas BO 277, unico 147, 50.
perito 424, unico 51
Restauractao de autos
541, 2
S1
, b
1.066, 2,2 481, 2
S1
, b
Substituictao de perito au
-
424, Jell 137
assistente tecnice
Terceiro perito
180 -
322
Topografia judiciaria
165.169.170 429 324
Vestfglos
158.164.167. -
27.328.
171. 535. 1'.
341.
564.111. b
500.111. b
Perre/as crimlnarrsticas 11.164.165 434 330, e, fa g, Vistoria
-
420
-
166.170.171. 3408345
172.173.174.175.
240. 1'. d. 527
Perreias medico-Iegais 149. 218. 156.
162. 434. 162.
163, caput, 877 330, a, b, ae d,
775 331 a 338
Perrela por carta
- 428 346
Peritos "ad hoc" Sum. 361 do STF, 145. 318
135. 2'.
159. l' e ~
421
179, caput
l
.275,
277, capiJt,
527, caput, 775. II
. ,
Peritos oficiais 159, caput 434 48, caput
Prazo para entrega do laude 150. 1'. 146.421. 157, 1.2,
160, unico, 433 325
777, 2&
- --- - -
50
51----
CAPiTULO 2
BREVE ESTUDO DAS REGIOES
CORPORE AS
Ao e1aborar seurelat6rio, 0 perito deve reportar-se as regi6es corp6reas
para de urn ferimento ou lesao. Embora existam algumas pe-
quenas varia.,oes, as priucipais regioes sao as a seguir expostas:
1. REGIOES ANATOMICAS ANTERIORES DO CORPO
HUMANO
52
Anteriorda
Anterior do antebrao;:o
Cubttal anterior ------
""" Fossa axiler
Mami!lria
Infrnmamaria
Lateral do t6rnx
Hlpocondrfaca 45:""
Eplgasbica ..... (
Abdominal lateral _ \
Umbilical
Tngono famural
Farnuml anterior
Mlanor do joolho
Patelar
Dorsal dos dedos do po
ou dos pedart/culos
Maleolar Interne
Calcanea
Trigona dellopeltoral
Subdavlcular
Delt61dea
Ungueal
c"
; ..
0.;.
2. REGIOES ANATOMICAS POSTERIORES DO CORPO
HUMANO
Parietal
Occipital r..
Cubital posterior
Olecraniana
Posterior do antebrar;o--f-e
Posterior da
Femural posterior--+------
Fossa poplitea----t-..
'\ ..
.;.
$upra-escapular
Escapular
lnterescapular
Lateral do lorax
Infra-escapular
Abdominal lateral
\.4 Lombar
\ ........ .
.. ; \ Sacral
',t.: "\ Perineal
,
./
Maleolar externa
Calcanea
Maleolar intema
.....
53-
:1
!
f
r.
r
3. REGIOES ANATOMICAS ANTERIORES DO TRONCO
Carotfdea
Supraclavicular
Clavicular
Supra-hi6idea
Infra-hi6idea
- Clavicular
..'
.. ' /., Infraclavicular
Infraclavicular
".
......
. ....
54
Estemal f
\ Toracica
U \
. :
(' :";,: . \: Mamaria
" .' ...
.........
,.: ..... ' ':'" '" .. '
HipocOndrio
............. : ........ ; .......... .
....
Flanco
( ......... .1. .. ' .... ::. J
Fossailfaca-=tt.... : ; .':'<.'
Inguinal .\::.::-::-..i:: ....... ''')''.<:/ ,
Crural \"
f\
Epigastrica
Mesogastrica
Umbilical
Hipogastrica
Pubiana
Peniana
Escrotai
If
!-t
,,'f
'):;'
F
j
\'.
:i:-
: ..
:,,1
4. REGIOES ANATOMICAS DA FACE LATERAL DIREITA
DOTRONCO
Fossa axilar
Axilar
Escapular
Lateral do t6rax
Hipocondriaca
Infraescapular
Lombar
Abdominal lateral
Trigono deitopeitoral
\ t Clavicular
. '. ... .., ...... Subc1avicular
,'r ...... "O;... Mamana
-0. ,. Esternal
:) \
S .. . ....'/ Inframamaria
........ _ ... ! ...
Epigastrica
-----\0\\ ............. C,,,
I Umbilical
,
.
.... :' ...... \
. Pubiana
"",4-----lnguinal
'.
Glutea i
('
55
:
il,!I!'
i
':j
':];
lin
i
ll
l
,
"j"
,.;,:,
.
".'1
1
1
':1'
tfl
!.l 'I
!I
!f
fl.
!:Jj
1
I
II
,I
.
,,\'jl I
!.: .P i
1'-
'1'1 "
,1[, !
't'l
;,;11: '
Ih
lii'i:lil
:tl
ili/.l
l
!
;,:!;:I.
IHH
'I; i
...I ..
'i 11
j
" ii' 'j
in
" .. j'll 1,:,1 -
['."I!i. I.
'\!!,
5. REGIOES ANATOMICAS DA CABE<;A E PESCO<;O
Qrbltaria
Frontal
Infra-orbiUiria \, ... ,"
LabJo-maXIlar
LAblo-
mandibular
V !l. ... / J - Auricular
Meotonlana
/ Mast6ldea
:..:-4'1''---- Ralromandlbular
;::f g:' \ Posterior do pescoo<o
----- " :;': Supredavlcular
: /\
Z
. J : 'f\cU\at AcromIal
c\O .
lirOldea /L " ... ....
Traqueal / --,': .,' Infraclavlcu ar
Jugular _"
Trlgono lateral
6. REGIOES DA FACE ANTERIOR DO MEMBRO SUPE-
RIOR DlREITO
56
Delt6ldea
TerQ:! superior do brat;O
Tal9l media do bra<;o
Terc;:o Inferior do brayo--\-:-:
Dol"S{) do colovelo ----J=.:
....,..---
Terc;:o superior do anlebrayo----4----.
TslljO medic do antebrayo
TslljO Inferior do antebrayo
Punho ----+=:
'COncavo da mao ,I
Clavleular
Escapular
f-'
','
.V
7. REGIOES DAS FACES PALMAR E DORSAL DA MAO
DIREITA
I - Polegar au 1
9
quirodactilo
II - Indlcador au 211 qulrodactilo
III - Oede media ou 3
Q
quirodac!ilo
IV - Dedo anular au 4
9
qulrochrtctilo
V - Mlnlmo au 5; qulrodactil0
.. .
: ... ::J
2
U'
.Falanginha ou
falange mMla
Falange ou
falange proximal
(no polegar nao hA
falanga mMIa)
8. REGIOES DA FACE ANTERIOR DO MEMBRO INFERIOR
DIREITO
Tervo superior da coxa
.............
Ter1;O media da coxa -+---
Tervo inferior da coxa ---\--
Patelar au r6tula
Terc;o superior da perna
TeH;O media da perna --+.
Tervo inferior da perna ---\..
Dorsa do pe
Joelha
Melolar lateral
Calcanea
Face medial do pe
57
9. REGIOES ANATOMICAS DO PERINEO
Pudenda
Gildea
\ Sacral!
Urogenital
Perineal
Anal
Urogenital
Perineal
Anal
10. REGIOES AUDITIVAS E OCULARES EXTERNAS
,..--=-
Hence
Antellce , I
", Fossa triangular
auricular
, .
acustico
.. extemo
--J--- L6bulo
Area superc"I:'
---
:::;; __ I
superior ra
Clrculo extemo
58
'-
f
'
..
i
..
i
I
I
f
ir
\!
.,;
,
:1;
t-
CAPiTULO 3
ANTROPOLOGIAFORENSE
iJ\f; . A antropologia forense e 0 ramo da medicina legal que, utili-
zando-se de conhecimentos da antropologia geral, ocupa-se princi-
palmente com as questoes relativas a. identidade e identificaao.
1. IDENTIDADE E IDENTIFlCA<;AO
(" Identidade e "0 con junto de caracteres pr6prios e exclusivos
," i das pessoas, dos animais, das coisas e dos objetos. E a soma de si-
cj nais, marcas e caracteres ou negativos que, no con junto,
i individualizam 0 ser humane ou uma coisa, distinguindo-os dos de-
I mais" (Croce, 1998, p. 36).
- E 0 con junto de caracteres que tornaalguem linico, perfeita-
mente separavel dos demais.
Identijica<;lio e 0 processo atraves do qual se determina a iden-
tidade de uma pessoa ou coisa.
,,- Nao se deve confundir identifica<;lio com reconhecimento. A
..: \ identijica<;lio e uma tecnica cientffica, executada por perito e que
"- ) goza de confiabilidade, enquanto 0 reconhecimerzto, alem de ser
:\ urn processo empfrico, e exercido por leigo e com baixo grau de
/1; , -
I' " "preclsao.
1 A importiincia da determinaao da identidade e da identifica-
i; ('ao e clara, principalmente na esfera penal, em que bens jurfdicos
como a liberdade da pessoa humana sao colocados em risco.
:;;
1.1. Hist6rico
A hist6ria da identificaao e de seus processos remonta aos
caldeus e babil6nios. No C6digo de Hammurabi ja havia menao a
amputaoes de partes do corpo como forma de individualizaao. Nessa
epoca, 0 processo de identificaao confundia-se com a pr6pria puni-
ao, e os meios empregados visavam mais identificar aqueles que
59 -----
haviam sido condenados do que propriamente conferir alguma segu-
ran<;:a social.
Outro exemplo foi a aplica .. ao doferrete, que consistia em mar-
car as pessoas com ferro em brasa, sempre em locais visfveis.
Esses sistemas, que confundiam pena e identifica .. ao, foram uti-
lizados por muito tempo, ate a Idade Media, existindo pafses que,
ainda hoje, adotam tais puni .. oes.
Em termos de metodos de identifica .. ao, historicamente valem
men .. ao:
a) assinalamento sucinto ou sumiirio - ainda utilizado atual-
mente, no Boletim de Identifica .. ao Criminal- BIC, por exemplo,
consiste na simples anota .. ao das principais caracterfsticas do identi-
ficando, como ra .. a, estatura, idade, cabelos, presen<;:a de tatuagens,
sinais particulares etc.;
b) sistema dermogriifico de Bentham - idealizado pelo jurista
ingles Benjamin Bentham, preconizava a identifica<;:ao pela tatuagem
de todas as pessoas no nascimento, possibilitando, destarte, facil iden-
tifica .. ao;
c) sistema de Icard - previa a inje .. ao de parafina em determi-
nadas regiOes nao visfveis do corpo, de maneira a criar pequenos
tumores perceptiveis ao tatoo Se fossem extirpados, restaria, inequf-
voca, a cicatriz ciriirgica;
d) sistema craniogriifico de Anfosso - baseava-se na tomada
de algumas medidas padronizadas do crilnio (ver biometria);
e) sistema otometrico de Frigerio - procUrou a identifica .. ao
pelos desenhos variados dos pavilhoes auriculares e suas medidas
(ver biometria);
f) sistema oftometrico de Capdeville - pretendia a identifica-
.. ao pela colora .. ao e medidas dos olhos, como curvatura das c6rneas,
distilncia interpupilar e outras (ver bibmetria);
g) sistema oftalmosc6pico de Levinsohn - recomendou a iden-
tifica .. ao na compara .. ao de fotografias do fundo do olho (ver
biometria);
h) sistema radiol6giCo de Levinsohn - preconizava a identifi-
ca .. ao na medida dos ossos do carpo, tomadas por imagens
radiograficas;
60
II
_jZ:;
II
lE
t
J
..
I
[
i
i
1.-
t-
f
l
t
t;
t
Ii
II
i) sistema onfalogriifico de Bert e Viamay - pretendia a identi-
ficaao pela conformaao variada da cicatriz umbilical;
j) sistema palmar de Stockes e Wild - baseou-se na grande
variaao dos desenhos formados pelos suIcos palmares;
k) sistema flebogriifico de Tamassia - procurou estabelecer a
identificaao das pessoas pelos desenhos formados pelas veias no
dorso das maos (ver biometria);
1) sistema flebogriifico de Ameuille - similar ao anterior, pro-
curou a identificaao pelos desenhos formados pelas veias da fronte
(ver biometria);
m) sistema antropometrico de Bertillon - fundava a identifica-
ao na tomada de sinais particulares e de algumas medidas prefixa-
das, como difunetro ilntero-posterior da cabea. comprimento do an-
tebrao, estatura e outras. Essas medidas e sinais eram c1assificados e
arquivados, permitindo assim a comparaao posterior dos dados (ver
biometria);
n) sistema odontol6gico de Amoedo - preconizou a identifica-
ao na arcada dentiiria. Derivaoes desse metodo sao hoje bastante
utilizadas, principalmente em situaoes como desastres aereos, em
que outros metodos de identificaao tornam-se ineficazes;
0) sistema geometrico de Matheios - pouco utilizado, era ba-
seado na comparaao de fotografias e na tomada de medidas sobre
fotos anteriores e atuais do identificando (ver prosopografia);
p) sistema porosc6pico de Locard - pretendia a identificaao
pelo desenho e imutabilidade dos poros da pele;
q) sistema dactilosc6pico de Vucetich - pela sua utilizaao e,
ainda, atualidade, sera estudado separadamente.
1.1.1. Metodos mais recentes
Como sistemas mais modernos podemos citar:
-SJ a) fotografia - ainda muito utilizada, a fotografia e urn dos
principais meios de identificaao, trazendo alguns inconvenientes,
, como a possibilidade de modificaoes decorrentes da idade ou a ocor-
'". rencia de s6sias; \7 J :z
/'
--D b) fotografia sinaleptica - sistema tambem preconizado por
Alphonso Bertillon, consistia na tomada de fotografias de frente e de
61
I;
perfil, sempre do mesmo tamanho, para posterior compara9ao. Vari-
a9
0es
desse sistema sao ainda utilizadas em alguns paises (foto
reproduzida com autoriza9ao e por cortesia da TSL - Tecnologia e
Sistemas Ltda.);
'oi
"[
\? c) retrato falado - nada mais e que uma reprodu9ao artfstica da
face do criminoso, baseada nas descri90es das vitimas e das testemu-
nhas. Atualmente existem transparencias ja padronizadas e ate pro-
gramas de computador que auxiliam 0 desenhista na produ9ao do
retrato (fotos reproduzidas com autoriz'a9ao e por cortesia da TSL-
Tecnologia e Sistemas Ltda.); , ,
62
1
j,
II
l'
j!
J
L
\1
I
p
"
t
i
CoJ:'.",
\ l
,,? d) p;osopograjia - tambem chamada de metodo de Piacentino
ou crtlnio-Joto-comparativo (Fran9a, 1998, p. 45), e 0 processo de
identifica9ao que se caracteriza pela superposi9ao, por transparencia,
de imagens tiradas em vida sobre a imagem do crllnio, a procura de
correspondencias que levem a identidade;
\ '?, e) impressiio genetica do DNA - os recentes estudos de Alec
Jeffreys e de seu colega Vicky Wilson (1984) permitiram a cria9ao
de urn metoda pratico, rapido e relativamente econ6mico de purifi-
e do DNA, com t;vidente em questoes
judiciais relacionadas principalmente com a patemidade e a identi-
de criminosos, por intermedio da analise de manchas de
flnidos orgllnicos, anexos cutaneos (pelos e unhas) e partes do ca-
daver;
,
\ 3 f) Biometria (ver item 2).
1.2. Requisitos tecnicos dos metodos de identificafiio
Qualquer que seja 0 metodo de preconizado,
para que possa ser utilizado na pratica, necessita de cinco requi-
sitos:
Requisitos tecnicos
unicidade ou individualidade
imutabilidade
perenidade
praticabilidade
c1assificabilidade
a) unicidade - os elementos escolhidos para a
devem permitir a precisa, clara, entre 0 identificando e os
demais;
b) imutabilidade - as caracterfsticas consideradas preci-
sam ser imutaveis, nao podendo sofrer com 0 passar
do tempo;
c) perenidade - os dados escolhidos devem perdurar por toda
a vida, nao se perdendo com 0 passar do tempo. Ha caracterfsticas
que sao imutaveis durante urn certo perfodo de vida, mas nao sao
63
;"i
j,
I::
, ,
:iil
t
II'
n
'1
-'
I
,
AI'
fil
perenes, como, por exemplo, 0 numero de dentes, considerando-se as
duas denti .. oes;
d) praticabilidade - 0 metoda deve serpratico, permitindo aque-
les que irao colher os dados de identifica .. ao urna tomada segura e
rapida, que nao cause constrangimento aos identificandos e permita
urn born grau de seguran .. a e confiabilidade. Alguns metodos preco-
nizados pelos antigos pesquisadores, e que se mostravam irnpratica-
veis a epoca, hoje, com 0 advento da computa .. ao, estao sendo repen-
sados (vide biometria - item 2);
e) classificabilidade - 0 metodo escolhido deve permitir a com-
para .. ao entre os dados de forma sistematica e precisa, de maneira a
rapidamente apontar 0 identificado em uma popula .. ao.
1.3. Identidade medico-legal
A necessidade de identifica .. ao pade recair sobre a pessoa viva
ou sobre 0 cadaver. Recaindo sobre 0 corpo sem vida, pode ainda ser
C! necessario 0 exame de partes do cadaver para, por exemplo, determi-
.. ao de sexo, idade e complei .. ao fisica.
Baseando-se nos requisitos indicados (unicidade, imuta-
bilidade, perenidade, praticabilidade e classificabilidade), os pro-
cessos de identifica .. ao costumam utilizar metodos antro-
pomorficos e outros que podem ou nao requerer conhecimento
medico-legal.
Assirn, nao e necessaria a presen .. a de urn medico-Iegista para a
tomada de fotografias de identifica .. ao ou mesmo de irnpressoes
papilares. Sera necessaria a presen .. a de urn tecnico, porem, para exa-
me do DNA ou mesmo de tipos sangiifneos.
Atualmente, ainda sao analisadas inumeras caracteristicas que,
podem levar a identifica .. ao, utilizadas de forma isolada ou em con-
. ,
junto, podendo os eXaJlles ser realizados por medicos ou policiais
treinados conforme 0 casb.
o quadro a seguir da uma ideia de parte dessas caracterfs-
ticas:
64
,
I
I
U
11
I
'I
.
..... 1
1
-' ...
.; t
J
1
t_
r-
I
t
,
;
f
I
\
{
gerais (de urn grupo de individuos) sexo
naturais
Caracterfsticas
ffsicas
particulares
adquiridas
psicologicas
1.4. Ragas
idade
peso e conformal,tao
estatura
sinais particulares
geneticas
caracteristicas gerais
grupos sangiifneos
impress6es papilares
examedoDNA
{
tatuagens
cicatrizes
sinais particulares
mutilal,toes
Ra .. as sao subdivisoes de uma mesma especie; no nosso caso, a
humana. Em termos geneticos, sao popula .. oes que se diferenciam na
freqUencia de seus genes ou na estrutura de seus cromossomos, em
decorrencia de urn processo gradual de diversifica .. aa das popula .. oes
naturais em razao da multiplicidade de fatores culturais e ambientais.
Ottolenghi (1861 a 1934), que aponta para cinco tipos fundamentais:
tipo caucasico
tipo mong6lico
tipo negr6ide
tipo indiana
tipo austra16ide
"'0 a) tipo caucasico - e 0 homem branco comum. Tern pele branca
) ou trigueira (moreno claro); os cabelos sao crespos ou lisos, de tonali-
\ dade acastanhada ou loira; os olhos sao azuis ou castanhos e 0 rosto e
\
65
oValado. 0 perfil facial e ortognata (possui 0 angulo da face quase
totalmente reto) e levemente prognata (maxilar inferior proeminente);
b) tipo mong6lico - tern pele amarela. Os cabelos slio lisos e
castanhos; a face e achatada da frente para tras; 0 nariz e curto e
largo; os olhos slio amendoados e os maxilares pequenos e salientes;
c) tipo negr6ide - tern pele de tonalidade castanho-escuro, quase
negra; os cabelos slio bastante crespos e 0 crfurio e dolicocefalo (alon-
gada com diametro transversal menor do que 0 difunetro antero-pos-
terior). Apresenta prognatismo acentuado e 0 nariz curto e largo;
d) tipo indiano - a pele e amarelada, tendendo ao avermelhado.
A estatura e elevada; os cabelos slio lisos e pretos; os olhos, acasta-
. nhados. 0 crfurio e mesodfalo (indice medio de crfurio entre largura
\n e comprimento), tern orelhas pequenas, nariz saliente, longo e estrei-
. to e maxilar inferior bastante desenvolvido;
'1 e) tipo austral6ide - estatura alta, pele arnarelada ou trigueira;
: os cabelos slio pretos, ondulados e longos; 0 nariz e curto. Apresenta
prognatismo e maxilar inferior desenvolvido.
A c1assifica9lio tern interesse apenas hist6rico. Depois do
seqiienciamento do genoma humano, a defini9lio de ra(,a, como urn
grupo de individuos geneticamente distinto de outro, nlio mais se
sustenta. Isso porque 0 couceito foi sempre baseado em tra90s fisi-
cos, como a cor da pele, dos olhos ou peculiaridades faciais, ignoran-
do 0 fato de que pessoas fenotipicamente semelhantes podem apre-
sentar carga genetica significativamente diversa. E possivel, entr
e
-
tanto, separar as pessoas em grupos similares, de acordo com alguma
caracteristica genetica especifica (portadores de anemia falciforme,
por exemplo), para fmalidades terapeuticas.
1.5. Sexo
A determina9lio do sexo na pessoa viva ou no cadaver integro
geralmente nlio oferece maior dificuldade. Entretanto, esta surge quan-
do se deve examinar partes de um 'corpo ou mesmo um corpo em
adiantado estado de decomposi9lio ou, carbonizado.
Na ausencia da genitalia externa ou de 6rglios internos, como 0
j utero, a diferencia9lio e feita por intermedio do esqueleto, .
L) especial aten9lio a bacia, que apresenta grandes diferen9as anatomicas
'.. do homem para a-;;ulher.
.
,
66
1
r
I
,
f
.
i
"
i
I
f
\1
, L
t
i
r
r
,
,
1
I
1.6. [dade
A determina9lio da idade tambem e de fundamental importan-
cia. As principais fases da vida hurnana slio:
Da ate 0 3
2
mes embrHio - vida intra-uterina
Do 32. mes ate 0 parto fetc - vida intra-uterina
Nascido que DaD recebeu
cuidados higienicos infante nascido
Nascido que ja recebeu
cuidados higienicos rec"em-nascido
Ate 7 anos I' inf!l.ncia
Dos 7 aos 12 anos 211 inffulcia
Dos 12 aDs 18 anos adolescencia
I
Dos 18 aos 21 anos mocidade
Dos 22 aos 59 aDOS adulto
Dos 60 aos 80 anos velhice (aplica-se 0 Estatuto do Idoso)
Acima dos 80 anas senilidade
A determina9lio da idade e feita principalmente pelo tamanho e
estado de desenvolvimento dos ossos.
Nlio se devem confundir as fases da vida humana segundo 0
criterio medico-legal com eventuais conceitos juridicos. Note-se,
por exemplo, que 0 C6digo Penal estabelece a idade limite de 14
anos para a presun9lio de inocencia (arts. 121, 4", 126, paragrafo
unico, 136, 3
2
, 215, 216, 218,224 e 227, 12). Ja 0 Estatuto da
Crian9a e do Adolescente, mais pr6ximo do criterio medico, em seu
art. 2
2
, define como crian('a a pessoa ate 12 anos de idade incom-
pletos, e como adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade.
Quanto a velhice, 0 Estatuto do Idoso, Lei n. 10.741, de I" de
outubro de 2003, em seu art. I", de:fme como idade limite os 60 anos.
[.7. Caracteristicas particulares fisicas naturais
No processo de identifica9lio tambem slio freqiientemente utili-
zadas as caracteristicas fisicas naturais de cada individuo, ou seja,
as particularidades de cada urn, por exemplo, a estatura, 0 peso e a
conforma9lio, sinais particulares como marcas de nascimento ou pin-
67
I
,
,';
, ,
i;
tas, malforma",oes geneticas, grupos sangiifneos e ate as impressoes
papilares ou a impresslio genetica do DNA.
1.8. Caracteristicas particulares fisicas adquiridas
Ao lado das caracteristicasfisicas naturais, que nascem com 0
indivfduo, temos as caracterfsticas fisicas adquiridas, que podem
exercer importante papel na identifica",lio.
Dessa maneira, temos as mutila",oes e deformidades, as cicatri-
zes, as tatuagens e outras peculiaridades.
As tatuagens tern importante papel, pois, alem da identifica",lio,
podem revelar indicios do passado da pessoa que se exarnina.
N as prisoes, por exemplo, ha verdadeiros c6digos transmitidos
por tatuagens e que indicam, geralmente, ou a filia",lio a uma fac",lio
ou organiza",lio criminosa ou a natureza do delito praticado.
1.9. Caracteristicas ps{quicas
As caracterfsticas psfquicas de uma determinada pessoa, des de
que perfeitamente delimitadas, poderlio, eventualmente, servir como
mais urn elemento de identifica",lio. A maioria delas, entretanto, nlio
serve para individualiza",lio, por ausencia dos requisitos tecnicos de
metodo, principalmente imutabilidade e praticabilidade.
2. BIOMETRIA
Com 0 advento da computa",lio e 0 aumento da capacidade e
velocidade do processamento de dados, muitos dos' antigos metodos
de identifica",lio, que eram impraticaveis na epoca, voltaram a ser
reconsiderados.
o sistema de identificar;iio biometrico e, basicamente, urn metodo
automatizado de reconhecimento de padrO'es que busca a identidade de
uma pessoa par algumas de suas caracterfsticasjiSicas ou c01r1portamentais.
Dependendo do grau de confiabilidade, ou mesmo do de discri-
mina",lio da caracterfstica considerada, os sistemas biometricos poderh
ser c1assificados como de vrrificar;iio oUde identificar;iio (David Maltoni
e outros, Handbook of fingerprint recognition, 2003, p. 3).
Os sistemas biometricos de verifica'r;iio comparam os dados de
uma pessoa com seus padroes, anteriormente gravados no sistema. E
68
J
'f.,
..
;
}J ':
?E
if
-1
;1
-I
I
\
uma compara",lio do tipo urn para urn, cuja unica fmalidade e respon-
der se a pessoa questionada e realmente quem diz ser.
Os sistemas biometricos de identificar;iio procuram 0 reconhe-
cimento do indivfduo varrendo toda uma base de dados. E urna com-
para",lio do tipo urn para muitos, cuja finalidade e responder quem e a
pessoa pesquisada.
2.1. Caracteristicas
Como caracterfsticas principais, alem daquelas ja apontadas para
os metodos de identifica",lio em gerat(unicidade, imutabilidade, pe-
renidade, praticabilidade e c1assificabilidade), os sistemas biometricos
devem ainda considerar outras especfficas de m6dulos informatizados,
como peJjormance, universalidade, aceitar;iio e seguranr;a.
A peJjormance refere-se aos requisitos de precislio, velocidade,
robustez e confiabilidade que deve ter 0 sistema.
Universalidade significa que todas as pessoas devem ter as ca-
racteristicas pesquisadas de maneira a permitir a compara",lio.
A aceitar;iio diz respeito it privacidade ou ao grau de intruslio
que as pessoas estlio dispostas a aceitar em seu dia-a-dia.
A seguranr;a indica a possibilidade de fraude dos sistemas, refle-
tindo sua facilidade de burla.
2.2. Principais sistemas biometricos
, 0 quadro a seguir mostra alguns dos metodos mais modemos e
'\ '?"\ suas caracterfsticas (Sarnir Nanavati e outros, Biometrics - identity
\ verification in a networked world, 2002, p. 30-31).
,
Tecnologla Possibilidade de Possibilidade de Possibilidade de
modifica'j3.o nos na
dados tomadados ambientais
biometricos dados
Reconhecimento Baixa a moderada. Moderada. Baixa. Algumas
das impress6es As impress6es da Algumas varia- soluc;6es usadas
digitais maioriadas <;oes de anguJa<;ao para a tomada
pessoas permane- e posic;ao na das impressoes
cern estaveis e em tomada podem sao suscetiveis
-----------------------------------
69
i' i
""'1' 'I: iI,
,iYli
::'
<II'
': 'L
Ii
' .. .. i
l
.\
:>l
, ,:1
" 1 '
,
I:i!'
:
'.111
'v'
. ,Hil
: Iii
'I'
"Ii,
'W
10'
F;
t
;]
I,';
I
"."
"
,
.Iil'
Reconhecimento
daface
" /
)"}
Reconhecimento
devoz
Reconhecimento
da iris
de uso
por toda a vida.
Moderada a alta.
Algumas mudan-
,as no estilo de
corte de cabelo e
uso de barba,
assimcomo
altera-
96es de peso,
podem induzir a
urn falso negativo.
Baixa a moderada.
Algumas enfermi-
dadespodem
afetar a voz a
ponto de causar
urn falso negativo.
Baixa. 0 desenho
conduzir a urn
faIso negativo.
de altera.;:ao em
razao de luz ou
temperatura do
ambiente. Tais
casos, entretanto,
sao bastante
raras.
Baixa a moderada. Modera4a a alta.
Em urn ambiente Mudan.;:as na
controlado, intensidade e
ilngulo de ilngulo da
apresental:tao e iluminal:tao,
tomada de dados assim como a
nao deve variar. 0 composic;ao do
teenico deve estar pano de fondo.
atento para 0 uso podem causar
de 6culos, chapeus problemas de
au outros adere- reconhecimento
90S, que podem no escaneamento
aIterar a facial.
confiabilidade do
material coletado.
Moderada a alta.
A altura da voz,
inflexao e dura9ao
do discurso devem
ser consistentes de
maneira a permitir
a verifica9ao.
Model-ada a alta.
Moderada a alta.
Rufdos
amhientais e a
qualidade dos
aparelbos
utilizados para a
gmvafilio podem
influenciar e
aumentara
possibilidade de
umfalso
negativo.
Baim. Altera-
da iris e muito O{i ...usuarios devem
estavel e, exce- posicionar-se
c;oes de luz nao
afetama
tecnologia.
baseada em luz
tuando-se corre.tamente de
maneira a permitir
ocular,os-padroes uma boa qualidade I infravennelha.
tendem a penna- na imagem
________ __ __ . _ ______ _
70
- aIr; - - - - - -
de assinatura Para algumas Dependendo da tecnologia
pessoas a assinatu- posi9aO em que empregada sofre
fa e altamente for feita a pouquissima
suscetivel de assinafura, influencia das
alterac;3.o, podemos ter altera.;:oes
principahnente grandes alteraryoes ambientais.
com 0 decorrer do no padrao.
tempo.
Geometria da mao 1 Moderada.
Ferimentos,
hidrica sao fatores
que podem levar a
urn falso negativo.
Baixa a moderada.
A tecnologia e
corlstruida para
corrigir erros de
postura. Entretan-
to, alguns usuarios
podem recusar-se
a adotar a postura
Baixa.A
tecnologia
empregada sofre
pouqufssima
influencia das
alterary5es
ambientais.
Reconhecimento
de fundo de oIho
(retina)
Dinfunica de
Baixa. Com
do
deslocamento de
retina, relacionado
com a idade ou
algumas afec,5es
oculares, os
padr5es sao
bastante estaveis.
Moderada a alta.
Os padt5es de
mudarn
commuita
facilidade,
especialmente em
datil6grafos com
pouca experiencia.
Alta. A postura do
usumo e de
extrema importan-
cia e pode levar a
falsos negativos.
Moderada a alta.
Os diferentes tipos
de teclados podem
levar a altera.;:5es
significativas.
Baixa.A
tecnologia
empregada sofre
pouqwssima
influencia das
alteraryoes
ambientais.
Baixa.A
tecnologia
empregada sofie
pouquissima
influencia das
alteraryoes
ambientais.
AMm dessas tecnologias, ja disponlveis, sao ainda descritos
metodos para:
reconhecimento de unha;
reconhecimento do odor corporal;
mapa termal da face;
71
;
I
I
,
I
. \',
{.
1
I
, l
I
I
\
I
i
I
,
:_1
i:
;.:
veias da mao;
dinfunica dos movimentos labiais;
modo de andar ("ginga").
o quadro a seguir mostra as principais caracterfsticas dos siste-
mas biometricos mais importantes (MaItoni, 2003, p. 12).
" " 'to
'"
.. ..
"
'"
..
...
:a
"
:s
=
0
..
Identificador biometrico
'"
:=
..
...
....
..
E
....
=
'"
.fl
..
'0 ,ij
...
'a 'a
]
J:
'ill
6'.
...
;;:. ;;:.
Il:! ...:
"
'"
DNA A A A B A B B
Escaneamento da orellia M M A M M A M
Escaneamento da face A B M A B A A
Termograma facial . A A B A M A B
Impressoes digitais M A A M A M M
Modo de andar M B B A B A M
Geometria da mao M M M A M M M
Veias damao M M M M M M B
Escaneamento de iris A A A M A B B
Dinfunica da digitac;ao B B B M B M M
Odor corporal A A A B B M B
Escaneamento da retina A A M B A B B
Assinatura B B B A B A A
Voz M B B M B A A
3. SISTEMA DATILOSCOPICO DE VUCETICH
I'" ( Criado em 1891 por Juan Vuce!ieh (1858 a 1925), 0 sistema
e ; datiloseopico estuda as 4npressoes digitais ou vestfgios deixados pelas
"\ polpas dos dedos nos mrus variados suportes. Adotado no Brasil des-
(de 1903, representou uma verdadeira revolu<;ao nos metodos de iden-
\tifica<;ao. Primeiro pela praticidade, segundo pela simplicidade e efi-
72
!
"'"
II
M
d
t,";,J1l
t
1,1".1.\,
tl
-I
I '
J
,
\
\
,
\
ciencia e, em terceiro lugar, pela seguran<;a fomecida em termos de
identifica<;lio pessoal.
Os desenbos digitais, segundo Edmond Loeard, apresentam tres
caracteristicas fundamentais que os tornam irnportante elemento de
identifica<;ao: aperenidade, a imutabilidade e a variedade (L'enquhe
criminell
e
et les methodes seientifiques, 1933, p. 104).
...
tcaractensticas dos desenhos papilares (segundo Locaril)
{
perenidade
imutabilidade
variedade
Perenidade _ os desenbos formados pelas cristas papilares for-
mam-se ja no sexto mes da vida intra-uterina (alguns autores apon-
tam 0 setimo) e perduram por toda a existencia, com exce<;lio de
abrasoes e cortes na polpa digital (Maltoni, 2003, p. 24).
Imutabilidade _ mesmo pela abrasao ou queimaduras de ate
segundo grau nao desaparecem, recompondo-se sem qualquer altera-
<;ao do desenbo original em curto perfodo.
Variedade - cada desenbo e linico. Ate hoje nao foram encon-
tradas duas irnpressoes identicas.
A essas tres caracteristicas, apontadas por Loeard, acrescenta-
se uma quarta, que, em uma era desprovida dos recurs os de
informatica, perroitiu a difuslio e utiliza<;lio do metodo idealizado por
Juan Vueetieh, a classijieabilidade.
{
perenidade
imutabilidade
Caracteristicas dos desenhos papilares variedade
c1assificabilidade
Vale aqui um parentese para anotar que alguns autores moder-
nos questionam a individualidade das irnpressoes digitais, alegan-
do nao haver bases cientfficas para tal afinna<;ao, e que os desenbos
papilares sao linicos apenas na medida em que todas as caracterfsti-
cas bio16gicas sao distintas, na dependencia do grau,de detalhamento
do exame realizado. As criticas voltam-se, principalmente, aos me-
73
I
i
todos de comparayao automatizados que nao levam em considera-
yao toda a impressao, mas apenas seus fragmentos. A titulo de exem-
plo, D. Costello, em artigo publicado no Wall Street Journal
(Families: the perfect deception: identical twins, 1999), menciona
a possibilidade de as impressoes digitais de gSmeos idSnticos se-
rem 95% simiIares.
3.1. Atribuif;iio e tennin%gia
lnicialmente e preciso fazer uma entre os tennos
papiloscopia e datiloscopia.
Nao sao apenas as pontas dos dedos que apresentam desenhos
caracterfsticos fonnados por linhas e sulcos. Tambem as faces
palmares (das maos) e plantares (dos pes) possuem esses desenhos,
que tSm origem na denne e, por tal, sao perenes e imumveis.
Assim, podemos dizer que a expressao impressoes papilares,
embora utilizada genericamente para indicar impressoes digitais (ou
digito-papilares), engloba tambem as impressoes palmares e as plan-
tares.
Impressoes papilares palmares (<las maos)
{
digitais au dfgito-papilares
plantares (dos pes)
No Estado de Sao Paulo, a para coleta, e
anaIise das impressoes papilares e do Institutci de
Ricardo Gumbleton Daunt -llRGD (ver item 6 do Capitulo 1), por
intennedio de duas carreiras policiais, os pesquisadores papilos-
copicos e os papiloscopistas.
Aos primeiros,pesquisadores papfloscopicos, esm afeta a tare-
fa de pesquisa e levantamento das inipressoes papilares (digitais,
palmares e plantares) nos locais de. crime e da tomada das fichas,
datiloscopicas quando da civil ou criminal.
as papiloscopistas,ficam com as tarefas de e clas-
dos fragmentos e impressoes encontrados e de
do laudo correspondente.
74
3.2. Genese dos desenhos papilares
A pele possui duas camadas, uma mais superficial, denomi-
nada epiderme, e outra, a ela adjacente, mais profunda, a que
chamamos de derme. As cristas papilares, cujas for-
mam os desenhos papilares, nada mais sao que
da epiderme que se estendem sobre as cadeias paralelas de glan-
dulas, terminais nervosos e vasculares existentes na derme. A
altura das nas regioes palmares e plantares oscila en-
tre 110 /1 (cento e dez micra) e /1 (duzentos e vinte e cinco
micra).
Admite-se que uma das das papilas e aumentar a zona
de contato entre a denne e a epidenne, trazendo maior resistSncia It
pele, razao pela qual sao mais freqiientes nas areas sujeitas a maio-
res pressoes e atritos (Junqueira e Carneiro, Histoiogia bdsica, 1973,
p.346).
A pele contem urn grande mlmero de glandulas sudoriparas
e sebdceas. As sudoriparas localizam-se na denne, confonne in-
dica 0 esquema a seguir, e sua 0 suor, permite a perda de
calor pelo mecanismo da (vide mecanismos de
da temperatura). Possuem urn longo ducto excretor que
atravessa a epidenne e abre-se na superffcie da pele.por intenne-
dio do poro. Existem particularmente na palma das maos e planta
dos pes, sendo tambem encontradas em outras regioes, como axi-
las e genitais.
E exatamente a das glandulas sudorfparas que, depo-
sitadas sobre as cristas e suleos papilares, ira constituir a "tinta bi-
016gica" que permite sejam deixadas as irnpressoes do desenho di-
gital sobre os varios suportes.
As gltlndulas sebdceas tambem estao localizadas na derme,
mas nao existem nas regiOes palmares e plantares e por isso tSm
pouca irnportancia em sede de papiloscopia. Sao geralmente en-
.contradas nos folfculos pilosos, e sua serve para lubrificar
peleepHos.
75
: i
i
,I
i
I
,
,
I
1
I
1
I
;,1
!
,I
,
'.
f
,
i
)
i'l
": j
x'
Ii
II
~ ~
3.3. Terminologia
Primeiro e preciso distinguir entre desenho papilar e impressiio
papilar .
./
)'
Como vimos, na epiderme ha urn con junto de sulcos e cristas,
. que assumem cOnfigura90es variadas, ao qual denominamos dese-
'!}zpJ!5lp!lqr. Particularmente, no caso das pontas dos dedos, ~
falar em desenho digital.
Esse desenho papilar, deixando sua irnpressao sobre urn supor-
te, dara origem ao que chamarnos de impressiio papilar, ou, no caso
das pontas dos dedos, impressgg..digi1!Jl.
,-------- .
A impressiio papilar e, pois,
o reverso do desenho papilar, e a
impressiio digital;' 0 reverso do
desenho digital (figura).
As impressiies papilares
(digitais, palmares ou planta-
res) inteiras ou apenas seus
fragmentos podem ser encon-
tradas nos locais de crime, em objetos ou instrumentos relacio-
nados. '
De acordo com 0 suporte em que sao deixadas e tambem depen-
dendo da maneira como sao impressas,sobre'esses suportes, as irn-
pressoes papilares em locais de crime podem ser c1assificadas como:
76
{
visiveis
I:rnpressoes papilares em locais de crime moldadas
latentes
Impressiies visfveis sao aquelas deixadas com tinta, graxa, san-
gue ou outros pigmentos e que podem ser visualizadas a olho nu.
Essas irnpressoes podem ser fotografadas diretamente pelo pesquisa-
dor (foto reproduzida com autoriza"ao e por cortesia da TSL -
Tecnologia e Sistemas Ltda.),
As impressiies moldadas ou
modeladas sao as deixadas sobre
suportes plasticos, como sabao, mas-
sa de vidraceiro ou qualquer outro
de consistencia pastosa ou mode-
lavel.
Tais irnpressoes podem ser fo-
tografadas diretamente pelo pesqui-
sador. Entretanto, e de observar que
nas irnpressoes moldadas os sulcos
correspondem as cristas e vice-
versa.
As impressiies latentes, mais
comumente encontradas, sao aquelas deixadas por dedos, maos ou pes
limpos, e que nao podem ser visualizadas a olho desarmado. Para
procura-las 0 pesquisador deve utilizar reveladores especiais, como ve-
remos a seguir. A fotografia mostra irnpressoes latentes, deixadas em
_,._. __ 77 ..
I
!
I
papel e jli reveladas por vapores de ninidrina (foto reproduzida com
autorizac;:ao e por cortesia da TSL - Tecnologia e Sistemas Ltda.).
Impressoes reveladas sao aquelas trazidas a visualizac;:ao pela
aplicac;:ao de reveladores especiais.
Suportes sao todas as superficies que podem receber uma im-
pressao papilar. Nao sao todos os materiais que se prestam a isso. Os
melhores suportes sao as superficies lisas e polidas, como vidro,
metais, pIanos envernizados e objetos de louga ou porcelana. Tam-
bem sao aptos a receber impressoes papilares os papeis lisos, algu-
mas frutas de casca lisa, como as magas, e 0 couro liso.
Por Ultimo, e preciso diferenciar impressoes papilares ou dfgi-
to-papilares de marcas de dedos. Impressoes papilares sao as deixa-
das sobre os vanos suportes e que mostram os desenhos formados
pelas cristas papilares, permitindo, destarte, a identificagao. As mar-
cas de dedos sao meros esfregagos produzidos com os dedos ou com
as maos, mas que nao permitem a identificagao de qualquer desenho
papilar, sendo, portanto, inuteis para, identificagao.
3.4. Tomada de impressoes dfgito-papilares em locais de cri-
me - reveladores
A tomada das impressoes e fntgmentos de impressoes em locais
de crime, objetos e iristnnnentos relacionados e tarefa afeta aos pes-
quisadores papilosc6picos.
Chegando ao local de urn crime, os pesquisadores passam a pro-
78
curar inicialmente as impressoes visiveis e moldadas para, em segui-
da, investigar as impressoes latentes.
Como nao sao todos os suportes que podem receber impressoes
papilares, a pesquisa e realizada apenas nos locais mais provliveis
para encontrli-Ias, e a tecnica consiste em fazer incidir urn facho de
luz obliqua sobre a superficie de modo a indicar 0 lugar onde se en-
contra a impressao.
Localizada a impressao, sobre ela e aplicado urn revelador, que
varia de acordo com a cor e a natureza do suporte, assim como com a
idade da impressao.
Reveladores "sao, do ponto de vista generico, substancias puras
ou misturadas capazes, ffsica ou quimicamente, de tomar visiveis
impressoes papilares latentes" (Jose Lopes Zarzuela, Temas junda-
mentais de crimina/(stica, 1996, p. 78).
Fatares que influenciam na escolha do revelador natureza do suporte
{
cor do suporte
da impressao
o quadro a seguir d& uma ideia dos principais reveladores de
acordo com a natureza e a cor dos vtirios suportes:
Suportes
claros
{
negro de fumo
. ne 0 de marfim
de cor Unica bern clara
p6s magneticos
coloridos antracerio (blanco)
{
6xidO vermelho de
fluorescentes {nuorescema (marroro)
eosina (vermelbo)
{
carbonato de chumbo
carbonato de ca.Icio
escuros carbonato d.e magnesio
. p6s magnetlcos
papeis.
madeira
ecouro
{
PfOdutos que reagem com as subprodutos da perspiral$ao.
como vapores de iado, solufiio de nitrato de prata a 5%
au ninidrina
79
! i
,;!
'ii
AS pos magneticos devem ser aplicados com pinceis proprios,
que nada mais sao que verdadeiros imas, permitindo a aspersao do
po sobre a superficie sem contato fisico do pincel. A ilustrac;ao se-
guinte mostra a maneira como 0 po adere ao pince1 e pode ser espa-
lhado sobre a superficie a ser pesquisada (foto reproduzida com au-
torizac;ao e por cortesia da TSL - Tecnologia e Sistemas Ltda.).
'I
~ ? -
as reveladores fiuorescentes somente mostram as irnpressoes
quando iluminados por luz ultravioleta.
A ilustrac;ao acima mostra impressoes reveladas com revelador
. fiuorescente e submetidas 11 incidencia de iluminac;ao ultravioleta
(reproduzida com autorizac;ao e pot cortesia da TSL - Tecnologia e
Sistemas Ltda.). '.
Vma vez revelada a irnpressao, e preciso seja ela ou fotogiafada
no proprio local, ou levantada para ser transportada ate 0 Instituto de
80
Identificac;ao, onde serao reaIizadas a classificac;ao e a comparac;ao
pelo
s
papiloscopistas.
Normalmente olevantamento das irnpressoes e feito com a apli-
cag
ao
de fitas adesivas de boa quaIidade, que, depois, sao coladas em
laminas de vidro e identificadas para permitir 0 transporte seguro
(foto reproduzida com autorizac;ao e por cortesia da TSL-Tecnologia
e Sistemas Ltda.).
Iii no Instituto de Identificac;ao, os papiloscopistas passam a
comparar os fragmentos e irnpressoes papilares encontrados no local
do crime com as fichas datiloscopicas do proprio instituto ou com
impressoestomadas dos suspeitos.
Para essas comparac;oes os papiloscopistas normalmente se uti-
lizam de aparelhos como lupas ou comparadores opticos (foto
reproduzida com autorizac;ao e por cortesia da TSL - Tecnologia e
Sistemas Ltda.).
81
! i
,
!
i'
!;
3.5. Tomada de impressoes digito-papilares da pessoa
Tao ou mais importante que a tomada de impressoes em locais
de crime e a coleta de impressoes na pessoa, visto que elas e que
darao origem aos arquivos do Instituto de Identifica<;;ao e posterior- ','
mente serao comparadas com as colhidas no local do fato.
Devemos diferenciar os metodos utilizados para a tomada de
impressoes nas pessoas vivas daqueles usados para a coleta de im-
pressoes de cadilveres.
3.5.1. Tomada de impressoes na pessoa viva
A tomada de impressoes digitais das pessoas vivas nao oferece
maiores cuidados. Basta que 0 pesquisador utilize 0 equipamento
correto, basicamente tinta apropriada, urn rolo e 0 respectivo suporte,
para entintamento dos dedos, e 0 impresso destinado ao recebimento
das impressoes (fotos reproduzidas com autoriza<;;ao e por cortesia da
TSL - Tecnologia e Sistemas Ltda.).
Antes de tomar as impressoes 0 excesso de tinta deve ser retira-
do para que 0 desenho digital apareo;;a impresso com c1areza, permi-
tindo identificac;ao e pesquisa.
Lamentavelmente, por abso- ",
luta falta de tecuica, boa parte das ,
impressoes colhidas nao sao mais
que marcas de dedos, esfregac;6$
de tinta, borroes sem qualquer \
serventia.
Primeiro tiramos as impres-
soes dos polegares e depois dos
demais dedos, individualmente.
82
Em seguida sao coletadas
as impressoes dos dedos em con-
junto. Dessa forma, conseguem-
se duas impressoes de cada urn
dos dedos, permitindo urn arqui-
vo seguro para futuras compa-
ra<;;oes.
No Estad6 de Sao Paulo utilizam-se basicamente dois impressos,
urn para identifica<;;ao civil, que e preenchido quando se tira Carteira de
Identidade, e outro conhecido como BIC, ou Boletim de Jdentijica<;iio
Criminal, que e preenchido por ocasiao do indiciamento e que, alem
das impressoes digitais, traz outros dados relativos Ii pessoa do indiciado
ou ao seu modo de a<;;ao.
A ilustra<;;ao a seguir mostra 0 impresso (frente e verso) utiliza-
do para identifica<;;ao civil.
I I I I I I I I I I
1
,
l
P<>I.gar Indlo.do,
--.
Anular MlnlmO
,
l
I
J I
,
!
II
I
I I I
I
I I I
I I , ,
polegar Ind!caclor
.'"'.
Anular MInIma
, j
I
4)
i
,
I
o.o.no.o.l'II;>I<
1 ........ _ .. _ ..... _ .. _'
I
... <II$I'fIQ<l ......
I
I OItmIIO ... 'cvonFlCM;AO"""' ... CMo.....,
I
AA
-
_.
_OOP..,
_A ........ "".otH1'IfICAO(!
..,...""IU,,
---
M.l(IO",'ST"
_.
l
83
:: ..
; ,
,I
i'
: :
. i
\ t
;
, ,
'i,
.i)
I!:
III
;'1
'II
Alem do entintamento dos dedos, uma outra tecnica, que nao e
muito difundida, eo digitofotograma (Croce, 1998, p. 88), idealiza-
do por Antonio Lazaro Valeriani Martins, e que consiste em embeber
os dedos com revelador radiol6gico e depois coloca-los sobre chapas .
radiogriificas veladas, exercendo rapida pressao. Em seguida embe-
be-se a chapa com fixador e tem-se uma imagem nitida de todo o.
desenho digital.
Modemamente os antigos metodos VaG sendo substitufdos pe-
los aparelhos e programas para digitalizaao, coleta e arquivamento
das impressoes digitais. Urn born exemplo sao os esdlneres utiliza-
dos para fichamento de estrangeiros nos aeroportos (ver biometria-
item 2).
3.5.2. Tomada de impressoes no cadaver
A tomada de impressoes digitais na pessoa morta, quando 0
6bito ocorreurecentemente, tambem nao oferece qualquer dificulda-
de, bastando que 0 pesquisador proceda da mesma maneira que faria
para tirar as impressoes de pessoa viva.
Com 0 passar do tempo, porem, e na dependencia das condi-
oes em que se encontra 0 corpo, podem surgir tres especies de difi-
culdades:
a) rigidez cadaverica;
b) excessivo amolecimento dos tecidos;. e
c) inicio da putrefaliaO.
A rigidez cadaverica nao e 6bice para a tomada das impressoes
digitais, podendo, no maximo, dificultar bastante a sua execuao.
o amolecimento excessivo dos tecidos.ocorre, por exemplo,
nos corpos dos afogados. Normalmente basta que 0 pesquisador
tenha a cautela de limpar os dedos do cadaver com urn pouco de
alcool e em seguida aplicar a tinta. Em alguns casos de
emurchecimento lIlais avanliado preconiza-se a injeliao subderrnica
de urn Uquido inerte, como a parafina ou a glicerina, com a finali-
dade de devolver a conformaao da extremidade digital e peimitir a
coleta de impressoes.
84
~ F ~ I . . w oI.o.W-U.''',w...w
Para os corpos em decomposiliao e necessaria a retirada da
luva cadaverica (1 e 2), ou seja, a pele que recobre os dedos da
mao. Ap6s is so, 0 pesquisador veste a pele do cadaver sobre sua
pr6pria mao, previamente protegida por uma luva de borracha (3), e
entao pode tranqUilamente fazer a tomada das impressoes digitais
(4 e 5).
1.
i
"..-- Luvas de borracha
2.
3.
4.
5.
;g;:J
i
Luva de pele retirada
do dedo do cadaver
I! !III
11I1
3.6. Boletim de Identificafiio Criminal- BIC
No Boletim de Identificaliao Criminal e Modus Operandi -
BIC, alem das impressoes digitais, sao consignados dados de tres
categorias, referentes ao identificado, ao inquerito e ao modus
operandi.
No que toca Ii pessoa do autor, alem da quali:ficaao civil com-
pleta, devem ser indicadas outras caracteristicas fisicas que perrni-
85---- .
, 1!
'.
" "
fi-
i-'-
!-
I- f-
li
II
1
----_ .. _'.
01nYd 0lS 11Mll J1:1J10d dIS
1;llli;,
L
k
Ii
i'-
/'-
I ; I Ii ,
"
I"
I'-I'-
1-." l-
". "
I-
I-F--
F--
l!- I!-
I. "
IH Ii
!
i
I
I
t-
ao
10
ao
3.7. Classijicafiio - 0 sistema de Vuceiich
Conquanto existam vanos' outros sistemas para ciassifica<;ao e
9" 'I compara<;ao das impressoes digito-papilares (sistemas dati{osc6picos),
c\ no Brasil 0 adotado foi aquele idealizado por Juan Vucetich, desde
'\ 1903. 0 quadro abaixo indica alguns criadores de sistemas
datilosc6picos adotados em outros pafses:
"'
Brasil e Argentina,
Cuba'
Egito
e Belgica
Holanda
india
Inglaterra e Estados Unidos
It:ilia
Portugal
Juan Vucetich
Steegers
Harvey PacM
Alphonso Bertillon e Locard
Spillet
Conlay
Henry
GastiOttolenghi
Alberto Pessoa e Valadares
o metoda de Vucetich baseia-se na existencia de grupos de de-
senhos digitais que se repetem, permitindo assim uma ciassifica<;ao.
3.7.1. Elementos da impressao digital
Ja vimos que 0 desenho digital e formado de sulcos e cristas
papilares dispostos na polpa digital. AMm desses sulcos e cristas,
outros elementos de impDrtaucia podem ser encontrados:
Elementos da impressiio digital
cristas papilares
sulcos papilares
linhas albodatilosc6picas
pontos caractensticos
poras
delta
Ao examinar uma impressiio, digital, vemos linhas pretas, que
correspondem as cristas papilares,e!inhas brancas, que correspondem
aos sulcos. A principal dessaS linhas e que elas se desen-
volvem paralelamente,' formando os desenhos que constituem a im-
pressao digital. Esses desenhDs, como salientamos, sao imuGlveis,'nas-
cern com 0 individuo e permanecem inalterados por toda a existencia.
88
to
3.7.2. Linhas albodatiloscopicas e albodatUograma
Porvezes e possivel identificar linhas transversais, que nao acom-
paohamas cristas papilares. Sao as chamadas linhas albodatilosc6picas
OU linhas brancas. Sao tidas como altera<;oes pato16gicas do. desenho
digital, geralmente ligadas a atividade profissional (digitadores, p. ex.).
Nao sao perenes, podendo surgir ou desaparecer durante a vida e, por
iSSD mesmo, nao servem como elemento de classifica<;ao.
As impressoes que contem grande mlmero dessas linhas sao
comumente chamadas de albodatilogramas.
3.7.3. Pontos caracterfsticos
Pontos caracterfsticos sao. acidentes, desenhos especiais forma-
dos pelas cristas papilares e que servem para 0 cotejo e a identifica-
<;aD das impressoes digitais. Voltaremos a falar dDS pontos caracteris-
ticos logo. mais.
3.7.4. Poros
Paras sao as aberturas dos canais sudoriparos, localizados so-
bre as cristas papilares. Ha cerca de 94 poras por cm
2
de pele e sao
eles os responsaveis, juntamente com as gHindulas sebaceas, pela
perspira<;ao da pele, que, em ultima analise, constitui a "tinta" com
que a natureza imprime os desenhos digitais nos variados suportes.
3.7.5. Deltas
Os deltas, em datiloscopia, tern recebido vanas defini<;oes, en-
tre as quais a de serem "pequenos augulos ou triaugulos formados
89
I,
II
"!Iilllfl
:
,,"ll
i'\','J, 1
,I
", "'I,i,
' i! i
'\,1
,"
i'l:
,,1'1'
!::
"'I
"i:;1
iii
n
'::1,
"i,'
i',
, ,", ,i'"l
l
!
i
, \1
::1
i l'
:1'
i,1
fl
i,11
til!
1
,',
,I
'I
Ii
! '
I'
, I
!
I
, "
i
pelas cristas papilares" ou "pontos de encontro dos tres sistemas de
Iinhas" (Alvaro Placeres de Araujo, Manual de daetiloseopia, 1960,
p. 109), e constituem urn dos elementos mais significativos da im-
pressao digital, pois e por intermedio de sua presen\.:a (ou nao) e de
sua 10caIiza\.:ao que podemos cIassificar os vanos desenhos digitais.
A partir dos deltas vamos definir aquilo que se convencionou
charnar de sistemas prineipais de linhas do datilograma.
Tres sao os' sistemas de linhas que podem ser encontrados nos
datilogramas: 0 marginal, 0 nuclear e 0 basilar, delimitados entre si
pelas linhas diretrizes.
{
marginal
Sistemas de linhas do datilograma nuclear.
basilar
As linhas diretrizes sao nada mais que 0 prolongamento, imagi-
n.ano ou real, dos bra\.:os do delta que delimitam entre si os tres siste-
mas mencionados.
A figura mostra os diferentes sistemas de Iinhas delimitados
pelas linhas diretrizes, nos vanos tipos de impressao digital.
Vertlello
Presilha externa
Areo
90
o sistema marginal e formado pelas linhas que esta:o acima do
ramo superior das linhas diretrizes.
o sistema basilar compreende as linhas abaixo do ramo infe-
rior das linhas diretrizes.
o sistema nuclear, por tim, engloba as linhas existentes entre
os ramos das linhas diretrizes.
3.7.6. Tipos fundamentais
Com' base na presen\.:a ou ausencia do delta, sua posi\.:ao no de-
senho digital e nos sistemas de Iinhas dos datilogramas, Vueetieh cIas-
sificou as impressoes digitais em quatro tipos fundamentais, a saber:
areo (tamMm chamada de figura adtfltiea), presilha intema, presi-
lha extema e vertieilo.
Tipos fundamentais de Vueetich
Verticilo dois deltas
Presilha extema delta a esquerda
Presilha intema delta a direita
Arco delta ausente
A indica\.:ao da posi\.:ao do delta e feita sempre em rela\.:ao it
impressao digital e nao diretamente no desenho digital do dedo
considerado. Assim, se uma presilha extema, quando impressa, tern
91
1'!!
,
I,
':i
I.
I:
::.
,:1:
!:j
i
ii
).I,
",
,;.
I
i:
!
, I':
j i
I,
1
i
i I
Ii i
!.f
i'l
I):
[i It"
If'I',
i!HW
I .. "
o delta 11 esquerda, se olhannos diretamente no dedo, na polpa digital
correspondente, 0 delta estara 11 direita.
o areo e, pois, urna das figuras fundamentais que nao apresenta
delta, por isso chamada de figura adelta ou adeltiea.
Na presilha externa 0 delta esta 11 esquerda do observador, en-
quanto na presilha interna esta 11 direita.
Finalmente, no vertieilo temos dois deltas, urn 11 direita e outro 11
esquerda. 0 vertieilo e tambem chamado de figura bidelta ou bideltiea.
As figuras abaixo dao urn born exemplo dos tipos fundamentais das
impressOes digitais segundo a proposta por Juan Vueetieh.
Areo - figura sem deltas
Vertieila - de dais deltas
Presilha externa - delta a esquerda Presilha intema _ delta a direita
92
.""
Os desenhos digitais apresentam-se nas seguintes percentagens:
oArcos-5%
o Presilhas (interna e externa) - 60 .%
o Verticilos - 35%
'!i
t
f
';:
J
j!"
1
'"1'
i'
-1 .
,
"
-
3.7.7. Formula datiloscopica - os sistemas de arquivos
Definidos os tipos fundamentais, ficou relativamente facil esta-
belecer urn sistema de
o IIRGD, originalmente, mantinha dois tipos de arquivos, 0
decadatilar e 0 monodatilar, hoje desativado.
o arquivo decadatilar recebe as planilhas de com-
pletas, com os dez dedos de cada pessoa que tira urna Carteira de
Identidade ou e identificada crirninalmente (individual datilos-
e6piea).
o arquivo monodatilar destinava-se a receber impressoes de
crirninosos, principalmente autores de crimes patriruoniais, e impres-
soes colhidas em locais de crime que, por qualquer razao, ainda nao
haviam side identificadas (Alvaro Placeres deAraujo, Pequena enci-
clopedia daetilose6piea, 1949, p. 42).
. { decadatilar - para as individuais datilosc6picas
Arqmvas do IIRGD manadatilar _ para as datilagrarnas (desativada)
Para as figuras ou tipos fundamentais dos polegares, associa-se
uma letra e aos tipos dos demais dedos, urn numero, conforme tabela
abaixo. As sao indicadas com 0 numero zero e os dedos
defeituosos e cicatrizes com a letra X, quer comprometam 0 polegar,
quer sejam encontradas nos demais dedos.
Tipo fundamental Polegar Demais dedos
Vertieila V 4
Presilha extema E 3
Presilha intema I 2
Area A 1
-
Dedos defeituosos e cicatrizes X X
0 0
--- ----93 -
'::'"ilJ
i
Ii
iii
"'1
! "
iii
i "
I "
I "
I:
,
II
]':1
,:,)
i
I
!
,i
,
i
I
\":
A figura mostra uma cicatriz que compromete 0 nu-
eleo da impress30 e impede sua correta classifica\=3o,
devendo ser assinalada. na f6rmula datilosc6pica, com
umX.
Analisando-se os dedos de ambas as maos e expcimindo os ti-
pos fundamentais encontrados sob a forma de fra<;ao, com os dedos
da mao direita no nurnerador (serie) e os da mao esquerda no deno-
minador (sec<;ao), teremos a /6 rmula datilosc6pica, que permite agru-
par, em urn primeiro momento, ao menos os indivfduos que apresen-
tam a mesma equa<;ao.
Sao 1.048.576 (urn milhao, quarenta e oito mil, quinbentas e
setenta e seis) combina<;oes possfveis, 0 que evidencia 0 fato de exis-
tirem varias pessoas com a mesma f6rmula datilosc6pica. AMm dis-
so, a distribui<;ao nao e equfulime, existindo algumas f6rmulas mais
freqiientes que as outras. Nao obstante, como 0 mlmero de combina-
<;oes e bastante grande, tem-se urna redu<;ao significativa no universo
de pesquisa.
Sao exemplos de f6rmulas fundamentais (as mais freqiientes):
E 2 3 3 3 E 2 3 3 3 E 3 3 3 3
I 2 2 2 2 I 3 2 2 2 I 2 2 2 2
E 3 3 3 3 V 4 4 -4 3 V 4 4 4 4
I 3 2 2 2 V 4 4 .4 2 I 4 4 4 4
'.
AMm dessas formas de classifica<;ao, existem outras subc1as-
sifica<;oes, de acordo com particularidades de cada tipo fundame)ltal
e que permitem urna divisao ainda maior. 0 quadro abaixo mostra as
subc1assifica<;oes adotadas atualmente pelo IIRGD:
94
E
areo
dos desenhos digitais
presilhas
verticilo
plano
angular
bifureado a direita
bifureado a esquerda
destro-apresilhado
sinistro-apresilhado
{
nonnal
invadida
dupla
ganchosa
circular
espiral
ovoidal
sinuoso
duvidoso
ganchoso
Impressoes anomalas ou desenhos anomalos sao certos tipos de
impresso
es
, bastante raras, que nao podem ser inclufdas nos quatro
tipos fundamentais (figura).
3.7.8. A compara<;ao - pontos caracterfsticos
A compara<;ao entre fragmentos de impressoes e impressoes
. fntegras pode ser necessaria em duas situa<;oes:
para estabelecer ou commnar a identidade de urna pessoa ou
corpo (legitimaff/io);
para tentar estabelecer a identidade do autor, por meio de frag-
mentos encontrados em locais ou instrurnentos de crime.
95
,.
No primeiro caso, legitimGl;ao, sao tomadas as impressoes do
vivo ou do cadaver e comparadas com aquelas existentes nos arqui-
vos do IIRGD.
Na segunda hip6tese, nao menos freqiiente, temos 0 encontro
de fragmentos de impressoes ou impressoes completas, deixadas em
locais ou instrumentos de crime pelo autor, e que precisam ser cote-
jadas com possiveis suspeitos para
Em ambos os casos a e sempre baseada ha analise
dos chamados pontos caracterfsticos, acidentes presentes no dese-
nho digital, e que, encontrados na mesma posi9aO e sentido e em
nllinero significativo, servem para estabelecer a identidade de forma
definitiva e segura.
A dos pontos caracteristicos varia de autor para
autor. Os mais freqiientes sao: ponto, ilhota, cortada, bifurcat;ao,
confluncia ou forquilha, encerro, anastomose, croch ou haste, prin-
cfpio de linha e jim de linha.
-=
Pr1ncipla de IInha
Anastomose
Bifim:a9iio
C::mflui!ncIa au forqullha
Para estabelecer a identidade pelo encontro dos pontos caracte-
risticos, 0 papiloscopista amplia as impressoes a serem comparadas
(no minimo cinco vezes) e depois passa a "varrer" 0 campo de pes-
quisa sempre no mesmo sentido (seritido horano), assinalando os
pontos mais representativos.
Doze pontos caracteristicos localizados em ambas as impres-
soes comparadas, nas mesmas posi90\"s e sem discrepancias, sao su-
ficientes, no Brasil, parI!: estabelecer.a identidade.
o nllinero de pontos 'caracteristicos necessanos para uma ideqti-
positiva varia de pais para pais. 0 quadro abaixo mostra alguns
dos criterios adotados em outras na90es (Maranhao, 2002, p. 69).
96
Pais Nfunero de pontos
Fran<;a 17
Ing1aterra 12a 16
Sui<;a 12a 14
Austria 12
Espanha lOa 12
U.S.A. 8 a 12
Alemanha 8 a 12
Na falta de pontos caracteristicos suficientes para estabelecer a
identidade, 0 que pode ocorrer quando sao comparados fragmentos
de impressoes, 0 papiloscopista pode utilizar a poroscopia, uma vez
que em cada uma das linhas que compoem 0 desenho digital 0 mlme-
ro, a localiza9ao e a posi9aO dos poros tarnbem sao imutaveis.
3.8. Impressoes palmares e plantares
Como vimos, as impressoes papilares existem nao apenas nas
extrernidades digitais, como tambem nas paimas das maos - im-
pressoes palmares - e planta dos pes - impressoes plantares.
Com reia9ao as impressoes palmares, vanos sistemas de c1assi-
foram propostos, como, por exemplo, os de Stockis, Lecha-
Marzo, Ferrer, Edward Loth, Wilder, Wentworth e Felisberto Belleti.
Tais entretanto, nao sao adotadas de forma siste-
matica por nenhum pais. No maximo, as impressoes palmares sao
utilizadas para cotejo, quando encontradas nos locais de crime.
As impressoes plantares nao tern tido melhor sorte, sendo pro-
postos alguns sistemas de - dentre os quais se salienta
o de Wilder e Wentworth - que nao sao ordinariamente utilizados.
o encontro das impressoes plantares e mais raro, ate porque os
pes, norma1mente, encontram-se recobertos por ca!9ado.
Outro ponto que dificulta bastante 0 encontro de impressoes plan-
tares nos locais de crime e 0 fato de 0 solo geraimente ser irregular,
quando nao recoberto por particulas como areia e terra, dificuliando,
des tarte, mesmo a pes descal90s, a deposi9aO dos desenhos papilares.
97
""l
j i
i'
I
,
I
I
,!,
i
1
"
I
lifn
I .1
Nao se podem confundir pegadas com impressoes plantares. 0
que se encontra com grande profusao nos locais de crime sao pega-
das, que tern ampla utiliza<;;ao na investiga<;;ao criminal, mas nao se
confundem com a identifica<;;ao pela compara<;;iio dos desenhos dei-
xados pelas cristas papilares.
Uma aplica<;;ao bastante usual para as impressoes plantares e a
identifica<;;ao sistematica e obrigat6ria dos recem-nascidos nas ma-
ternidades (ilustra<;;ao).
PRO MATRE PAULISTA LTDA.
AI. J ... qwl.. E"lIIn.lo all u ... , 38:1 S. P..,lo
I A:' ..
Data do 'IIastnm<mto .... ... Rom.t .. ..Qt::t.J .. ..". __ ..
IDENTIFICAOAo
dO "' .... u!d ..
........ u ....... Pi_ ..
o Estatuto da Crian<;;a e do Adolescente - ECA (Lei n. 8.069,
de 13-7-1990)- estabelece, em seu art. 10, IT, que:
ECA
Art.IO. Os hospitais e demais estabelecinientos de a saade de gestantes,
publicos e particulares, sao obrigados a:
IT - identificar 0 mediante 0 registro de sua impressiio plantar e
digital e da impressiio digital da mae, sem prejuizQ de outras formas nonnatizadcis
pela autoridade administrativa competente (grifo n0550).
98
o mesmo estatuto legal preve que a ausencia da identifica<;;ao
constitui crime:
ECA
Art. 229. Deixar 0 medico, enfermeiro ou dirigente de estabe1ecimento de aten-
'tao a saude de gestante de identificar corretamente 0 neonato e a parturiente, por
ocasHio do parto, bem como deixar de proceder aos exames referidos no art. 10
desta Lei:
Pena _ de seis meses a dois anos.
Paragrafo limco. Se 0 crime e culposo:
Pena _ de dois a seis meses. ou multa.
3.9. Poroscopia
A poroscopia e 0 estudo dos poros para a identifica<;;ao crimi-
nal. Foi idealizada como sistema de identifica<;;ao em 1883 por Artur
Kolman, por apresentar as mesmas caracteristicas de perenidade,
imutabilidade e variabilidade que os desenhos papilares.
Atualmente e utilizado como urn sistema auxiliar ao datilos-
c6pico,.e a identifica<;;ao e feita com base no numero de poros,
sua posi<;;ao, dimensao e forma. Estudos tern demonstrado, con-
tudo, que nao e possivel a identificaao em grande esc ala pelos
poros.
Poroscopia
{
nUmero de poros - osci1a de 9 a 18 por mm
2
posict
ao
dos poros - sobre as cristas papilares
dimensao - entre 80 a 250 milesimos de nun
fonna - circular. oval ou triangular .
3.10. Anomalias
Anomalias nada mais sao que certos defeitos que atingem os
dedos das maos ou dos pes. Podem ser congenitas ou adquiridas,
como, por exemplo, as amputa<;;oes. As anomalias congenitas mais
comuns sao:
99
L
L
I.
i
i
I
:
\ '
! i
i
l
\
1
L
:i
,
','-,
I
I
",I
quanta ao mlmero de dedos
Anomalias
quauto a fonna dos dedos
{
polidactilia ou hiperdactilia
ectrodactilia
sindactilia
de volume
no
comprimento
{
microoactilia
macrodactilia
{
braquidaCtilia
megalodactilia
A polidactilia ou hiperdactilia e uma anomalia congenita que
consiste em ter 0 indivfduo quirodactilos (dedos das maos) ou
pododactilos (dedos dos pes) em nillnero superior ao normal, ou seja,
mais de cinco. Normalmente a polidactilia limita-se a seis ou sete
dedos, mas ja houve descri9ao de casos com onze.
A ectrodactilia e a anomalia congenita oposta a polidactilia e
consiste em ter 0 indivfduo urn numero de quirodactilos ou
pododactilos menor que 0 normal, menos de cinco dedos. As ampu-
ta90es nao sao consideradas ectrodactilias.
A sindactilia e a anomalia congenita que consiste na uniao de
dois ou mais dedos.
Na microdactilia, os dedos, por defeito congenito, tem volume
muito reduzido, enquanto na braquidactilia eles sao mais curtos que
o normal
Na megalodactilia os dedos sao mais longos que 0 normal, ao
passo que na macrodactilia sao mais volumosos.
Em datiloscopia, interessam apenas as malforma90es relacio-
nadas com 0 nillnero de dedos. Vimos'que as amputa90es, ausencias
congenitas e os dedos defeituosos sao anotados na f6rmula funda-
mental com a letra X. Luiz de Pitta (Dactiloscopia, 1938) sugeriu
que nos casos de polidactilia 0 tipo fundamental do dedo
supranumenlrio fosse anotado a m(!rgem do polegar da mesma mao,
empregando-se a letra inirIliscula correspondente a esse tipo.
-As anomalias referentes a forma dos dedos geralmente nao'in-
terferem na tomada das impressoes dfgito-papilares e, portanto, nao
100
merecem maiores considera90es. Podem, por outro lado, servir como
import
ante
fonte de em jufzo, nos casos em que teste-
munh
as
eventuaIm
ente
citam determinadas caracteristicas ffsicas do
ag
ente
, como dedos muito longos ou deformados, essas
inconfundfveis.
Anomalias quanto ao numero
polidadilia
Ectrodactilia
Sindactilia
Anomalias quanto ao volume
Microdactilia
Macrodactilia
Anomalias quanto ao comprimento
Megalodactilia
Braquidactilia
,
"":T
:!I
'\
,
101
, .. I
;' I
I
I'
I
I
i
I.
I'
I
I, I
i,
I I"
CAPiTULO 4
TRAUMATOLOGlAFORENSE
1.CONCElTO
Segundo Genival Fran(;a (1998, p, 55), "a traumatologia estu-
da as lesoes e os estados patol6gicos, imediatos ou tardios, produzi-
dos por violencia sobre 0 corpo humano",
1)( Para Delton Croce (1998, p. 115), "6 0 capItulo da Medicina
cl Legal no qual se estudam as lesoes corporais resultantes de
\ traumatismos de ordem material ou moral, danosos ao corpo ou a
! saude fisica ou mental".
Os danos pessoais podem ser decorrentes da a<;:iio de va-
rias form as de energia sohre 0 corpo humano (Fran<;:a, 1998,
p.55):
Energias
de ordem mecfullca
de ordem ffsica
de ordem quimica
de ordem ffsico-quimica
de ordem bioqufmica
de ordem biodinruruca
de ordem mista
2. ENERGIAS DE ORDEM ME<;:ANtCA
As energias de ordem aquelas que, incidindo so-
bre urn corpo, siio capazes de modiflcar 0 seu estado de repouso ou
movimento. Podem atuM de viirias maneiras, conforme a natureza
dos agentes que as veiculam.
102
Agen
tes
das energias
de ordem medinica
annas
naturais _ maos, pes, 0 proprio corpo.
enfun
propriamente ditas - annas de fogo, punhais.
SoCO ingles. cacetete, fuuda etc.
eventuais - faca, navalha. machado, foice
maquinismos e per;as de IDaquina
animais _ mordeduras e arranhaduras em geral
outros meios' - quedas. explos6es etc.
2.1. Classijicaf{iio dos instrumentos medinicos
Levando-se em considera<;:lio a rela<;:iio entre 0 corpo e 0 instru-
mento causador de uma lesiio, vamos verificar que as lesoes podem
ser produzidas pela do instrumento sobre 0 corpo (meio ativo),
pela a<;:lio do corpo sobre 0 instrumento (meio passivo) ou de forma
mista, quando urn atua sobre 0 outro.
Meioativo'"
... Misto ...
Meio passivo ....
103
,
\
ij
1
,
I
I
A gravidade da lesao vai depender da intensidade com que a
energia mecilnica atingiu 0 corpo, da sede e natureza da lesao e, ain-
da, da maior ou menor resistencia tecidual.
Confonne a superffcie de contato, 0 modo de e as caracte-
rfsticas das lesoes, os instrumentos c1assificam-se em:
de a91io simples
Instrumentos
{
perfurantes all punct6rios
cortantes
contundentes
de ac;ao composta periurocontundentes
{
perfurocortantes
cortocontundentes
2.2. Instrumentos perfurantes ou punct6rios
Os instrumentos perfurantes ou punctorios agem por meio
t
' de pressao exercida em urn ponto. Sao instrumentos finos, alon-
gados e pontiagudos que causam pequenas lesoes de pouca re-
percussao na superffcie corporea, mas de profundidade aprecia-
vel. Quase sempre atuam separando as fibras do tecido sem
secciona-Ias. Como exemplo, podemos citar 0 picador de gelo e
as agulhas em geral.
As lesoes produzidas pelos instrumentos punctorios ou
perfurantes sao denominadas lesoes punctorias.
2.3. Leis de Filh6s e Langer
A maior parte da pele que recobre a superffcie do nosso corpo
estii sujeita a tensao, geralmente de e sentido perpendicu-
lar ao movimento muscular de uma determinada regiao .
. "
Em razao disso, os ferimentos produzidos por instrumentos ci-
Ifndrlcos ou conieos, dotados de ponta apenas, serao diminutos
e representados por apenas urn ponto.
Se, por outro lado, 0 instrumento for cilfndrlco ou cilindro-
conico, mas de maior difunetro, causara um afastamento maior dos
104
tecidos e, em razao das linhas de tensao da pele, asstllnirli a confor-
de urn ferimento produzido por urn instrumento perfurocor-
tante de dois gumes.
Essas consideragoes foram sistematizadas pelas chamadas
Leis de Filhos e Langer, transcritas a seguir (apud Favero, 1975,
p. 268):'
a) Primeira Lei de FilMs - "as de continuidade
sao feridas semelhantes as produzidas por instrumentos de dois
cortes".
b) Segunda Lei de Filhos - "na mesma regiao, 0 eixo da
de continuidade esta orientado sempre no mesmo senti-
do, 0 que permite distinguir a lesao de outra que tivesse sido pro-
duzida por instrumento de dois cortes".
c) Lei de Langer - "em certas regioes onde ha cruzamento
de fibrilas, 0 afastamento das bordas da lesao assume 0 aspecto de
ponta de seta, de triiingulo, ou mesmo de quadrilatero".
A a seguir mostra as chamadas linhas de clivagem
de Langer. Sao linhas de tensao determinadas pela das
fibras da pele.
105 '
""
.,,lou
\' '1,1
: -!\'j:
:1
" :'\'i . ,ir,
"
""II
: !
!i
'\
"
j
I
;1',
,
!
, I
! '
I
:
I
IJfl
":-j
'1
: '1
I:'
,I ""I"" ': i
i [:
i
!;
I
: !
'I
2.4. Instrumentos cortantes
--- ,
,,,? - Os instrumentos cortantes agem por meio de pres sao e
\ deslizamento sobre a pele ou tecidQ dos 6rgaos. Os melhores exem-
; "., plos sao as Ifuninas de barbear, as navalhas e 0 bisturi. As facas, quando
. 0;" atuam pelo deslizamento daJfunina, podem ser consideradas i.nstru- .
mentos cortantes.
j
:11'
;I "
r
! il
106
"",
/'
1/"" As lesoes produzidas pelos instrumentos cortantes sao denomi-
ladas lesoes incisas e tern as seguintes caracteristicas:
{
margens lisas e regulares
ausencia de regHio de contusao
Lesoes incisas geralmente mais largas e profundas na media
existencia freqftente da cauda de all de safda
hemorragia geralmente abundante .
As lesoes incisas sao freqiientemente encontradas em suicfdios,
particularmente nas vitimas que cortam 0 pesco,<o ou os pulsos. Tam-
bern sao caracteristicas de ferimentos de defesa, em caso de agressao
com armas brancas (facas, navalhas etc.), hip6tese em que os
ferimentos recaem, quase sempre, nas maos e bra,<os.
Quando os ferimentos incisos sao produzldos contra as linhas
de for,<a da pele (ver Leis de Filh6s e Langer) a tendencia e a de haver
grande afastamento das margens da ferida.
/' Esgorjamento, degola e decapitar;lio - sao lesoes de natureza
incisa localizadas no pesco,<o. 0 esgorjamento e a lesao locaIizada
na regiao anterior do pesco,<o. A degola, na regiao posterior, e a de-
capitar;fio, a da cabe,<a do corpo. A a seguir mostra
casos de decapitar;lio.
107
i,
,
1
I'
,:
I. :l .
" 'I
1
"1'. i
"IY
..
ll!"
2.5. Instrumentos contundentes
n:; /- Os instrumentos contundentes sao todos aqueles que agem pela
'7 (aao de uma superffcie. Podem ser s6lidos, Ifquidos ou gasosos des-
e; de que atuem por pres sao, explosao, torao, distensao, descompressao,
i arrastamento ou outro meio, como, por exemplo, as maos, urn tijolo,
, urn autom6vel, jato de ar, a superffcie de agua de uma piscina etc.
,
Os instrumentos contundentes produzem lesoes contusas, en-
contradas nos acidentes de autom6vel, nos desabamentos, em lutas
corporais e outros.
108
As lesoes contusas, segundo Delton Croce (1998, p. 189 -200),
englobam:
Lesoes contusas
contusoes
escoria90es
equimoses
hematomas
bossas hematicas
bossas linfaticas
no cr3.ni.o
{
cerebral
contusao cerebral
compressao cerebral
sindrome p6s-concussao
na coluna vertebral
no t6rax
feridas contusas no abdome
nas arterias
nos ossos
{
contusao 6ssea
fraturas
nas
entorse
Escoriat,;oes - populannente denorninadas "esfolados" ou "ar-
ranhoes", sao lesoes superficiais, geralmente produzidas por
deslizamento, em que apenas a camada mais externa da pele, a denne,
e atingida.
Equimoses - a intensidade da equimose depende do instrnmento
e do seu grau de violencia. Sao as comumente chamadas "manchas
roxas", que aparecem em razao do rompimento de vasos sangiifneos
superficiais ou profundos.
As equimoses superficiais apresentam uma sucessao de cores
denominada, por Legrand Du Saulle, espectro equimotico, decorren-
te das sucessivas alteraoes cromaticas por que passa a hemoglobina
em sua metabolizaao e absowao pelo organismo.
109
, ,
!;I rn
il
,I
,
!
JI
; I
, I
Ii
(
d
n
I,'
111
l:.
" ,
': i
I
1,1, i .
Iii,
Essa evolu<;;ao e muito importante em' casos de violencia do-
mestica e maus-tratos, principalmente envolvendo crian<;as, pois a'
presen9a de imlmeras lesoes de colora<;ao variada atesta pela conti- .
nuidade das sevfcias, afastando a alega9ao, bastante comum por par- "
te da defesa, de ferimentos produzidos por urn linico acidente.
Uma outra importante caracterfstica medico-legal das eqnimoses 1
e 0 fato de constitufrem rea90es vitais por excelencia, nao sendo en-
contradas no cadaver em lesoes produzidas ap6s a morte.
o quadro a seguir mostra a evolU9ao 40 espectro equimotico:
Espeelro equimotico
Tempo o l o r a ~ i i o Mo!ecula de hemoglobina
12.dia vermelho escuro hemoglobina
Do 2!l ao 32. dias violeta
Do 4' ao 6" dias azulado hemossiderina
Do 7" ao 10" dias verde escuro hematoidina
Do 11" ao 12" dias verde-amarelado hematina
I
Do 12" ao 17" dias amarelado
A partir do 22" dia desaparecem as vestigios da equirnose
Hematomas - sao cole<;oes sangumeas formadas pelo
extravasamento de sangue oriundo de vasos de maior calibre. Nor __ "
malmente se apresentam em relevo na pele, e sua resolu9ao e inais
lenta que a da eqnimose.
Bossas hematicas - sao protuberancias, hematomas locali-
zados em regioes como a cabe9a, onde 0 sangue nao pode difun-
dir-se para os tecidos moles, form!lldo verdadeiras bolsas reple-
tas de sangue.
,
Bossas linfaticas - sirnilares as bossas hematicas, sao cole-
<;oes formadas pelo rompimento'uos vasos linfaticos.
Como,Cio cerebral - e 0 mllls leve dos acometimentos cere-
brais. Normalmente .traduzido por uma descarga do sistema nervo-
so central sem lesao, que se manifesta por perda temporana dos re-
flexos, do controle dos esffncteres e da consciencia.
110
ContusCio cerebral - decorre de urna lesao microsc6pica do
encefalo que pode ou nao estar localizada pr6ximo a area traumatizada.
Aos sintomas da como<;ao cerebral, podem-se acrescentar as convul-
soes e espasmos.
CompressCio cerebral- e provocada por hemorragia da arteria
menfngea media ou veia cortical subaracn6idea e pode, na dependen-
cia do volume hemorragico, vir a deterrninar 0 que se chama de inter-
valo lucido, ou seja, urn perfodo aparentemente assintomatico logo
ap6s 0 trauma. Pode levar a morte por 'compressao cerebral e anoxia
do centro da percep<;ao e da consciencia.
Sfndrome pos-concussao - 0 termo concussao indica como\iao
violenta, abalo, choque. Na verdade, a sfndrome pos-concussCio pode
aparecer sempre que ha urn traurnatismo craniano. Ocorreem Iesoes
de pequena monta, em que nao ha sinais de dano. Caracteriza-se por
algumas altera90es da personalidade, como irrita<;ao, inquietude,
desconsidera<;ao pelas pessoas etc.
Contusoes osseas - sao microfratnras e pequenas hemorragias
decorrentes da a<;ao de instrumentos contundentes sobre os ossos,
sem que haja rnptura do tecido 6sseo.
Fraturas - sao solu90es de continuidade, parciais ou totais, do
tecido 6sseo.
Luxa,ao - e 0 deslocamento de dois ou mais ossos em rela<;ao
a sua articula9ao pelo rompimento da capsula aIticular.
Entorse - e a lesao dos ligamentos pela realiza9ao de urn mo-
vimento que vai alem dos limites fisiol6gicos da articula<;ao.
2.6. Conformafiio das lesoes contusas
Os ferimentos contusos assumem, com freqiiencia, a conforrna-
9ao do instrnmento que os produziu. Outras vezes produzem
ferimentos de natureza variada, de grandes propor90es, sendo diffcil
distinguir 0 agente lesivo. As ilustra90es a seguir dao bern urna ideia
dessa varia9ao.
111
.1
,
,
,
. ";1.
"
,
I
,'I
I;
I
,
I.
2.7. lnstrumentos perfurocortantes
'" r" Os instrumentos perfurocortante$ sao aqueles geralmente dotados
') (;, , d l' l' . A
') '\ e ao menos uma ponta e pe 0 menos uma amma ou gume. gem,
i inicialmente, afastando as fibras e facilitando a penetra<;;ao, para depois
(secciona-las. 0 melhorc.exemplo deSse tipo de instrumento sao as facas.
As lesoes produzidas pelos instrumentos perfurocortantes de-
nominam-se perfuroincisas e tern como caracteristica serem mais
profundas que largas.
112
Quando atingem a regiao abdominal podem levar aeviscerar;iio.
Tarnbem podem dar origem as chamadas lesoes em acordeiio (plaies
en accordeon), mencionadas par Lacassagne (Precis de medecine
legale, 1906, p. 415), em que instrumentos perfurantes ou
perfurocortantes de lfuninas curtas, por compressao da parede abdo-
minal, produzem lesoes bastante profundas.
2.S. lnstrumentos perfurocontundentes
Instrumentos perfurocontundentes sao aqueles que agem inici-
almente por pressao em uma superffcie para em segnida perfurar a
regiao atingida.
( As lesoes produzidas pelos instrumentos perfurocontundentes
,,{' i denominam-se perfurocontusas e sao tfpicas dos projeteis de arma
. de fogo, nao obstante nao sejam eles os unicos agentes capazes de
produzir esse tipo de ferimento.
'"
1 E born lembrar que qualquer instrumento com conforma<;;ao ci-
I como a ponta de urn guarda-chuva, e capaz de produzir
\ferimentos perfurocontusos.
Tendo em vista as peculiaridades e 0 maiar interesse que des-
pertam os ferimentos produzidos por armas de fogo, eles serao es-
tudados mais detalhadamente no capitulo reservado a balfstica fo-
rense.
113
:,;
,
,
, !
:
, ; I
i ,j
: l
i ,!
,.II
Ii i
'I-t,
,! ;
11 :j
. "I
lj' :1
ji: I:
j
J f :
in
,:!f J:
"
I
I
I
11
, . II
/;
, 11 . ,
,
I
I
: i
i i'
2.9. Instrumentos cortocontundentes
( Os instrumentos cortocontundentes sao aqueles que atuam por-
e: pressao exercida sobre uma linha, produzindo lesoes denominadas
'i cortocontusas. Sao exemplos 0 machado, um golpe de facao desferi-
-do com a 11lmina, 0 cutelo etc.
A entre os ferimentos cortocontusos e os incisos faz-
se pela zona de contusiio, que existe ao longo das bordas do primeiro
e inexiste no segundo.
2.10. Instrumentos lacerantes ou dilacerantes
E bastante freqtiente encontrarmos em laudos periciais refe-
rencia a ferimentos lacerantes Oil lacerocontusos. Para Delton
Croce (1998, p. 183) e Genival Franr;a (1998, p. 55) nao M
ferimentos dilacerantes, contusoailacerantes, peifurodilacerantes
ou cortodilacerantes, precisamehte porque nao existem instrumen-
tos dilacerantes. Assim, os feriinentos lacerocontusos, mencio-
nados em laudos periciais, nada mais sao que de conti-
nuidade de grandes produzidas' pela de agente
contundente.
114
'y
Essa especie de ferimento e freqtientemente encontrada em aci-
dentes de transito ou em
o quadro a seguir traz urn resumo dos ferimentos e lesoes cor-
respondentes:
Instrumento Lesao Exemplo
,
perfurante punctoria agulhas, estilete, picador de gelo
cortante incisa navalha e lamina de barbear
maDS, tijolo, bordao
contundente contusa
perfurocortante perfuroincisa facas em geral
Composta perfurocontundente perfurocontusa projetil de arm. de fogo
cortocontundente cortoconlusa macbado, cutela
E born lembrar que os instrumentos, mesmo pertencendo a uma
determinada categoria, podem produzir ferimentos de natureza diversa.
U5
"
, i!
r : '
I! .
1 'I i I' ,
J I
I': ..
I
I !'
,I: .1
11
n
.. ' II.
!I!
I
fTl;
;,;
1'. I
'i
Ii
:'1'.
t
Assim, uma faca, que em principio e urn instrumento
perjitrocortante, pode produzir: uma lesao incisa, se a lfunina desli-
zar sobre a superffcie, cortando-a; uma lesao perjitroincisa, se for
introduzida de ponta na regiao atingida; uma lesao cortocontusa, se a
regiao for golpeada com a lfunina; e finalrnente uma lesao contusa,
se a regiao for golpeada com a lateral, 0 dorso ou 0 cabo da faca.
3. ENERGIAS DE ORDEM FisICA
Energias de ordem ffsica sao aquelas capazes de modificar 0
estado ffsico podendo provocar lesoes corporais ou a morte.
Energias de ordem fisica
temperatura
pressao
eletricidade
radioatividade
luz
sam
3.1. Lesoes produzidas pelo calor
Lesoes produzidas
pelo calor
calor frio
{
difuso - termonoses
calor quente ..
direto - queimaduras
osciI3\=oes de temperatura
mtermac;ao
Tendo em vista que 0 homem e'um animal,homeotbmico, sao
extremamente importantes para 0 organismo os mecanismos de con-
trole do calor, ante a necessidade!1e manter a temperatura corp6rea
dentro de certos limites bastante precisos.
, \
Tanto a perda de. calor para 0 meio ambiente, produzidapelo
calor frio, como 0 ganhode calor, decorrente do calor quente, ou as
oscilar,;oes freqiientes e'abruptas de temperatura podem levar a h;soes
irreversiveis, ocasionando, inclusive, a morte.
116
3.2. Lesoes produzidas pew calor frio
A temperatura corporal minima compativel com a vida, segun-
do Bonnet (1993, p. 534), e de aproximadamente 31 C. A maior
parte dos casos de morte ou lesoes produzidas pelo frio decorre da
exposio;:ao a temperaturas atrnosfericas muito baixas, 0 que nao ocar-
re no Brasil. Pode haver, entretanto, alguns casos envolvendo cama-
ras frigorfficas, geladeiras ou hidrogenio liquido.
Juridicamente, as lesoes envolvendo calor frio sao, em regra,
acidentais, nao se podendo excluir aquelas decorrentes de ao;:oes cri-
minosas como 0 abandono de recem-nascidos ou maus-tratos a ido-
sos.
As lesoes produzidas pelo frio, denominadas geladuras, tern
aspecto piilido e anserino, evoluindo para isquemia e necrose ou gan-
grena. No sistema nervoso 0 frio pode levar 11 sonolencia, alterao;:oes
dos movimentos, insensibilidade de membros e delirio.
As geladuras, segundo Callisen (apud Croce, 1998, p. 253),
admitem tres graus:
gj
,!;l
!'"CI
..
,
1 S! grau - eritema - ocorre em razao da vasoconstric;ao no ni'vel da pele,
com palidez inicial e rubor secundano, produzido pela
estase sangtifuea nas areas atingidas
2fl. gran - Jlictenas - em decorrencia da estase, ocorre transuda<;ao de plas-
ma e formac;ao de bolhas similares aquelas observa-
das nas queimaduras
3
2
grau - necrose au gragrena - 0 sangue coagula-se no interior dos capi-
lares e, por ausencia de irrigac;ao, ocorre
a morte tecidual
Na Primeira Guerra Mundial eram comuns as lesoes produzidas
, pelo frio, particularrnente atingindo os membros inferiores dos sol-
dados e, por isso, denominadas pes de trincheira.
: 3.3. Lesoes produzioos pelo calor quente
i
! 0 calor quente pode atuar sobre 0 corpo humano de forma difusa
!I ou direta. Atua de forma difusa quando a fonte de calor nao incide
I
diretamente sobre a area atingida, mas sirn tomando 0 meio ambiente
incompatfvel com os fenomenos bio16gicos.
117
,
i
I
'I
Ii:
li'I1
J ': i
til'
'j' .. "
![h
r!f: i
-1.":::)
.,)
/i .
1
.1
:j !
'I
I
I
.:!
i
I'
H\
: \I/!
I'
I
I
I
: i'
!i,
iii
i
:t!
I
I
I
'Ii
Ii! .
A forma de calor difuso produz os quadros conhecidos como
termonoses, compreendendo a insolar;ao e a intermar;ao. Alguns au-
tores citam, ainda, cilimbra termica, brotoeja, s{ncope termica e de-
sidratar;ao (Gomes, 2003, p. 254).
o calor direto produz as chamadas queimaduras, que podem ser
simples, quando produzidas apenas pelo calor, ou complexas, quando,
alem do calor existem outros fatores, como nas queimaduras por eletri-
cidade, atrito, agentes quimicos etc.
3.3.1. Termonoses
{
Insola<;lio
Tennonoses
A diferenc;a entre insolar;ao e intermar;ao esUi no fato de que na
primeira existe uma ac;iio direta dos raios solares sobre 0 corpo,
particularmente na regiiio da cabec;a, enquanto na segunda,
intermar;ao, ha 0 superaquecimento do organismo pelo aumento do
calor ambiente, de maneira natural ou artificial, ou, ainda, a obstru-
c;iio dos mecanismos de troca cal6rica do corpo com 0 meio. A
intermar;ao tambem recebe os nomes de exaustao termica e prostra-
r;ao termica.
A cilimbra termica, cilimbra dosfoguistas ou C(limbra dos mi-
neiros, decorre de trabalho fIsico pesado em ambientes de tempera-
tura e umidade elevadas. Em raziio da sudorese intensa, ha uma
descompensac;iio no equiHbrio de s6dio e cloro do organismo levan-
do a fen6menos dolorosos que ll-tingem, principalmente, as
pantnrrilhas.
,
Brotoejas siio erupc;oes temporanas de pele que, no veriio, atin-
gem mais frequentemente as crians;as e adultos obesos. Caracteri-
zam-se por uma hiperemia provocada pela sudorese intensa e conse-
qiiente infiltras;iio do su0
7
na camada c6rnea da epiderrne.
A s{ncope termica corresponde a uma queda abrupta da pressiio
sangiifnea em raziio da vasodilataS;iio superficial da pele e desidrata-
S;iio, levando 11 perda dos sentidos.
118
Denomina-se desidratar;ao 0 quadro clfnico provocado pela perda
de agna do organismo. Pode ocorrer pela via cutfulea, no caso de tempe-
raturas ambientais muito elevadas, em raziio da sudorese intensa, mas
tambem e observada em distlirbios digestivos, renais e respirat6rios.
3.3.2. Queimaduras
Queimaduras siio lesoes corporais produzidas pelo calor agin-
do diretamente sobre 0 organismo em qualquer de suas formas. As
rnais comuns siio aquelas causadas pelo fogo, liquidos em ebulic;iio e
metais incandescentes. .
Quanto 11 gravidade, existem diversas classificas;oes para as quei-
maduras. As mais comuns siio as propostas por Lussena/Hofmann,
que admite quatro graus, e a de Dupuytren, que preve seis graus,
conforme a intensidade da lesiio produzida.
.13
""
&
I
!
l!O!. grau _ queimaduras leves. simples fonnagao de
eritemas (sinal de Christinson)
LussenalHofmarm
2S1. grau - formac;ao de flictenas nag areas erite-
matosas
Dupuytren
3
2
grau - atingem a derme e os tecidos adjacentes.
dando origem a formac;ao de escaras
4.2 grau - carbonizac;ao
12: grau - atinge apenas a camada c6rnea da epiderme pro-
vocando edema superficial
22 grau - atinge as camadas epidennicas e parte superficial
da denne, dando origem a flictenas
32 grau - atinge as camadas epidennicas e parte da derme,
com dos terminais nervosos sensitivos.
Nliohador
42: grau - atinge amplamente a derme destruindo as estrutu-
ras vasculares, tenninais nervosos e gHindulas
52 grau - compromete as aponevroses e musculos, sem atin-
gir a estrutura 6ssea. Nota-se a fonna't8.o de escaras
6
2
grau - carboniza'tao
Com relas;iio 11 extensiio, as queimaduras poderiio ser mais ou
menos severas dependendo do percentnal de comprometimento da
superffcie corp6rea, da importiincia vital da area atingida e do grau
de profundidade. A idade da vftima tamMm deve ser considerada.
119
,
II
i I
III
. "
;
1'1'1 '
,
I:
.',(
1'1
Ii i
i
j ;'
!
i
, i
i(
'Ii
I
J
: .:i,k. ,
ii
!
Urn velho ou uma que apresenteni de 5% a 10% da area;
corp6rea atingida podern ser considerados grandes queimados, en- 0
quanta para urn adulto 0 percentual e de 20% ou rnais.
Manif e Elias Zacharias, para avaliar a extensiio das queimadu- i
ras, propoern a divisiio em pequeno, medio e grande queimado, con- o
siderando, sob 0 ponto de vista clinico, a gravidade, os riscos experi-
mentados pelo paciente, a percentagem do corpo atingida e a faixa
etaria (Dicionario de medicina legal, 1991, pag. 402).
Graus Idade em anos Area atingida
Pequeno queimado 22 e 3-
2
-5 -5%
de5 a 14 -10%
+de 14 -15%
Medio queimado 22e 3
2
-5 de5 a 10%
de 5 a 14 de 10 a 20%
+de 14 de 15 a 30%
Grande queimado 22e 3
2
-5 +10%
de5a 14 +20%
+de 14 +30%
Tambem sao considerados grandes queimados, sejam ve-
lhos ou adultos, aqueles que rem comprometidas aface, maos, pes e genitais.
Ainda quanta 11 extensiio, costuma-se utilizar, para do risco
de vida, aregra tins naves de Pulaski e Tennison (in Benaim, apudBonnet,
1993, p. 258). Divide-se 0 corpo em J'ra95es correspondentes a 9%, penni-
tiudo calcular com boa 0 percentual do corpo atiugido ..
14,5%1
18%
$
:}
9%19% 9%A9%
120
Na 0 corpo reduz em volume e peso, podendo ocor-
rer da arcada dentaria e abertura dos olhos. Os rnernbros
geraJrn
ente
se fiexionam, dando ao cadaver a de boxeadnr.
3.3.3. Etiologia da morte pelas queimaduras
Diversas teorias procuram explicar a etiologia das mottes por
queimaduras (Croce, 1998, p. 248):
Mortes par queiroaduras
{
teOria do choque nervoso
teoria das intoxica<,;oes
teoria das altera<;5es sangtifneas
teoria da toxemia infecciosa
Teoria do choque nervoso - por esta teoria a motte ocorreria
em decorrencia de um cohipso cardiovascular produzido pela dor in-
tensa, principalmente nas primeiras horas ap6s a queimadura.
121
I .
!
'I
.1
I
Iii
, 'I
II'
''.i
"Ij
"j
ii,
yt;
,[:f,
i:,!
,-,.
I ,
'i
I-
I"'
I
'i
'loi
Teoria das intoxicar;oes - a destrui .. ao -acentuada dos tecidos-
produziria alta concentra .. ao de toxinas no sangue levando 0 indivi-
duo amorte.
Teoria das alterar;oes sangiifneas - trata-se de uma-teoria nao
mais aceita modemamente, pela qual as ceJ.ulas do sangue sofreriam
altera .. oes nos locais atingidos e, em raziio disso, produziriam trombos
letais, que dariam causa a embolias e infartos.
Na verdade, 0 que ocorre e uma deficiencia circulat6ria, na de-
pendencia da extensao das lesoes, que pode levar a perda de plasma,
hemoconcentra .. ao e choque.
Teoria da toxemia infecciosa - como as queirnaduras sao fa-
cilmente suscetiveis a infec .. oes, particularmente as produzidas por
germes oportunistas, sao freqiientes infec .. oes severissirnas, que se
instalam particularmente nas 48 horas que sucedem 0 evento e que
podem levar a vitirna ao 6bito.
3.4. Lesoes produzidas pela pressiio
A pressao tambem pode produzir severas altera .. oes no organis- _
mohumano.
Em condi .. oes normais podemos suportar pressao de aproxima-
damente uma atmosfera ou 760 rom da Hg (pressao ao nivel do mar).
Ao ser exposto a sensiveis altera .. oes de pressao, 0 corpo preci-
sa de um tempo para se adaptar, caso contriirio poderao ocorrer le-
soes ou mesmo a morte. Os principais fenomenos resultantes das
altera .. oes de pressao, genericamente denominados baropatias, sao:
Baropatias .
{
diminuit;ao da pressao - ma,l dfls montanhas au dos aviadores
d
- {doenfa dos caixOes au mal dos escafandn"stas
aumento a pressao b
arotraumas
"
o mal das monta!'has ou mal. dos aviadores e produzido pela
rarefa .. ao do ar em gnuides altitudes. A medida que a altura aumenta
o nivel de oxigenio diminui. Para compensar, 0 organismo preCisa
produzir urn maior numero de gl6bulos vermelhos (poliglobulia).
122
Quando nao hit tempo de adapta .. ao suficiente para 0 incremen-
to do nu.mero de hemacias, ocorrem aumento de batirnentos cardia-
cos, nituseas, epistaxe e otorragia, desmaios e, eventualmente, mor-
teo Normalmente, tais sintomas sao observados em altitudes entre
4.600 m e 6.100 m. Acirna disso hit ritpida perda do controle muscu-
lar e morte.
12.7
12.0
0
0
i
0"
E
-3
10.7
Il
10,0
-5
G
;
'.'
o!:.
0
""'<1 ...,
8.7
"'I:> 0
c
E 8.0
',0$-
' .... Co
7,' ....
,7
........
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
TEMPO (minutos)
o grillco mostra 0 tempo de exposi .. ao necessiirio, em baixas
concentra .. oes de oxigenio, para que haja dirninui .. ao da consciencia
ou coma (in Williams & WJ.lkins, apud Arthur C. Guyton, Tratado de
fisiologia medica, 1973, p. 498).
A doenr;a dos caixoes ou mal dos escafandristas ocorre quando
o mergulhador retorna muito rapidamente a superficie.
Para cada 10 m de profundidade hit um acrescirno na pressao
equivalente a aproximadamente uma atmosfera.
Como 0 volume de ar no organismo do mergulhador reduz pela
metade toda vez que a pressao atrnosferica praticamente dobra, e pre-
ciso que ele compense essa diferen"a de alguma maneira. Isso e feito
pelo cilindro de ar, que injeta mais ar nos pulmoes a medida que 0
mergulhador desce,
Essa compensa .. ao traz dois problemas. 0 prirneiro diz respeito
ao pr6prio volume de ar inspirado, que deve ser expirado gradativa-
mente durante a subida para niio provocar a ruptura dos alveolos.
123
. !
I
i
:
1 ' ,
!.! '.
yf .
-II
t,
II
:1.
o segundo, e que demanda maior cuidado, e que 0 nitrogenio
presente no ar atrnosferico e absorvido pelos tecidos em maior quan-
tidade, podendo levar 11 chamada narcose por a altas
pressoes.
Da mesma maneira, e possivel a ocorrencia de tam-
Mm pelo proprio oxigenio e gas carbonico.
Profundidade Pressiio Volume dos gases
Ao Divel do mar 1 atm 1 litro
11m 2atms 1/2litro
33m 4atms 1/4litro
7Sm S atms lISlitro
Barotraumas constituem traumas decorrentes de
abruptas de pressiio. Siio freqiientes em mergnlhadores que retomam
11 superficie sem agnardar 0 tempo necessario de descompressiio, e
manifestam-se por de tfmpano, rompimento de alveo-
los e ate fraturas em dentes mal obturados e que contem ar em seu
interior.
3.5. Lesoes produzidas pela eletricidade
A eletricidade, qualquer que seja sua origem, pode atuar sobre 0
corpo humano produzindo lesoes bastante severas e, com freqiiencia,
amorte.
A energia e16trica, conforme a origem, pode causar as segnintes
lesoes:
Eletricidade
124
natural au c6smica
{
- morte
-les6es corporais
,
'0 { {morte
fi'al eletroplessao - aCldental 1 - 0
artJ. leI -.. . esoes corporrus
au industrial '
eletrocussao -. de urn condenado
;-
A eletricidade natural ou c6srnica (raios), agindo sobre 0 corpo
hurn
ano
, pode causar a morte (julminar;iio) ou lesoes corporais
(julgurar;iio). Extemamente as lesoes tomam aspecto arboriforme,
denorninadas sinal de Lichtemberg, decorrentes de fenomenos
vasomotores, que podem desaparecer com 0 tempo em caso de so-
brevivencia.
Intemamente as lesoes podem traduzir-se por hemorragias, con-
gestiio dos diversos 6rgiios e ate fraturas 6sseas.
A eletricidade arti-
ficial produz, no local de
entrada, uma lesiio que
corn freqiiencia assume a
forma do condutor eletri-
co que originou a descar-
gao E urn ferimento de
bordas elevadas e colo-
amarelo esbran-
e indolor, que re-
cebe a de marca eletrica de Jellinek.
Alem da marca eletrica, que e 0 sinal de entrada da corrente
eletrica no corpo, e possivel encontrar as queimaduras eletricas,
decorrentes do calor produzido pela passagem da corrente pelo
corpo.
Tanto nos casos envolvendo eletricidade natural como artificial
e possivel encontrar ferimentos de saida, indicando 0 local onde a
descarga eletrica deixou 0 corpo. A maioria dessas lesoes encontra-
se nos pes.
Tres teorias procuram explicar a morte em decorrencia da pas-
sagem da corrente eletrica:
Morte pela eletricidade morte cardiaca -
{
morte pulmonar au por asfixia
morte cerebral
125
, I
i!
i I \
, . I
Ii
il
i
"I
ii'
:I "
'i ,
l
il
ri:l
" , '
I'::
!;"
I
I
Na morte pulmonar, 0 6bito decorre da tetanizalio dos muscu_
los respirat6rios e dos fenomenos vasomotores decorrentes, como
edema puImonar e congestlio. A morte puImonar e observada em ten-
soes entre 120 e 1200 volts.
A morte card{aca sobrevem da fibrilalio cardfaca produzida
pela passagem da corrente eletrica. Ocorre nas tensoes menores, ge-
raImente abaixo de 120 volts.
A morte cerebral e observada nas tensoes acirna de 1200 volts e
apresenta como lesoes a hemorragia das meninges e demais estrutu-
ras do cerebro.
3.6. Lesoes produzidas pela radioa#vUlade
As principais fontes de radialio slio, segundo Genival Franr
a
(1998, p. 83), os raios X, 0 radio e a energia atomica, responsaveis
pela emisslio dos raios aIfa (partfculas aIfa), beta (partfculas beta) e
gama (radialio eletromaguetica, de pequeno comprimento de onda,
emitida num processo de transilio nuclear ou de aniquiIalio de par-
tfculas).
Alguns dos efeitos sobre 0 organismo slio:
a) alteraoes geneticas;
b) vanos tipos de cancer;
c) alteraoes da espermatogenese; e
d) alteralio das ceIuIas do sangue, produzindo hemorragias acen-
tuadas em vanos pontos do organismo.
A foto a seguir mostra queimaduras produzidas por explo-
slio atomic a em correspondencia com as partes escuras de urn
quimono usado pela vftima quando da exploslio da bomba ato-
mica de Nagasaki (Images of American Political History,-
htpp:llteachpoI.tcnj.edu/ameCPo!"'::hist/use.htm).
'.
126
3.7. Lesoes produzidas pela luz
A luz, dependendo da intensidade, tambem pode ocasionar
lesoes no corpo humano, particularmente relacionadas com alte-
raoes ou ate mesmo perda da vislio por dana irreversfvel no ner-
vo 6tico.
A luz tern forte influencia sobre 0 psiquismo humano, razlio
pela qual a polfcia lamentaveImente utiIizou, durante longo perfodo,
o chamado terceiro grau, tecnica de interrogat6rio em que 0 interro-
gando era colocado debaixo de um holofote que The ofuscava a vislio.
Ha urn tipo raro de epilepsia, denominada!otossens(vel, que
pode ser desencadeada pela exposilio da pessoa a variaoes intermi-
tentes de luz, como a tela de uma televislio, luz estrobosc6pica ou
mesmo raios de sol passando por foThas de arvores.
Nlio se deve esquecer, tambem, que os raios laser, bastante uti-
lizados em cirurgias, nada mais slio que feixes coerentes de luz de
alta intensidade e podem produzir lesoes.
127
i :.
,
I
!
I
I
I
.'
I
1
I'
r.
!:
I
II
1 :
id
Iii
."
t,
i:
i'
I,
3.8. Lesoes produzidas pelo som
As ondas sonoras, ou ondas de pressao, sao as de '
urn disttirbio meciinico atraves de um meio ehlstico como 0 ar.
As ondas sonoras compreendem:
{
freqtiencia - mlmero de por segundo
Dndas sonaras amplitude - indica a intensidade do som, 0 comprimento da
, onda propagada
Para medir a intensidade de urn som, utiliza-se normahnente 0
decibel, unidade que corresponde ao mais baixo som detectiivel pelo
ouvido hurnano.
E certo que a sensibilidade do ouvido humano varia com a ida-
de e de acordo com particularidades de cada indivfduo. Ha, entretan-
to, um limite miiximo, acima do qual 0 aparelho auditivo pode expe-
rimentar lesoes por vezes irreversiveis.
As lesoes variam nao somente na da intensidade do
som como tambem em razao do tempo de Assim, midos
de intensidade elevada, acima de 160 dB, podem levar it surdez ime-
diata. Outros sons, de menor intensidade, podem causar lesoes se em
prolongadas.
As tabelas a segnir mostram alguns exemplos da sono-
ra e do tempo miiximo de tolerancia.
Ambiente
dB
Limite de audi91io
1
Rufdo da respira91io
10
Restaurante tranqiiilo
50
Conversa em tom Donna!
60
Trafego Donna!
70
Oficina mec3nica
\
90
"
Aviao a helice' na decolagem
120
J ata na decolagem
150
128
------,
Segundo 0 anexo n. 1 da NR-15, os limites de tolerancia para
rufdo continuo ou interrnitente (assim considerados os que nao sejam
de impacto) sao:
Tempo mOximo de exposi91io dB
8 horas 85
7horas 86
6horas 87
5 horas 88
4 horas e 30 lninutos 89
4horas 90
I
3 horas e 30 minutos 91
!
3 horas 92
,
2 horas e 40 minutos 93
2 horas e 15 minutos 94
2horas 95
1 hora e 45 minutos 96
1 hora e 15 minutos 98
1 hora 100
45 minutos 102
35 minutos 104
30minutos 105
25 minutos 106
20minutos 108
15 minutos 110
IOminutos 112
8 minutos 114
7 minutos 115
o anexo n. 2 aponta como limite de tolerancia para ruidos de
impacto 0 valor de 130 dB, assim entendidos aqueles que apresentam
picos de energia acustica de inferior a urn segundo, a inter-
valos superiores a urn segundo.
As atividades ou que expoem os trabalhadores a m-
veis de rnido, continuo ou interrnitente, superiores a 115 dB, ou de
impacto acima de 140 dB, sem adequada,oferecem risco
grave e iminente.
129
J,
'''''iI
!!'II'I!
1.:(., '1'1
;'11'
Ilil
i,l:
1
,
j
I
i
; ! :
i
'I t;
11 :1
II
'\ :
ii" ',i
:-1 i,1
'I' i
',f Ii:
!I
, I
jl'l
, ! I
Ii';
11\1
'i'
;1-
i
I
: :
I;'
I,
I '
, .
,
;I,
[:f' I
iF,
i.-
I,
1
1
:;-
!
i'i
l
4. ENERGIAS DE ORDEM QuiMICA
Energias de ordem qufmica sao aquelas que atuam nos tecidos
vivos atraves de substancias que provocam altera90es dc;l natureza
somatica, fisiologica ou psiquica, podendo levar inclusive a morte.
Compreendem os cdusticos e os venenos.
{
causticos au corrosivos
Energias de ordem qufmica venenos au t6xicos
Os edustieos ou eorrosivos sao substiincias qufmicas que pro-
vocam profunda desorganiza\,ao dos tecidos vivos, quer por desidra-
ta\,ao (eoagulantes), quer por efeito de dissolu\,ao dos minerais
(liqueJacientes ).
Sao exemplos de edustieos a soda, 0 deMo clorfdrieo e 0 deMo
sulfUrieo, ou vitrfolo, de onde deriva a denomina\,ao vitriolagem, que
indica as lesoes produzidas por essas substiincias.
Definir ventino ou t6xieo e uma tarefa bastante diffcil, visto que,
dependendo da dose, ate mesmo os alimentos ou a propria agna po-
dem provocar danos a sande.
Podem-se conceituar venenos ou t6xicos como substancias de
qualquer natureza que, uma vez introduzidas no organismo e por ele
assimiladas e metabolizadas, podem levar a danos da sande fisica ou
psiquica, inclusive a morte.
Brito Filho, comentando a fragilidade do conceito de toxico ou
veneno, indica ser possivel afirmar, "de maneira grosseira, que todas
as substancias da natureza podem atuar como toxicos, porem, nem
todas devem ser consideradas como tal. Assim, nao devemos confun-
dir toxicidade que e a capacidade inerente a uma substancia de pro-
duzir efeito sobre 0 organismo com o"risco ou perigo que uma subs-
tancia oferece. Podemos deduzir que, dependendo da quantidade e
desde que seja absorvida, qualquer substiincia podeni ser considera-
da veneno. Assim;em toxicologiase estudam somente certas drogas
que mesmo em pequenfssimas qua,nudades possam provocar distUr-
bios orgiinicos" (Toxic'ologia humana e geral, 1988, p. 3).
Genival FralU.;a (1998, p. 91) propoe a segninte classificil\,ao
para os venenos ou t6xicos:
Venenos ou
t6xicos
{
lfqUidOS
quanto aD estado ffsico s6lidos
gasosos
quanta a origem
{
animal
vegetal
mineral
sintetico
quanto as
qufmicas
quanta ao usa
inorganicos
orgfulicos
domesticos
agricolas
industriais
medicinais
cosmeticos
{
6xidOS
Sats
bases
hidrocarbonetos
aIcoois
acetonas
aldeidos
acidos orgiinicos
esteres
aminas
aminoacidos
carboidratos
alcal6ides
venenOs propriamente ditos
Brito Filho (1998, p. 3), de forma mais simples, divide os vene-
nos ou toxicos em:
Venenos au t6xicos
gasosos
voIateis
metaJicos
aIcalis e acidos causticos
pesticidas
alcal6ides e ptomainas afms
psicofarmacos e psicotr6picos
outros
131
i I
II
ji
I
!
I
I
ii :'
H'
1:.':(
Os envenenamentos, dependendo do t6xico considerado, podem
ter etiologia acidental, homicida ou suicida, devendo ser considera-
dos todos os elementos a disposic;ao do perito, particularmente no
exame do local, para que possa ter subsidios suficientes para a deter-
minac;ao da etiologia juridica da morte.
Com relac;ao aos venenos de origem alimentar, e preciso dife-
renciar os envenenamentos das intoxica((oes alimentares.
No caso dos envenenamentos de origem alimentar a vitima in-
gere, como se alimentos fossem, substancias quimicas nocivas ao
organismo, experimentando sintomas que variam de acordo com a
qualidade e a quantidade do principio t6xico ingerido. Ii 0 caso, por
exemplo, da mandioca brava ou do peixe baiacu (0 Logocephalus
laevigatus, tao lembrado nas cronicas de Joao Ubaldo Ribeiro).
N as intoxica((oes alimentares 0 alimento em si nao apresenta
qualquer principio nocivo ao organismo, mas esta contaminado com
substancias ou microorganismos prejudiciais a saude. As intoxica-
c;6es alimentares serao melhor analisadas no topico das energias de
ordem bioquimica.
4.1. Monoxido de carbono
Uma das principais fontes de acidental tern sido as into-
xica,,6es pelo mon6xido de carbono.
Gas incolor, inodoro e insipido, e produzido em todas as re-
'. a,,6es de combustao incompleta, sendo encontrado em braseiros
para aquecimento, motores a explosao, combustao de lenha em
lugares sem ventila"ao, combustao incompleta do gas de cozinha
e outros.
Os compostos org1tnicos, como o,carvao vegetal, ou alimentos
ricos em amido, como arroz ou queimados perante pouco
fomecimento de oxigenio, sao excelentes fontes de monoxido de
Combustilo completa C.H" + 0, -+ co, (di6xido de carbono) + H,0 (aguaj
. Combustilo incompleta C.H,. + -+ CO (mon6xido de carbono) + H,0 (agua)
132
Uma vez aspirado, 0 mon6xido de carbono dilui-se no plasma
sangii
ineo
, onde forma, com a hemoglobina, um composto altamente
estavel denominado carboxiemoglobina. Sua afinidade pela
hemoglobina e cerca de 250 vezes maior que a do pr6prio oxigenio.
Dess
a
maneira, e suficiente que no ar atrnosferico, onde 0 oxigenio
repres
enta
aproxirnadamente 20%, haja cercade 0,08% de mon6xido
de carbono para que metade da hemoglobina ativa seja transformada
em carboxiemoglobina.
Oxiemoglobina
O
2
Hb
co
Carboxlemogloblna
Hb co
I ,/ '-LZJ
Hb0
2
+ CO HbCO + 02
, .
, ,
"!
i.
; ,
\ .
,
A morte sobrevem quando cerca de 2/3 da hemoglobina e trans- ' ,:
formada em carboxiemoglobina.:
A sintomatologia e variada e depende do grau de intoxica"ao [ I. I
apresentado. N a intoxica"ao aguda temos cefaleia, vertigens, dimi- " .\ :1
nuic;ao da acuidade visual, diminui"ao da capacidade auditiva, esta- I : II
do de embriaguez, onirismo (alucina,,6es) e inibic;ao muscular. A ini - : i ii
bi"ao muscular atiuge principalmente os membros inferiores, 0 que ,1\ i,i", i
impede a vitima de fugir do local, e os musculos da laringe, dificul- il,\" \1
,I \
133
11,'.,
,I!;'!;I:!
J
I
I
I"
!'
:
,
?:I
I'"
!I-!!
J .. 1
tando que peS'a socorro. Seguem-se perda dos reflexos e coma
fundo e prolongado, podendo estender-se por ate 36 horas.
Nos casos fuIminantes, em que nao ha propriamente sintomas,
suficientes poucas inalaS'oes para produzir a morte, podendo a viti-c
sentir apenas vertigens e fraqueza para logo carr em coma profundo.
Como a liga9ao entre a hemoglobina e 0 mon6xido forma um j
composto extremamente estavel, e possivel a intoxicaS'ao cumulativa,
ou cronica, que ocorre quando a pessoa e submetida, de forma inter-.\
mitente, a uma atmosfera com relevante concentraS'ao de mon6xido'
de carbono por dias seguidos. Essa forma de intoxica9ao e comum
em cozinheiros, churrasqueiros ou fognistas.
A pessoa morta por mon6xido de carbono parece dormir. Sua
pele e rosada, seus labios tern uma tonaIidade tambem rosada e nao '
se instala a cianose comum dos asfixiados. Apresenta rigidez cadave-
rica precoce, sangue fluido e rosado, manchas hipostaticas c1aras,
edema cerebral e putrefa9ao tardia. 0 diagn6stico deve ser confirma-
do com a pesquisa do mon6xido de carbono no sangue, particular-
mente pela microespectroscopia. .
o tratamento das intoxica90es agndas e cronicas e relativa-
mente simples, sendo suficiente que se retire a pessoa da atmosfera
saturada pelo mon6xido de carbono, colocando-a em uma atmosfe-
ra rica em oxigenio. Por vezes sera preciso a transfusao sangiiinea.
A existencia ou nao de
seqiielas lirnita-se a
transtomos de origem "
nervosa ou psiquica e
dependera do tempo
que 0 sistema nervo-
so central ficou priva-
do da oxigena9ao. 0
grafico (elaborado
pela COMGAS) mos-
tra a relaS'ao entre 0
tempo de exposi9ao,
as diferentes concen-
tra90es e os sintomas
observados.
134
0.'
,0
l,& 2,0 2,5 3p
TEMPO DE ASPIRAclo I HOItA$ I
5. ENERGIAS DE ORDEM FlSICO-QuiMIcA
Sob 0 titulo de energias de ordem ffsico-qufmica iremos anaIi-
sar a asjixiologiaforense, ou capitulo da medicina-Iegal que estuda
as asfixias.
Asjixia, do grego asphuksta, indica "falta de pulso" e e utilizado,
pel
o
costume, para indicar a supressao da respira9ao. 0 tenno, no entan-
to, e abrangente e pode englobarvanas causas de morte. Segundo Almeida
Junior, para a medicina legal somente irao interessar as asfixias que apre-
sentem tres caractensticas (Liroesde medicina legal, 1996, p. 186):
{
Primitivas - quanto ao tempo
Asfixias violentas - quanta ao modo
mecanicas - quanta ao meio
Entende-se por asfixia primitiva aquela que e causa primana da
morte e nao conseqiiencia de algum fenomeno orgaruco previo. Wo-
lenta e toda asfixia que nao decorre de processo natural, orgaruco, e
medinica e a produzida por agente mecaruco.
Respeitadas essas caractensticas, interessam Ii. medicina legal
apenas as asfixias por enforcamento, estrangulamento, esganadura,
sufocariio direta ou indireta, afogamento e imersiio em atmosfera de
gases irrespiraveis.
Delton Croce (1998, p. 281) propoe a seguinte c1assifica"ao para
as asfixias:
Asfixias
{
enforcamento
por do pesco'to esganadura
estrangulamento
{
oc1usao dos orificios das vias aereas
dir
. oc1usao das vias aereas
eta ou atlva
_ soterramento
por J fi
'\ con namento
indireta ou passiva - compressao do t6rax
por da vitima em
{
meio liquido - afogamento
ambiente de gases irrespiraveis
135
i
!
I
. :!.
::f
,','
0'
"
i
I
i I .
; Iii
1 '
; '".I
i;
'I 'I:: t ,::1
.' 'I
II I
,I i.lf
<! i. i:
",
.' li'I'
':ql
jl i .1
1'1 ,
liil!I!'
Ji"
As asfixias sao consideradas pelo direito penal como meio
cruel, principalmente pelo tempo necessano a da mor-
te, cerca de tres minutos ou mais, levando a vitima a grande sofri-
mento fisico e mental.
Odon Maranhao (2002, p. 319) indica como caracteristicas ge-
rais das asfixias mecfullcas os seguintes sinais:
Sinais enemos Sinais internos
Cianose da pele Equimoses viscerais (Tardieu)
Equimose das conjuntivas Congesrno das visceras
Escuma da boca Fluidez sangiifuea
Resfriamento cadavenco lento
As manchas de Tardieu, ou equimoses viscerais, sao pequenas
manchas avennelhadas (petequias hemornigicas), encontradas em quase
todos os casos de asfixia mediuica, principaImente nos puImoes, e de-
correm da ruptura dos capilares pela alta pressao arterial provocada
pelo aumento da de gas carbonico no sangue. A ilustra-
a seguir chi uma das chamadas manchas de Tardieu.
Nos pulmoes dos afogadoii' podemos tambem encontrar
equimoses viscerais denominadas manchas de Paltauf.
Para poder sobreviver 0 homemprecisa respirar uma atmosfera
com aproximadamente 21% de oxigenio. abaixo'de
7% podem levar a serias orgamcas e inferiores a 3% cau-
samamorte.
,136
NossoS pulmoes tern as seguintes caracteristicas (Croce, 1998,
p.275-276):
ar circulante - e a quantidade de ar que entra e sai dos pu1-
mo
es
em cada movimento inspirat6rio!expirat6rio, cerca de 500 cc;
ar complementar - cerca de 1500 cc, e a quantidade maxima
de ar que pode entrar nos pu1moes em uma
ar de reserva - cerca de 1500 cc, e a quantidade maxima de
ar que pode ser e1iminada pelos puImoes em uma
ar residual- cerca de 1000 cc, e 0 volume minllno de ar que
remanesce nos pulmoes;
capacidade pulmonar - indica a soma do ar residual e do de
reserva, cerca de 2500 cc;
capacidade total dos pulmoes - cerca de 4500 cc.
o ntimero de movimentos respirat6rios diminui com a idade,
sendo de, aproximadamente, 40 a 45 por minuto em urn recem-nasci-
do e de 16 em urn homem adulto.
Com relac;ao ao ntimero de movimentos respirat6rios temos:
eupntffia - normal;
bradpneia, espaniopneia ou o/igopneia - ntimero de movi-
mentos respirat6rios diminuidos;
tacpneia, polipneia ou hiperpneia - numero aumentado de
movimentos respirat6rios;
dispneia _ dificuldade em respirar, respirac;ao dificil, cujo
grau maximo e a ortopneia;
apneia - parada da
5.1. Morte por enforcamento
o enforcamento podecia ser definido como a do pes-
coC;o por mecamco (corda ou cordel) tracionado pela fon;a-
peso do pr6prio corpo.
GeraImente e meio utilizado por suicidas, podendo eventual-
mente ser acidental, homicida ou, ainda, forma de
137
, '
" ,
i
II
, I
1\
I:
,I
;1 :.: !
!I l':
!I I, ,
:1 f i
!)!i \,.1
J: f
" ill
o suleo no enforcamento tem as seguintes caracterfsticas: nor-
malmente e obliquo, descontinuo, sendo interrompido na altura do
n6, e desigualmente profundo. Nos enforcamentos tlpicos, 0 n6 si-
tua-se na regiiio posterior do pescocro. Nos atfpicos, pode aparecer na
regiao anterior ou lateral do pescocro. Por vezes nem sequer existe 0
n6, bastando que 0 meio constritivo pressione os vasos laterrus do
pescocro com pressiio suficiente para interromper a circulacr
iio
.
rY/
1'--
Posigso tfpica do n6
----.).\ ""----
'\,/
(
Posigso atfpica do n6
A esse respeito Flamfnio Favero '(1975, p. 359) indica que .as
veias jugulares podem ser obliteradas com uma compressiio local de
apenas 2 kg; as arterias car6tidas, com 5 kg; a traqueia fecha-se com
15 kg; e finalmente temos a compressiio das arterias vertebrais com
apenas 25 kg.
Para que OCOrra no enforcamento urn processo verdadeiramente
asfixico e necessaria a obliteracriio cOnlpleta da traqueia. Pode ocor-
rer, entretanto, na dependencia da POS19iio e conformacriio do baracr
o
mecilnico, 0 fechamento da glote pela fratura ou pela projecriio do
osso hi6ide contra a faringe.
'-
Tambem niio e necessmo, como se acredita, que 0 corpo fique
suspenso no ar (suspensaocompleta), sendo possivel a ocorrencia, da
. morte mesmo quando ele permanece apoiado no solo em suspens{io
incompleta.
138
Os griificos e fotografias a seguir demonstram posicroes possi-
veis para a morte por enforcamento e a conformacriio dos suIcos ob-
servados.
, -.
---- Suspens1\O completa
suspens1!o incompleta
Suspens1!o incompleta
139
:1:
I
I
i'
, 'I
I ,:
fUjI
',I iii
L l L ~
140
o sulca, no enforcamento. assume sem-
pre' a caracterlstica do meio medinico que
detelmmou a constri<;ao do pesco<;o, seja
decorrente de suicidio, sejaem caso de mor-
te acidental.
~ '( - A morte no enforcarnento pode ocorrer por tres mecanismos:
\ a) pela asfixia mecanica - a constric;ao do pescoc;o pode obliterar
.,( as vias respirat6rias produzindo a morte;
i b) por inibit;iio - a constric;ao lesa os nervos vagos e os seios
'l" carotideos, deterrninando a parada cardiorrespirat6ria e a conseqiien-
te morte;
141
;,
,
,
i
I
:1 '
I
ill
;'1
I
','1'
I,
~ ;'\
,,',' 'i!
, '
jl ii,
H
u
,
i i
I
I. i
h!
:
,j
,'J 1--
r
i):
ii
"I
L
I
i .
.':
'i!,t.' 'I".i,i l.,
'; '\"11'
i,!'1
c) par ohstrur;:lio da circular;:lio - como vimos, uma pequena
pressao no pode determinar a da para
o cerebro, ocasionando a morte.
5.2. Estrangulamento
i!i )--- 0 estrangulamento pode ser definido como a do pes-
! por meciinico (corda ou cordel) acionado por es-
L tranba ao peso do pr6prio corpo.
. E meio utilizado, geralmente, por homicidas, podendo mnito
raramente ser encontrado em snicfdios (a vftima aplica urn tomiquete
no pr6prio TamMm ja foi utilizado como forma de execu-
(garrote viI, p. ex.).
=--;....
Estrangulamento tfpico - homlcfdio
A
Auto-estrangulameiito - suicfdio
S6 e possfvel com 0 uso Garrote vii - meio de execw;:ao
de um torniquete
142
o suleo no estrangulamento e transversal e horizontal, podendo
eventualmente ser obliquo. E continuo e homogeneo em it
profundidade, uma vez que nao existe 0 n6 tfpico do enforcamento.
Os mecanismos da morte por estrangulamento sao similares
itqueles observados no enforcamento, ou seja, asfixia meciinica pro-
priamente dita, inihir;:lio vagal por compresslio do pescor;:o e inter-
rupr;:lio da circular;:lio sangUinea.
5.3. Esganadura
) /- .
"i6 j A esganadura e a asfixia meciinica
'I pela antero-Iateral do pesco-
I produzida pela direta das maos
\ do agente.
- Nao hi! suleo, que cede seu lugar
para marcas ou estigmas ungueais (mar-
cas de unhas) e diversas
eqnimoses e hematomas. Com certa fre-
qiiencia e notada a fratura do hi6ide (Go-
mes, 2003, p. 349).
A esganadura e essencialmente
homicida, sendo bastante comum no
infanticfdio (foto) e nos crimes sexuais.
A doutrina e unanime em afastar 0 snicfdio por essa forma de asfixia.
A etiologia da morte por esganadura tern side explicada mais
pelos fenomenos de nervosa decorrentes da compressao do
(inihir;:lio vagal ou
choque vagaf) que pela as-
fixia propriamente dita.
A morte por
da nao tern side
relacionada pela literatura
medica, ate porque 0 tem-
po necessario para a sua
. e bastante dila-
tado.
143
il':
::i
'i.l
J
l .. 'I.'. '.
I Dil,
o quadro a seguir mostra as principais diferen"as entre as tres
modalidades de asfixias medinicas por constri"ao do pesco"o.
Enforcamento
produzida por
barac;o mecanico aciona-
do pela peso do
pr6prio corpo.
Suleo obliquo.
Lesoes no pesCOf;O
Estrangulamento
produzida par
bara\=o medlnico aciona-
do por estranha ao
peso do corpo.
Sulca transversal e hori-
zontal.
SulcD descontfuuo. I Sulco continuo.
Esganadura
produzida di-
retamente pelas miios do
agente.
Nao ha suIco, mas marcas
ungueais que se distri-
buem pela regUio fultero-
Suleo desigualmente pro- Suleo de bordas epro-
fonda, senda roais acen- fundidade uniformes.
tuada na regiao oposta
aon6.
o n6 geralmente e eolo- 1 Nao M n6.
cado na regHio posterior
do (tfpico).
5.4. Sufocafliio
NaoMn6.
I
j
',c, ( A sufocafiio e a asflxia medinica decorrente do bloqueio dire-
c.;) to ou indireto das vias respirat6rias, impedindo a penetra"ao do ar.
i Compreende:
'--
{
obstruc;ao dos orificios extemos respirat6rios
direta obstruc;ao das vias respirat6rias
Soterramento \ .
Confinamento .
Sufoea<;ao
indireta - compressao do t6rax
: \
'.
A oclusiio dos orificios extemos respiratorios, de origem nor-
malmente homicida, e praticada ou com as pr6prias maos ou com a
utiliza"ao de agentes moles como travesseiros e almofadas.
144
A obstrufiio das vias respiratorias e com freqiiencia acidental e
ocorre pela aspiraao de corpos estranhos (alimentos, pr6teses, pe-
quenos brinquedos, chicletes etc.).
o soterramento e a asflxia que resulta da obstru"ao das vias
respirat6rias pela coloca"ao da vitima em meio s6lido ou poeirento.
E normalmente acidental, sendo encontrado nos desabamentos e ava-
lanchas.
o confinamento ocorre quando a vitima fica presa em ambien-
tes reduzidos e fechados impossibilitando a troca de ar. A morte ocorre
por esgotamerito do oxigenio e aumento das concentra"oes de gas
carbonico.
A sufocafiio indireta decorre da compressao da cilia toracica,
impedindo os movimentos respirat6rios e levando a morte por asfl-
xia. Esse tipo de sufoca"ao e encontrado em acidentes, em que ha
compressao do t6rax, ou tern etiologia homicida. Foi utilizado, na
Idade Media, como meio de execu"ao, particularmente para as mu-
!heres acusadas de bruxaria, que eram colocadas sob uma tabua, em
cima da qual eram depositadas pedras, ate que sobreviesse a morte.
5.5. Colocafliio da v{tima em meio Uquido - afogamento
I r" .
IF(- 0 afogamento e a modalidade de asfixia meciinica em que ha
D
penetraao de liquido nas vias aereas. Nao ha necessidade de imersao
total do corpo, bastando que as vias aereas estejam submersas, co-
bertas pelo liquido, impedindo a respira"ao .
A maior parte dos afogamentos e acidental, podendo ser encon-
trados homicfdios e suicfdios. Ii comumente utilizado como meio de
tortura e ja serviu como forma de execu"ao.
5.5.1. Afogado azul e afogado branco
Ii tamMm freqiiente a simula"ao de afogamento, quando a vfti-
rna e atirada na agua ja sem vida. Por esse motivo, ha a divisao entre
afogado azul ou real e afogado branco de Parot oufalso afogado,
situa"ao em que 0 corpo e atirado na agua depois de morto.
E claro que no afogado branco nao serao encontrados os sinais
caracterfsticos do afogamento, permitindo ao legista adiferencia"ao.
145
I"Y"'VR
,n
,ii
,,:p
:i'
;i;
::i
I
; i
! I
1.1
-Ii:
.i I"
i U
'II'
il
I
1 'l!,j
f:i'-l
Li!
i
I
!i" .
,
I
da morte por afogamento
A morte por afogamento desenvolve-se em tres fases:
a)fase de - nela a vftima tenta conter a respira<;iiod
maximo possivel;
b) fase de exaustao - na qual, por reflexos bulbares, a
passa a inspirar 0 Ifquido profundamente; e
c )fase de asfixia - que comina com perda da consciencia,
vulsoes e morte. .
Calabuig, baseando-se nos trabalhos de Ponsold, descreve
co fases para 0 afogamento (1998, p. 428): "Quando uma pessoa cai'
na agua, sua primeira rea<;iio e efetuar uma inspira<;iio profunda,
tes de afundar (I). Depois hi[ uma apneia voluntiiria (II) ate que
aumento da concentra<;iio de CO
2
e diminui<;iio da de 02 a obrigam a
uma inspira<;iio for<;ada (m). Logo a inala<;iio de agua continua e po-;
dem aparecer convulsoes (IV). A respira<;iio para e se instala uma ',j:
anoxia cerebral irreversivel que provoca a morte (V)".
II
'"
Ci ..------;0 -'" - : "0 .. :
00" " 0... (> D
146
III
IV
0-:'.,4 -:,110 '0 .......
V
. . [;?
5.5.3. Principais sinais
Odon Maranhao (2002, p. 325) e Delton Croce (1998, p. 293 -
296) e1encam, como principais sinais, intemos e extemos, encontra-
dos nos afogados:
Sinais extemos
Cianose da face
Aparece na maior parte de todas as asfixias.
Pele anserina
Ou "pele de galinha". corresponde ao eri<;amento
dos p@\os - sinal de Bernt.
Macerac;ao da pele A epiderme fica infiltrada de agua. principalmen-
te as maDS e os pes (vide ilustrac;ao).
Plncton nas maos e unhas Pela presen<;a desses materiais no meio liquido
code ocorreu a imersao.
Lesoes de arrasto (Simonin) Pelo embate do corpo no leita do curso de ligua
(vide llustra,iio).
Retrac;ao dos mamilos, Pela baixa temperatura da agua e choque terrnico
testiculos e penis provocado.
Rigidez cadaverica precoce
Procidencia da lingua Que nao e urn sinal exc1usivo dos afogados, mas
aparece com freqtiencia nas asfixias mecruucas.
Cabe,a de negro A cabe,a dog afogados em adiantado estado de
putrefac;ao adquire uma colorac;ao verde-escuro .
/:s;::--
:/--
Maceragao da pele Localizagao das les6es de arrasto
147
I
, ':"Y'
. :'i'li!i
,II'I'J
:1 '( .. :\:
I;: .II,:.!:
l' ,IL-,II
1
11
\
f ',,\ ,\1
, ,
"
i
,I!
-,,'
:'
""'I'
'[Ii '
'1-,
,!
:!
I
I
I
i'
i'
do sangue
Cogumelo de escuma
Manchas de Paltauf
PHincton e agua nas vias res-
pirat6rias e digestivas
Presen'ta de liquido no ou-
vidomedio
Sinais internos
A ingestiio de grande quantidade de acaba
por fluidificar 0 sangue em razlio .do equilibria
osm6tico rompido.
o plasma sangiifueo passa para 0 aIveolo e M
grande de escuma, que preenche a ar-
vore respiratoria e sai pela boca.
Produzidas pela a9aO hemolftica da agua sobre as
hemorragias pleurais (J'ardieu), Nadamais sao que
as manchas de Tardieu acompanhadas de urn halo
hemolftico,
Pela aspira9ao e ingestiio de grande quantidade
de Ifquido.
Delton Croce (1998, p. 295) aponta 0 cogumelo de espuma (ou
escuma) como sinal extemo.
A foto a seguir cia uma id6ia do cogumelo de espuma, tfpico nos
afogados:
,
5.6. Imersiio em atmosfera de 'gases irrespirtiveis
Para poder sobreviver 0 homem precisa respirar uma atmosfera
com aproximadamente 21 % de oxigenio. Toda vez, portanto, que 0
148
organismo e colocado em uma atmosfera incompatfvel com os feno-
menos vitais, pode sobrevir a morte.
A rubric a "imersao em atmosfera de gases irrespirtiveis" nao e
perfeitamente correta, porquanto nem todas as substancias que tor-
naJIl 0 ambiente incompatfvel com os fenomenos respirat6rios sao
gases. Varios sao liquidos nebulizados ou mesmo fumos.
A asfixia por gases ou vapores irritantes ou causticos constitui
um dos capftulos mais complexos da asflxiologia forense, pela diver-
sidade de substfulcias incompatfveis com os fenomenos biol6gicos.
Apenas a titulo de ilustra9ao, a classmca9ao a seguir da uma
n09ao da dimensao do tema.
Asfixia por gases e
vapores irritantes
on causticos
de guerra
domesticos
profissionais
irritantes dos allios cloreto de metila
{
brometo de benzila
ou lacrimogeneos brometo de xilol
irritantes
respirat6rios ou
estemutat6rios
bromoacetofenona
{
cianeto de difenilarsina
cloreto de difenilarsina
tricloreto de f6sforo
causticos do pulmao ou
sufocantes
{
fosfogenio
cloro
arsina
causticos da pele
ou vesicantes {
iPerita ou gas mostarda
lewisita
. {acidO cianidrico
taXlcos 6xido de carbono
{
amoruaco
mon6xido de carbona
vanos produtos de limpeza domestica
{
vapores nitrosos
metano ou gas dos pfultanos
fumos de metais, como antimonio,
alumfnio ou chumbo
eter
anestesicos c1oreto de etila
{
c1orof6rruio
prot6xido de nitrogenio
6xido nitroso - gas hilariante
149
I
:i
:1
:i
,
,
j
F
" 'I
:\'
j -
H ,.
rj: :1
'I I
A classificaao nao e exaustiva, mas apenas exemplificativa,,,
havendo inumeros outros produtos que podem produzir atmosfera;"
incompatfvel com a respiraao.
6. ENERGIAS DE ORDEM BIOQuiMIcA
As energias de ordem bioqufmica sao aquelas que se manifes-j;
tam de modo combinado, havendo fatores orgfuricos e quimicos. Di-!
ferem das de ordem puramente quimica porque, embora haja urn fa-
tor relacionado com 0 excesso ou a falta de alguma substfulcia quimi-
ca, tamMm interferem no estado de saude da vitima, sua higidez or-
gfurica e capacidade de resistencia.
As energias de ordem bioqufmica podem atuar de forma negati-
va, englobando a inani9lio e as doen9as carenciais, ou de forma po-
sitiva, nas intoxica90es alimentares, auto-intoxica90es e inf
ec
9
0
es.
negativas
{
inanic;ao
doenc;as carenciais
Energias de ordem bioqufmica
{
intoxicai$oes aIimentares
positivas
infec\=oes
6.1. Inanifiio
Para sobreviver e ter um desenvolviJ:nento completo e sadio, 0
ser humane precisa de uma alimentaao balanceada, rica em nutrien-
tes fundamentais, quais sejam:
carboidratos;
proteinas;
gorduras;
vitaminas;
sais minerais;
agua.
A ausencia prolongada de urn ou mais desses nutrientes pode
levar a transtomos irreparaveis para a econornia orgfurica. Como re-
- 150
gra, a fome manifesta-se ap6s urn perfodo medio de 24 horas sem
alimentaao, podendo uma pessoa normal resistir ate 7 dias ingerin-
do apenas agua.
Para uma boa nutriao nao basta ingerir grandes quantidades de
alimento, e tamMm preciso selecionar categorias e qualidade.
As Leis de Escudero (apud Croce, 1998, p. 307) dao bern uma
ideia dos prindpios basicos que regem uma boa alimentaao:
a) Lei da Qualidade - 0 regime deve conter alimentos comple-
tos em sua composiao;
b) Lei da Quantidade - a quantidade de alimentos deve ser
suficiente para cobrir as exigencias cal6ricas do organismo e manter
o equih1Jrio do balano nutritivo;
c) Lei da Harmonia - as quantidades dos diversos princfpios
que integram a alimentaao devem guardar entre si uma relaao de
proporao; e
d) Lei daAdequa9lio - a finalidade da alirnentaao esta subor-
dinada a sua adaptaao ao organismo.
A inani9lio e, pois, 0 enfraquecirnento extremo por falta ou re-
duao exagerada de alimentos irnprescindfveis a manutenao dos fe-
nomenos biol6gicos. Pode ter etiologia acidental, voluntaria, econo-
mica ou erirninosa.
A inani9lio acidental e rara, mas pode oeorrer em casos em que
a vftima fica presa por vanos dias em algum lugar onde nao tern
acesso a alimentos e ou agua. A inani9lio voluntdria constitui hoje
forma de protesto tanto de presos como de ativistas politicos e e de-
corrente da chamada greve de fome. A inani9lio economica e obser-
vada em larga escala em paises do terceiro mundo, onde a fome e a
rniseria sao uma constante, e milhares de seres humanos sao literal-
mente abandonados a pr6pria sorte pelos paises mais desenvolvidos.
Trata-se, em verdade, de uma forma ornissiva de assassinate em mas-
sa que certamente a hist6ria ira debitar a todos n6s.
Mais rara, a inani9lio criminosa pode ser observada particular-
mente em situaoes em que crianas, velhos e enfermos sao deixados
sem alimentos e socorro no aguardo de que a natureza siga seu curso
natural (crimes de infantiddio e abandono material).
151
j
i
'"
Quando, alem da falta de alimento, ocorre tambem a
de agua, 0 6bito sobrevem rapidamente. 0 grau maximo de
e denominado caquexia, que nOrmalmente evolui para a morte.
De qualquer modo, urna total de alimentos por
penodo superior a 10 dias pode levar ao 6bito ou a lesoes irreversfveisi
como a slndrome demencial.
6.2. Doenfas carenciais
Ao contrmo da que se instala com a de ali-,'
mentos, considerados de uma maneira geral (especialmente',
carboidratos e proteinas), as chamadas doenr;as carenciais ocorrem
quando ha falta de urn determinado e especffico nutriente, geralmen-
te as vitaminas.
Vitaminas sao enzimas, nao produzidas pelo orgauismo, que
participam de boa parte das qufmicas do orgauismo. Como .
nao sao produzidas pelo orgauismo devem ser ingeridas com a ali-
ainda que em pequenas doses dimas. A carencia de deter-
minada vitamina pode levar a urn quadro denominado hipovitaminose,
e a ausencia total, a avitaminose.
o quadro a seguir indica as principais vitaminas e os efeitos
decorrentes de sua ou
Necessidade
Vitamina
di:iria do
Carencia
adulto
A
3,1 mg
do te-
Xeroftalmia, quera- Retinol
cido"'epitelial, cres-:-
tomalacia, desca-
cim,ento da maior
ma'.tao cutanea. ce-
parte das ceIulas do
gueira noturna e
cprpo e forma\=ao
maior sllscetibili-
dos pigmentos da
dade a infec,oes.
B,
1,3mg
Interfere no meta-
Neurites. compro- Tiamina
bolisrno dos carboi-
metimento do SNC,
dratos -e das pro-
problemas cardfa-
tefnas.
cos.
---------
------------------------
152
--------
r------
-------------------
B,
l,8mg Interfere no trans- Dermatites. vomi-
Riboflavina porte de hidrog&lio tos, diarreia, espas-
para vanos sistemas mos musculares e
oxidativos do corpo. marte.
B,
ISmg TamMm chamada Ulcera,oes de pele,
Niacina de acido nicotinico, pelagra. perturba-
interfere no meta- do SNC, con-
bolismo do hidro- vuls5es.
genio em vanos te-
cidos do corpo.
B, lOmg Atua no metabolis- Retardo no eresci-
Acido mo dos carboidra- mento, esterilidade
pantotenico tos e das gorduras a
mvel celular.
e dermatites.
B, 2,Omg Atua no metabolis- Diminui9ao da ve-
Piridoxina rna dos aminoaci- locidade de eresci-
dos e protefnas. mento, dermatites,
transtomos digesti-
vos, como vomitos
e diarreia, anemia,
convulsoes e sinais
de perturba,iio men-
tal.
B7
SOOmg Tern fun<;ao no cres- Presume-se que sua
Inosltol cimento, perda de falta pode acarretar
pelos e metabolis- infiitra,iio gorduro-
mo da gordura he- sa do figado.
patica.
B, O,4mg Atua no metabolis- Retardo no cresci-
Acido f6lico rna dos aminoaci- mento e instala<;ao
dos. particularmen- de anemias micro-
te da serina, metio- eiticas, nma vez que
nina, purina e ti- atua no sistema de
mina. matura,iio dos g16-
bulos vennelhos.
BI2
2,Omg Tem muita impor- Anemia rnicroci-
Cianocobalamina tancia na produ<;ao tiea.
de gl6buios verme-
!hos.
B Ignorada A<;ao poueo conhe- Desconhecidos os
Acido cida. Sea usa tern sintomas.
sido indicado no
---------------
de
----------
- 153
; 'I'
':
I,: !
I'
I:
I" :
I.
,
I
".
I
I
ii
il .
I
' ,1
:':":1
" '
:!i.. ," i:
: i,
I' I,
,
r
'1,1'1'
C
Acido asc6rbico
D
Anti-raquftica
E
Alfatocoferol .
H
Biotina
K
Anti-hemomigica
Notas:
60mg
400UI
15UI
30llg
70mg
blennas cardfacos
on hepaticos.
Funciona como re-
dutor em processo
de oxidal$ao
Aumenta a absor-
de calcic no tra-
to gastrintestinal e
ajuda a deposi91io
de cRIcio nos ossos
Sob a
de vitamina E, agru-
pam-se varios corn-
postos com a mes-
rna funl$ao. Atua no
funcionamento das
gonadas e por isso
e chamada de anti-
esteri1idade.
Atua' na fIxal$ao de
CO
2
, na fornia<;ao
da pele e no desen-
volvimento de bac-
terias e leveduras a
mvel de trato gas-
ttintestinai.
E tim dos fatores da
coagulat;ao sanglli-
nea, havendo varios
. compostos, sinteti-
cos ou nao, que tern
: a ,mesma atividade
dol vitamina K.
A insirficiencia por
perfodo de 20 a 30
sernanas leva ao es-
corbuto, ou mal dos
marinheiros, que se
caracteriza por he-
morragias das gen-
givas, osteoporose,
fraturas e diarreia.
E mais necessaria
na fase de cresci-
mento e gestat;ao.
Sua falta leva ao
quadro conhecido
conno raquitismo.
A ausencia, rara na
especie humana,
pode levar 11 parali-
sia dos membros in-
fetiores e a esterili-
dade.
Dermatite discreta,
prostral$ao, dores
musculares e diar-
re;as.
Retardamento da
coagulal$ao sangiif-
nea.
XeroftaImia-oftaImiacaracterizada pelo ressecamento de c6mea
e conjuntiva, devido a deficiencia de vitaminaA. 0 quadro rnorbido ini-
154
cia-
se
Com cegueira notuma e secura anormal nos olhos, evoluindo para
queratornahlcia (forma avam.ada de espessamento da cornea).
Escorbuto - doen"a aguda ou cronica, provocada por deficiencia
de vitamina C, caracterizada por hernorragias, altera,,6es das gengivas e
pouca resistencia a infec,.6es. TamMrn chamada de mal dos marinheiros.
Pelagra - doen"a provocada pela deficiencia de vitamina B3
(Niacina), caracterizada por dermatite, distfubios gastrintestinais e
psfquicos.
TamMrn com relaC;:iio ao metabolisrno dos sais minerais pode-
mOS observar doen"as carenciais: .
Necessidade
Mineral
diaria do
adulto
Fun91io
Carencia
Na
3,Og
o s6dio, a potassio e 0
A carencia desses mi-
S6dio
cloro participam da
nerais e de seus COID-
equiHbrio asrn6tico do
pastas e incompativel
K
1,Og
organismo. Sao indis-
coma vida.
Potassio
pensaveis para a manu-
de quase todas as
Cl
3,5 g
e 0
Cloro
equih'brio dos liquidos
intra e extracelular.
Ca
0,8 g
o calcio encantra-se
Nfveis baixos de crucio
C3.\cio
principaimente deposita-
podem levar a tetania,
-----
do sob a forma de fosfato
alteral$oes esqueteticas
de cRIcio nos ossos. Re-
e distfubios de coagu-
laciona-se com 0 meca-
laC;ao sangiifnea.
nismo de transmissao de
impulsos nervosos e co-
agula91io sangtifnea.
PO,
1,5 g
o fosforo participa da
A diminuiC;ao do mvel
Fosfato
maior parte das reac;oes
de fasfatos nao causa
qufmicas a mvel ceiular,
sintomas imediatos. A
relacionando-se com a
carencia prolong ada,
forma,iio dePJP eADP .
porern, podera levar a
Alem disso, esti pres en-
desmineralizaC;ao 6ssea
te nos ossos sob a forma
acentuada.
de fosfato de crucio.
Fe
l2,Omg
A fun91io do ferro rela-
A carencia de ferro
Ferro
ciona-se principalmente
pode levar a anemias
com a formaC;ao cIa mo-
hipocromicas .
------------
-----------
-----------
155
.. ,ml I
!'i;i!
II ii,
\1:,1
,.,:1)
.': ;.\
,\!:i
::ii
-J1;
-----------------------
-----------
lecula de hemoglobina,
6.3. Intoxicat;oes alimentares
participando tambem da VilllO
S
que nos erwenenamentos de origem alimentar a vftima
de alguIllll!'
enzimas oxidativas. E
ing
ere
, como se alimentos fossem, substiincias qufmicas nocivas ao
fundamental, pOrlanto,
organi
smo
, enquanto nas intoxicat,;oes alimentares 0 alimento em si
<,
para 0 transporte de oxi-
"
genio as ceJu!as e para a
nao apresenta qualquer principio nocivo ao organismo, mas esta con-
manutent;;ao dos sistemas
taminado com substiincias ou ruicroorganismos prejudiciais 11 sande.
oxidativos intracelulares. Ai; toxinfect,;oes mais comuns sao a salmonelose, 0 botulismo e
I 250 Jig o iodo e indispensavel Hipotiroidismo, b6cio
estqfilococose, que tern como sintomatologia comum v6ruitos incoer-
Iodo para a fOrmat;;30 de tiro- col6ide endemico.
i'
xina. hormonio regula-
. ,-,
cfveis, diarreia, podendo chegar a sintomas neuro16gicos e 11 morte .
dor do metabolismo ce-
A etiologia mais comum de intoxicat,;lio alimentar e a acidental,
lular. quando a vftima ingere alimentos contaruinados sem perceber que ja
Mg 300mg Tern basicamente as Irritabilidade, vaso di-
nao se encontram pr6prios para 0 consumo. Tambem comum e a for-
Magnesio rnesmas funt;;oes do po- lata98.o periferica e
rna culposa, em razao da ganfulcia de certos comerciantes que insis-
tassio e funciona como arritmias cardfacas.
catalisador de varias
tern em manter 11 venda produtos que ja deveriam ter sido recolhidos.
reat;;oes enzimaticas.
A forma dolosa e praticamente inexistente.
i
Co
I
Ignorada o cobalto e integrante A carencia de cobalto
fufl
Cobalto da vitamina B I e como pode levar a uma ane-
6.4. Auto-intoxicat;oes
tal imprescindivel ao mia microdtica.
! '
I I
crescimento dos gl6bu-
As auto-intoxicat,;oes ou intoxicat,;oes end6genas decorrem de
los vermelhos.
anormalidades no funcionamento de algnns 6rgaos, particularmente
! "
Cn 2mg Participa do metabolis-
em reia"ao 11 excre"ao de catab6litos.
Anemia microcftica
Cobre mo celular e interfere na nonnocromica.
Como e sabido, varias das rea,,6es qufmicas do organismo pro-
absort;;ao do ferro a ni-
"
duzem substfulcias nocivas 11 econoruia orgfulica, substiincias essas
vel do !rato intestinal. .-.: 11
Mn
I
2,5a5mg I
Relaciona-se com 0 de- . A carencia pode levar
que devem ser excretadas rapida e eficientemente.
Manganes
I
A falha nesses sistemas de excre"ao, ou mesmo 0 aumento exa-
senvolvimento sexual e a uma atrofia testicular.
participa do metabolis- Com relac;ao a ureia.
gerado na produ"ao de catab6litos, pode gerar quadros t6xicos e ate
mo da ureia. havera acumulo dos
o exito letal. E 0 organismo lutando contra 0 pr6prio organismo.
compostos de amonia
no organismo e intoxi-
I
Vma das intoxica,,6es end6genas mais comuns e pela ureia
,?at;;ao.
(uremia), em casos de insuficiencia renal.
Zn l5mg o zinco e parte integran- A carencia de zinco
:1
Zinco te da anidrase carbo- pode levar a urna rna
6.5. Infecfoes
nica. uma enzima res- oxigena<;ao a mvel ce-
ponsavel'pela combina- lular e ate a morte. Atua
:,)
Infec,,6es sao perturba,,6es causadas por organismos pato-
gao da agna com 0 di6- tambem no metaboIis- genicos, bacterias, fungos ou VlruS, podendo produzir desde peque-
!
. xido de carbona e sua mo da insulina e junto
I
liberagao n\pida para os a algumas enzirnas di-
nas altera,,6es no corpo ate 0 6bito.
I
alveolos pulmonares na gestivas.
I
I
expira<;ao.
A maior parte das infec,,6es e de origem acidental. A forma
dolosa existe e constitui 0 crime descrito nos arts. 130 (perigo de
156
---- -- ------
157
I
i
J
!
contagio venereo) ou 131 (perigo de contagio de moJestia grave), "1
ambos do C6digo Penal. .
7. ENERGIAS DE ORDEMBIODIN.AMICA _ CHOQUE
Sob a designac;:ao generica de choque, termo derivado do ingl
es
shock, englobamos todos os estados cIin.icos em que 0 organismo nao
consegue sustentar 0 equilibrio circulat6rio desejado para a manuten-
c;:ao dos fenomenos biol6gicos, quer em decorrencia de descarga insu-
ficiente pelo corac;:ao, quer por diminuic;:ao do volume circulat6rio.
o choque e uma sfndrome, um con junto de sintomas comuns
decorrentes de causas diversas, mas relacionados com a queda acen-
tuada e rapida da pressao arterial e venosa. 0 pulso aumenta em fre-
qiiencia, mas diminui em amplitude (taquisfigmia e pulso filijorme),
a pele e as mucosas apresentam-se cian6ticas, a respirac;:ao dirninui, 0
debito urinano diminui,e, se nao houver pronta reversao do quadro,
havera perda de consciencia (coma), acidose metab6lica e morte.
Sindrome do choque
diminuis;:ao da pressao arterial e venosa
taquisfigmia e pulso filiforme
respiras;:ao superficial
depressao do SNC - coma
acidose metab6lica
morte
As causas e 0 momento de instalac;:ao do choque podem variar,
mas os sintomas serao basicamente os mesmos.
Choque
158
quanto ao momento em que se instaIa
{
Primano
secundano
quanto a origem
cardiogenico
obstrutivo '_
hipovoleopco plasmogenico
{
hemorragico
periferico
bidropenico
{
septicemico ou infeccioso
anafildtico
neurogenico
Quanto ao momenta em que se instala, 0 choque pode ser pri-
mario ou secunddrio. Sera primdrio se a sfndrome se manifestar irne-
diatamente ap6s a ocorrencia da causa e secundario se, entre 0 fator
deternrinante do choque e 0 infcio dos sintomas caracterizadores da
sfndrome, existir um lapso de tempo significativo.
Quanto it origem 0 choque pode ser cardiogenico, obstrutivo,
hipovolemico ou perijerico. 0 choque cardiogenico ocorre normal-
mente no infarto do miocardio e e caracterizado por uma rapida di-
minuic;:ao na capacidade de bombeamento do corac;:ao.
o choque obstrutivo advem de urn bloqueio da circulac;:ao de
retorno como, por exemplo, nas tromboses, obstruc;:ao das veias ca-
vas, alguns tumores, embolias e aneurismas.
o choque hipovolemico e resultante da reduc;:ao abrupta do vo-
lume sangiifneo total, quer seja por hemorragia (perda de sangue -
choque hemorragico), perda de plasma (choque plasmogenico - nas
supura'iies, v.g., em queirnaduras graves) ou de Jiquido extracelular
(choque hidropenico - nas desidratac;:oes).
o choque peri jerico compreende vanas modalidades, de acor-
do com a etiologia. Sera septicemico se resultar de processos infec-
ciosos agudos causados por germes que, liberando endotoxinas, le-
yam a urn desequihorio da circulac;:ao periferica.
o choque (perijerico) anafilatico e observado em pessoas por-
tadoras de hipersensibilidade alergica a determinadas substancias, com
liberac;:ao de histamina e violenta vasodilatac;:ao periferica.
o choque (perijerico) neurogenico pode ser desencadeado por
fortes disrurbios emocionais, dor intensa, esforc;:o excessivo ou em
decorrencia de ac;:ao reflexa, v.g., nos traumatismos de coluna ou du-
rante anestesias raquidianas.
Alguns autores mencionam, ainda, 0 choque por embolismo do
Uquido amni6tico (Croce, 1998, p. 312). Trata-se de uma modaIida-
de de choque obstrutivo que ocorre particularmente emrecem-nasci-
dos por aspirac;:ao de Jiquido aruni6tico ou meconio, levando a urn
quadro de cor pulmonale agudo.
Nota: cor pulmonale e a hipertrofia e posterior fallia do ventriculo direito em
decorrencia de uma f e c ~ a o pulmonar. Inicialmente instala-se a hipertrofia e de-
159
,
, ;!
i'I'
::.:,
,;I!
'i
.1q
i
I
,':
I j
, I
',l
'j
~ ,r
i
; i
I,i
i.:
"I
:1,
I"
"
i,
i
I(
I'
I!
! .
iH .
<I-
i:1
! l
j"1 !'
t,l " i,
rii'",
I, 1\ il
I I,
!,-," Ii, iii
, i'l!I,
!!_JUI"
pois a incapacidade de eficiente resposta cardfaca em face de exercicios ou esti-
mulos. Os sintomas dependem do grau de comprometimento do musculo cardia-
co, mas inc1uem dispneia. tasse. fadiga e grande de puImonar.
8. ENERGIAS DE ORDEM MISTA
Dentro do conceito de energias de ordem mista podemos agru_
par todas aquelas situagoes em que para a produgao da lesao concor-
rem causas variadas. Genival Fran,a (1998, p. 114) apresenta a se-
guinte classificagao para as energias de ordem mista:
Energias de ordem mista
8.1. Fadiga
fadiga
{
aguda
cronica
parasitl\rias
sevicias sfudrome do ancHio maltratado
{
Slndrome da maltratada
tortura
Porfadiga deve-se entender 0 conjunto de sintomas experimen-
tados pelo organismo submetido a urn regime de trabalho ou esforgo
que vai alem de sua capacidade normal de resistencia.
Pode ser aguda ou cronica. Nafadiga aguda a vitima realiza
atividades ffsicas em excesso, de forina mais,ou menos continua, ate
exceder os limites orgfuricos. Urn born exemplo e 0 do soldado grego
que, no ano de 490 a.C., correu do campo de batalha das planfcies de
Maratona ate a cidade de Atenas (uma distiincia superior a 35 Jan),
para anunciar a vitoria dos gregos sobre os invasores persas, morren-
do logo apos dar a auspiciosa noticia.
Na fadiga cronica nao hit propriamente excesso de atividade
em cada segao; 0 que ocorre e que a vitima nao perrnite ao seu corpo
o tempo de repouso e recuperag1[o necessanos, minando a resistencia
orgfurica ate a perturbagao da homeostase (estabilidade do meio in-
terno do organismo). Afadiga cj'onica e tambem chamada de stress,
estresse ou estafa. " '
Os sintomas sao variados e incluem desde taquicardia e palpita-
goes ate depressao, ins6nia, impotencia e diminuigao da capacidade
mental.
160
A etiologiajuridica e geralmente de ordem acidental ou culposa.
Interessa mais ao ramo da infortunistica.
8.2. Doent;as parasittirias
Sob 0 topico de doengas parasitanas devemos distingnir inicial-
mente ectoparasitas e endoparasitas.
Os ectoparasitas sao aqueles que vivem na superficie do corpo
do hospedeiro, incluindo as aberturas e cavidades naturais facilmen-
te acessiveis, como fossas nasais, ouvidos, boca, nus, olhos etc. Como
exemplo de ectoparasitoses poderiamos citar apedicu/ose, a escabiose
(sarna), as mifases (vulgarmente conhecidas por bicheiras), assim
como infestagoes por carrapatos, piolhos e pulgas. As ilustragoes
mostram alguns dos ectoparasitos humanos mais comuns.
Sarcoptes scabiei
Pulex irritans Pediculus humanus
Nao raro, as ectoparasitoses, dependendo do gtaU de infestagao,
podem levar 0 hospedeiro ao esttesse, primeiro em razao da forga
espoliativa dos parasitas e depois pelo desconforto que geralmente
lhecausam.
Os endoparasitas sao aqueles que habitam orgaos ou sistemas
de orgaos, 0 interior dos tecidos ou cavidades situadas em pIanos
profundos.
Os endoparasitas dividem-se basicamente em dois grandes gru-
pos, os helmintos e os protozoarios, e sao responsitveis por afecgoes
como doenga de Chagas, malana, leishmaniose, tripanossomiase,
esquistossomose, infestagoes por tenia, cisticercose e outras.
161
: i
!I-!
,
I
E comum que ectoparasitas funcionem como reservat6rios na-
turais ou vetores de endoparasitas. Como exemp1o, a pulga do rato
(Xenopsylla cheopis), transmissora da peste (Pasteurella pestis), ou
o mosquito (Aedes aegypti), transmissor da filariose (Wuchereria
bancrofti).
Os sintomas sao muito variados e dependem de cada tipo de
parasitose considerada. Embora constituam urn achado comurn de
necropsia, as infestac;:oes parasitarias raramente apresentam interesse
jurfdico, podendo ser objeto de analise no campo das doenc;:as profis-
sionais.
8.3. Sevicias
As sevicias sao analisadas dentro do capitulo destinado as ener-
gias de ordemmista em razao de que ne1as, quase sempre, estao pre-
sentes vlirias modalidades de agressao.
{
sfudrome da maltratada
Sevicias sindrome do maltratado
tortura
8.3.1. Sindrome da crianc;:a maitratad,a
Termo criado em 1971, a sfndrome da crimir;a maltratada, tani-
bern denominada sfndrome da crianr;a espancada, sfndrome de
Silverman, sfndrome de Caffey-Kempe ou battered child syndrome,
compreende urn con junto de 1esoes extemas e intemas apresentado
por crianc;:as de tenra idade submetidas a espancamentos, prisao, quei-
maduras com pontas de cigarros e toda'a sorte de sevicias.
As 1esoes sao, em regra, infligidas pe10s pr6prios pais, naturais
ou nao, e a sindrome, para ser diagnosticada, apresenta as seguintes
caracterfsticas :
'.
atinge preferencialmente criaiic;:as na primeira infancia, de ate
4 anos de idade;
. as 1esoes sao mn1tip1as e variadas, podendo comprometer va-
rias regioes do corpo;
162
observa-se a coexistencia de 1esoes produzidas em epocas di-
versas, indicando a continuidade temporal das sevicias (importancia
do espectro equim6tico para diagn6stico);
as principais formas sao: 0 abuso nos meios de correc;:ao e
disciplina, traduzido por castigos corporais, privac;:ao de alimentos, e
o abuso emocional. Tambem sao freqtientes 1esoes decorrentes do
abandono e do abuso sexual;
os principais fatores de risco sao: pobreza, ignorilncia, situa.,oes
de stress, presenc;:a de deficiencias ffsicas ou mentais na crian.,a, depen-
dencia qufmica, baixa idade dos genitores e altera.,oes psico16gicas.
Embora a etio10gia seja sempre criminosa, e conveniente sub-
meter 0 agressor a avalia.,ao psiquiatrica, pois pode estar presente
alterac;:ao psicoemocional grave.
Devem-se exc1uir outras sindromes, que tambem podem 1evar a
lesoes na crian.,a, como a sfndrome de Munchausen por substituir;iio,
a szndrome do bebe sacudido (shaken baby syndrome) e a sfndrome
da morte subita infanti! (sudden infant death syndrome).
A sfndrome de Munchausen e urna altera.,ao psico16gica em que
a pessoa procura simular conscientemente doen.,as e relatar sinto-
mas, que sabe inexistentes, com 0 nnico objetivo de chamar a aten-
.,ao. Ha, entretanto, uma variante dessa sindrome, denominada
Munchausen por substituir;iio, em que "uma crian.,a e utilizada como
paciente passivo, geralmente por urn dos genitores. 0 genitor falsifi-
ca a hist6ria medica da crian.,a e pode causar-lhe danos com medica-
mentos ou adicionando sangue ou contaminantes bacterianos em
amostras de urina, orientando todo 0 seu esfor.,o para simular uma
doen.,a. A motiva.,ao subjacente a esse comportamento tao estranho
parece ser uma necessidade pato16gica de aten.,ao e de manter uma
rela.,ao intensa com a crian .. a" (apud Manual Merck- Distfubios da
sande mental - Capitulo 82 - Distnrbios somatoformes -
www.rnsd-brazil.comlrnsd43/m_manua1!mm_sec7_82.htm).
A szndrome do bebe sacudido (shaken baby syndrome) descre-
ve uma serle de sinais e sintomas que decorrem do ato de sacudir
vigorosamente a crian.,a, segurando-a pelas extremidades ou pelos
ombros, causando, com isso, danos ao cerebro pelas for .. as de acele-
ra.,ao. Os fatores de risco sao os mesmos observados na sfndrome da
163
VI'Illl
',!ot
tif.;ii'H
, "I.' '1"
1'1\)
,:\',i 1
::,;
! ;,1
: .: i:
"
il!i
1:-; ,
: ii'
I" ,
ii!:
:'1.
, i '
',"!
j::I,'
I
I
"j (
I
,i
:i
i'
crianr;:a maltratada, acrescidos do choro renitente, que parece ser UIU .:
dos principais fatores desencadeantes da agressao.
A s(ndrome da morte sub ita infanti! (sudden infant death
syndrome), tambem conhecida como "morte do berro", ocorre nos
primeiros 4 meses de vida e e caracterizada pela morte abrupta e
aparentemente sem causa. A etiologia ainda e discutida, existindo
varias teorias que procuram explicar as ocorrencias, como anomalias
do sistema nervoso e imunologico e malforrna90es E cla-
ro que, nesse caso,nao ha que falar em maus-tratos.
8.3.2. Sindrome do anciiio maltratado
Assim como na s(ndrome da crianr;:a maltratada, a s(ndrome do
anciiio maltratado constitui mais uma faceta do aumento da violen-
cia familiar, sendo tambem observada com em hospitais e
asilos destinados ao abrigo de valetudinarios.
Pela sua propria condi9ao ffsica, 0 idoso toma-se presa facil de
toda sorte de sevfcias por parte de seus agressores. Os maus-tratos
incluem desde 0 abandono ate agressoes fisicas e psfqnicas, como
admoesta90es verbais, amea9as e desprezo.
o diagnostico deve ser cuidadoso, em razao da particular situa-
9
a
o do idoso, nao sendo raro dizer-se abandonado e maltratado quan-
do na verdade esta recebendo toda a Men9ao de seus familiares.
Roberto Lyra explica que "a velhice avan9ada comporta, quase
que inevitavelmente, profundas altera90es somaticas que repercutem
no estado psiquico. 0 velho aforismo '0 homem tern a idade de sUas
arterias' e uma verdade que raramente admite exce90es. Existe urn
momento em que 0 individuo deixa de ser, menta1mente, 0 que sem-
pre foi, em que modifica 0 proprio tOIP afetivo, em que as faculdades
psiquicas enfraquecem e ele se toma, desarrazoadamente, desconfia-
do e sugestionavel, em que teme, sobretudo, a solidao, em que recor-
re as puerilidades e as pequenas mentiras, em que a memoria de fixa-
9ao empalidece, vendo furtos onde pao existe senao a sua amnesia,
descuido e ingratidao ,onde so ha as suas insuportaveis e egoisticas
exigencias. Em deterrninada epoca da vida cada qual deixa de sec sao
da mente, sem, todavia, tomar-se psiquicamente urn doente" (Co-
menttirios ao C6digo Penal, 1955, p. 353).
164
Dessa forma, 0 perito devera procurar observar sinais de efetivo
abandono e de maus-tratos recorrentes para poder fmnar, com segu-
ran9a, seu diagnostico.
8.3.3. Tortura
o conceito modemo de tortura, para a maior parte dos paises,
indica urn envolvimento de natureza publica. Procura-se entender a
tortura como algoque, sistematicamente, e aplicado ou conduzido
por uma autoridade publica, e as diversas legisla90es de natureza penal
buscam traduzir essa peculiaridade.
A preocupa<;ao explica-se pelo absurdo numero de relatos de
tortura em praticamente todo 0 mundo, ocorrido mesmo atualmente.
Entretanto, ainda que tal fato espelhe preocupa9ao legitima com 0
aurnento da violencia estatal, 0 conceito medico-legal nao deve res-
tringir-se ao ambito da tortura patrocinada pelos poderes publicos.
No Brasil, a Lei n. 9.455, de 7 de abril de 1997, definiu em seu
art. I" 0 crime de tortura, apresentando conceito umpouco mais am-
plo, que fugiu da limita<;ao do horizonte estatal. Apesar de mais
abrangente, a reda<;ao tern side criticada severamente por constituir
tipo penal por demais aberto, urna vez que nao indicou de maneira
clara 0 tipo de sofrimento fisico ou mental constitutivo da tortura.
Lei n. 9.455197
Art. 1 Jl Constitui crime de tortura:
I - constranger alguem com emprego de violencia ou grave ameac;a, causando-
lhe sofrimento ffsico Oll mental:
a) com 0 fim de obter infonnal$ao. ou confissao da vitima ou de ter-
ceira pessoa;
b) para provocar ou amissae de natureza criminosa;
c) em razao de discrimina'tao racial ou religiosa;
II - submeter alguem, sob sua guarda, pader Oll autoridade, com emprego de
violencia ou grave a intenso sofrimento ffsico ou mental, como forma de
aplicar castigo pessoal ou medida de carater preventivo.
Pena - rec1usao, de dois a oito anos.
12 Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de
a sofrimento fisico ou mental. por intermedio da pratica de ate nao
previsto em lei ou nao resultante de medida legal.
22 Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha 0 dever de evitci-
las ou apuni-las. incorre na pena de de urn a quatro anos.
165
I
,.1;
l'ii
I"j:
;
" ,'1
! "
i:'
A capacidade de parte da humanidade em infligir dor e
mento a outros semelhantes e quase tao antiga como sua propria
toria, e a tortura e aplicada nao apenas em nome da lei ou do Estado,;
como tambem por motivos etnicos, religiosos, sociais ou
mente por puro prazer pessoal.
A perfcia medica e diffcil e os achados muito variados, pois <
dependem do processo a que foi submetida a vftima.'
Para os que sobrevivem, as seqiielas ffsicas e psfquicas sao
iuimagimiveis e vaa desde debilidades funcionais ate a perda com-
pleta de fun9ao ou sentido.
Em myel psicologico temos a s(ndrome p6s-tortura, caracteri_
zada por imagens recorrentes dos suplfcios aplicados, desorienta9ao,
irritabilidade, isolamento e, em muitos casos, tendencias suicidas.
A etiologia jurfdica da tortura e, na esmagadora maioria das
vezes, criminosa, nao se podendo descartar eventuais cas os de
autoflagela9
ao
. A ilustra9ao mostra uma especie de instrumento de
tortnra vulgarmente conhecido como pau-de-arara ou cambau.
l.CONCEITO
CAPiTULO 5
BALiSTICA FORENSE
Balfstica forense e a disciplina que estuda basicamente as armas
de fogo, as muni90es, os fenomenos e os efeitos dos disparos dessas
armas, a fun de esc1arecer questOes de interesse judicial.
Eraldo Rabello conceitua a disciplina como "a parte do conhe-
cimento criminalfstico e medico-legal que tern por objeto especial 0
estndo de fogo, da muni9ao e dos fenomenos e efeitos
pr6prios dos tiros destas armas, no que tiverem de uti! ao esc1areci-
mento e it prova de questOes de fato, no interesse da justi9a tanto
penal como civil" (Ba/(stica jorense, 1995, p. 19).
o estudo da balfstica e de maior interesse para a criminalfstica.
Entretanto, alguns conceitos serao necessarios para que se possam
estndar as 1esoes decorrentes dos disparos das armas de fogo.
2. AS ARMAS DE FOGO
Armas de fogo sao engenhos mecfuricos destinados a lan9ar pro-
jeteis no espa90 pela a9ao da for9a expansiva dos gases oriundos da
combustao da p6lvora.
A principal caracterfstica das armas de fogo e a de aproveitar a
grande quantidade de gases oriundos da rea9ao qufmica de combus-
tao do propelente (p6Ivora), para obten9ao de energia mecfurica, con-
sistente no arremesso do projetil.
3. CLASSIFICA(;AO DAS ARMAS DE FOGO
As armas de fogo podem ser c1assificadas segundo criterios va-
riados, na dependencia da caracterfstica analisada. 0 quadro a seguir,
iV
Ii:
, "
I
,
166 167 " ....1 "
Ii" I
I, I
.1,,)
I' .
i " ' . . Iii"" ,
F .
-r!
Ii
! I
I
. ,
1 !
i',
I,
I'
i;
i
,
I
,
F' ,
:1
I
i;'
,
J:
,.
!-
proposto por Eraldo Rabello (1995, p. 40), da urna no<;;ao dos princi-
pais grupamentos considerados:
Annas de fogo
quanto a abna
do cano
lisa
raiada
{
quanto ao nlimero
de rruas lffipares
, {dextrogiraS
quanto ao sentido '.. .
slDlstrOgrras
{
de antecarga
quanto ao sistema de carregamento de retrocarga
quanto aD
sistema de
{
{
extrinseca
percussao {central
intrinseca radial
eI6triea
{
direta
indireta
{
de tiro unitano
quanto aD funcionamento { nao automatica
de repetic;ao semi-automatica
automatica
{
fuas
quanto a mobilidade semiport.teis
portateis "
3.1. Clossificafiio das annas quanto it alma do cano
Para 0 escopo deste trabalho ira interessar, particularmente, a
classifica<;;ao quanto it alma do cano.
As armas de porte individual, ,.tambem conhecidas por armas
leves, dividem-se em dois grandes grupos: as com canas de alma lisa
(parte intema do cano da arma) e as 'com canas de alma raiada.
Annas de porte individual
"
{
de abna lisa
de abna
As raias sao su1cos ou escava<;;5es produzidas na parte intema
do cano (alma) por meio de fresas apropriadas, dando origem a urn
168
determin
ado
numero de ressaltos e cavados, dispostos de forma heli-
coidal, cuja finalidade principal e imprimir ao projetil urn movimen-
to de rota9ilo ao redor de seu proprio eixo centro-longitudinal. A ilus-
tra9
ao
mostra 0 raiamento no cano da arma e as correspondentes
marcas deixadas no projetil.
DD
Raias dextrogiras
Raias sinistrogiras
As armas com cano de alma raiada .sao aquelas que utilizam
cartuchos de muni9ao com projeteis unitarios e podem ser curtas (re-
volveres, garruchas, pistolas etc.) ou longas (carabinas, fuzis etc.).
As armas com cano de alma lisa silo as que utilizam cartuchos de
m
uni
9
ao
com projeteis multiplos, geralmente usadas para ca9a (es-
pingardas) ou tiro esportivo.
4. ALGUMAS CONSIDERA<;OES SOBRE 0 REVOLVER
o revolver pode ser definido como uma arma curta, de repeti-
<;;ao, nao automatica, composta de arma9ao, tambor, cano (sem cfuna-
ra de combustao) e mecanismo. 0 comprimento do cano, 0 numero
de raias, a dire9ao do raiamento, 0 tamanho da 8rma9aO, a capacida-
de do tambor e 0 tipo de mecanismo variam de arma para arma e sao
particularidades que servem para a identifica9ao generica .
A caracterfstica basica do revolver e a de apresentar um unico
cano para vanas cfunaras de combustao. Seu disparo ocorre quando 0
cao e liberado pela pressao na tecla do gatilho e, impulsionado por
urna mola, denominada mala real, faz com que 0 percussor atinja a
base do cartucho de muni9ao.
169
!::
h
!-'
, :-j
P'
I;
I ..
,11
1
11
l
'
I
~ ,
Para a realizac;;ao de urn segundo disparo, 0 atirador deve
sionar novamente a tecla do gatiIho. Essa pressao tera dois e,,,"Os
concomitantes, ou seja, 0 de rotacionar 0 tarubor para aIinhar com
cano outra camara de combustao (com novo cartucho)e, ao mesmo'
tempo, afastar 0 cao para urn novo tiro.
Mira
Cano Tambor
Suporte
... Orelha do cao
1---- Chave do lambor
r----Corpo da arma
iii Cabo
Os rev6lveres podem funcionar em ac;;ao simples ou dupla. Na
arao simples 0 atirador recua 0 cao ate u a posic;;ao posterior (engatiIha
a arma), e a pres sao no gatilho apenas Iibera 0 cao, que ira produzir 0
disparo. Na ar
ao
dupla 0 cao e levado ate a posir;:ao posterior pela
pressao do atirador no gatiIho (que tambem serve para rotacionar 0
tambor), quando e Iiberado para produzir 0 disparo.
5. ALGUMAS CONSIDERA<';OES SOBRE AS PISTOLAS
SEMI-AUTOMATICAS' .
Vimos que toda vez que ocorre urn disparo os gases decorrentes
da explosao da p6lvora destacam oprojetil de seu encaixe no estojo e
o impulsionam com grande potencia atraves do cano. Da mesma
maneira, esses gases empurram para tras 0 estojo com tal violencia
que as irregulatidades da culatra nele ficam impressas (e poderao
servir para eventual identificar;:ao da arma).
170
No rev6lver essa forc;;a e perdida, urna vez que a culatra e fixa e
serve apenas para impedir que 0 estojo saia pela parte de tras, atin-
gindo 0 atirador.
Para aproveitar essa consideravel energia, surgiram as armas de
repetil;;ao semi-automaticas, que utiIizam a forc;;a dos gases (exercida
sobre 0 estojo) para realimentac;;ao, e as armas de repetirao automa-
ticas, que utiIizam a forc;;a expansiva dos gases para realimentac;;ao e
deflagraao de novos disparos.
As pistolas semi-automaticas, portanto, podem ser definidas
como armas que aproveitam a fora expansiva dos gases para sua
alirnentac;;ao, dependendo, entretanto, cada disparo, do acionamento
do gatilho pelo atirador.
Da mesma maneira que os rev6lveres, as caracteristicas gerais,
como numero de raias, direao do raiamento, tamanbo da armaao,
capacidade do pente e tipo de mecanismo, variam de arma para
arma e sao particularidades que servem para a sua identificac;;ao
generica.
Massa de mira
{
Ferrolho
!
Guarda-mato
/ AI98- de mira
... _ Cao
,...-__ Regislro de
seguran9a
Cabo
171
"'
l
i
1
, I
II '
I
I
I,
Ii
I:
iI Ii
[
f !
I:
" L-.
, ,
1\
1:
II
,I
111
H
i,ll
1 J ~ _
6.ALGUMAS CONSIDERA(:OES SOBREASARMAS LONGAS
Annas longas sao aquelas que, em razao do comprimento
cano e da coronha, possuem grande dimensao longitudinal, exigindo
para seu uso 0 apoio do ombro e ambas as maos do atirador.
Dentre as armas longas e portiiteis, distinguem-se a espingarda"
e a escopeta, a carabina, 0 rifle, 0 fuzil e 0 mosquetiio.
Principais armas longas portateis rifle
{
espingarda e escopeta
carabina
6.1. Espingarda e escopeta
fuzil
mosquetiio
o termo espingarda deriva do frances espingarde e serve para
designar qualquer arma de fogo longa, com cano de alma lisa. As
espingardas podem ser dotadas de urn ou dois canos, paralelos ou
colocados urn sobre 0 outro. Quanto ao sistema de alimentaliao, po-
dem ser ou nao de repetiliao (pump action ou semi-automaticas). 0
termo escopeta e usado para designar as armas de alma lisa de cano
curto e grosso calibre, reservando-se a denominaliao espingarda para
as de cano longo e calibres menores.
6.2. Carabina
De origem italiana, 0 termocarabina designa armas de fogo
portiiteis, de repetiliao, carro longo e alma raiada. 0 cano das carabi-
nas mede entre IS" e 20" (de 45 em a 51 em), e e exatamente pelo
comprimento, menor, que diferem do,s rifles, que tern canos maiores.
A alimentaliao e 0 carregamentp das carabiilas sao feitos geral-
mente pelo sistema de bomba (pump action) ou de alavanca (lever
action). .
6.3. Rifle
"
Os rifles sao armas de fogo longas, portiiteis, de carreganiento
manual (nao automiiticos) ou de repetiliao, cano longo e alma raiada.
172
Sua diferenlia em relaliao as carabinas reside exatamente no compri-
mento maior do cano, que atinge 24" (61 em). Possuem urn ou dois
canos, e 0 sistema de carregamento pode ser por ferrolho, alavanca,
bomba ou seroi-automiitico.
6.4. Fuzil
Fuzil e uma arma de fogo longa, portiitil, automiitica, com alma
raiada, calibre potente e que normalmente tern uso militar, podendo
ser utilizado para calia de grande porte. E uma arma automatica, que
apresenta urna cadencia de tiros entre 650 a 750 disparos por minuto.
6.5. Mosquetiio
Da mesma forma que 0 fuzil, 0 mosquetiio e uma arma de fogo
longa, portiitil, de repetiliao, com alma raiada. 0 carregamento e
manual, pelo sistema de ferrolho, que e recuado manualmente pelo
atirador.
7. CALmRE DAS ARMAS DE FOGO
Quando se fabrica 0 cano de uma arma de fogo inicialmente se
produz urna perfuraliao que e alargada ate urn determinado difunetro,
caracteristico de cada arma. N as de alma raiada, ap6s a perfuraliao e
feito ainda 0 raiamento, ao longo do cano, formando, entao, os
. rtissitltos e cavados.
Calibre de urna arma nada mais e que a medida utilizada para
indicar 0 difunetro intemo de seu cano e a muniliao correspondente.
Existe urn calibre nominal, que e 0 valor empregado comercial-
mente para caracterizar a arma e sua muniliao, e urn calibre real, que
corresponde a medida efetiva do difunetro intemci do cano ou ao dia-
metro efetivo do projetil, e que pode, ou nao, coincidir com 0 calibre
nominal.
Calib { real- medida efeliva do cano
re nominal- valor utilizado comercialmente para indicar 0 calibre
Ao se falar em calibre, portanto, e preciso identificar tres cate-
gorias distintas:
173
;ii
i
,
"
, I
'!
,,'
,
I
l'li',
i,'!;i!
'I,J.,:;
1
I
Calibre
{
de alma lisa
das annas de alma raiada
dos projeteis { para annas de alma lls.a
para armas de alma rmada
dos cartuchos de u n i ~ o { para armas de alma lisa
para armas de alma raiada
7.1. Calibre das armas de alma raiada, de seus cartuchos de
munifiio e projeteis
o calibre nominal das annas de alma raiada coincide com seu
calibre real, e dado pelo diametro intemo do cano antes da execut;iio
do raiamento (diametro entre cheios) e pode, na dependencia do sis-
tema adotado, ser indicado em centesimos de polegada (sistema nor-
te-americano), nriIesimos de polegada (sistema ingles) ou em mili-
metros (sistema metrico).
Sistema americana Sistema ingles Sistema metrico
22 (.22") 220 (.220") 5,6mm
25 (.25")'
...
250 (.250") 6,35mm
30 (.30") 300 (.300") 7,62mm-
32 (.32") 320 (.320") 7,65mm
38 (.38") 380 (.380") 8,9mm
41 (.41") 410 (.410") 1O,lmm
44 (.44") 440 (.440") 1O,8mm
45 (.45") 450 (.450") 11,25mm
,
*Nota: 0 calibre 7.62 rom corresponde ao- calibre 7 nun nas anuas longas.
o ditimetro ou calibre efetivo do projetil, nas annas em que 0
m1mero de raias e par, corresporide ao espao entre dois cavados, e,
naquelas em que e fmpar, it distancia entre urn cheio e 0 rt)ssalto
diametralmente oposto. Logo, 0 calibre efetivo do projhil e, portan-
to, sempre urn pouco maior que 0 calibre real ou nominal da anna
174
considerada. Isso ocorre para que nao exista perda de pressao quando
o projetil e impulsionado atraves do cano pelos gases em expansao.
Essa caracteristica faz com que a marca do raiamento fique impressa
nos projeteis (e sirva, posteriormente, para identificaao da anna).
real ou nominal da anna - distfincia entre cheios
Calibre
das annas raiadas
{
distancia entre urn cheio e urn cavado
al d .,til (mlmero (mpar de raias)
re 0 pro] distancia entre dais cavados (n6mero par de
raias)
Embora 0 calibre real das armas de alma raiada seja ligeiramente
menor que 0 calibre (ou diametro) do projetil, costnma-se indicar os
cartuchos de muniao pelo calibre nominal da arma e nao do projetil.
7.2. Calibre das armas de alma lisa, sua munifiio e projeteis
o calibre das armas de alma lisa, ou de caa, nao e expresso
pelo diametro intemo do cano, mas sim pelo nfunero de esferas de
chumbo puro, de diametro igual ao do cano em referencia, necessa-
rio para atingir uma libra de peso (454 g).
Isso nlio significa que os projeteis por ela disparados terao 0 difune-
tro do cano. Ao contrario, sao gerahnente bemmenores. 0 que a medida
indica e apenas uma conven<;lio, ou seja, tomam-se esferas de chumbo
irnaginarias, de difunetro igual ao cano da arma, e contam-se quantas
esferas serao necessarias para compor uma libra de peso. 0 m1mero en-
contrado indicara 0 calibre nominal da arma (nailustraao, o calibre 12).
@===-
1 Ib
175
'(
! ,
Existem algumas como, por exemplo, 0 calibre 410,
que corresponde a uma do difuuetro interne do cano (0,410
de polegada) e equivale ao calibre 36. 0 quadro a seguir da uma icteia
da entre 0 calibre nominal e 0 calibre real (difuuetro interno
do cano) das arrnas longas de alma lisa:
Calibre nominal Calibre real
12 18,50mm
16 17,OOmm
20 15,70mm
24 14,80mm
28 14,00mm
32 12,80mm
36 (.410) 1O,40mm
-
Examinando a tabela acima verifica-se que 0 calibre nominal
das arrnas longas de alma lisa varia de modo inversamente prop or-
cional ao seu calibre real, ou seja, quanta menor for 0 nillnero que
indica 0 calibre nominal (12), maior sera na verdade 0 difuuetro in-
terno do cano ou calibre real (18,50 mm).
o nillnero de esferas de chumbo (projeteis multiplos) que cada
cartucho pode comportar ira depender do difuuetro das esferas: E
intuitivo, porem, que os maiores cartuchos podem abrigar urn nume-
ro maior de projeteis multiplos.
Resumindo, temos:
Calibre das annas
de alma lisa
176
real da anna - interne do cano
nominal da anna - numelo de esferas de chumbo, de dia.-
metro igual ao difunetro interno do cano, necessanas para
compor uma lil?ra
nominal do cartucho 0 mesmo calibre nominal da anna
'.
nominaI- do projetil- m1meros Oll letras convencionados pela
industria
real do projetil- diiimetro real do chumbo utilizado
8.MUNI(:AO
Pelo vocabulo munir;tio podemos designar projeteis, p61voras e
demais artefatos com que se carregam arrnas de fogo.
8.1. Partes do cartucho de munifiio
Qualquer que seja 0 cartucho considerado, sera composto de
estojo, espoleta com ruistura iniciadora, polvora, projetil e, para os
cartuchos dotados de projeteis multiplos, destinados as arrnas de alma
lisa, tambem 0 embuchamento.
{
estojo
espoleta
Cartucho de p61vora
. projetil
embuchamento - annas de alma lisa
A figura mostra as principais partes dos cartuchos de
para armas de cano com alma raiada (projeteis unitarios, em regra) e
para aquelas de cano com alma lisa (projeteis multiplos, em regra).
Projetil
Estojo
Espoleta t
Projeteis (balins)
Tubo (plastico au papelao)
P61vora (propelente)
I-k----Estoio de metal
9. FERIMENTOS PRODUZIDOS PORPROJETEIS DEARMA
DE FOGO
o projetil de arma de fogo e urn agente mecanico perfu-
rocontundente, que deterrnina urna lesiio de natureza perjurocontusa.
177
I
i
!
-
o estudo das lesoes produzidas pela a<;ao de projeteis de anna
de fogo, sejam eles unitanos ou multiplos, apresenta relevilncia espe-
cial, primeiro porque constituem n6.mero expressivo de ocorrencias,
em grande numero de etiologia crirninosa. Alem disso, pela
multiplicidade de facetas e caracteristicas, geralmente fomecem ele-
mentos preciosos a investiga<;ao, deterrnina<;ao da causa juridica do
evento ou ainda da possivel autoria.
Na aniilise dos ferimentos produzidos por projeteis de arma de
fogo, quatro sao os pontos que devem merecer aten<;ao do perito:
a) deterrnina9ao e descri<;ao dos ferimentos de entrada e safda;
b) a trajet6ria do projetil no interior do corpo, bern como a des-
cri<;ao das lesoes intemas;
c) a orienta9ao do disparo em rela9ao a posi9ao do corpo; e
d) a distfulcia provavel do disparo.
9.1. Ferimentos de entrada
As caracteristicas dos ferimentos de entrada produzidos por pro-
jeteis de arma de fogo dependem, basicamente, de tres fatores princi-
pais, quais sejam: tipo de muni9ao empregada (projetil unitano ou
projeteis multiplos), ilngulo de incidencia e distfulcia de tiro.
As caracteristicas .
do ferimento de
entrada dependem
, {projetil unico
do tipo de empregada '. projeteis multiplos
do mgulo de incid8ncia
da dismncia em que foi efetuado 0 disparo
9.2. Ferimentos de saUla
,
Os ferimentos de safda somente existem, por 6bvio, se 0 projetil
transfixar 0 corpo. Nao tern grandt; irnportfulcia, salvo na deterrnina-
<;ao da trajet6ria, porque nao possuem caracteristicas pr6prias.
Como regra de safda e irregular, maior que 0
de entrada, ate porque 0 projetil freqiientemente se deforma em sua
passagem pelos tecidos orgilnicos, e tern as bordas voltadas para fora.
178
Alguns projeteis especiais, de alta energia, com velocidades
superiores a 750 mis, em razao das ondas de choque produzidas pelo
seu deslocamento, costumam produzir ferimentos de safda de gran-
des propor90es. A foto mostra 0 ferimento de safda produzido por
muni9ao Magnum .357.
9.3. Ferimentos produzidos por projeteis multiplos (balins)
Nos disparos efetuados com cartuchos de muni9ao de projeteis
multiplos (armas de alma lisa), 0 aspecto da lesao depende, basica-
mente, da distilncia em que foram realizados e da conseqiiente aber-
tura do cone de dispersao.
Em tiros muito pr6ximos ou encostados, os projeteis multiplos
causam grande destrui9ao tecidual, muitas vezes acompanhada de
significativa perda de substilncia (foto).
179
. ,
) !
:I
J
F :
,I
ii
'I
Nos disparos efetuados a distancia, 0 que observamos e a exis-
tencia de lesoes multiplas, como se produzidas por varios disparos
unitarios, distribuidas ao redor de urn ponto central, e que se afastam
mais urna da outra quanto maior for a distancia entre 0 atirador e 0
alvo.
o fulgulo de tiro ira determinar 0 formato da lesilo unica (se 0
tiro for a curta distancia) ou do desenho formado pela distribniilo
das multiplas lesoes (nos tiros a distfulcia), que podera ser circular,
nos disparos perpendiculares ao alvo, e elfptico ou conico, quando a
carga de projeteis incidir de maneira obliqua sobre 0 alvo.
===l'- - J- iTIffi'-'-A
--. --,-.. -@
-"-.
, ............. , .. .
.. " .. ,.. -, .... ,-;;''''
9.4. Ferimentos produzidos por projeteis unitarios
A lesilo de entrada produzida por projetil de arma de fogo e
geralmente circular ou eliptica, na dependencia do fulgulo de inci-
dencia e das linhas de tensilo que attiam a pele (ver Leis de
Filh6s e Langer). Excepcionalmente, podem ter formato diverso,
atipico, quando 0 projetil atinge algurn alvo intermediario .antes de
incidir sobre 0 corpo da vitima. Nesses casos ou 0 projetil se deforma
ou perde sua trajet6ria axial, para penetrar no corpo com sua face
lateral, cilindrica, determinando, assirn, urn ferimento de entrada com
formato de letra "D". ",
A lesilo tambem tera conformaiio atipica quando 0 projetil atin-
gir tangencialmente a pele, "de raspilo", hip6tese em que 0 ferimento
ira apresentar-se como uma de formato alongado. Nesse
caso, e claro, nilo se po.de falar em ferimento de entrada, pois 0 proje-
til nilo penetrou 0 corpo; .
. Apesar de haver certa correspondencia de forma entre a seilo
do projetil e 0 ferimento, nilo e possivel determinar 0 calibre da arma
180
pelo difunetro da lesilo, visto que, em razilo da elasticidade da pele e
das linhas de tensilo, 0 orificio de entrada pode ser menor, maior ou
ig
ual
ao difunetro do projetil que the deu origem.
o ferimento de entrada tern geralmente bordos invertidos,
invaginados, voltados para 0 interior do corpo, caracteristica contra-
ria ados ferimentos de saida, que possuem as bordas evertidas, le-
vantadas, indicando claramente 0 sentido de sua trajet6ria.
Como exceiio, temos a camara de Hoffmann ou camara de
mina, observada nos tiros encostados em regioes que recobrem ta-
buas 6sseas, em que 0 ferimento de entrada tern os bordos evertidos,
voltados para fora. Falaremos dessa especie de ferimento mais
detalbadamente a frente.
Alem do aspecto morfol6gico, ao redor dos ferimentos de en-
. trada produzidos por projeteis de arma de fogo, podemos observar
algumas especies de orlas (ou halos) e zonas, fenomenos que se apre-
sentam de fundamental irnportfuicia tanto para a caracterizailo da
natureza do ferimento como para a determinailo da distfulcia em que
foi realizado 0 disparo.
As orlas (ou halos) silo regioes circunscritas, regulares, que cir-
cundam 0 ferimento como pequenas aureolas, dando_lhe caracteristi-
cas especiais que permitem diferenciar as lesoes produzidas por pro-
jetil de outras determinadas por instrumentos diversos.
As zonas compreendem areas maiores, irregulares, que podem
ou nilo estar presentes e que terilo irnportfulcia fundamental na deter-
minaiio da distfulcia do disparo.
{
escoriac;ao--
orlas ou halos contusao
enxugo
Ferimento de entrada de projetil
zonas chamuscamento
tatuagem
9.5. Orlas ou halos de contusiio, enXugo e escoriafiio
A pele e constituida por duas camadas distintas, a epiderme e a
derme. A primeira e mais frna e menos elastica, rompendo-se de ime-
181
)-.i
, i
i
;)!
'it
I
I,
I
diato pelo embate do projetil. A segunda, a denne, mais elastica, acom_
panha 0 projetil encapsulando-o parcialmente antes de se romper,
para depois voltar a posic;;ao original.
A primeira orla produzida e a de contusiio, que corresponde a
uma pequena regilio equim6tica decorrente da leslio ocasionada pelo
embate do projetil na rede de capilares. da pele. Trata-se de urn halo
r6seo que circunda 0 oriffcio de entrada, e que e mais evidente nas
pessoas de pele clara, sendo diffcil de observar em peles de tonalida-
de mais escura.
Orla de contusao ___ _
Ponto de impacto do projetil ___ -"
Como a epidenne e menos elastica que a derme, ap6s a passagem
do projetil e possivel observar urna pequena retrac;;lio com conseqiiente
exposiC;;lio da denne, como se tivessemos dois aneis concentricos, urn,
de difunetro maior, formado pela ruptura da epidenne, e urn outro, de
difunetro menor, formado pela exposiC;;lio da denne. A esse anel (de
exposiC;;lio da derme) denominamos orla ou halo de escoriat;iio.
,
182
Orla de - derma
Ferimento".de entrada
limite da lesao na epiderme
Orla de contusao
A maior parte dos autores costuma agrupar as orlas de contu-
saO e de escoriat;iio como se formassem uma unica, apresentando,
tambem, como sinonimos os termos orla erosiva (PiedeW!vre e
Desoille), orla desepitelizada (Frant;a) e anel de Fisch (Croce, 1998,
p.231).
Na verdade, a orla de escoriat;iio corresponde a diminuta expo-
siC;;lio da denne sobre a lesao causada na epidenne, em razlio da dife-
renc;;a de elasticidade entre as camadas. A orla de contusiio, por outro
lado, indica lima area maior, que circunda 0 ferimento, e e formada
pelo halo hiperernico decorrente da leslio dos capilares da area atin-
gida pelo embate do projetil.
Orla de escoriagao
Epiderme
Orla de contusao
Finalmente, ao atravessar a derme, 0 projetilliteralmente se en-
xuga. Limpa-se das sujidades e impurezas trazidas do cano da arma,
restos de p6lvora e fuligem depositados em sua superficie, deixando
na denne urn anel enegrecido a que se convencionou chamar de orla
de enxugo e que normalmente impede que observemos a orla de es-
coriat;iio, que fica parcialmente sobreposta a ela.
Orla de enxugo
Or1a de escoriaQ8o - derma
Ferimento de entrada
Limite da lesao na epiderme
Drla de contusao
183
, ': !
; ,I \
:1:
'I:
I
I
1
I'
,
i i
:
.1 :
I
Ii
, !
it
Essas tres orlas estao presentes na quase-totalidade dos
ferimentos de entrada produzidos por projeteis de arrna de fogo, in-
dependente da distancia em que 0 disparo foi efetuado. E claro que,
se for a curta distancia, as zonas de chamuscamento, esfumafamento
e tatuagem, que estudaremos a seguir, certamente irao impedir a
visualizac;:ao das orlas, 0 que nao significa sua ausencia.
as halos de escoriafiio e contusiio nao sao exclusivos dos
ferimentos produzidos por projeteis de arma de fogo, podendo ser
observados em lesoes determinadas por outros instrumentos
perfurocontusos. A oria de enxugo de colorac;:ao enegrecida e mais
caracterfstica e, com seguranc;:a, indica ferimento de entrada de pro-
jetil de arma de fogo.
As fotos a seguir mostram 0 aspecto de ferimentos de entrada
produzidos por projeteis unitarios de arma de fogo, decorrentes de
disparos efetuados a distancia.
",
9.6. Zonas de chamuscamento, e'sjumafamento e tatuagem
Quando uma imua e disparada,juntamente com 0 projetil sao expe-
lidos pela boca do cano um considernvel volume de gases em alta tempe-
ratura e em combustiio, 'Certa quantidade de fumac;:a (que varia de acordo
com 0 propelente utilizado) e pequenos graos de p6lvora (combustos,
semicombustos ou em combusmo), assim como micropartfculas metdli-
cas oriundas da abrasao do projetil no cano da anna.
184
Il
Esfumal;flmento
Esses componentes sao impelidos juntamente com 0 projetil,
" mas, como tern rnassa infinitamente menor, nao possuem energia
cinetica para ir aMm de uns poucos centfmetros da boca do cano da
anna, podendo nao atingir 0 alvo, na dependenciada distancia, da
arma, tipo e idade da munic;:ao utilizada.
Se 0 disparo for efetuado muito proximo do alvo, algo em tomo
de 5 cm, poderemos ter a zona de chamuscamento, que nada mais e
que uma regiao onde a pele e literalmente queimada pela chama que
sai pela boca do cano da arrna.
Para urna distancia maior, de ate 30 cm, a fumac;:a decorrente do
disparo poder:i"atingir 0 alvo e depositar-se ao redor do ferimento de
entrada, produzindo a charnada zona de esfumafamento.
"-
185
!:'
I.
f
!I: i
I.
:'!
FinaImente, e exatamente porque tern massa maior que as partf-
culas de fuligem, restam os graos de p6lvora e as partfculas meUilicas
decorrentes da abrasao do projetil no cano da arma, que incidem so-
bre 0 alvo como verdadeiros projeteis secunddrios, por vezes incrus-
tando-se na pele de tal maneira que formam verdadeiras tatuagens
(zona de tatuagem).
A zona de tatuagem pode
ser encontrada em disparos rea-
1izados ate 50 em do alvo. Aci-
rna dessa distfutcia costurnamos
observar apenas as otlas de con-
tuslio, escorim;;{io e enxugo. Em
disparos muito pr6xirnos;'l)ilo M
dispersao suficiente dos graos de
p6lvora que acabam por acom-
panhar 0 projetil para 0 interior
186
fJ
da lesao, ou depositam-se tao pr6xirnos ao ferimento de entrada que nao
chegam a constituir uma zona de tatuagem.
a ferimento da ilustrac;ao
superior foi produzido por balote, em
disparo realizado a curta disUincia.
. Na foto it direita, temas urn ferimento
a curta distancia na regiao posterior
do pescoc;o, com evidente zona de
esfumac;amento. Abaixo, zona de
esfumac;amento nas vestes.
A zona de esfumar;amento pode ser removida com agua, ao pas-
so que as demais nao. Mesmo lavada a regiao, permanecem e podem
ser observadas pelo perito.
187
.,;
'I I II'
: - ~ . I la
I
'"
",,[
ri
r ~ ' - :
.,t. ,
f
',"" '/
:+ ),
" u
;'" I-I
.;. l ~
f
, !
I
ii I
1,/,
:j
i
JLr
9.7. Disparos eneostados
Nos disparos encostados temos de diferenciar duas situa .. oes
distintas: os disparos que atingem unicamente tecidos moles e os que'
incidem sobre partes do corpo que recobrem ossos pianos, como, por .
exemplo, os do crfurio.
Quando 0 disparo encostado atinge unicamente tecidos moles,
aMm do projetil, todos os demais elementos penetram no ferimento,
causando uma lesao interna de grande monta. As zonas de
chamuscamento, esfuma .. amento e tatuagem ficam todas no interior
do corpo, mas 0 oriffcio de entrada permanece com sua configura .. ao
circular ou eliptica.
Por vezes, na dependencia da for .. a com que a arma foi pressio-
nada sobre a regiao atingida, e possfvel evidenciar a marca do cano
sobre a pele (foto). Esses ferimentos sao freqiientemente observados
em suicfdios.
,
Quando, logo abaixo da regiao atingida, existe uma tabua ossea,
o projetil pode (ou nao) consegUlr perfura-Ia, mas os gases e as
micropartfculas certamente nao. Nesses casos ha urn descolamento
dos tecidos e urna verdll.deira explosao, no sentido inverso (de dentro
para fora), pelo refluxo dos gases, formando urn ferimento de confor-
ma .. ao estrelada e de bordos evertidos (para fora), denominado ca-
mara de mina ou camara de Hoffmann.
188
i
-1- .
9.S. Disparos em ossos
Nos ossos Iongos os disparos freqiientemente produzem fratu-
ras, podendo as esqufrolas osseas constituir verdadeiros projeteis se-
cundarios. Dessa forma, e possfvel, inclusive, que exista mais de urn
ferimento de saida. Nos ossos pIanos ou chatos, como no crfurio, e
facilmente diferenciavel 0 jerimento de entrada (A) do jerimento de
sarda (B) em razao do cone de dispersao formado pelos fragmentos
osseos (sinal do funit de Bonnet).
9.9. Determinagiio da distiincia de disparo
Com base nas orlas e zonas descritas, muitas vezes e possfvel ao
perito determinar, aproximadamente, a distancia em que foi dispara-
189
":i
i
!
:1
L
i,
II _
II
i
"
II
I,
il
I
:1,
'I'!
i
,
II
II "I
: "I
II
i ~
i
Ii,'"
i"li
II:!I'
i ~
iF
da a anna em ao alvo. A questiio tern particular relevaucia
nos casos em que se discute, por exemplo, se a pr6pria vftima poden':
ter feito uso da anna (suicfdio) ou nao (homicidio).
Para que 0 perito possa mauifestar-se com urn certo grau
precisao, ira necessitar da arma e da utilizada. Munido desJ
se material, devera efetnar disparos experimentais no estande de tiro
e comparar os resultados obtidos com as zonas deixadas no corpo ou;
vestes da vitima.
Os resultados procuram comparar distaucias nao superiores a
50 cm. Acirna desse patamar 0 disparo e sempre dito 11 distancia, nao
se podendo diferenciar urn efetnado aIm de outro realizado a 10 ill
oumais.
o quadro a seguir da uma nrn;ao das distancias em que e possI-
vel observar cada uma das orIas e zonas.
Distancia I
Orlas Zonas
Contusio Escoria'iiao Enxugo
Chamusca Tatuagem
mento mento
At65cm X X X X X
DeSalOcm X X X X X
De lOa30cm X X X X X
At650cm X X X X
+de50cm X X X
E claro que cada caso deve ser considerado' separadamente, ja
que existem indmeras varia\ioes decorrentes do tipo de arma e muni-
\iao empregado. AMm disso, devemos atentar tambem para a existen-
cia de vestnano recobrindo a regiao atingida. Nao raro, a pele acaba
por receber apenas 0 projetil, ficando todos os demais vestigios reti-
dos nas tramas do tecido.
Lamentavelmente nem sempre as roupas sao recolhidas e
guardadas de maneira correta, 0 ql!,e leva a inexonivel prejuizo
para a justilia. A resposta. para a caracterizaliao segura
de urn suicidio ou homicidio, deixa de ser obtida
por desfdia de quem deveria ter preservado as vestes do morto e
nao o fez.
190
Nos disparos decorrentes de projeteis multiplos de anna de fogo,
como yimos, a distancia pode ser deterrninada de acordo com a aber-
tufa do cone de dispersao. Tarnbem, e principalmente nesse caso, 0
perito somente podera opinar se tiver em maos a anna utilizada para
a reallzaliao de disparos experimentais e de comparali
ao
.
Sem a arma para analise, 0 maximo que 0 perito podera infor-
mar e que se trata de disparo realizado encostado, a curta ou longa
distful
cia
, nada mais que isso.
191
1!:
, if
'.!
\ \
I' 1\
I
I'
" I.
i\ II
I, I'
il\ 1
.\ ,i
! i' I
:1
\
!;
I
i
It
:i
II
'1
1
.
1
:
:1 '
(i
il
I
j
CAPiTULO 6
SEXOLOGIA FORENSE
A sexologia forense e 0 ramo da medicina legal que se dedica'
ao estudo dos fenomenos relacionados com a reprodu<,ao hurnana,
desde a concepao ate 0 puerperio.
Segundo Bonnet (1993, p. 1007), a sexologia e a disciplina
cientffica que estuda as questi'ies relacionadas com 0 sexo em seus
aspectos medicos, juridicos, filos6ficos e socio16gicos. Para 0 mes-
mo autor, a sexologia medico-legal ou forense nada mais e que 0
ramo da medicina legal que estuda a soluao dos problemas juridi-
cos que 0 sexo pOde suscitar.
1. CONCEITO DE SEXO
Na verdade niio podemos mais falar em sexo ou sexos sem ter em
mente urn conceito integrado com vanos fatores parciais. 0 sexo, pois,
deve ser anaIisado em seus diversos aspectos, segundo 0 quadro abaixo:
Sexo
genetico {cromossomiCO
cromatfuico
end6crino
morfol6gico
psicologico
juridico
{
. di {intemo
propnamente to. extemo
dinfunico ou copulativo
2. SEXO GENETICO
o ser humano possm 46 cromossomos, divididos em 22 pares
autossomicos e urn sexual, que detenninam as seguintes f6rmulas
geneticas:
192
E 44A + XY
Mulher 44A + XX
Cada gameta, portanto, carreara a metade da carga genetica,
apresentando as f6rmulas abaixo, que determinam 0 chamado sexo
cromossomico:
6vulos 22A+X
Espennatoz6ides
22A+X
22A+Y
A ilustraao a segtrir mostra 0 cari6tipo masculino normal:
n n u 88 BB II n
unnnun""
12345678
""H"nun"
10 11 12 13 14 15 16
HiiaMUwi
171819202122XY
AMm do sexo cromossomico, temos 0 sexo cromatfnico ou sexo
nuclear. Os micleos das celulas dos indivfduos cromossomicamente
femininos sao dotados de urn corpusculo cromatfnico, descrito pela
primeira vez pelo pesquisador ingles Murrey Barr em 1949 e por isso
denominado corpusculo de Barr. Posteriormente comprovou-se que
esses corpusculos nada mais eram que urn dos cromossomos X, que,
na interfase, se espiralava e ficava inativo.
as ptincipais alteraoes geneticas ligadas ao sexo
(aneuploidias sexuais) temos a sfndrome de Turner, a sfndrome de
Klinefelter e a polissomia dos cromossomos sexuais.
193
i, '
I
J :;!\
'I '"
I, I
Ii:!
,,"
I
..;1
:f
il
i
i
Ii
i
I
I
lili
;- j
f
' '.
! 'I
I' , 2.1. Sindrome de Turner
Atinge as pessoas do sexo feminino, embora os afetados
possuam cromatina sexual. E caracterizada pela prestma de
cromossomos, sendo 9ue, do par dos cromossomos sexuais, ha
nas um X (44A + X). E urna anomalia rara, atingindo uma a cada
mil mulheres normais.
Sao mulheres geralmente estereis, de ovanos atrofiados, .
estatura e que nao desenvolvem os caracteres sexuais secundanos'!
por deficiencia de estr6genos. Nao costumam apresentar desvios
personalidade.
~ ~ H H H H H H
1 , ,
5 6 7
UHUMHHUH
10 11
12 13 14 15 16
H ii ~ ~ H U BE (l)
17 18 19 ~ 21 a x
2.2. Sindrome de Klinefelter
Ocorre em indivfduos do sexo masculino que apresentam um
dos seguintes cari6tipos: XXY (44A + XXY - ilustraao), XXYY
(44A + XXYY), XXXY (44A + XXXY), XXXYY (44A + XXX)
ou XXXXY (44A + XXXXY). A frequencia e de urn para quinhen-
tos nascidos do sexo masculino.
Fisicamente, sao homens de estatura elevada, com mamas
hipertrofiadas (ginecomastia) e vqz fina. 0 penis e pouco desenvol-
vido e, muito embora 'consigam ter ereao e ejaculac;ao, sao normal-
mente estereis por nao produzir .espermatoz6ides.
AMm dessas alterac;oes de carater sexual, apresentam uma dis-
creta diminuic;ao da capacidade mental.
194
n n Ii B8 n ~ e u u
un"nn""" 12345876
HHHHnnUH
9 10 11 12 13 14 15 16
n H ~ H U BE AlFl
x x x y
2.3. Polissomia dos cromossomos sexuais
Dentro do capftulo da polissomia dos cromossomos sexuais,
temos as mulheres triplo, tetra e penta X, caracterizadas por fen6tipo
normal, mas com graus crescentes de retardamento mental (44A +
xx + nX).
Tambem nessa categoria vamos encontrar os homens duplo Y
(44A + XYY), conhecidos como "supermachos", que aparecem
na freqiiencia de urn por mil nascimentos. Fenotipicamente nao
ha alteraoes perceptfveis, salvo uma estatura pouco mais elevada
que a normal. Ha estudos que buscam ligar comportamentos vio-
lentos a esse tipo de cari6tipo, a tal ponto que alguns autores che-
garam a denomina-lo "sfndrome da criminalidade". Tal fato, en-
tretanto, nao e aceito pacificamente pela comunidade cientffica
internacional.
2.3.1. Aneuploidias autossomicas
Outras alteraoes, como a sfndrome de Down, sfndrome de
Edwards e a sfndrome de Patau, embora de origem genetica, nao
apresentam ligac;ao com os cromossomos sexuais, atingindo os pares
autossomicos. Sao sempre trissomias, atingindo os pares 21,18 e 13,
respectivamente.
195
,
'-f
:i".
,.
'i
i
;"'1
-,';'
.
'I
i
,
2.4. Sindrome de Down
A sfndrome de Down ou trissomia do cromossomo 21 e,
duvida, 0 distlirbio autossomico mais comum e a mais freqiiente
rna de deficiencia mental congenita, ocorrendo na propors;ao de
para cada setecentos nascimentos normais. 0 portador da sfndro
me
,
de Down possni 47 cromossomos, sendo 0 cromossomo extra ligadol.
ao par 21 (44A + XX + 21 ou 44A + XY + 21).
3
5 8 7 8
Ii ii !!
9 10 11 12 13 14 15 16
!
AMm da deficiencia mental moderada, os afetados tern baixa
estatura e braquicefalia (cr1lnio pouco alongado), com 0 occipital acha-
tado. 0 pavilhao das orelhas e pequeno e dism6rfico. A face e achata-
da e arredondada, os olhos mostram fendas palpebrais e exibem man-
chas de Brushfield ao redor da margem da iris. A boca e aberta, mui-
tas vezes mostrando a lingua sulcada e saliente.
As maos sao curtas e largas, fteqiientemente com uma unica
prega palmar transversa ("prega simiesca").
2.5. Sindrome de Edwards
A Sfndrome de Edwards ou trissomia do cromossomo 18 (44A
+ XX + 18 ou 44A + XY + 18), com freqiiencia de urn para oito mil
nascimentos, tern como manifestas;oes retardamento mental, atraso
do crescimento e, as vezes, malformas;oes cardiacas graves.
196
o afetado apresenta microcefalia, com a regiao occipital ex-
tremamente alongada. 0 pavilhao das orelhas e dism6rfico e de im-
plantas;ao baixa. A boca e pequena. 0 pescos;o e curto. Estao pre-
sentes deficiencias visuais severas. Ha uma grande distfutcia entre
OS mamilos (intermamilar). Os genitais extemos sao anomalos. 0
dedo indicador e maior do que os outros e flexionadosobre 0 dedo
medio. Os pes tem as plantas arqueadas. As unhas costumam ser
incompletas (hipopldsticas). A idade materna avanliada tem sido
um dos fatores apontados como causa deterrninante da ocorrencia
da sfndrome.
12345618
"""Hnun"
9 10 11 12 13 14 15 16
2.6. Sindrome de Patau
A sfndrome de Patau ou trissomia do cromossomo 13 (44A
+ XX + 13 ou 44A + XY + 13) e clinicamente grave e letal em
quase todos os cas os, com sobrevida de, no maximo, 6 meses
de idade.
o fen6tipo inclui malformalioes severas do sistema nervoso
central. Urn retardamento mental acentuado esta presente. Em ge-
ral ha defeitos cardiacos congenitos e urogenitais. Com freqiiencia
encontram-se fendas labial e palatina, anormalidades oculares,
polidactilia (ver item 3.10 do Capitulo 3), punhos cerrados e plan-
tas arqueadas.
197
;i
l'
I:
"I
"
,
1 I!
1'-
nun 88 88 n n
"""nun"o 12345678
"
H Ii & u i ;
17 18 19 20 21 22 X Y
3. SEXO ENDOCRINO
a sexo end6crino e detenninado basicamente pelas gonadas ou
gUindulas reprodutoras e por outras gHindulas, como a tire6ide e a
hip6fise, que, em menor grau, tambem interferem nos fenomenos
orgfuricos relacionados com 0 sexo.
a sexo gonadico aparece logo no inicio da vida intra-uterlna, ao
redor dos 40 a 45 dias, em decorrencia da transforma<;:ao masculina
ou feminina determinada pelo sexo cromossomico sobre a gonada
inicial indiferenciada (Bonnet, 1993, p. 1011).
Antes da determina<;:ao do sexo gonadico, 0 embriao e sempre
morfoiogicamente feminino, e 0 processo de masculiniza<;:ao depen-
de da produ<;:ao hormonal do testfculo ainda na fase fetal.
a quadro a segnir mostra a constitui<;:ao hormonal basica de
cada sexo (apud Bonnet, 1993, p. 1012).
GUindulas
Sexos
Masculino Feminino
'.
Estr6geno
Ovanos
- Progesterona
Andr6genos urinanos
Testiculo Testosterona -
'. 17 Cetoster6ides 17 Cetoster6ides
Supra-renal Corticoster6ides Corticoster6ides
Andr6genos urinanos Andr6genos urinmos
L6bulo anterior da hip6fise Gonadotropina Gonadotropina
198
4. SEXO MORFOLOGICO
A morfologia ou aparencia dos 6rgaos genitais internos e exter-
nos nos individuos normais e bastante evidente e diferenciada, nao
dando rnargem a erros. Ha, entretanto, estados patol6gicos
(intersexuais), em qne podem surgir duvidas.
Bonnet (1993, p. 1015) fala ainda em diferen<;:as relacionadas
com a rnecfurica da c6pula, que 0 autor denomina sexo dinamico ou
copulativo, indicando que as fases do ato sexual diferem sensivel-
mente de acordo com 0 sexo, e que a insuficiencia ou ausencia entre
essas etapas pode levar ao insucesso da conjun<;:ao carnal.
Bomem Mulher
Excitar;ao Excitar;ao
Erer;ao Apresentattao e lubrificar;ao
Penetrar;ao
Movimento
Orgasmo Movimento
Orgasmo
Relaxamento Relaxamento
--
5. SEXO PSICOLOGICO
Como vimos, ha uma serie de fatores ligados ao sexo que, de
uma maneira ou de outra, acabam por apresentar repercussao psico-
16gica. Somados aos aspectos de natureza organica, unem-se outros,
extemos, de ordem social, religiosa, familiar ou educacional que de-
terminam 0 comportamento sexual do indivfduo. Esses fatores com-
binados podem levar tanto ao desenvolvimento de urn comportamen-
to caracteristico de cada sexo, como originar urn sem-numero de des-
vios patol6gicos (ver item 7).
6. SEXO JURlmCO
Sexo jurfdico e aquele constante do registro civil, normalmente
baseado em declara<;:ao dos pais e testemunhas, podendo ocorrer erros
provocados dolosamente ou mesmo em decorrencia da presen<;:a de
estados intersexuais, como 0 pseudo-hermafroditismo, por exemplo.
199
, i
'. 'i
'i )
I
'!
'L :!
ij: 'j
I
, !
,
I
!:
,
ill:
ii
Ii
ri il.J,
;11 I,>
I. 'I' I"':
I
II! ':,
r.;.-J ;.1:
7. DISTURJJIOS DO INSTINTO SEXUAL
DistUrbios do
instinto sexual
200
quantidade
qualidade
erotismo au
{
{
satirfase
aUInento uterOlO3Dla
lubrieidade senil
dimiu
. . - {anafrOdiSia
U1gao frigidez
desvios do
instinto
aberra\=oes
sexuais
erotomania
auto-erotismo ou aloerotismo
erotografia au erotografomania
exibiciomsmo
narcisismo
mixoscopia au voyeurismo
fetiehisrno
gerontofilia au crono-inversao
cromo-inversao
etno-inversao
topo-inversao
troca de casais
onanismo
edipismo
pedofilia e hebefilia
pigmalionismo
frotteurismo
pluralismo au triolismo
vampirismo
riparofilia
urolagnia
coprofilia
coprolalia
bestialismo ou zoolagnia
necrofilia
sadismo
masoquisQ1o
sadomasoquismo
flagelatismo ou flagelagiio
inversao au domia au uranismo
{
mascUlinO - pederastia, 80-
homossexualismo
feminino - safismo. 'lesbia-
nismo ou tribadismo
Nao ha urn consenso entre os autores a respeito de quais sejam
as aberra<;5es e quais os desvios do instinto sexual. 0 quadro acima
mostra algumas das posi<;5es mais comuns, com a ressalva no senti-
do de que 0 homossexualismo e quase sempre apontado como urna
aberra<;ao sexual, nao obstante exista uma tendencia atual no sentido
de considerar que a orienta<;ao sexual, por si s6, nao deve ser vista
como urn transtomo (CID-lO, F66 - nota ao t6pico dos transtomos
psico16gicos e comportamentais associados ao desenvolvimento se-
xual e it sua orienta .. ao).
De observar, ainda, que a classifica<;ao apresentada e as nomen-
daturas utilizadas sao arcaicas. 0 DSM - Iv, da Associa<;ao Psi-
quiatrica Americana, apresenta como parajilias (disillrbios psfqui-
cos que se caracterizam pela preferencia ou obsessao por praticas
sexuais socialmente nao aceitas) apenas exibicionismo, jetichismo,
jrotteurismo, pedojilia, masoquismo, sadismo e voyeurismo, colo-
cando todas as demais como parajilias sem outra especificar;ii.o.
Em razao de ser citada por toda a doutrina existente, utilizare-
mos a c1assifica<;ao tradicional, mais ampla.
7.1. Erotismo
o erotismo e 0 aumento exagerado do apetite sexual, caracteri-
zado pela satirfase no homem e pela ninjomania ou uteromania na
mulher. No satirismo ha ere<;ao e ejacula<;ao por divers as vezes. Nao
deve ser confundido com 0 priapismo, que e urna ere<;ao pato16gica
que nao desemboca no prazer sexual. Ao contrano, 0 priapismo e
doloroso e funda-se quase sempre em causas psfquicas.
Nao deve ser confundido tambem com 0 dom-juanismo, que e a
tendencia a proceder de maneira sedutora e libertina. Uma preocupa-
<;ao excessiva do sexo masculino com a conquista amorosa que 0 leva
a ensejar relacionamentos inconsistentes.
7.2. Lubricidade senil
A lubricidade senil e a exacerba<;ao do apetite sexual em idade
provecta. E sinal evidente deperturba<;ao psico16gica e por vezes
leva 0 anciao it pratica de perversoes e atos obscenos.
201
ii'
L
i;
I'
Ii
I
11
I
: :,
I
I ,
i -:j
1 :1
! :
i:1
1
' .. 11
,
'I'
i'
';:1'
i'l!
. .
,
Como bern salienta Htlio Gomes (2003, p. 465), a importiincia
da lubricidade senil vern do fato de poder conduzir os idosos,
outrora mantiveram uma vida sexual saudavel, 11 pratica de atos
dinosos, atentados ao pudor, tomando-os, da mesma forma,
facil de extorsoes e ataques de prodigalidade.
7.3. Anafrodisia
E a do instinto sexual do homem, levando-o ao qua-
se total desinteresse pelo sexo oposto. Normalmente vern associado
a glandulares ou psicologicas.
7.4. Frigidez
E a do instinto sexual na mulher, freqiientemente
associada a desequiHbrios emocionais on glandulares ou ainda como
decorrencia do vaginismo. Nos casos mais extremados pode levar 11
androJobia, apandria ou misandria, termos que designam 0 horror
ao sexo masculino.
7.5. Erotomania
Na erotomania nao ha 0 desejo carnal. Ao contrano, 0 erotomano
perde-se em uma especie de amor platonico bastante profundo que
preenche integralmente sua vida e por vezes pode leva-Io ao ridiculo.
as erotomanos sao quase sempre virgens e castos.
7.6. Auto-erotismo ou aloerotismo
No auto-erotismo ou aloerotisrrlO 0 apice sexual e atingido sem
a do parceiro, apenas de modo contemplativo, perante uma
,
pessoa ou um retrato.
7.7. Erotografia ou erotografomania
'.
A erotografia oueretograJomania "e um desvio sexual que se
caracteriza pelo gosto de escrever assuntos de fundo puramente ero-
tico" (apud Paes da Cunha, in Gomes, 2003, p. 462).
202
7.8. Exibicionismo
as exibicionistas geralmente expoem a genitalia ou as partes
pudendas apeuas pelo prazer incontrolavel de faze-Io. Sao conhecidas,
por exemplo, as famosas "chispadas", em que adolescentes nus praticarn
corridas rapidas pelas mas ou aparecem diante de cameras de televisao.
7.9. Narcisismo
Mais comum nas mulheres, 0 narcisismo nada mais e que 0
culto exagerado do proprio corpo. Alguns autores afirmam que 0
narcisismo nas mulheres e constante e normal, desde que nao impor-
te em aversao ao ate sexual.
Uma forma de narcisismo masculino e atualmente denominada
metrossexualidade. a termo metrossexual, cunhado em 2003, e utili-
zado para definir 0 homem urbano de grande senso estetico e que
gasta boa parcela de seu tempo e dinheiro (mais de 30%) com sua
aparencia e estilo de vida.
7.10. Mixoscopia ou "voyeurismo"
Prazer que tem certas pessoas em contemplar 0 ato sexual prati-
cado por terceiros.
7.11. Fetichismo
anormaI e por determinadas partes do cor-
po do parceiro ou ainda por objetos e pertences da pessoa amada,
como suas intimas.
7.12. Gerontofilia ou crono-inversiio
sexual de jovens por pessoas de idade Fran-
r
a
(1998, p. 195) aponta que 0 contrano, ou seja, 0 arnor dos velhos
pelos jovens e compreensfvel. A da-se no sentido oposto.
7.13. Cromo-inversiio
sexual por pessoas de cor diferente. Nao se tomando uma
obsessao, nao pode sequer ser considerada desvio da sexualidade.
..... _203 .
I
7.14. Etno-inversiio
Trata-se de urna variedade de cromo-inversao em que a pessoa
sente atra<;ao sexual exacerbada por detenninadas ra<;as. Tambem nao
tern grande interesse medico-legal, salvo na forma obsessiva.
7.15. Topo-inversiio
Prazer sexual pela pratica de coito ectopico ou atos eroticos di-
versos da conjun<;ao carnal, como sexo anal, oral, praticado entre as
coxas, dedos dos pes, mamas etc.
Dentre as varias modalidades de sexo ectopico, sao considera- .'"
dos normais, como jogos sexuais que antecedem ao coito, alel/atio
in ore e 0 cunnilingus.
7.16. Troca de casais ou troca interconjugal
A troca de casais ou swing, ante a libera<;ao dos costumes, pode
nao significar mills que urn simples desejo da troca de parceiros para
aquecer a vida sexual do casal e, nesse sentido, nao pode ser tido
como urna aberra<;ao ou desvio.
AtuaImente ha imlmeros sites na Internet especializados na di--
vulga<;ao e apoio it pratica.
Caso se tome urna obsessao, podera ser tomada como
desvio. A pratica do sexo grupal, ainda que pelo casal, pode ser clas-
sificada como pluralismo (item 7.22).
7.17. Onanismo
Incorretamente derivado do chamado "coito solitario de Onan",
personagem bfblico que, na verdade; para nao ofender os costumes
hebraicos, praticava 0 coito interrompido com Tamar, a viuva de seu
irmao. 0 onanismo nada mais e que a masturbar;:ao.
A masturbar;:iio pode ser considerada normal na puberdade ou
mesmo quando praticllda pelo casai"(heteromasturbar;:iio), desde que
nao venha a substituir"ourepresentar aversao ao coito.
Estudos recentes,apontam a masturba<;1io, mesmo na idade adulta,
como preventiva dos tumores de prostata, por aliviar a gllindula de
204
secre<;oes cujo acumulo seria fator predisponente. Segundo 0 pesqui-
sador Graham Giles, do Cancer Council Victoria, em Melbourne,
urn homem na faixa dos 20 anos, ejaculando mais de cinco vezes por
semana, diminuiria em tres a possibilidade de desenvolver tumores
maliguos na prostata (Douglas Fox, Can masturbating each day keep
the doctor away? New Scientist, 2003, p. IS).
7.18. Edipismo
Tendencia ao incesto, it pratica de rela<;oes sexuais com paren-
tes muito proximos. Sao relativamente comuns as rela<;oes de pais
com filhos e entre irmaos.
7.19. Pedofilia e hebefilia
Predile<;ao pela pratica de ato sexual com Pode ser
Mtero ou homos sexual. A hebefilia e a preferencia por adolescentes
do sexo masculino entre 10 e 16 anos. Tambem pode ser hetero ou
homossexual.
Esses distUrbios sao urn verdadeiro problema de policia judi-
daria, principalmente apos 0 advento da Internet, pois constituem
urn publico-alvo de prostitui<;ao e pornografia infantile
7.20. Pigmalionismo
-- ,--------
Excita<;ao por estatuas. Alguns autores descrevem 0 pigmalio-
nismo como sendo uma modalidade rara e menos severa de necrofiIia
(Croce, 1998, p. 593).
o termo deriva do mito de Pigmaliao, escultor da ilha de Chipre
que se apaixonou perdidamente pela estatua de mulher que esculpira.
Desesperado, pediu a Afrodite que encontrasse uma mulher seme-
lhante. A Deusa, sensfvel aos apelos, deu vida it pr6pria estatua, nas-
cendo Galateia, que se tornou esposa de Pigmaliao.
7.21. "Frotteurismo"
Disrurbio do comportamento sexual caracterizado pela necessi-
dade de tocar ou esfregar-se em outra pessoa. A pratica ocorre geral-
mente em locais publicos ou de grande concentra<;ao de pessoas, em
205
)
,;-,1'
,
,1,
il:'1
"I
,.:
I':;!
i'_,i
i
,
i
.'d
: Ii
't '
,
Ii'!' I
': ;
,I'
'i;
I;
i 1
I'
j1
;'
"
'I
"
, :
t:
Ii!
it"
ti'
I
'oj,
fi
Ii
'I',
'if
!
I
I
I
,
l
I
'I
, 1,1
II i"I!I;'
; II .
!N I:
1'1 I
II
Ij ! LI
que pode passar despercebida. E mais freqiiente entre os 15 e os 25
anos de idade.
7.22. Pluralismo ou triolismo
Pratica sexual com pluralidade de parceiros ao mesmo tempo,
tres (triolismo ou menage a trois) ou mais pessoas (pluralismo, sexo
grupal, swapping ou, vulgannente, "suruba").
7.23. Vampirismo
Prazer sexual obtido pela ingestao do sangue do parceiro. Mui-
tos homens tern predile .. ao por praticar sexo oral com mulheres du-
rante 0 perfodo menstrual, exatamente porque atingem 0 extase se-
xual ao ingerir 0 sangue da companheira.
7.24. Riparofilia
Atra .. ao sexual por pessoas com pessimos hiibitos de higiene,
de baixa condi .. ao social. Ha homens, por exemplo, que manifestam
predile .. ao por mulheres no perfodo menstrual (ver vampirismo).
7.25. Urolagnia
Prazer sexual em contemplar ci parceiro no ato da mic .. ao ou em
apenas ouvir 0 barulho da urina caindo no vaso sauitiirio. Delton Croce
acrescenta que a "associa .. ao de ideias sexua'is com agua, inc1uindo
urina e mic .. ao, e denominada de ondinismo", termo derivado de
Ondina, ninfa do amor na mitologia n6rdica que vive nas aguas.
7.26. Coprofilia
Prazer sexual ligado ao I\to da defeca .. ao ou ao contato direto
com as fezes. '
7.27. Coprolalia .
Prazer sexual ligado a palavras de baixo calao. Algumas pes-
soas, para atingir 0 prazer sexual, precisam que 0 parceiro antes ou
206
durante 0 ato utilize expressoes chulas, tfpicas de urn vocabulario
bastante baixo.
. 7.28. Bestialismo, zoolagnia, zoofilismo, zoofilia e zooerastia
o bestialismo, zoofilismo ou zoolagnia engloba a pratica de
atos libidinosos (zoofilia) ou 0 ato sexual em si (zooerastia) com
anirnais.
7.29. Necrofilia
Trata-se de urn dos mais serios dist6rbios sexuais, manifestado
pela compulsao da pratica sexual com cadaveres.
7.30. Sadismo
Caracteriza-se pelo excesso de crueldade e prazer sexual obtido
pelo sofrirnento imposto ao parceiro. 0 termo deriva de Donatien
Alphonse Franr,;ois de Sade (1740-1814), 0 "Marques de Sade", au-
tor frances cujas obras, ainda hoje consideradas por alguns como
obscenas, descrevem toda a sorte de desvios sexuais ligados a hurni-
lha .. ao e ao tormento do parceiro.
7.31. Masoquismo
o termo deriva das obras de Leopold von Sacher-Masoch (1835-
1895), que descrevem variadas fantasias er6ticas ligadas a dor e ao
sofrimento. 0 masoquismo representa, assim, 0 prazer sexual obtido
pelo sofrirnento fisico ou moral.
7.32. Sadomasoquismo
Siruilar as formas anteriores, 0 sadomasoquismo conjuga em
urn Unico individuo a satisfa .. ao sexual por provocar no parceiro e
tambem experimentar a dor.
7.33. Flagelatismo ouflagelar;iio
Forma de sadismo em que 0 sofrimento do parceiro e especifi-
camente infJigido por meio de chicotadas.
207
:i
" ,
r
f
,
!,
"
'i
1>,
I,
';1:
I
[:
,
-J
J
I
I
:!
:1'
fj
111
,;
l' "
IIll
I[, it I
lUI:
11 ii'
1
1\1 i
j' ~ i
7.34. Homossexualismo
A origem da homossexualidade, tanto masculina como femini-
na, e variavel. Para alguns autores, e educacional, para outros,
psicogenica ou ainda hormonal. De qualquer modo, todos concor-
dam que 0 homossexualismo e uma severa alteragao da personalida-
de normal, trazendo conseqiiencias irreparaveis quer de natureza ff-
sica, quer psicol6gica.
E preciso diferenciar, entretanto, 0 homossexual do intersexual,
do transexual e do travesti.
No intersexualismo 0 indfvfduo, por alteragoes geralmente de
origem genetica ou hormonal, nao tern sexo definido. Apresenta a
genitiilia externa ou interna indefinida e e comumente esteril.
o transexualismo e uma alteragao psicol6gica bastante grave
que conduz 0 indivfduo (geralmente homem) a querer pertencer ao
sexo oposto. Com freqiiencia 0 transexual adota os trajes do outro
sexo e tudo faz para sentir-se como tal, chegando inclusive 11 transfor-
magao sexual cirUrgica. 0 transexual e urn inconformado com 0 seu
estado sexual e nao admite ser homossexual.
No travestismo 0 invertido sente prazer em utilizar as vestes do
sexo oposto e tern forte tendencia ao homossexualismo. Ao contrario
do transexual, 0 travesti tern perfeita nogao do sexo fenotfpico a que
pertence e nao deseja a mudanga. -
8. GRAVIDEZ, PARTO E PUERPERIO
8.1. Desenvolvimento sexual
A maturidade sexual do homem tern infcio. entre os 11 e os 13
anos de idade, com 0 rapido aumen'to na produgao da testosterona
(vide grillco). Ao redor dos 20 anas os nfveis hormonais estabili-
zam-se para comegar a decair, t ~ b e m rapidamente, pr6ximo dos
40, chegando a praticllIIlente zeroaos 80 anos. A testosterona e res-
ponsavel pelo desenvolvimento dos caracteres sexuais primarios (au-
mento do penis, bolsa escrotal, testfculos etc.) e secundarios (dlstri-
buigao de pelos, efeitos sobre a voz, pele etc.).
208
Na mullier, 0 infcio da vida sexual adulta comega ao redor dos 8
anos de idade com 0 aumento da produ9ao de gonadotrofinas e 0
evento da primeira menstruagao (menarca), entre 11 e 15 anos.
Ao redor dos 45 e 50 anos os ciclos vao-se tornando irregulares
(climaterio feminino) para cessar por completo em torno dos 60 anos
de idade.
Assim como no homem, 0 aumento dos estrogenios durante a
puberdade e responsavel pelo desenvolvimento dos caracteres sexuais
primarios (aumento dos genitais e mamas etc.) e se.cundarios (dis-
tribuigao da gordura corp6rea, de pelos etc.).
o grillco mostra as taxas de testosterona e estrogenio nas dife-
rentes idades (Guyton, 1973, p. 908 e 924).
25
Homom
Taxa de secre9iio de testosterone em dllerentes Ida
des, matilda palas concentrw;:6es de androsterona
no plasma
20
15
Mulher
Secreora:o de eslrogAnlos durante a vida sexual
"
Em razao de uma alteragao cfclica de estrogenios e de
progesterona no sangue circulante da muiher, cuja oscilagao e deter-
minada pelos nfveis de hormonios gonadotr6ficps secretados pela
adenoip6fise (sistema hipotaIamo-adenoip6fise-ovario), estabelece-
se 0 cicio menstrual ou catamenial, caracterizado pela ovulagao e
pelas alteragoes do endometrio (mucosa que recobre a face interna
do utero).
o cicIo menstrual normal e de 28 dias, sendo relativamente co-
muns cielos de 20 e 45 dias. 0 esquema a seguir mostra a correspon-
dencia entre 0 cielo endometrial e a ovUla9ao, bern como os picos
hormonais envolvidos, considerando-se urn cielo de 28 dias.
209
,
{'
'l
:
:);
.8
f
:1,
i
i'J,
!
I
!
,I
'0
i1
.g
"8
'"
"
!Jl
r J!vffyrf "w untIl
2.
Dias do cicio menstrual
Para que ocorra a e preciso que existam
espermatoz6ides viaveis logo ap6s a pois 0 periodo fertiI
da mulher dura aproximadamente 24 horas.
Havendo urn cicIo menstrual regular, a ocorre em tor-
no de 13 a 15 dias antes da proxima menstruat;tio. Em urn cicIo de 28
dias, no 142 dia; em urn cicIo de 20 dias, no 6
2
dia; e em urn cicIo de
45 dias, no 31
2
dia. Essas discrepfulcias, assiin como os cicIos irregu-
lares, sao responsaveis pelos chamados erros de tabela e por urn grande
numero de nao
8.2. Gravidez
A dO,6vulo ocorre 'antes ou logo ap6s a
na trompa de Fal6pio, formando 0 ovo. Cerca de 3 dias depois, oovo
se fixa it parede do utero (gravidez t6pica), dando infcio ao CicIo
gravfdico, que se mantera ate 0 parto.
210
A humana normal dura, em media, 280 dias ou 40 se-
man
as
. Para que haja sobrevivencia do feto, sem cuidados especiais,
e preciso que dure urn mfniino de 196 dias ou urn max.im.o de 294,
inexistindo de nascidos depois de 300 dias do coito fe-
cundante (Bonnet, 1993, p. 116).
Tomando por fundamento os dados biol6gicos, 0 C6digo Civil
(Lei n. 10 .406, de 10-1-2002) estabeleceu como causa suspensiva do
matrimonio, para a mulher, 0 prazo de 10 meses, contados do dia em
que ocorreu a viuvez ou desfez-se a sociedade conjugal (CC, art.
1.523,11).
Quanto it paternidade, presurnem-se concebidos na constfulcia
do casamento os filhos "nascidos cento e oitenta dias, pelo menos,
depois de estabelecida a convivencia conjugal" (CC, art. 1.597, I) e
os filhos "nascidos nos trezentos dias subseqiientes it da
sociedade conjugal, por morte, judicial, nulidade e anula-
do casamento" (art. 1.597, II, do CC).
Dessa forma, em it 0 prazo legal miniino e de
180 e 0 max.im.o de 300 dias.
8.3. Diagnostico da gravidez
o diagu6stico da pode ser cl{nico, instrumental ou
laboratorial, conforme 0 esquema abaixo:
Principais
metodos
para
diagn6stico
da
clfnico
sinais de
probabilidade
(mais precoces)
cessal.fao cia
nas mamas
presen'ta de Hictea
surgimento de manchas no rosto (mas-
cara gravfdica) .
aumento de volume do ventre
aItera-;oes sinal de Puzos
{
sinal de KlUge
sinal de Osiander
na genitilia sinal de Jacquemien
sinal de Budin
sinais de
certeza
(tardios)
{
mOVimentos do fetD
ausculta'tao dos batimentos cardiacos do feta
do sopra uterino au materno
211
I:.
:ji
\
,Hi i
i,;
U
:
'U
I.:
I
I
j
l:j
\,1,
0'1
I
::.
1
J
f" !
:1
1
,1 'i
J!
'I' I,
i",ll ill:
"
I" ' i
I. I ':,
'I ' \ ':
'- j \I
::
',! 1
' :i
lll
iL Ii
:! ;
!
i i
I j:'11
,I i,
:11 1;\
II' n!
'" ,I Ii
I
Principais
metodos
para
diagn6stico
da
gesta,iio
instrumental
laboratorial
{
ultra-sonografia peJvica
radiografia (em desuso)
ressonancia magnetica
laparoscopia - para os casas de gravidez ect6pica
testes qufmicos
testes hio16gicos - usam animais de laborat6rio
(interesse hist6rico)
testes imuno16gicos
s t u ~ o das altera<;5es celulares da mucosa vaginal
o diagn6stico preciso da gravidez tern grande importfulcia no
direito civil em quest6es relacionadas com anula .. ao de casamento e
nas sucess6es; no direito do trabalho, pela sua implica .. ao com a es-
tabilidade; no direito penal, pela necessidade de adequa .. ao do regi-
me prisional a condi .. ao da gestante.
Comrela .. ao ao diagn6stico, e tendo em vista as declara .. 6es da
paciente, algumas situa .. 6es podem ocorrer:
gesta/;iJ.o declarada - a mulher pensa que esta gravida ha
determinado periodo de tempo e 0 diagn6stico confirma 0 fato;
metassimuiar;iJ.o da gravidez - a mulher admite a gesta .. ao,
mas mente, para mais ou menos, quanto ao tempo de gravidez (Fran-
.. a, 1998, p. 202);
suposir;tio de gravidez - a mulher pensa estar gravida, mas
nao est:!;
simular;iJ.o de gravidez - a mulher sabe que nao esta gravida
mas mente estar;
dissimular;iJ.o de gravidez - a mulher sabe que est:! gravida
mas nega 0 fato;
desconhecimento da gravidez - a mulher nao sabe que est:!
gravida. '
Como anomalias da gravidez temos:
superjecundar;iio - ou superimpregnar;tio, e a fecunda .. ao de
dois 6vulos da mesma'oVl,lla .. ao, no mesmo coito ou em c6pulas diver-
sas, podendo, inclusive, haver gera .. ao de filhos de pais diferentes;
supeijetar;tio - rarissima fecunda .. ao de dois ou mais 6vulos
de ciclos diferentes;
212
gravidez ectapica - gesta .. ao fora do utero, que pode ocorrer
nas trompas (gravidez tubaria), nos ovarios ou na cavidade abdomi-
nal. Quando ocorre a morte do feto e este nilo e expulso, forma-se
uma especie de caIculo calcificado denominado litopedio;
mala hidatiforme ou gravidez molar - forma de degenerac;,:ao
e atrofia do embriao que pode evoluir, inclusive, para urn tumor ma-
ligno (coriocarcinoma).
8.4. Nascimento
o parto corresponde ao con junto de fenomenos mecfuricos e
fisio16gicos que levam a expulsao do feto com vida e seus anexos do
corpo da mile. Inicia-se com 0 rompintento da bolsa e finda com a
expulsao da placenta (dequitar;iJ.o). Pode ser a terma, se finda a ges-
ta .. ao, ou prematuro, se ela foi antecipada; natural ou cin1rgico (ce-
sariana); em vida ou post mortem.
8.5. Puerperia e estado puerperal
o periodo compreendido entre 0 parto e 0 retorno do utero ao
seu estado normal e denominado puerperia e tern uma dura .. ao me-
dia de 45 dias.
o parto, ainda que possa produzir pequenos transtomos psico-
l6gicos, como emotividade exacerbada e depressiia pas-parto, nilo
deve induzir transtomos de gravidade.O puerperia e urn quadro fi-
sio16gico que atinge todas as mulheres que mo a luz, sendo raras
altera .. oes de cunho psico16gico graves como a psicose puerperal.
o chamado estado puerperal, exigido por nossa lei penal para a
caracteriza .. ao do crime de infanticidio, nao encontra urn conceito
unfurime entre os autores, alguns dos quais questionam inclusive a
sua existencia, baseados no fato de que somente atinge mullteres que
experimentaram gesta .. 6es indesejadas ou que provem das baixas c1as-
ses sociais.
Zacharias (1991, p. 173) conceitua 0 estado puerperal como
uma "perturba .. ao psfquica, de carater agudo e transit6rio, que, por
influencia simultfulea de fatores fisio16gicos, psico16gicos e sociais,
acomete a parturiente ou a puerpera, ate entiio mentahnente sa, afetan-
do seu comportamento e podendo impeli-la a pratica do infanticidio".
213
iii'
','
,j
; !
j
l
'I
II
il
Ii
,
i'
Por outro lado, e sempre possivel que estados mentais patol6gi-
cos preexistentes sejam agravados pelo parto e, com isso, levem a
priitica do infanticidio. Tem-se demonstrado que este ocorre mais
nesses casos, em que a patologia existe, mas e revelada somente em
decorrencia do parto.
De qualquer maneira 0 perito devera observar:
a) a recenticidade do parto;
b) se 0 parto transcorreu de forma a provocar sofrimento
incomurn na parturiente;
c) se a parturiente recorda-se do ocorrido;
d) se a parturiente apresenta hist6rico de psicopatia anterior;
e) se existe comprovac;ao de que, em razao do parto, surgiu al-
guma perturbac;ao mental capaz de leva-la ao crime.
9. PERICIAS RELACIONADAS
9.1. Sedufiio
Notaimportante: ALein. 11.106, de 28 de marc;o de 2005, em
seu art. 5", revogou expressamente 0 art. 217 do C6digo Penal. Sendo
assim, nao mais devera ser realizada pericia por seduc;ao. Mantive-
mos, entretanto, as considerac;oes a respeito da integridade do himen
por ser de interesse medico-legal em outras pericias. --
o himen e urna membrana mucosa, colocada entre a vulva e a
vagina, encontrada nos primatas, nos eqiiideos e em alguns outros
mamfferos, estando ausente na maioria das especies animais.
Pode ser pequeno, limitando-se a urna orIa bastante estreita, ou
obliterar toda a luz vaginal. Geraimehte possui urn ou mais oriffcios
por onde sai 0 fluxo menstrual, mas ppde apresentar-se impeifurado.
AJrl1nio Peixoto c1assifica. os himens em comissurados,
acomissurados e atfpicos, conforme apresentem comissuras ou septos
dividindo 0 orificio h(menal 1934, p. 70).
Oscar Freire basehi sua classificac;ao na forma e numero dos
oriffcios e divide-os em himens com orificio, himens sem orificio e
atipicos (apud Franc;a, 1998, p. 182).
214
Delton Croce (1998, p. 494) classifica os himens segundo 0
quadro a seguir:
Himens
ausentes
imperfurados
{
resistentes
complacentes
perfurados DaO complacentes au rompiveis
atfpicos
multiplos
{ fenestrados com apendice
{
semilunares
anulares
septados
labiados
{
pendentes
salientes
Embora de rara ocorrencia, e possivel a agenesia himenal ou
ausencia de himen, que nao se confunde com 0 himen complacente.
Os himens impeifurados necessitam de uma incisao cirUrgica
para que possam dar passagem ao fluxo menstrual.
Himens resistentes sao aqueles que tern consistencia cartila-
ginosa, impedindo a penetrac;ao do membro viril no interior da vagi-
na. Nesses casos recomenda-se a incisao cirUrgica para que a mulher
possa ter urna vida sexual normal.
Com excec;ao dos chamados himens complacentes, que nao se
rompem durante 0 coito por serem compostos de tecido elastico e
apresentarem reduzida orIa himenal, as demais especies possuem le-
soes ou roturas em decorrencia da pnitica sexual e queconstituem, na
verdade, a essencia do exame pericial da seduc;ao.
o numero de roturas varia de urn a cinco e sao indicadas pelo
medico-Iegista em urn impresso pr6prio, assinalando-se a orientac;ao
como se fosse urn mostrador de rel6gio, por exemplo, indicando
roturas as 10 horas ou as 6 horas etc.
o himen nao se rompe exclusivamente pela pratica do coito.
Embora em casos bens isolados, hii na literatura medica indicac;oes
de rupturas traumaticas, em decorrencia de quedas OU priitica es-
portiva, corpos estranhos ou manobras medicas inadequadas.
215
i
':i
")
,
1.1
';
I
i'
ii'
ii,
I!!
1'1
" "" tl
A cicatrizas;ao e rapida e ocorre em tome de 21 dias, razao pela
qual a pericia deve ser realizada 0 mais rapido possive!.
\1i\1iW
.-A.... .-A... .-A...
integro
Com duos DeflorQ(;:co anfiga
roturoslaterois cOrUnculos mirtiformes
\if\@!
.-A... .-A...
Imperfurodo Complocente
9.2. Estupro e posse sexual mediante fraude
No estupro 0 medico procurara comprovar a copula vagfnica.
Se a muIher for virgem a ruptura do hfmen podera indicar a ocorren-
cia da violas;ao sexual. Caso nao, a pericia podera basear-se em sinais
da violencia praticada ou na prova da' existencia de semen.
A presens;a de espenna ou de fosfatase acida (componente do
Ifquido seminal) na secres;ao vaginal sao indicativos do coito, muitq
embora para a caracterizas;ao do estupro nao seja necessario que 0
agressor tenha ejaculado, bastando a comprovas;ao da violencia ou
grave ameas;a e da penetras;ao, ainda que parcial, do penis na vagina.
Quando a violencia e real, a perlcia podera ainda demonstrar a
evidencia de lesoes corporais. '
Nas muIheres acostumadas iruma vida sexual ativa, a pericia do
estupro podera encontrar algumas .dificuldades, ficando restrita aos
achados de violencia ffsica e a presens;a eventual de espennatoz6ides
ou componentes do lfquido seminal.
A foto a seguir mostra a especie de lesao observada em vitima
de estupro, quando 0 exame e realizado logo ap6s a violencia sexual.
216
Na posse sexual mediante fraude nao ha 0 elemento violencia, e
a pericia medica sera voltada quase excIusivamente para a compro-
vas;ao da copula.
Importante lembrar que a Lei n. 11.106, de 28 de mars;o de 2005,
alterou a redas;ao do art. 215 do C6digo Penal para suprirnir 0 ele-
mento normativo relativo a honestidade da mulher no crime de posse
sexual mediante fraude. Agora, qualquer mulher pode, em tese, ser
vitima do crime em questao.
9.3. Atentado violento ao pudor e atentado ao pudor mediante
fraude
A natureza variada das agressoes que podem ser cometidas e
classificadas sob 0 mesmo nome jurfdico de atentado violento ao
da uma indicas;ao dos inumeros achados medico-legais possiveis.
A pericia deve preocupar-se em demonstrar a forma do ate
libidinoso praticado (diverso da conjunrao camaf), bem como os
vestfgios eventualmente deixados pela violencia. Dependendo da
forma do ato Iibidinoso praticado, 0 legista podera encontrar ou
pesquisar marcas de mordidas, presens;a de esperma, outros Ifqui-
dos orgfuricos etc.
No atentado violentd ao pudor'mediante fraude, a pericia e bas-
tante dificiI, mas em algumas modalidades, como, por exemplo, 0
217
;:,;
.,
r;
Ii
II
I
.... :1
')1
:.' I
,.c1.
[I
coito anal, a presenc;a de esperma podera fomecer elemento de certe_ .
za ao perito medico.
Importante lembrar que a Lei n. 11.106, de 28 de marc;o de 2005, .
alterou aredac;ao do art. 216 do C6digo Penal, substituindo a expres- .
sao "mulher honesta" pelo vocabulo "alguem". Assim sendo, agora
tanto 0 homem quanto a mulher, honesta ou nao, podem ser sujeitos
passivos do crime em aprec;o.
9.4. Ahorto
Abortamento, segundo Bonnet (1993, p. 1138), "e a morte do
produto da concepc;ao em qualquer momenta da gravidez". Para
Tardieu consiste na "expulsao prematura e violentamente provocada
do produto da concepc;ao independentemente de todas as circunstan-
cias de idade, viabilidade e mesmo de formac;ao regular" (apud Fran-
c;a, 1998, p. 223).
Alguns autares costumam diferenciar os termos abortamento e
aborto, atribuindo ao primeiro 0 significado do ato de abortar e ao
segundo 0 produto do abortamento. Tal separac;ao, entretanto, nao e
tecnica, sendo a palavra aborto tambem utilizada para designar 0 ato
de abortar.
o aborto doloso e repelido por nos so ordenamento jundico-pe-
nal, excluindo-se algumas situac;oes em que e legal e, portanto, per-
mitido (art. 128 do CP).
Aborto Ie a1 {aborto (art. 128, I, do CP)
g .borto sentimental (art. 128, II, do CP)
Aborto terapeutico - em algumas situac;oes nao ha como man-
ter a vida do produto da concepc;ao, e a da gestante. Quando 0 medico
encontra-se nesse'dilema, a lei autoriza 0 sacriffcio da vida do feto.
Para que isso ocorra, alguns fatores:
a) que a gestante esteja em perigo de vida;
b) que 0 perigo de vida esteja diretamente relacionado' com a
gravidez;
c) que a interrupc;ao da gestac;ao fac;a cessar 0 risco da gestan-
te; e
d) que a interrupc;ao da gravidez seja 0 Unico meio de salvar a
vida da gestante.
Apenas como cautela, recomenda-se que 0 medico confirme sua
decisao com a opiniao de dois outros colegas.
Recentemente, em polemica decisao, 0 Supremo Tribunal Fe-
deral, por liminar concedida pelo Ministro Marco Aurelio Mello,
garantiu a possibilidade de interrupc;ao da gesta<;ao de fetos com com-
provada anencefalia (que nao tern cerebro e chances de sobreviven-
cia). A liminar fai cassada, mas a decisao, que se favoravel criara
nova hip6tese de aborto legal, ainda esta pendente de julgamento
()1edico pode por jim it gestat;iio defeto sem cerebro, 0 Estado de S.
Paulo, 2-7-2004, p. AI4).
Aborto sentimental- e 0 aborto praticado por medico quando
a gestac;ao decorre de estupro.
Muito embora 0 art. 128, II, do CP fale em estupro, a jurispru-
dencia tern entendido que 0 dispositivo e aplicavel tamMm quando a
gesta<;ao decorre de atentado violento ao pudor (analogia in bonam
partem).
Nao existem outras modalidades de aborto legal no Brasil. 0-
chamado aborto eugenico, eugenetico ou eugenesico, que permite a
interrupc;ao da gestac;ao por anomalia fetal, ainda nao e admitido par
nossa legislac;ao, embora exista proposta nesse sentido no anteproje-
to da nova parte especial do C6digo Penal.
Dividem-se os meios empregados para a pratica do aborto em
medicamentosoS (ou t6xicos) e mecanicos.
A pencia no aborto crirninoso e bastante diffcil e requer al-
guns cuidados por parte do perito. Sao observadas eventuais le-
soes no penneo, lesoes decorrentes do meio utilizado (muitas ve-
zes sao encontrados vestigios do pr6prio meio empregado, como
sondas ou outros instrumentos), lesoes uterinas e ainda exames
laboratoriais.
\:
';
II! Ii 1
.. nJ.j 218 219--
UI' I , I ,1 I 1
No aborto examina-se, tambem, 0 feto, muito embora em inu-
meras nao se consiga chegar a mae, uma vez que 0 produto
da e atirado em terrenos baldios (vide fotos), rios, ou mes-
mo depositado em vasos sanitanos.
Na existencia de possiveis suspeitas, 0 exame clfnico e even-
tualmente uma analise de DNA podera determinar com a
maternidade.
A foto a seguir mostra os instrumentos cirUrgicos geralmente
encontrados em uma clfnica destinada a de abortos.
....--.....
9.5. InfanticUlio
o crime de infanticfdio vern descrito no art. 123 do C6digo Penal:
220
CP
Art. 123. Matar, sob a influencia do estado puerperal, 0 pr6prio filho, durante 0
parto ou logo ap6s.
A perfcia no infanticfdio e bastante complexa e compreende duas
etapas. A primeira, determinar se 0 produto da nasceu com
vida (leto nascente ou infante nascido), e a segunda, se a mulher agiu
sob influencia do estado puerperal.
{
_ {feto nascente
no produto da para saber infant . d
. e naSCl 0
Pericia no infanticfdio se nasceu com vIda recem-nascido
na parturiente - determinac;ao do estado puerperal
Como 0 infanticfdio pode ser cometido durante 0 parto, e pos-
sivel que a conduta tenha recafdo sobre 0 feto nascente, que se dife-
rencia do infante nascido apenas pelo fato de niio ter respirado.
Infante nascido e 0 que acabou de nascer, mas ainda nao rece-
beu os primeiros cuidados. Tern 0 corpo recoberto por sangue fet&!
ou materno (estado sanguinolento), as pregas cutaneas recobertas por
substancia sebacea (induto sebticeo), apresenta-se ligado ao cordab
umbilical e ainda nao expulsou 0 meconio (substancia presente no
intestino do feto).
Denomina-se recem-nascido a que recebeu os primei-
roscuidados, ate 0 7
2
dia de vida, guardando ainda alguns vestfgios
da vida intra-uterina.
E fundamental para a do crime de infantiddio a
prova de vida extra-uterina, 0 que se faz pelas chamadas docimasias
ou por provas ocasionais.
1
docimasias - da respirac;ao
Prova de vida extra-uterina
pravas ocasionais
As docimasias sao provas destinadas a comprovar a
ou seus efeitos. 0 quadro a seguir mostra algumas das principais:
221
'i i
l'
I'
,
\1 '
,
. :1
,
"
'i
!
" !i
,', :1
I
I'
i il
I iJ '
!i'ii I
:! 'I) I
r I
J ill I!
Ii !,Ii,
I
i i '
Ii ,;
I"
!
i r.
t,l:I-
]', :
i' ,
Ii i
I i
I j
1\
, F
Ii I,
!I, .
,[
ii, l'
I, :
'
II"
I
',
' iii
"tll::1
Docimasia diafragmtitica de
Ploquet
Docimasia 6ptica ou visual
de Bouchut
Docimasia tatil de Neria
Rojas
Docimasia radiol6gica de
Bordas
Docimasia hidrostatica de
Galena
Docimasia histo16gica de
Balthazard e Lebrun
Docimasia gastrointestinal de
Breslau
Docimasia auricular de
Wreden-Wendt-Gifle
Docimasia sialica de Souza
Diniz
Docimasia do nervo 6ptico
de Mirto
Docimasia epimicrosc6pica
pneumoarquitetonica de
Hildrio Veiga de Carvalho
Docimasia 6ptica de Icard
Docimasia pl6urica de
Placzec
Docimasia
de Puccinotti
Docimasia hematopneumo-
hepatica de Seven
222
Abertura da cavidade t6raco-abdominal e observa_
do diafragma. Quando nlio houve respirn>ao 0
diafragma mostra-se recolhido, convexo e voltado
para 0 interior do t6rax. Quando ja ocorreu a respi-
rat;ao ele esti mais plano, menos abaulado.
Simples visual do pulmao. 0 que nao
respirou tem apar6ncia mais compacta, s6lida, e
o que respirou apresenta 0 desenho alveolar mais
evidente.
Nopulmlio que respitou, it senle-se umleve
crepitar, que e ausente naquele que niio respireu.
radiogriifica dos puhnoes. Os que res-
piraram mostram-se desenvolvidos, ao passo que
os que nao respiraram estao colabados.
Consiste na imersao dos pulmoes ou de fragmen-
tos deles em uma cuba com agua. Se houver
flutuat;ao e porque houve respirat;ao. Esta e a pro-
va mais comumente utilizada no dia-a-dia pericial.
Baseia-se no exame microsc6pico do puImao e
nas aIterat;oes anatomopatol6gicas que diferen-
ciam aquele que respirou do que nao respirou.
Comprovat;ao da existencia de ar no trato gastro-
intestinal.
Present;a de ar na caixa do timpano.
Pesquisa a presen9a de saliva no est6mago.
Baseia-se na mielinizat;ao do nervo 6ptico. que
se inicia cerca de 12 horas ap6s 0 nascimento.
Baseia-se na anaIise microsc6pica de fragmen-
tos do puhnao pelo ultra-opak.
Esmagam-se pequenos fragmentos do puhnao do
recem-nascitlo entre Himina e lamfnula. Ao mi-
crosc6pip. observam-se pequenas bolhas de ar.
Constatat;ao da pressao negativa na cavidade
pleural do infante que nao respirou.
Baseia-se na comparat;ao entre 0 volume sangiif-
neo do puhnao e do ffgado.
e anilise da hemoglobina do pul-
mao e ffgado.
I
J
;lL_1
Pr0va hemato-arteriovenosa
Baseia-se na compara9aO entre as taxas de
de Franr;a
oxiemoglobina do sangue venoso e arterial, em
busca de comprovat;ao da hematose e. por conse-
qiil!ncia, da respirat;ao.
Docimasia supra-renal fisio-
Funda-se na analise dos efeitos da adrenalina so-
l6gica
bre a musculatura lisa e cardfaca.
Como provas ocasionais para a comprova"ao de vida extra-
uterina podemos citar 0 encontro de corpos estranhos nas vias ae-
reas, geralmente indicando que a crian"a foi morta por sufoca"ao; a
presen"a de substancias alimentares no trato digestivo; e a observa-
"ao de rear;oes vitais em lesoes do cadaver.
Finalmente, e de dificil comprova"ao, e a caracteriza"ao do esta-
do mental da parturiente, normalmente denominado estado puerperal.
As considera"oes sobre a comprova"ao do estado puerperal ja
foram feitas no item 8.5.
10. AS IMPorENCIAS
A incapacidade em manter uma rela"ao sexual e denominada
impotencia coeundi no homem e acopulia na mulher, podendo dar
causa a anula"ao do casamento.
A impossibilidade de gerar filhos e chamada de impotencia
generandi, ou esterilidade masculina, e impotencia concipiendi, ou
esterilidade fenrinina, e nao implica causa de anula"ao do matrimonio.
A doutrina entende que apenas a impotencia coeundi e a
acopulia podem constituir erro essencial por ignorancia de defeito
ffsico irremediavel passivel de anular 0 casamento (art. 1.550, ill,
c/c 0 art. 1.557, ill, do CC). Note-se que, mesmo nesses casos, 0
casamento somente sera anulavel se 0 fato era ignorado pelo outro
conjuge.
Transtomos da
reprodut;ao
nohomem
impotencia generandi - esterilidade masculina
impoffincia coeundi
{
fisiol6gica - idade
fisiopatica
orgamca
psiquica
223
l
r '
\:
,
! \
:i
1 '
I
Iii
it
I
..'''
r:
r
"
f '.
r
Transtornos da J na muIher
1
{
imPotencia concipiendi - esterilidade feminina
uli {OrgfullCa .
acop a psiquica .
A impotencia verdadeira, ou coeundi, pode ser de origemjisio-
16gica, relacionada com a idade; jisiopdtica, quando causada por
malforma90es ou dismrbios neuroglandulares; organica, de corrente
geralmente de lesoes nervosas ou altera90es circulat6rias graves; e
psiquica.
Na mullier, a acopulia pode derivar de causas organicas, como
ausencia de vagina ou malforma90es genitais; e causas psiquicas,
comofrigidez, vaginismo, dispaneuria ou coit%bia.
Afrigidez e a impossibilidade feminina de atingir 0 orgasmo. 0
vaginismo e uma contra9ao espastica da musculatura vaginal que
impede a penetra9ao do 6rgao sexual masculino. A dispaneuria e a
sensa9ao de dor durante a rela9ao sexual, e a coit%bia, a aversao
patol6gica ao comlbio por causas divers as, como, por exemplo,
homossexualismo, ignorancia ou estados patol6gicos mentais gra-
ves, como esquizofrenia ou oligofrenia.
11. DE PATERNIDADE
Diz 0 velho brocardo latina: mater semper certa est, pater
est quem nuptial demonstrant (a mae sempre e certa, pai e aquele
que as mlpcias demonstram). 0 pensamento revela, em termos
medico-Iegais, apenas uma meia-verdade. E certo que os casos de
investiga9ao de paternidade em que se busca deterrninar a identi-
dade do pai sao bern mais freqiientes que aqueles em que a mae e
questionada, mas ha hip6teses, coI\lo, por exemplo, casos de se-
qiiestro de crian9as, nas quais a maternidade tambem deve ser
colocada a prova. '
0-
j
'0 '8
t
'"
"" '<'I
. '0' .g 0
"'''C:l CI.I 1C":l
J
.g .a 'ol 11'
.at:a :g 0
cO u ot
...... uiij "0
. 8 C":lP.. g
__ '-' C '"00 P-
00 0 <11"'0 0 co
1C":l1C":l ,0 U C":l ':::I
(.)0 ,z:I 0 _ = r.IJ
S "0 .,fr. <0 0
:.s C'-I IC":l :oe
g g g .g s s B
00
.s 0 01) U 0 VI"i j;;;i
r.IJ"tl"O08 00 g, C'-I
M,.g -8 4) C i5 fi 18
.,g.g :s"g;
"O]]g,g d'S
88
'0; '1:1 0 co C":l 0 . "
"0 p.. o..S < p.. 0..
C":l 0
0 !::9
.0 ICC la 4)
0 "8
r.IJ & "'0 d)
o 0 d)
!3
'"
til -g,
"3
.g 0
S
'0
"3
.g
P.."O'.,t:I.g 0 0 0
.g ,a Ie. 8.
cO C q:jo '8 g C":l
00"'0
0 Ei 1-0
;i
o
.:g
'"
S:5
",;:iili",.J!l
e ell Ul 8 [II
';l ';l :g
'-----v------'
2
.S
'6b
l
Cl
- -----'
.S
'6b
1
J
1
"0 r:: "0 9
co:I 0 co:I
"00 :s /5.,
'----v ''-'
!
J
1
!'I
l'
j.
l
j
,
r,,:
1
,
,I
A pericia de investiga9ao de paternidade busca 0 reconhecimento 'gj, [I :"
da filia9ao com 0 intuito de detellllinar a identidade civil e, qlmse Ii ,j
sempre, com implical,)oes sucess6rias. ':Iii
Genival Franra (1998, p. 253) e Delton Croce (1998, p. 610) e c, 't
',' ; dividem as provas para deterruinaao da paternidade em dois grandes g 'I'!II
.. 1 grupos, geneticas e nao geneticas: .t 1 .. ' .
11
1
' I I
" I"
I ':1. 224 i ,il!
,\ I <. 'I
''i' 'I
, ' , .... 1
_ _ __ ____ _________
:-,
i
I
II
r
I
I
As provas niio geneticas sao meramente de e, no m3xi-
mo, servem para direcionar 0 perito quando da rea1iza9ao de seu trabalho.
As provas gentfticas pre-mendelianas tern interesse apenas his-
t6rico. Como adverte Ayush Morad Amar, "a confronta<;;ao
fisionomica, 0 retrato falado, 0 estudo das impressoes digitais, da cor
da pele, das varia<;;oes pigmentares, os exames mais especializados,
como 0 craniometrico, o. craniosc6pico, 0 odontometrico, 0
prosoposc6pico etc., quase nada of ere cern de valor pratico: as Leis
de Mendel evidenciam a possibilidade de se encontrarem, na pratica,
indivfduos nada semelhantes aos seus ascendentes" (Investigat;;iio de
patemidade - aspectos medico-legais, 1987, p. 17).
Dessa forma, atualmente, mostram-se de valor probat6rio, no
campo da investiga<;;ao de paternidade, apenas as provas mendelianas,
nao sangiifneas e, principalmente, as sangiifneas.
11.1 Provas mendelianas niio sangiiineas
Exame do pavilhao auricular
Baseia-se no exame do lobulo da orelha dos pais
e filhos. 0 16bulo livre e dominante enquanto 0
preso e recessivo.
Anomalia dos dedos
As anomalias dos dedos (vide item 3.10 do Capi-
tulo 3), como a sindactilia au ectrodactilia, tern
carater dominante. Assiin, a filho de urna mae
normal com aIguma anomalia deve ter urn pai com
essa anomalia.
Caracteristicas dos dentes
Existem algumas altera<;oes geneticas, como a
ausencia de dentes, que estiio sendo estudadas.
de mancha mongo-
Trata-se de wna rnancha de e confor-
lica
que tende a: desaparecer ate os
dois anos de idade. A dessa mancha ex-
clui os genitores caucasianos puros (brancos).
Hemofilia
E uma doen<.;a hereditaria, hemorragica, caracte-
'.
rizada por. t;U:n distt1rbio na do san-
.gue, ligada ao cromossorno X, transmitida pela
mullier e que se manifesta no homern. Por ser de
comprovada origem genetica, nenhum 'filho de
pais geneticamente sarlios pode ser hemofilico.
226
Daltonismo Tambem e uma hereditana ligada ao sexo
(cromossomo X), caracterizada pela incapacida-
de de distinguir cores. Filhos de pais genetic a-
mente sadios nao podem ser daltonicos.
dos cabelos A no redemoinho dos cabelos e deter-
min ada por urn fator dominante
dextrogira) e Dutro recessivo (levogira).
Cor da pele Acredita-se que cinco pares de genes estejam
envolvidos na da tonalidade da pele
bumana, que vai desde 0 preto ate 0 branco puro.
Os filhos devem ter sempre uma tonalidade de
pele intermediiiria iI dos pais. A de urn
filho mais claro ou roais escuro levanta suspeita
sobre a paternidade.
E claro que a aniilise dessas caracteristicas, mesmo quando pre-
sentes, nao autoriza afirmar a paternidade, podendo, no miiximo,
infirma-Ia em alguns casos.
11.2. Provas mendelianas sangiUneas
QUlj.lldo tiveram infcio as transfusoes sangiifneas, percebeu-se
que em algnmas nada ocorria, enquanto em outras havia violenta re-
a<;;ao orgfurica do receptor, chegando, as vezes, ao exito letal.
Descobriu-se que as hemacias possufam em sua superffcie va-
riadas glicoprotelnas, com propriedades antigenicas e que, uma vez
transfundidas, podiam levar a uma resposta imunitiiria por parte do
organismo receptor com conseqiiente aglutina<;;ao elise das celulas
recebidas.
Com 0 aprimoramento da sorologia centenas de antfgenos fo-
ram descobertos. Alguns responsaveis pelas rea<;;oes transfusionais e
outros que, embora nao reagentes por transfusao, tern importancia na
rejei<;;ao de 6rgaos em caso de transplantes.
Tambem os gl6bulos brancos, leuc6citos, possuem em sua su-
perffcie inumeros antfgenos, diversos daqueles observados nas celu-
las vermelhas do sangue, e que podem ser responsaveis por algumas
transfusionais adversas. Sua importancia maior, entretanto,
repousa no estudo da investiga<;;ao de paternidade.
227
I,'
i' '
,
I;
I
, j
i Iii
,
'II'
i'
'I'
'.' 'II
1, ' l.
tlill
1"1' . 'lL
J
: I
I,
','
di
l
.
~ i l ~
Os principais grupos de antigenos dos gl6bulos sangiifneos sao
os segnintes:
Antigenos
hemacias
sistema ABO
fatoresMeN
fatares Rh e rh
sistema Duffy
outros fatores sistema Kidt!
{
sistema Lewis
sistema Kell Cellano
grupos Lutheran
Ieuc6citos - sistema HLA
11.3. Sistema ABO
Os antfgenos que compoem 0 sistema ABO foram os primeiros
antfgenos eritrocitarios descobertos, gralias aos trabalhos do
imunologista ausmaco Karl Landsteiner em 1901.
Sobre a superffcie das hemacias podemos encontrar dois
antigenos, diferentes e relacionados, que tornam as celulas passfveis
de aglutinaliiio, a que se convencionou chamar de aglutinogenio tipo
A e aglutinogenio tipo B.
Dependendo da maneira como esses antigenos sao transmiti-
dos de geraliiio a geraliao, por tres pares de genes, A, B e 0, pode-
mos identificar indivfduos portadores de cada urn deles separada-
mente, dos dois ou de nenhurn, formando quatro grupos fundamen-
tais: A, B, AB e 0, este ultimo indicativo da ausencia de ambos os
aglutinogenios.
Grupo sangilineo
'Gen6tipos possiveis
A
\ AAouAO
B'
,
BBouBO
AB
AB
0
00
228
Grupo sangiiineo dos pais Filhos possfveis Filhos impossiveis
AXA AeO BeAB
AXB O,A,BeAB nenhum
AXAB A,BeAB 0
AXO AeO BeAB .
BXB BeO AeAB
BXAB A,BeAB 0
BXO BeO AeAB
ABXAB A,BeAB 0
ABXO AeB OeAB
OXO 0 A,BeAB
Os antigenos sangiifneos nao estiio restritos as celulas verme-
lhas do sangue ou aos tecidos dos orgiios hemopoieticos (produtores
de sangue). Niio hii duvida que os antfgenos do sistema ABO podem
ser encontrados nos viirios tecidos org1inicos, tendo sido identifica-
dos em plaquetas, leuc6citos, celulas do tecido epitelial, pele, trato
gastrintestinal e uriniirio, bern como em alguns fluidos e secrelioes
orgfuricas como saliva, variando em concentraliao de pessoa para
pessoa.
Essa caracterfstica reveste-se de importllncia em medicina legal
porque permite a tipagem sangiifnea, aomenos em reialiiio ao grupo
ABO, a partir de manchas recolhidas das vestes da vftima ou mesmo
tocos de cigarro retirados do local do crime.
Ainda que 0 sistema ABO niio possa ser utilizado para provar
a paternidade, serve como prova de excIusao, ja que uma crianlia
nao pode pertencer a urn grupo sangiifneo que nao esteja presente
nos pais.
Tambem em locais de crime 0 sistema ABO pode levar a in-
cIusao ou excIusiio de eventuais suspeitos, caso 0 autor indigitado
tenha deixado na cena do delito material que permita a tipagem
sangiifnea.
229
, ':
i.',
j: .
I
,
!
:; ,
ii"
I"
i :i
. ')
!
il
!:f
,i
l ',1
I'
"'11 ~
~ ~
til
1'1'
Ii
I,
"
~
f'F!
,'I
i
. ,
. i
,
'_ i
11.4. Fatores MN
Descobertos em 1927, por Landsteiner e Levine, os
tinogenios MeN 1evam it forma9ao de tres grupos sangiiineos
tintos:
Grupo sangliineo Genotipos possfveis
M MM
N NN
MN MN
Grupo sangilineo dos pais Filhos possiveis Filhos impossiveis
MXM M NeMN
MXN MN NeM
MXMN MNeM N
NXN N MeMN
NXMN MNeN M
MNXMN MN,MeN nenhum
Da mesma maneira que 0 ABO, 0 sistema MN nao serve para
provar a patemidade, mas pode com certeza, visto que uma
crian9a nao pode pertencer a urn grupo sangiifneo que nao esteja pre-
sente nos pais .
11.5. Fatores Rh e rh
Em 1939 Philip Levine e R. E. Stetson descreveram a presen9a
de urn antfgeno no soro de gestantes it que denominaram Rho ou D.
Em 1940, Landsteiner e Wiener descobriram que g16bulos verme-
!hos, provenientes do macaco Rhesus, quando lavados e inoculados
em coe!hos, levavam it produ9ao de,uma especie de anticorpos que
reagia com 85 % dos in<:livfduos de Ta9a branca. A esse fator foi dado
o nome de Jator rhesus oufator Rh, indicando genericamente por. Rh
(Rh positivo) os indivfduos reagentes e por rh (Rh negativo) os nao
reagentes.
230
Em termos medico-1egais a importancia do fator Rh esta ligada
ao cuidado necessario nas transfusoes sangUineas, podendo eventuais
acidentes caracterizar negligencia medica, especialmente em ques-
toes relativas it preven9ao da eritroblastos
e
fetal (doe
n
9
a
hemolftica
do recem-nascido).
No campo da exclusao da paternidade, 0 fator Rh pode operar
comO auxiliar e, mesmo assim, com baixo percentual de eficacia,
um
a
vez que a analise do fator Rh em combin
a
9
ao
com 0 sistema
ABO pode excluir a paternidade em menos de 30% dos casos
alegados.
11.6. Outros fatores
Outros fatores sangiifneos de grande importancia para a
hematologia e imunologia, particularmente em questiies envolven-
do transfusoes sangiifneas e transplantes de 6rgaos, como os siste-
mas Lewis, Duffy, Kidd, Kell eellano e grupos Lutheran, funcio-
nam como exames apenas complementares em termos de investiga-
9
ao
da paternidade, podendo excluir, mas nao confmnar eventual
alega9ao.
11.7. Sistema HLA
Os anngenos leucocitarios humanos, identificados pela sigla
HLA (Human Leucocyte Antigen), estao presentes na superffcie de
todas as celulas nucleadas do organismo (0 que exclui as hemacias) e
tern grande importancia nas questoes de histocompatibilidade (iden-
tidade genetic a entre dois indivfduos, que possibilita ou nao 0 trans-
plante de tecidos).
Verificou-se que esses antigenos estavam ligados a inte
ra
9
ao
de
varios genes, identificados pelas letras A, B, C e D, localizados no
bra"o curto do par de cromosSOmos 6, cada urn deles associado a va-
rios alelos (cada urna das formas que urn gene pode apresentar e que
determina caracterfsticas diferentes). 0 quadro abaixo mostra os alelos
conhecidos ate 0 momento, embora exista certa divergencia entre os
autores quanto a classifica"ao e nomenclatura (baseado em quadro pro-
posto por GilbertoAlvarenga Navarro, in Gomes, 2003, p. 551):
231
',! 1,*1"
!.r I '[." I,
I::' 1
i;"lj,!J II
'\'\'1' :
:il\\\rr
\
1:';!, :
;
qi:
'L"
11'::1
iF::
':'
'\1
\'
: 'I
,
r
;: if
)1
HLA-A
HLA-B
HLA-C
HLA-D
AI
A36 B5
B40(5)
B59
Cwl
DR!
DRI8(3) A2
A43 B7
B41
B60(40)
Cw2 DRI03
DRSI A203 A66(1O)
B703
B42
B61(40)
Cw3
DR2
DRS2 A3
A68(28)
B8
B44(12)
B62(15) Cw4
DR3
DRS3 A9
A69(28)
BI2
B45(12)
B63(15)
Cw5
DR4
AIO A74(19)
BI3
B46
B64(14)
Cw6
DRS
DQI All
BI4
B47
B65(14)
Cw7
DR6
DQ2 AI9
BI6
B48
B67
Cw8
DR7
DQ3 A23(9)
BI7
B49(21)
B70
Cw9(w3)
DR8
DQ4 A24(9)
BI8
B50(21)
B71
CwlO(w3)
DR9 DQ5(1)
A2403
B21
B51(5)
B7I(70)
Cwl2
DRIO
DQ6(1) A25(1O)
B22
B5102
B72(70)
Cwl3
DRII(5) DQ7(3)
A26(1O)
B27
B5103
B73
Cwl4
DRI2(5) DQ8(3)
A28
B35
B52(5)
B75(15)
Cw!5
DRI3(6) DQ9(3)
I A29(!9)
B37
B53
B76(15) Cwl6
DRI4(6)
A30(!9)
B38(16)
B54(22)
B77(15)
Cw!7
DRI403
A31(19)
B39(16)
B55(22)
B7801
DRI404
A32(19)
B3901
B56(22)
Bw4
DRI5(2)
A33(19)
B3902
B57(17)
Bw6
DRI6(2)
A34(1O)
B40
B58(17)
DR17(3)
o mimero de alelos e, conseqiientemente, de antigenos HLA
detectiiveis que cada pessoa pode apresentar varia de quatro a
urn miiximo de oito, sendo metade recebida d"a mae e metade do
pai.
A heran9a, devido it proxlluidade dos loci (plural de lOcus, indi-
ca 0 lugar que 0 gene ocupa no cromossomo), e co-dominante, ou
seja, nao hii genes recessivos, e faz-se e:o.n blocos, 0 que leva os filhos
a apresentar apenas quatro combina90es possiveis em relaS'ao aos
. ,
pais (vide esquema).
GraS'as ao acentuado pOlimorflsmo (varia9ao dentro de uma
populaS'ao), 0 sistema HLA e adequado it investiga9
ao
de paternidade, pois oS indices de exclusao uItrapassam 90%,
valor bastante significativo se comparado aos dos sistemas
ABO,RheMN.
232
,...
I
:i.
m
. ..J
z
(3
5
w
::2
_ .. _-
Pai
A2 - B12 - Cws - OR3
A3 - B15 - Cw4 - OR9
11.8. DNA
Filhos
A2-B12-Cws-0R3
A11-B12-CwS-OR3
A2-B12-Cws-0R3
A2-B8-Cw1-0R2
A3-B15-Cw4-0R9
A2-B8-Cw1-0R2
A3-B15-Cw4-0R9
A11-B12-CwS- OR3
Mae
A11-B12-CwS-OR3
A2-B8-Cw1-0R2
A partir de meados da decada de 80, com a descoberta, peia
equipe de Alec Jeffreys, de regiOes variiiveis do genoma humano, a
habilidade dos laborat6rios periciais em identificar autores de crimes
a partir de amostras de seus fluidos orgfurieos eresceu enormemente.
o DNA (deoxyribonucleic acid) ou ADN (acido desoxir-
ribonucleieo), em portugues, e uma longa moIeeula, em forma de
dupla Mlice, enearregada da transrnissao de informaS'oes genetieas
de todos os seres vivos.
A moIecula do DNA e formada por duas longas fitas de susten-
taS'ao, eompostas por uma pentose (urn as'uear - desoxirribose) e
urn grupo fosfato (pO.J, que se sueedem alternadamente. Unindo as
fitas de sustentaS'ao, temos quatro bases nitrogenadas, duas purinas
(adenina e eitosina) e duas pirirnidinas (tirnina e guanina), que, Ii-
gando-se entre si, dao a eonformaS'ao de uma eseada em espiral com
eerca de tres bilhoes de degraus.
Apenas uma pequena porS'ao da moIeeula de DNA e responsa-
vel pela transmissao de nossas caraeteristieas geneticas. A maior par-
te, entretanto, nao tern funS'ao eonheeida (junk DNA).
Nessa ampla faixa de DNA de fun9ao indefinida existem pe-
quenas regioes, denominadas microssatelites ou minissatlites, for-
madas por pequenas seqiiencias de dois a seis pares de bases
233
'i
:':,
'-i
. 1
:1
[i
nitrogenadas (nucleotideos), que Se repetem inUmeras VeZeS do co-
ao fun (short tandem repeat - S1R).
Essas regioes apresentam urn polimorfismo bastante acentua-
do, pennitindo sua aplicagao nos metodos de identificagao com utili-
dade na area forense.
A anilise comega com a extragao do DNA da amostra. Como
geralmente a quantidade de DNA obtida e muito pequena, e preciso
mnltiplicar a amostra com urn metodo conhecido como reat;{fo em
cadeia de polimerase (polymerase chain reaction) ou PCR.
Vma vez mnltiplicada a amostra, as c6pias sao submetidas a
eletroforese em gel de agarose e separam-se de acordo com os tama-
nhos. Para tomar os fragmentos visfveis usam-se marc adores radioa-
tivos, que sensibilizam urna chapa radiogrMica, produzindo faixas
paralelas horizontais, similares a urn c6digo de barras, correspon-
dentes as fragoes identificadas pelas sondas.
No campo da identificagao criminal, compara-se a amostra reti-
rada do local do crime com aquela obtida da pessoa suspeita. Se as
bandas forem correspondentes, a identificagao e positiva.
Para a de paternidade a questlio e urn pouco mais
complexa.
E sabido que 0 filho recebe metade de seu DNA da mae e meta-
de do pai, visto que os gametas (6vulo e esperrnatoz6ide) sao celulas
hapl6ides (possuem a metade do numero de cromossomos das de-
mais ceJulas do organismo).
Ao colocarem-se, lado a lado, as amostras de miie, pretenso pai
e filho, cada fragao existente no DNA do filho deve Ser proveniente
do DNA da mae ou do pai. Caso exista alguma faixa sem correspon-
dencia, 0 exame teni exc1ufdo a paternidade.
Para a afirrnaao da paternidade, quando todas as. sao
coincidentes, calcula-se 0 percen,tual de cada na populaao,
estabelecendo-se urn calculo estatfstico de probabilidade.
No quadro abaixo temos, a cllreita, urn quadro rie probabilida-
des, ou seja, todas as identificadas no filho vieram do pai ou
da mae. No quadro a esquerda, temos algumas fraoes que'nao
encontram correspondencia nem na mae, nem no indigitado pai
234
(setaS pretas), 0 que leva a conc1usao de que este e outra pessoa que
nao 0 investigado.
Paternidade exc\ufda
Mae Filho Pai
-
Paternidade provavel
Mae Filho pai
--
Y
..
-
$"""""""""'" -
6i!'f.QiiiCidi/
,'Y
[ J
"1<>-
<>--
-
-
Oll!i!iI!lI!!!i!iillOY
=.
,
.........:;m Nl)
d11IT1TIIITInllllllJl
=
,
o exame do DNA, que pela sua precisao recebeu 0 nome de
impressiio digital do DNA (DNAjingerprint), vern sendo questiona-
do quanto a sua exatidao. Algumas relacionadas com a
possibilidade de ou com as tabelas de freqiiencia genic a
utilizadas para 0 calculo de probabilidade tern duvidas sobre
a infalibilidade inicialmente proclamada do exame. Em que pesem as
cnticas, bastante ponderaveis, 0 exame do DNA ainda e dos mais
seguros no que toca a identificaao criminal e da pater-
nidade, com probabilidades que ultrapassam os 98% de certeza.
235
n'
i
,
!
"i II
,I' .
ill
lr!!
'1,1
I)!; Iii
:11'
I
.'j'
I
I
i
I
I
i" '
CAPiTULO 7
TANATOLOGIA
A tanatologia medico-legal ou forense e 0 ramo da medicina
legal que estuda 0 morto e a morte, assim como os fenomenos dela
decorrentes.
1. CONCEITO DE MORTE
Ainda que para nos, seres humanos, a morte se apresente como
urn evento linico, deterrninado, que ocorre em urn instante preciso,
na verdade ela engloba urna serie de transformas;oes sucessivas que
se prolongam no tempo. A morte e urn processo dinfurrico e prolon-
gado.
Para Simonin, a morte constitui urn processo que se inicia nos
centros vitais cerebrais ou cardiacos e se propaga, progressivamente,
a todos os orgaos e tecidos, ocorrendo inicialmente a morte funcional
e depois a morte tissular (apud, Zarzuela. 0 perito e as mortes viol en-
tas, Revista da Faculdade de Direito das Faculdades Metropolitanas
Unidas, 1991, p. 222).
o conceito mais simples de morte (mone clfnica) e que nao
mais corresponde arealidade e 0 de "cessas;ao total e permanente das
funs;6es vitais", isto porque, no grau de desenvolvimento atual da
medicina, e possivel, em viirias situas;oes, reverter 0 quadro e trazer
de novo a atividade urn organismo cujas funs;6es vitais haviam cessado.
Atualmente temos dois conceitos de morte mais precisos: a mone
circulat6ria, que corresponde It parada cardfaca irreversivel, e a mor-
te cerebral, definida como a morte,encefilica geral e nao apenas da
pors;ao cortical, ainda que 0 coras;ao esteja em atividade. 0 conceito
de mone cerebral passou a ter grande importfulcia com 0 advento
dos transplantes de orglios e tecidos.
o Cornite de Ressuscitas;ao e Transplante de 6rgaos da
dade Alema de Cirurgia, em trabalbo de 1968, concluiu que ha tres
236
condis;oes para deterrninar-se a realidade da morte (apud Zarzuela,
1991, p. 223):
"A. 0 cerebro esm morto quando:
a) observam-se os sinais classicos da morte ou
b) a depressao circulat6ria tenha provocado uma parada respira-
toria ou cardfaca que nao responde a tratamento, n,O final de uma
doens;a incuravel e progressiva ou no curso de uma perda gradual das
funs;oes vitais;
B. a morte cerebral pode produzir-se antes que cessem os
batimentos cardiacos (traumatismos cerebrais); considerar-se-a que
o cerebro esta morto depois de 12 horas de inconsciencia com falta
de respiras;ao espontiinea, rnidrfase bilateral e EEG isoeletrico, ou
quando 0 angiograma revela cessas;ao da circulas;ao, intracraniana
durante 30 minutos;
C. pode ocorrer que 0 coras;ao pare e 0 sistema nervoso cen-
tral esteja intacto ou com possibilidade de se recuperar. Convem
entao iniciar a ressuscitas;ao; se os batiinentos cardiacos nao
reaparecerem, pode-se dar por morto 0 paciente; porem, se rea-
parecerem, inclusive sem se restabelecer a consciencia ou a res-
piras;ao espontaneas, deve-se seguir, aplicando as normas usuais
de assistencia intensi va, ate que fique demonstrada a morte ce-
rebral".
Pala-se ainda em morte aparente, anatomica, histol6gica, rela-
tiva, intermedia e real.
A morte aparente e 0 estado em que na verdade 0 individuo
apenas parece morto em razao de baixa atividade metab6lica e cir-
culatoria. Ha inconsciencia, relaxamento musculiiI', respiras;ao dirni-
nufda ou apneia (falta de respiras;ao). Para evitar 0 sepultamento aci-
dental nessas condis;oes, a lei exige 0 decurso de 24 horas antes da
inuma<;ao.
Morte anatomica e a parada total e permanente de todas as fun-
<;oes orgiinicas.
Morte histol6gica e a morte das celulas que compoem os viirios
tecidos e orgaos. Como a morte e urn fenomeno que se protrai no
---237
;1
:'\
:1\
:'1
1'(1'
i! i
,'i J
11r! i
'!11
, I
" ' ,
,i ,i
'/I
,Ii
"i:
,
[:.
tempo, IS perfeitamente normal encontrarmos celulas vivas no "aaa_,'
ver mesmo dias ap6s a inumac;;ao.
Marte relativa e 0 estado de parada cardfaca reversfvel,
que 0 organismo ainda nao ultrapassou 0 "ponto de 'nao
no", podendo, se submetido a massagem cardiac a onortnn.
retornar a vida.
Marte intermeditiria ou intermedia e a cessac;;ao progressiva das
atividades orgamcas sem que seja possivel a recuperac;;aoda vida.
Marte real ou absaluta e a morte na acepc;;ao tecnica da palavra,
a cessac;;ao de toda atividade bio16gica do indivfduo.
Na falta de aparelhagem especial para a determinac;;ao do
"momento da morte", utiliza-se 0 conceito c1assico de que ela
ocorre com a parada irreversfvel da respirac;;ao e circulac;;ao (marte
clfnica).
2. TANATOGNOSE E CRONOTANATOGNOSE
Denominam-se tanatagnase a parte da tanatologia forense que
estuda a realidade da morte e cronatanatognose a que se ocupa da
deterrninac;;ao do tempo em que ela ocorreu. Tanto uma como a outra
baseiam-se nos chamados fenomenos cadavericos.
2.1. Fenomenos cadavericos
Como viruos, a morte e uma sucessao de fenomenos que se pro-
longa no tempo. Nao ocorre em urn instante preciso, do que decorre,
a dificuldade de deterrninar 0 chamado momento da morte.
A fun de poder melhor estudar os fenomenos cadavericos, que
nada mais sao do que as varias transformac;;oes por que passa 0 corpo
na sua transic;;ao da vida para a morte,Lorenzo Borri estabeleceu que
os fenomenos cadavericos dividept-se em dois grandes grupos: os
abi6ticos, avitaisou vitais negativos, que podem ser observados
indiscriminadamente em todas as inortes, e os transformativos ou de
positivat;iio da marte, ql.!e podem variar de caso a caso (apud Maria
Celeste Santos, Morte encefalica e a lei das transplantes de 6rgiios,
1998, p. 11).
238
11....... __ TT
Fenomenos
c,adavericos
abi6ticos
imediatos
consecutivos
perda da consciencia
imobilidade
relaxamento muscular
relaxamento dos esffncteres
parada cardiaca
ausencia de pulso
parada respirat6ria
insensibilidade
{
resfriamento do corpo
rigidez cadaverica
hip6stases
livores cadavericos
{
aut6lise
destrutivos
transfonnativos
{
.
conservadores calcifica'tao
2.2. FenOmenos cadavericos abi6ticos imediatos
as fenomenos cadaveric os abi6ticos imediatas nao sao si-
nais de certeza em que pode basear-se 0 medico para afirmar a
ocorrSncia de morte. Ha varias manobras preconizadas por iml-
meros autores para, nessa fase, obter-se 0 diagn6stico de morte
recente ou imediata. As mais comuns sao a auscultar;iio, a
eletrocardiografia e aprava defluorescetna de Icard (injec;;ao de
certa quanti dade de fluorescefna por veia endovenosa. Se ainda
houver vida, ap6s alguns minutos a pele e as mucosas adquirem
colorac;;ao amarelada).
Ainda, como fenomeno abi6tico imediato, temos a facies
hipocratica, face hipocratica, ou mascara da morte, para indicar
o aspecto do rosto e a expressao fisionomica do cadaver, em de-
correncia da perda do tonus muscular, descrita como "fronte
239
I:
, !.
ii
jl
,i I
:1 ;
enrugada e anda, olhos fundos, nariz arilado com orIa escura, tem-
poras deprimidas, vazias e enrugadas, orelhas repuxadas para cima,
hibios crudos, mac;:as deprimidas, queixo enrugado e seco, pele
seca e Iivida, cilios e pelos do nariz e das orelhas semeados por
poeira brancacenta, semblante carregado e desconhecido" (Fran-
c;:a, 1998, p. 307).
2.3. Fenomenos cadavericos abiOticos consecutivos
Os fenomenos cadawfricos abi6ticos consecutivos tern uma
maior importancia na determinac;:ao do momento da morte.
2.3.1. Resfriamento do corpo - aIgidez cadaverica
o resfriamento do cadaver, tambem charnado de algidez ca-
daverica, depende de vanos fatores, como temperatura do corpo no
momento da morte, temperatura e umidade ambientes, idade,
panicuIo adiposo,' vestimentas e outros. Assim, crianc;:as e velhos
esfriam mais rapidamente que os adultos, os obesos mais lentamente
que os magros, os vestidos mais lentamente que os com menos pe-
c;:as de roupas etc.
Ha grande divergencia, entre os autores, quanto Ii velocidade de
perda de calor.
Delton Croce (1998, p. 353) indica que ocorpo resfria, em
regra, cerca de 0,5 C nas primeiras 3 horas e em segnida 1C por
hora ate encontrar 0 equiHbrio termico com 0 meio, 0 que ocorre,
para uma temperatura ambiente de 24C, em aproximadamente 20
horas para crianc;:as e velhos e 24 a 26 horas para urn aduIto de
compleic;:ao media.
Flamfnio Favero (1975, p. 544), desconsiderando outros fato-
res que nao os ambientais, aponta, para 0 nosso meio, urn declinio
medio de temperatura ~ e 1,5 C por'hora. No mesmo sentido os
trabalhos de Glaister, que 'propos uma f6rmula para 0 clilculo da
hora aproximada da morte, baseada no mesmo decrescimo medio
de 1,5 C por hora (in Zarzuela, 1996, p. 55):
240
Temperatura retal emperatura retal no
media = 37C momento do exame
Tempo
aproximado da )
morte em horas 1 b
,
2.3.2. Rigidez cadaverica
A rigidez cadaverica instaIa-se em raziio do aumento do teor de
acido liitico nos musculos e conseqiiente coaguIac;:ao da miosina.
Segundo a Lei de Nysten, atinge inicialmente a muscuIaturada
mandibula, para em segnida comprometer os musculos do pescoc;:o,
do t6rax, membros superiores, abdome e membros lnferiores.
Em regra, a rigidez inicia-se de 3 a 5 horas ap6s 06bito, insta-
la-se completamente entre 8 e 12 horas e permanece por um perio-
do de 12 a 24 horas, quando a musculatura retorna ao estado de
flacidez. Excepcionalmente pode ser observada ate 3 dias depois da
morte.
Luiz Eduardo Dorea adverte que, como a variac;:ao e relativa-
mente grande, 0 clilculo da hora da morte com base na rigidez cada-
verica deve ser sempre aproximado (Fenomenos cadavericos & tes-
tes simples para cronotanatognose, 1995, p. 21).
Em alguns casos, e por razoes nao perfeitamente explicadas,
mas freqiientemente associadas as mortes rapidas e violentas, a rigi-
dez cadaverica pode instaIar-se de maneira abrupta. Trata-se do cha-
made espasmo cadaverico, rigidez cataieptica,pliistica ou estatutiria
(Croce, 1998, p. 354). Nesses casos, 0 cadaver assume a posic;:ao em
que estava no momento de transic;:ao da vida para a morte.
Os raros casos de espasmo cadaverico sao de grande valia para
a pericia, porque demonstram com seguranc;:a a dinfunica assumida
pela vitima no instante do 6bito. A foto mostra 0 cadaver segurando
uma faca, na posic;:iio exata do "momento da morte", em demonstra-
c;:ao inequfvoca da ocorrencia do espasmo.
241
, 'i
I
11
'" j'
!'!' "
I
" ,I
, Ij
, ~ , ,
I J
, p
I
J
I j
,'I d
1 r
1\ ~
I t
I
I Ii
I
I
" !
I'
"
i
i
\,
!,
;1-
Hi, finalmente, uma especie de rigidez que pode ser observada
ainda em vida, nos casos de intoxicac;;ao por estricnina, nos vitima-
dos por tetano ou ainda quando a morte decorre de grandes lesoes do
sistema nervoso central.
2.3.3. Livores cadavericos e bip6stases
Cessada a circulac;;ao, 0 sangue, pela ac;;ao da gravidade, tende a
depositar -se nas partes mais baixas do corpo, de acordo com a posi-
c;;ao do cadaver.
Essas colec;;oes sangiiineas, encontradas dentro dos 6rgaos, ca-
vidades e partes baixas do corpo, sao denoininadas hipostases,
cutaneas ou viscerais, e caracterizam-se, extemamente, por apresen-
tar colorac;;ao vermelho pUrpura.
Em contrapartida, nas areas opostas, superiores, e naquelas onde
o corpo esta pressionado contra urn anteparo ou preinido por algum
barac;;o mecfurico (cintos, lac;;os ouapr6pria vestimenta apertada),
surgem areas mais c1aras, lividas, de:q.ominadas livores cutaneos ou
livores paradoxos (Franc;;a, 1998, p. 308).
Tanto os livores quanto as hii/6stases surgem em tomo de 2 a 3
horas ap6s a morte. Passadas 8 a'12 horas, IIxam-se, em razao da
coagulac;;ao do sangue,'no interior dos capilares, para nao mais mu-
dar de posic;;ao, ainda que 0 corpo tenha sua colocac;;ao alterada. TSm
grande irnportancia na determinac;;ao da posic;;ao do cadaver no mo-
mento do 6bito.
242
"
..0 ."
,q
,r \, -:.:. ___ _
..x
",0'"
Livores
Hip6stases
Na rac;;a negra os livores cutaneos sao dif"lcilmente observados
a vista des armada, sendo constatados somente com 0 usa de
colorimetro. Em recem-nascidos as hipostases cutaneas costumam
ser muito evidentes, 0 que, freqiientemente, faz com que leigos, ao
visualizar 0 corpo da crianc;;a, pensem que ela sofreu agressoes por
parte dos genitores.
2.3.4.
A evaporac;;ao da agua que integra 0 organismo vivo, com 0 pas-
sar do tempo, leva a uma perda gradativa de peso, que varia de indi-
vfduo para indivfduo, e e mais acentuada nos recem-nascidos, osci-
lando de 8 g a 18 g por quilo de peso ao dia.
Observa-se, tambem, em decorrencia da desidratac;;ao, 0
pergaminhamento da pele, a dessecac;;ao das mucosas e uma diminui-
c;;ao do tonus do globo ocular. Na escler6tica surge uma mancha
enegrecida denominada livor esclerorotinae nigrencens ou sinal de
Sommer & Lacher.
243
-"1
,-d ;;
:
.
!;;
L ,i
:;: i,1
" I'
:1
. ;
,_: !i
::! ii
!:
,!- Ii
11
,j
11
I' Ii,
:- "I
'_" i
it
Ii I H
iii; ,
1.1: 1
I' "
,[I.
:1 :r
,., ,
t .(
II
'I
Ill!!
,'rl'
i',II'.'.'
1!1"
t/tr';'
ill' I'
g,:-:j- .
Iii
f-l
i.
"-I
:':
i
l' I
I ' !
; I
i:.lli,;i.. l
w
2.4. Fenomenos cadavericos transformativos
Fenomenos transformativos
{
aut6lise
destrutivos
conservadores
. saponificac;ao
corificac;ao
2.4.1. Aut6lise (transformativo destrutivo)
Com a morte, e cessada a circula<;;ao, as celulas deixam de rece-
ber os nutrientes necessfuios 11 manuten9ao dos fenomenos biologi-
cos. 0 meio orgamco, que em vida era neutro, passa a ser acido,
tornando impossivel a realiza<;;ao dos fenomenos vitais. Com a aite-
ra9ao do pH e pela a9ao da pressao osinotica, as membranas celula-
res rompem-se, desintegrando os tecidos.
A acidifica<;:iio dos tecidos, sinal evidente de motte, pode ser compro-
vada por Vllrias provas 1aboratoriais com 0 uso de indicadores qufmicos:
Sinal de Labord Introduz-se uma agulha de ac;o no tecido por cer-
cade 30 segundos. Se pennanecer brilhando com-
prova-se a morte.
Sinal de Lecha-Marzo Coloca-se urn de papel de tomassol por
debaixo da palpebra para verificar a aeidez
indicadora do' 6bito, caso em que 0 papel fican!
vermelho.
Sinal de Silvio Rebelo Introduz-se urn. fio embebido em azul de bromo-
timol em uma dobra de pele. Se 0 meio for acido.
a colorac;ao tendera ao amarelo.
Sinal de forcipressao fisica Comprime-se uma prega de pele com uma pinc;a.
de Icard No morto a prega ira persistir, enquanto no vivo
se desfanl.
"
Sinal de forcipressao qufmi- Mede-se, papeI de tornassoI. a acidez da se-
cade/card serosa que escorre da prega de peIe
Sinal de De-Dominicis Raspa-se Ieyemente a peIe do abdome e mede-se
, a acidez com papeI de tomassol.
Sinal de Brissemoret i ' Retiram-se, por fragrnentos do ffgadp e
Ambard do e verifica-se a acidez com papeI de
tomassol.
244
ZA.2. Pntrefac;io (transformativo destrutivo)
A putrefa .. ao come<;;a logo ap6s a aut6lise pela a<;;iio de gerrnes
aerobicos e anaerobicos. Inicia-se, geralmente, no intestino grosso,
dando origem 11 chamada mancha verde abdominal, e espalha-se pelo
organismo.
Embora exista uma varla<;;ao muito grande na marcha da putre-
fa .. ao, dependendo do local em que 0 cadaver esta colocado ou mes-
mo da causa mortis, a putrefa<;;ao obedece 4 fases:
{
fase da coIora'$ao
fase gasosa
fase coliquativa
Afase da colorafliio surge entre 20 e 24 horas apos a morte e
pode durar ate 7 dias. Tern infcio pela mancha verde abdomina1loca-
lizada na fossa iliaca direita (ceco), difundindo-se por todo 0 corpo.
Nos afogados 0 periodo de colora9ao tern infcio na cabe9a e parte
superior do t6rax.
Afase gasosa decorre dos gases da putrefa<;;ao que sao forma-
dos no interior do corpo e fazem com que 0 cadaver adquira urna
aparencia de agigantamento, com protrusiio da /(ngua e inchaflo dos
genitais (particularrnente da bolsa escrotal, no sexo masculino). A
epiderme destaca-se e ha urna grande quantidade de bolhas com con-
teUdo sero-sanguinolento (flictenas putrefativos). 0 sangue e for<;;a-
do para a periferia, dando origem ao desenho dos vasos na superffcie
da pele (circulafliio postuma de Brouardel).
Afase gasosa tern infcio de 2 a 7 dias apos 0 obito e pode durar
de 7 a 30 dias.
Afase coliquativa e a dissolu<;;ao do cadaver pela a9ao das bac-
terias e da fauna cadaverica. Pode durar de urn mes a dois ou tres
anos e frnda com a esqueletizar;;iio, que e a redu9ao do cadaver as
suas partes Osseas.
Os cabelos e os dentes resistem mais tempo 11 destrui9ao, mas,
assim como os ossos, tambem sao destruidos, reduzidos a p6.
245
f,
rc.,.;
"I,
,
,
f.
I
I
II.
m
'l
:J :
ft"
,'I, ..
I
I
I
I,)
"I
15
Circulac;ao p6stuma
de Brouardel
1- Fase da colorac;:ao
II - Fase gasosa
III - F ase coliquativa
I\( - Esqueletizac;:ao
putrefativos
,
I
I
J
As fotos mostram corpos nas fuses de esqueletiza<;iio e gasosa,
respectivamente.
2.4.3. Macera\;iio (transformativo destrutivo)
A macera<;iio e urn fenomeno transformativo destrntivo obser-
vado basicamente em duas situa<;oes: nos submersos em meio liqui-
do contaminado (macera<;lio septica) enos fetos retidos a partir do 5"
mes de gesta<;ao (macera<;iio asseptica).
Na macera<;ao os ossos soltam-se dos tecidos, 0 abdome achata-
se e 0 tegumento desprende-se sob a forma de largos retalhos.
2.4.4. Saponitica<;iio ou adipocera (transformativo conservador)
A saponijica<;lio ou adipocera e urn fenomeno transformativo
conservador em que 0 cadaver adquire consistencia untuosa e mole
como sabao ou cera. Normalmente a saponifica<;ao atinge apenas
partes do cadaver, podendo, entretanto, afetar todo 0 corpo.
A saponifica<;ao e urn fenomeno que se inicia ja quando 0 corpo
se encontra em adiantado estado de putrefac;ao e e facilitado por so-
los argilosos onde nao hit muita aerac;ao.
247
{!
,r'
,
I,
"
,
'I
,
i,
i!
fj
,1
II
j:
;1
\'
"
"
,[
II I'
.I
LJJ
,
,
..
.. 1')'
:If.;j" I
:f!
(1'
t ... ;;ri"
,.:1 .
!
I ,
',1 ;
, I
I,
1/1
I
I"
11
1
[1
I
r
2.4.5. (transformativo conservador)
A mumificariio e urn processo
conservativo que pode ser natural ou
artificial.
N a mumificaao artificial,
os corpos sao submetidos a pro-
cessos especiais de.stinados a
conservaao do corpo, como, por
exemplo, as mumias dos fara6s
egipcios.
o processo natural ocorre
quando as condioes cIimaticas
favorecem uma rapida desidrata-
ao do corpo, impedindo a aao
das bacterias que levam a putre-
faao.
2.4.6. Calcifica\;ao (transformativo conservador)
A calcijicariio e urn fenomeno transformativo conserva-
dor que atinge fetos retidos na cavidade abdominal, em decor-
rencia de rotura de gesta<,;ao tubaria, e que passam par uma
incrustaao de sais de calcio, adquirindo uma aparencia petrea
(litopedio ).
Excepcionalmente 0 fenomeno pode ser observado nas partes
moles do cadaver de urn adulto.
2.4.7. Corifica\;ao (transformativo
A corijicariio e urn fenomeno' trausformativo conservador ob-
servado em corpos encerrados em caixoes metaIicos hermeticamente
fechados, principalmente de zinco.
248
I
I
Preservado 0 corpo da decomposiao, a pele assume a colora-
ao e 0 aspecto de couro curtido. As visceras e a musculatura perma-
necem conservadas, mas amolecidas (Fraua, 1998, p. 314).
3. FAUNA CADAvERICA
De extrema importfu!cia para a deterrnina<,;ao da cronologia da
morte, particularmente nos COlpOS deixados ao ar livre, 0 estUdo da
fauna cadaverica baseia-se na especificidade demonstrada por algu-
mas especies auimais por certa fase da decomposiao do corpo.
Para alguns autores, a fauna cadaverica e composta de todos os
organismos vivos que concorram para a destruiao do cadaver. Para
outros, abrange apenas os insetos que vivem do corpo em sua fase
larvar.
Flamfnio Favero (1975, p. 575) identifica tres faunas distintas,
de acordo com 0 local onde 0 corpo e deixado: fauna ao ar livre,
fauna dos rumulos e fauna aqudtica.
3.1. Fauna ao ar livre
Segundo Megin, os "trabalhadores da morte" atacam 0 corpo
deixado ao ar livre em oito legioes consecutivas (apud Favero, 1975,
p.577-583):
Ordem Genero Especies encontradas Epoca
I'Legiao Musca Musca domestica 8 a 15 dias
Calliphora Musca stabulans
Calliphora vomit6ria
2' Legiao Lucillia Lucillia caesar 15 a 20 dias
Sarcophoga Sarcophaga carnaria
Cynominia
Sarcophaga arvensis
Onesia Sarcophaga laticrus
Cynomia mortuorum
3'Legiao Dermestes Dennestes lardarius 3 a6meses
Dennestes frischii
Dermestes undulatus
Dennestes pinguinalis
,.
I,'
'I'
i; __
it :1
J. :i
:1 ;i
:' I,
11 'I
'i'' i
' :
!. I!
I;
Iii
Ii
249 ., .. __
,:1
,II
"
l;
!,
ii
Ii
1
II
II
J,
fl"';
Il-;'
b.-'.
I{ ":1:11
rill
Ordem Genero
4' Legiiio Pyophila
Anthomya
Necrobia
(besouros)
5' Legiao Tyreophora
6" Legiao
7'Legiao
8' Legiiio
250
Lonchea
Ophyra
Phora
. Necrophorus
Silpha
Hisler
Saprinus
Uropoda
Tyrog/yphus
G/yciphagus
Trachynotus
Coepophagus
Aglossa
Tineola
Tinea
Attagenus
Anthrenus
Tenebrius
Ptinus
,
Esptkies encontradas
Pyophi/a petasionis
Antlwmya vicina
Necrobia coeruleus
Necrobla ruficollis
Tyreophora cynophila
Tyreophorafurcata
Tyreophora antropophaga
Lonchea nign'mana
Ophyra cadaverina
Phora aterrima
Necrophorus humatoT
Silpha littoralis
Silpha obscura
Hister cadaverinus
Saprinus rontodatus
Uropoda nummularia
Tyrog/yphus cadaverinus
G/yciphagus cursor
Glyciphagus spinipes
Trachynotus siro
Trachynotus langiar
Trachynotus necrophagus
Coepophagus echinopus
Aglossa cuprealis
TIneola biseUiela
Tinea pelZionela
Attagenus pellio
Antherenus museorum
Tenebrius obscurus
Ptinus bruneus
Epoca
lOmeses .
1 ano
1 a2anos
cerca de 3 anos
3.2. Fauna dos mmulos
Afauna dos cadtiveres inumados oUfauna dos tl1mulos e bern
roenos exuberante que aquela encontrada nos cadaveres insepultos. Em
termos de cronotanatognose, e possivel detenninar 0 tempo de
enterraroento pelo nllinero de gera,<oes encontradas e nao propriaroen-
te pela existencia de legioes, como nos corpos deixados ao ar livre.
Oscar Freire classificou a fauna dos tUmulos conforme 0 qua-
dro abaixo:
Classe Ordem Genero Espeele
i
Sarcophaga chrysostoma
Sarcophaga georgina
Sarcophaga Sarcophaga tesselata
Diptera Synthesiomyia Synthesiomyia brasiliana
(moscas e Chrysomyia Chrysomyia macellaria
mosquitos) Lucillia Lucillia eximia
Ophyra Lucillia putrida
Lucillia segmentaria
Ophyra senescens
Hister Hister sp
Hexapoda Saprinus Saprinus azureus
(insetos)
Co/e6ptera
Dermestes Dermestes sp
(escaraveJhos)
Necrobia Necrobia ruficollis
Si/pha Necrobia rufipes
Deltochium Silpha cayannensis
Deltochium brasilie.nsis
Lepdoptera
Aglossa Aglossa cuprealis
(mariposas)
Hymenoptera
(insetos com asas Camponotus Camponotus abdominales
membranosas)
Arachnoidea
(aranhas,
Acari
Grande quantidade de .karos similares
acaras e aque1es encontrados nos corpos insepultos
escorpioes)
251
I
':1
);
j; ,
ii ,1
,: tj
i!i :,
n (
I; ,
1'. !
I
, ,
iii i
I
r ,.
'ii
__ _______ --'-..iJ\J--.:... _______________
:1
" 'I):
ii,';-
'I'
" "
I'
I
i'
\;
,
! 1.
I'.
!
,
,
I'
I
I
J
3.3. Fauna aqutitica
Os corpos encontrados imersos em agua doce ou salgada costu.>,:
mam apresentar imlmeras Jesoes produzidas por mamiferos (lontras
e eventualmente ratos), aves (urubus e gaivotas), peixes (diversas es"
pecies) e crustaceos (lagostas, caranguejos e sirls). '
4. PRIMORIENCIA E COMORIENCIA
Quando duas pessoas morrem simultaneamente, sem que se
possa indicar qual faleceu primeiro, temos a bipotese de comoriencia.
Quando e possivel determinar quem primeiro veio a 6bito, dizemos
que ocorreu aprimoriencia.
o Codigo Civil (Lei n. 10.406, de 10-1-2002) trata da
comoriencia em seu art. 8" (antigo art. 11):
CC
Art. 8
2
Se dois ou mais individuos falecerem na mesma ocasiao, nao se podendo
averiguar se algum dos comorientes precedeu aos Dutras, presumir-se-ao simuI-
taneamente mortos.
A determina<;ao da cronologia de mortes muito pr6ximas, quando
possivel, tern enorme importfulcia em questoes sucess6rias. Por essa
razao, a lei civil, sabiamente, nao pennitiu qualquer presun<;ao no
sentido daprimoriencia, mas apenas da comoriencia.
Se 0 exame pericial dos corpos puder, sem sombra de duvidas,
determinar aquele que primeiro veio a 6bito, estabelece"se a ordem
sucess6ria em favor de seus descendentes, caso contriirio, presumir-
se-ao mortos no mesmo instante.
5. DIAGN6STICO JURImCO DA MORTE- ASPECTOS
GERAIS
Uma das principais fun<;oes do'estudo da medicina legal, parti-
cularmente da tanatologia, e a classifica<;ao juridica da morte, ou
seja, se ocorreu homiddio, suiddio bu morte acidental.
Os 6bitos provocados por causas naturais, sejam rapidos ou len-
tos, salvo implica<;oes sucess6rias, nao oferecem dificuldade aos pe-
ritos ou a justi<;a.
252
-:"'-
As mortes fiagrantemente violentas tambem sao de facil diag-
nos
tico
. A dificuldade repousa nos casos em que a violencia nao e
evidente (mortes suspeitas) e, por tal, reclamam exame roais acurado.
Canger Rodrigues propoe urn quadro sinotico com as possiveis
ocorrencias (Morte subita e morte suspeita em medicina legal, Cien-
cia Penall, 1973, p. 9-53):
Naturais
Mortes
Pera subtaneidade
(morte subita)
De violancia oculta
De vlolAncia indefinida
De violencia deflnida
De infortunlo do trabalho )" .. ---------'
5.1. Morte suspeita subita e morte por inibir;iio (rejlexo de
Hering)
As mortes subitas, em que nao ha violencia manifesta, sao con-
sideradas suspeitas apenas por serem inesperadas, imprevisiveis.
Nesses casos e muito importante que se fa<;a uma boa analise dos
antecedentes (comemorativos), que sempre podem fornecer subsf-
dios ao diagn6stico.
As causas sao diversas, como, por exemplo, dist11rbios cardio-
vasculares, problemas respirat6rios, rea<;oes anafilaticas, fadiga etc.
253
'I-
hm
II
I,'"
'1.jP :
'I" 10 ..
I,: ,
.il(
:)
,.
"
I'
i
,I'
:(
'i j
:; ::;
:1,
it
..'
_ii
Ph
1,\ ;'_
'{ ;
i' '):
I'
, 'I
I'
I!li,
I'll
:,:
iii,
, I'
'I
\1
l
I 'I'
I
f :.1
I
ill' i
I
I
1\,11
I
1;1:
ir
p-
,
I
, !
I
i
d
I
I
!;
Vma das mais importantes ocorrencias de morte subita e a cha- .. '
mada marte reflexa por inibiriio vagal (reflexo de Hering), em que 0 .'
6bito ocorre de forma abso1utamente inesperada, em decorrencia de .
inibic;,:ao cardiorrespirat6ria, sem que se possa encontrar uma causa
detenninante convincente.
Sabe-se que existem algumas pessoas com maior predisposic;,:ao
ao fenomeno por exacerbac;,:ao dos reflexos inibidores e que e preciso
algoma excitac;,:ao externa, de natureza fisica, qufmica ou psfquica, agin_
do sobre os centros nervosos atraves de algumas areas do corpo deno-
minadaszonas reflex6genas ou zonas-gatilho (Rodrigues, 1973, p. 33).
Para que se considere a morte com tendo possfve1 causa iuibit6-
ria, sao necessmas tres condic;,:oes:
a) morte subita e inesperada de pessoa sadia, geralmente por
parada cardiorrespirat6ria;
b) traumatismo ou irritac;,:ao periferica, de pequena monta, sobre
certas partes do corpo; e
-254
c) ausencia de 1esoes capazes de justificar 0 6bito.
o quadro a seguir mostra as principais zonas reflexogenas:
Vias sereas superiores:
inalayao de gases irritantes
subita de l[quido nas narines
Pesco;o (lartnge e saia carotfdeo):
golpes:
tentative de estrangu1ame!'lto au esganadura
enforcanenla
Cavidade toracica:
de pleura e corpos a6rtico's
Regiao epigastrica (plexo solar):
-golpes.
Cavidade abdominal:
trayao de alt;as intestinais sob anastasia SUperficial
excitayAo do peritOnio nas mesmas condiy6es
Genitais:
COmpress&! au golpes nos testlculos:
lavagens vaginais.
manobras abortivas
A morte por inibic;,:ao e quase sempre acidental (quedas, mano-
bras cirUrgicas), podendo, eventualmente, ter origem criminosa (es-
trangulamento, esganadura, golpes de artes marciais etc.).
5.2. Morte suspeita de violncia oculta
Da-se quando os corpos nao mostram 1esoes extemas, mas po-
dem ocultar algum tipo de 1esao, como traumatismos, envenenarnen-
tos, sevfcias ou outros sinais que, comprovados, alteram a natureza
jurfdica da ocorrencia
Tais mortes sao, normalmente, c1assificadas pe1a autoridade
policial, ao requisitar os exarnes periciais, como morte a esclarecer
ou encontro de cadaver.
Nesse grupo podem ser inc1ufdos os corpos em adiantado esta-
do de decomposic;,:ao.
5.3. Morte suspeita de violincia indefinida
Aqui a vio1encia existe e e evidente, mas 0 exame extemo nao
pennite detenninar com precisao a causa das 1esoes e, por conse-
qiiencia, 0 diagn6stico jurfdico do evento.
Urn born exemp10 e 0 de corpos atingidos por composic;,:oes fer-
reas. A grande extensao das 1esoes pode mascarar outras, produzidas
antes do atropelamento.
5.4. Morte suspeita de violencia definida
o corpo mostra 1esoes extemas perfeitarnente definidas quanta
a sua causa, mas a etio1ogia jurfdica do evento permanece obscura
o encontro de urn corpo na agna, afogado, embora aponte no
sentido de morte acidental, nao pennite que se descartem as hip6te-
ses de suicfdio e hornicfdio.
5.5. Morte de infortUnio do trabalho
A duvida, nestes casos, recai sobre 0 nexo causal entre a ativi-
dade laborativa e as lesoes observadas, sendo indispensave1 a realiza-
c;,:ao da necropsia.
255
J ,i'
ii'
.;<
i
.;i
:Y:
!' ':1
;,1(i
i:l;
I' I,
\\ If
I'"
'I
i Ii
n
i !1
\111
1:111
r!
,il
'1
'I
U
. ..Clf
!_ r <'- i
i,._ :J
I I'
if I i
I:!
If'l .
if. !
IP'
'11
"
1 I
, I
i
}!
Ii
I:
'if '.
i
1 '
'i
:1
I'
1i
,ill
ii' I
',/-\ "
r I
I '
'1'1
, I
r
I
I'
I
I
'I'
'J
6. 0 EXAME MEDICO-LEGAL
A tecnica tanatologica compreende vanas fases, que vao des-
de a analise do local onde ocorreu 0 6bito ate os ex ames
laboratoriais complementares, com 0 objetivo de determinar a
causa mortis e, se possivel, contribuir para 0 esclarecimento da
natureza juridica do evento (morte natural, acidental, suicida ou
criminosa),
Hilario Veigd de Carvalho des creve as fases do exame
tanatol6gico da forma como segue:
Exame
tanatol6gico
hist6ria do fato
hist6ria da vitima
perinecroscopia hist6ria do suposto agressor
exame do local (peritos
criminals)
necroscopia completa
exames complementares qufmicos
{
histol6gicos
outros
6.1. Necropsia (autopsia)
Diagn6stico
Os termos necropsia e autopsia designam 0 exame que se
realiza no cadaver, interna e externamente, com a finalidade de
determinar a causa da morte. 0 vocabulo autopsia, derivado do
grego autops[a, que para alguns autores significa exame em si
mesmo, encontra-se em desuso, sendo mais adequado utilizar
necropsia.
6.1.1. Tecnica
,
N a necropsia meqico-legal procede-se, inicialmente, a nma mi-
nuciosa insperiio exteina; em que sao analisados sexo, compleic;ao
ffsica, estado de nutric;ao, presenc;a de cicatrizes e tatuagens, .defor-
midades, ferimentos externos etc.
256
Durante a insperiio extema, as vestes devem receber especial
atenc;ao, principalmente em relac;ao a manchas, org8nicas ou nao, e
soluc;oes de continuidade.
No caso de existirem ferimentos produzidos por projeteis de
anna de fogo, 0 perito deve verificar se residuos do disparo chegaram
a depositar-se sobre as pec;as de vestuano.
Em seguida, passa-se para a insperiio interna, com 0 exame das
cavidades toracica e abdominal, 6rgaos do pescoc;o (laringe, traqueia,
tire6ide e esofago), cavidade vertebral, cavidade craniana e cavida-
des acess6rias da cabec;a (6rbitas, foss as nasais, ouvidos e seios fron-
tais, maxilares e esfenoidais).
Os diversos sistemas orgllnicos sao exarninados individualmen-
te e, sendo necessano, colhidas amostras dos 6rgaos e fluidos org8ni-
cos para exames laboratoriais complementares.
Finalmente, depois de minucioso exame e coleta de mate-
rial, 0 corpo e recomposto para ser entregue aos familiares e
inumado.
6.1.2. Necropsias brancas
Mesmo dispondo os medicos-Iegistas dos meios cientfficos ade-
quados, existem inumeras situac;oes em que, apesar do avanc;o da
ciencia, nao e possIve! esc1arecer a causa mortis. Sao as chamadas
necropsias brancas, que ocorrem, por exemplo, em casos de envene-
namento nos quais a dosagem ou natureza da substilncia utilizada e
suficiente para determinar a morte, mas nao para permitir a detecc;ao
do agente.
Canger Rodrigues (1973, p. 35) lembra, entretanto, que 0
diagn6stico de morte indeterminada "s6 e plenamente aceitavel
ap6s aut6psia completa, uma vez esgotados todos os meios de in-
vestigac;ao, devendo 0 exame do cadaver ser negativo, sob todos
os aspectos".
Os esquemas seguintes mostram as principais etapas da necropsia
medico-legal.
257
1,"
['
",
t;'
r
ij,
'i
J
11
'i
; 'I'
-ij-!il,
II
I'f"
ltf<
." ,
![
'I
1
'1
J
Ii.
" ,I!H
'I!
,I
'-'j
i'
I
I
Abertura das cavidades
toracica e abdominal par
inciseo mento-pubiana
III Exame da cavidade torscica
258
II
RetJrada do plastrao condroestemal
para acesso aos argaos da
cavidade toraclca
J V Exame da cavidade abdominal
VI
VII
),
Inclsao bimast6idea vertical
e rebatlmento do couro cabeludo.
Retirada da calvaria
para exame do cerebro
v
V
Abertura da cavidade
vertebral, mediante incisao
sabre as processos esplnhosos
rt' """,
(',";.. ,z:.:'
V III
do corpo
para Inumagao
259
: !
i'
I
I
\
: I
, I
I
" I,
,i.
CAPiTULO 8
TOXICOLOGIA FORENSE
I. CARACTERiSTICAS GERAIS
Vunos que os toricos (ou venenos) podem ser conceituados COmo
substancias de qualquer natureza que, uma vez introduzidas no orga-
nismo e por ele assimiladas e metabolizadas, podem levar a danos na
sande fisica ou psfquica, inclusive a morte, na dependencia da dose e
via de administra9ao utilizada.
Drogas toxicas ou substancias psicoativas sao aquelas "subs-
tancias qufmicas, naturais ou sinteticas, que tern a capacidade de
agir sobre 0 sistema nervoso central, com tendencia ao tropismo
pelo cerebro que comanda 0 corpo, alterando a normalidade mental
ou psiquica, desequilibrando a conduta e a personalidade" (Croce,
1998, p. 546).
Os terrnos toxicomania e toxico/ilia definem 0 habito do uso
regular de drogas. Segundo 0 Comite de Peritos da Org
aniza
9ao
Mundial de Sande, compreendem "urn estado de intoxica9ao cro-
nica ou peri6dica, prejudicial ao individuo e nociva a sociedade,
pelo consumo repetido de determinada droga, seja ela natural ou
sintetica" .
Atualmente usam-se os termos qrogadito e drogadir;iio, lamen-
taveis estrangeirismos derivados do ,ingles drug addict, para desig-
nar, respectivamente, 0 toxicomano e a toxicomania. Note-se que,
desde 1964, a Organiza9ao Mundiiil de Sande ja recomendava 0 uso
das expressoes dependencia (depe,!dence) e drogas que induzem de-
pendencia (dependenc'eproducting drugs) em substitui9ao a adi9ao
(addiction) e hiibito (habituation).
As toxicofilias tern as seguintes caracterfsticas gerais:
260
i
~ ~ -.- -I
I
I
a) compulsa.o - necessidade invenclvel de consumo do.
fann
aco
;
b) tolerancia - tendencia a aumentar paulatinamente a dosa-
gem para a obten9ao dos mesmos efeitos;
c) dependencia - fisica ou psiquica, com tendencia ao
desencadeamento de crises de abstinencia ante a priva9ao da
droga.
2. FARMACODEPENDENCIA
AJarmacodependencia ou sirnplesmente dependencia, segun-
do a Organiza9ao Mundial de Sande, pode ser definida como "urn
estado psiquico e lis vezes fisico causado pela interavao entre urn
organisrno vivo e urn fiirmaco; caracteriza-se por rnodifica90es do
comportamento e outras rea90es que compreendern sempre urn irn-
pulso irreprimivel para tomar 0 fiirmaco,em forma continua ou pe-
ri6dica, a fim de experimentar seus efeitos psiquicos e, as vezes, para
evitar 0 mal-estar produzido pela priva9ao. A dependencia pode ser
ou nao acompanhada de tolerancia. Uma mesma pessoa pode depen-
der de urn ou mais fiirmacos".
E urn verdadeiro estado de escravidao da pessoa a droga, po-
dendo ser de naturezafisica ou psfquica.
A dependencia psiquica e caracterizada pela compu1sao em con-
sumir a droga de maneira peri6dica ou continua, quer para a obten-
9ao de prazer, quer para alivio de urn mal-estar.
A dependenciaj'fsica e marcada pelo surgirnento de transtomos
de natureza fisica ou pela sfndrome de abstinencia, quando a droga
nao e consumida.
3. CLASSIFICA<,;Ao
Drogas, entorpecentes ou psicotropicos sao cornpostos qufmi-
cos, naturais ou nao, que, agindo sobre 0 cerebro, produzem estados
de excita9ao, depressao ou altera90es variadas no psiquismo.
261
~
I
,
f:
.I'i
",
I
,
,
! ,
i : ~
i
:!
IiI
:f
~ I
;:)
,
1
~
~
~
':i'
I
,j
"
;'1
!
,
W
'I'
',1..' .
~ \
I'i
,. ,
1
1
.1'1
1
.,
1"1
I:,
f
I!
I
I
I
i
i
A Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006, alterou a tradicionall
expressao "substlincia entorpecente ou que determine ;::
fisica ou psiquica" pelo tenno "drogas" (art. I", paragrafo unico);':
altera .. ao, alias, que ja havia sido introduzida pela revogada Lei n.'
10.409, de 11 de janeiro de 2002, mas que nao chegou a ser utilizaJ'
da em razao do veto ao Capftulo III, que tratava dos crimes e das
penas.
Lei n. 11.343/06
Art. lQ ...
Paragrafo linieD. Para fins desta Lei, consideram-se como drogas as substan-
cias ou os produtos capazes de causar dependencia, assirn especificados em lei
ou relacionados em listas atualizadas periodicamente peIo Poder Executivo da
Uniiio.
Nao houve modifica .. ao, porem, no criterio de defini .. ao, que
continua remetendo os produtos e substancias capazes de causar de-
pendencia as rela .. oes publicadas e atualizadas periodicarnente pelo
Poder Executivo da Uniao, ou seja, a Lei n. 11.343/06 e expressa-
mente uma lei penal em branco.
Como bern lembram Greco Filho e Rassi, a nova Lei de
Drogas optou pela pior solu .. ao, porque, "se a droga nova, nao
relacionada pela Secretaria de VigiHincia Sanitaria do Ministe-
rio da Saude, for difundida no Brasil, a despeito das piores e
mais Junestas consequencias que possa gerar para a saude publi-
ca, causando dependencia ffsica ou psfquica, nao sofrera repres-
sao penal em virtude da sistematica mantida" (Lei de Drogas
anotada, 2007, p. 13).
Deley e Deniker, dois farmacologistas franceses, agrupararn os
psicotr6picos em tres grandes grupos, os psicotepticos, os psica-
natepticos e os psicodistepticos (Vargas, Manual de psiquiatria jo-
rense, 1990, p. 182). ",
A esses tres grupos principais alguns autores urn
quarto, 0 dos pampsicotr6picos.
262
No grupo dos psicotepticos temos as drogas que deprimem 0
sistema nervosO. Sao sedativos que reduzem a motricidade e a sensi-
bilidade, diminnindo as emo .. oes e 0 raciocfnio. Dividem-se em
hipnosedativos, tranqiiilizantes e neurotepticos.
Entre os hipnosedativos (barbituricos) e os tranqiiilizantes va-
mOS encontrar as principais fontes de jarmacodependencia
iatrogenica (provocada pelo medico), particularmente em rela .. ao a
indutores do sono e similares, por vezes receitados indiscrimina-
damente.
Os neuro/epticos nao representam risco para a saude publi-
ca. Utilizados como anestesicos, dificilmente causarao depen-
dencia.
Os psicanatepticos sao os estimulantes do sistema nervoso cen-
tral, que levarn a euforia, prolongarn 0 estado de vigilia e causarn a
sensa ..
ao
de urn incremento da atividade intelectual. Destacam-se
nesse grupo as anjetaminas e os anorexlgenos, tambem fonte de
jarmacodependencia iatrogenica.
Os psicodis/epticos produzem uma dissocia .. ao do psiquismo
levando a alucina .. oes e delfrios. Nesse grupo de drogas e que vamos
encontrar os t6xicos sociaImente mais importantes, como alcool, co-
calna e maconha.
Algumas dessas drogas sao nonnaImente utilizadas em rituais
religiosos (cM do Santo Daime, p. ex.), pela sensaao de libera .. ao
do ego e ideia de uma nova dimensao para a consciencia.
Por derradeiro, temos os pampsicotr6picos. Sao drogas moder-
nas, utilizadas como anticonvulsivantes, mas que podem induzir de-
pendencia ffsica ou psiquica. Tern aplica .. ao clinica em deterrninados
estados de angustia e depressao, devendo ser adrninistrados sempre
sob supervisao medica.
Os esquemas a seguir, baseados em similares propostos pelo Prof.
Protasio de CarVlilho (A didatica dos t6xicos, 1977, p. 30), indicam as
principais substiincias psicotr6picas de cada grupo:
263
i:!
: ,i
i.);
,!-Oi
j'
, :i!
Ii'
,
I
"
,
.'J
r
I
", I
I
i
,Ii
i
I
PSicoIepticos
Psicanalepticos
264
hipnossedativDs
'. amobarbital
{
secobarbital
barbltUricos fenobarbital
neurolepticos
tranqiliIizantes
pentobarbital .
nao barbitUricos - ketamina
{
clorpromazina e outros derivados fenOtiazfnicos
proclorpemazina e outros derivados
butiferona: haloperidol
tioxanteno: Ro 4-0403
derivados de difenilmetano benactizina
{
hidrOxina
azaciclonol
ID!0!l'elaxantes com. fenaglicodol
. {meprobamato
ativldade neurossedativa cloridiazep6xido
miorrelaxantes sem
atividade neurossedativa
{
mefenezina
clorzoxazona
? Po cos au benzodiazepinicos
tim Ie ti {deriVadOS do alcool propllico
anslOIitIcos substfulcias quimicas heterogeneas
psicotonicos
ariI-alquilaminas dextro-anfetamina
{
anfetamina
simpatomimeticas fentennina
. MDMA (ecstasy), ICE
derivados piperidinicos metilfenidato
{
PiPradrOI
facetoperano
inibidores da
monoaminoxidase
{
iPrinazinda
nialamida
fenllisopropil-hidrazina
oxazqlidinicos
e canffuIicos
,
outros compostos
{
fenoxazoI
{
cafefna
a, cetato de desoxicorticos_
terona .
deanol .
centrofenoxina
psicodislepticos
euforizantes
{
alCOO!
6pio: heroma e morfina
cocama
6xido nitroso
alucin6genos ou
despersonalizantes
mescalina
bufotenina
adrenolutina
psilocibina
estramonio
maconha
LSD 25 (dietiIamida do acido lisergico)
pampsicotr6picos {clorprOtixeno
trimeprina
4. PRINCIPAlS DROGAS
Algumas drogas, pela sua importfulcia, merecem rapido destaque.
4.1. BarbitUricos
BarbitUricos sao substancias qufrnicas derivadas da composi-
sintetica entre ureia e acido ma!onico (malonilureia), psicolepticos
de depressora sobre 0 sistema nervoso central, destacando-se,
entre outros: barbital (Veronal), alobarbital (Dial), amobarbital
(Amital), fenobarbital (Gardenal), secobarbital (Seconal),
pentobarbital (Nembutal) e tiopental (pentotal).
Clinicamente sao indicados no tratamento de quadros epiIepti-
cos, ansiedade e insonia ou COIIlO ailestesieos de para
e procedimentos cirUrgicos rapidos.
Utilizados nas doses terapeuticas recomendadas e sob supervi-
sao medica, nao costumam causar qualquer problema ao paciente.
Entretanto, usados indiscriminadamente, podem induzir tolerancia e
dependencia fisica e psiqnica.
As agudas sao geralmente de origem snicida, e a
dose leta! e cerca de vinte vezes superior a habitualmente usada. Os
sintomas inc1uem sonolencia, hipotensao arterial, coma e morte
(Zacharias, 1991, p. 54).
265
ij
II
I
1
l;
iH;
./.
'j
,j';
.1':
I'
j
,']1
.
ii
,I
I!
r'l
J
1
1
!!
. ,
I
1i
4
1
!J
I
6 ,
OJ'.' I
'1"
.'
Ii: I.
j '.
l:
, I
!
j I
t!
"
I
ri
Ii.
N as intoxicagoes cronicas, toxicomania barbitt1rica, ha
completa transforma<;;ao do viciado, que se torna apMico e passa
descuidar da aparencia e higiene pessoais. Nos casos mais
dos, temos motora, perda de memoria, dificuldade na
fala (disartria), confusao mental, inconsciencia, convnlsoes e even- ;
tualmente morte.
4.2. Benzodiazepinicos
Os benzodiazepfnicos pertencem a urn grupo de substancias uti-
lizadas como tranqiliIizantes e ansioliticos e foram introduzidos no
mercado farmaceutico como uma alternativa mais segura aos
barbitUricos. Estiio entre os medicamentos mais utilizados no mundo
todo, sendo considerados urn problema de saude publica nos paises
mais desenvolvidos.
Como exemplos de medicamentos a base de benzodiazepfnicos
poderiamos citar: Aniolax, Bromazepam, Calmociteno, Clorazepam,
Diazepam, Dienpax, Flunitrazepam, Flurazepam, Frontal, Lexotan,
Lorazepam, Lorax, Nitrazepam, Psicosedin, Rohypnol, Somalium,
Valium etc.
Mesmo quando consumidos em doses terapeuticas, a interrup-
c;:ao abrupta pode provocar sfndrome de abstinencia em ate 50% das
pessoas tratadas por 6 meses ou mais.
Os efeitos terapeuticos dos benzodiazepfnicos inc1uem induc;:ao
do sono, tranqiiilizac;:ao e reduc;:ao da ansiedade'(ansioliticos).
Entre os sintomas provocados pela abstinencia poderiamos ci-
tar insonia, irritac;:ao, perda da mem6ria e, muito raramente, alucina-
c;:oes. Fisicamente podemos observar sudorese intensa, palpitac;:oes,
nauseas e perda do apetite.
Nos Estados Unidos 0 usa de alguns benzodiazepinicos (como 0
Rohypnol) esta intimamente ligado a Cl\SOS de abusos sexuais, porque,
quando dilufdos em iilcool, esses farmacostem seus efeitos potencia1izados,
tornando a vitima absolutamente indefesa Por essa raziio recebem a deno-
minac;:iio de date rape drugs (drogas de encontro com 0 estupro).
4.3. Anfetaminas
As anfetaminas, popularmente conhecidas por bolinha, cristal
266
ou co-piloto, sao aminas simpaticomimeticas que pertencem a tres
categorias de drogas sinteticas, quimicamente semelhantes: a
an!etamina propriamente dita (Benzedrine e Bifetamina), a
dextrOanfetamina (Dexamil e Dexedrine) e a metanfetamina (Desbutal,
Desoxyn, Methedrine e Obedrin), todas elas com poderosa ac;:ao esti-
mulante sobre 0 sistema nervoso central.
Entre os principaiS efeitos terapeuticos poderiamos citar: au-
mento da confianc;:a e do estado de alerta, diminuic;:ao do sono e perda
de apetite, este ultimo responsavel pelo seu uso generalizado como
tratam
ento
anti-obesidade.
Em razao da resposta estimulante, as anfetaminas comec;:aram a
ser utilizadas por esportistas com 0 objetivo de incrementar sua capa-
cidade fisica, indo, por vezes, alem dos limites de seguranc;:a e resis-
tencia organicas. Mais recentemente, pelo seu baixo custo e facilida-
de de aquisic;:ao, tornaram-se drogl\S amplamente consumidas em raves
e discotecas (clubber drugs), principalmente nas formas de ecstasy
(metileno-droxi-metanfetamina) e Ice (metanfetamin
a
).
o uso prolongado e indiscriminado do farmaco pode levar a
psicose "toxicoanfetaminica" (Sandrim e Penteado, Drogas -
imputabilidade e dependencia, 1994, p. 30), caracterizada por inso-
nia, loquacidade, irritac;:ao, diminuic;ao da capacidade mental e even-
tualmente alucinac;oes. No plano fisico sao descritos: anorexia (per-
da do apetite), aurnento da pressao arterial, taquicardia, tremores
musculares, lesoes irreversfveis no sistema nervoso central, convnl-
soes, coma e morte.
A drog
a
pode ser ingerida por via oral em capsulas ou compri-
midos, consurnida por via intravenosa (dilufda em agua destilada),
aspirada na forma de p6 e fumada com auxI1io deum cachimbo
artesanal. Pode, tambem, ser dilufda em bebidas alc06licas.
As anfetaminas nao causam dependencia fisica, apenas psfquica.
4.4. "Ecstasy" (MDMA)
o ecstasy ou paula do amor e uma anfetamina cujo principio
ativo, 0 metileno-droxi-metanfetamina ou MDMA, provoca nos usu-
arios forte sentimento de empatia e conforto, razao pela qual vern,
cada vez mais, sendo utilizado em grande quantidade em festas da
alta sociedade, particularrnente em raves e discotecas.
267
,ii
;li i
;
I
i
, i
Seu consUlllO to feito por via oral, sob a: fonna de comprimidosZ
ou por aspirao;;ao do p6, como a cocaina (mals raro). . .,
Os efeitos correspondem a urna abertura emocional seguida
desiuibic;iio e euforia. Cessados os efeitos estimulantes; observa-s(;
forte depressiio nos usuarios ("aterragem"), podendo levar ao suicidi6:'
o uso continuo leva a urn decrescimo nos niveis de
com conseqiiente queda na libido, crises de pfurico e depressao crom- ':
ca. Foram observadas lesi'ies no cerebro (coordenac;ao e memoria);
corac;iio e figado.
4.5. "Special K" (Ketamina)
Desenvolvido nos anos 60 como anestesico para ser usado nos
campos de bataIba do Vietna, 0 hidrocloridrato de ketamina e urn
tranqiiilizante atuaImente utilizado em clinica veterinaria.
Em razao dos potentes efeitos alucinogenos que produz, passou
a ser usado como droga a partir dos anos 70 e ressurgiu nas raves e
discotecas dos anos 90 com 0 nome de special K ou vitamina K.
Entre os sintomas estiio descritas alucina .. i'ies com distorc;i'ies
visuals, perda das n09i'ies de tempo e identidade. 0 pico pode durar
de 30 minutos a 2 horas, mas a droga permanece no organismo por
mais de 24 horas. 0 usa continuo do fannaco pode levar a serios
distUrbios, como amnesia e incoordena<;ao motora, e It morte por com-
plica<;i'ies respiratorias. .
A forma mals usual de consumo e a aspirac;iio do po da droga
desidratada, podendo eventuaImente ser borrifada em cigarros co-
muns ou de maconba e fumada.
Recentemente foi feita em Sao Paulo a primeira apreensao da
droga, em uma boate no bairro da Barra Funda (Polfcia faz primeira
apreensao da droga special K em Sao raulo, 0 Estado de S. Paulo -
Cidades, p. C3).
4.6. GBH ou "Liquido X"
\
o GBH (Gamm'a-hydroxybutyric acid ou dcido gama-
hidroxibutfrico) foi sintetizado em 1961, na Fran<;a, por Henri Laborit
(1914-1995) para serutilizado como anestesico.
268
o uso inadequado iniciou-se pelos fisiculturistas, como estimu-
lan
te
do crescimento muscular. Mais recentemente, e.geralmente uti-
Jizado em combina<;ao com outras drogas como 0 ecstasy ou 0 special
K, sutgiu nas raves e discotecas, com 0 nome de "lfquido X".
E consumido na forma de tabletes, capsulas, po branco ou lfqui-
do incolor. Alem de apresentar baixo custo, a droga pode ser prepara-
da em casa, a partir de urn composto quimico utilizado para limpeza
de placas eletronicas.
Por nao ter odor e ser praticamente sem sabor (levemente salga-
do), pode ser misturado em bebidas alcoolicas (que potencializam 0
efeito) sem que a vitima perceba, 0 que faz do GBH uma outra droga
utilizada para a prtitica de abusos sexuals (date rape drugs).
Cerca de 5 aiD minutos apos a ingestao da dose usual (entre 0,5
gel,5 g), a pessoa experimenta leve relaxamento e sensa<;iio de bem-
estar, acompanhados de desinibi<;ao e excitac;ao sexual.
Os efeitos colaterais incluem cefaleia, nauseas, perda de memo-
ria e torpor. Ja foram relatados imlmeros casos de obito por overdose.
4.7.0pio
o opio e uma mistura de alcaloides extraidos dos fiutos ou capsu-
las verdes. da papoula (J>apaver somnijerum), do qual derivam outras
drogas, como a heroina, a morfina e a codeina (utilizada contra a tosse).
Originariamente tern aparencia de urn xarope leitoso, que, colo-
cado para seear por aproximadamente 2 meses, transforma-se em uma
pasta acastanhada de sabor amargo.
A forma mals usual de consumo e a aspira<;iio da tuma<;a resultante
de sua queima na forma de cigarro, mas pode ser ingerido ou injetado.
Gracs
as
ao seu principal efeito, uma potente a<;1io analgesica e
depressora sobre 0 sistema nervoso central, os opiaceos foram utili-
zados durante muitos anos em clinicas medicas, valendo citaCSao os
preparados: Ldudano de Sydenham, 0 PO de Dover e 0 Elixir
Paregorico, todos atuaImente em desuso.
o viciado experimenta uma fase inicial de excita<;ao, inclusive
com incremento das fun<;i'ies psiquicas, para depois cair em depres-
sao e prostracsao profunda que 0 impedem de qualquer atividade.
269
",
:.)
.\" I_I!
:11 :
!
ili'
.1
, ,J
"1' i1
'.
111
I
j'
I
,ii
i
I
I
I
I
I
I
,
I
I
;,
As formas derivadas, herofna e morfina, slio mais utilizadas que
o pr6prio 6pio.
4.8. Morfina
A morfina e um alcal6ide fenantrenico derivado do 6pio. Origi-
nariamente tern 0 aspecto de urn Jiquido incolor, cuja via de adminis-
tra<;;lio e a inje<;;lio intramuscular.
Em clinicas medicas utiliza-se a fonna de c1oridrato de apomor-
fina, urn sal hidrossoluvel com aparencia de urn p6 branco e cristali-
no de sabor arnargo.
Sua a<;;ao principal e narc6tica, produzindo apatia, analgesia e
sonolencia com delirios er6ticos prolongados. A dependencia insta-
la-se ap6s duas semanas de uso continuo e pode levar 0 morfinomano
a morte por debilidade geral do organismo.
Ha relatos de dependencia ap6s a primeira dose.
4.9. Heroina
A herofna e urn derivado sintetico da morfina, denominado
diacetilmorfina. Tern a forma de urn p6 branco e cristalino, cujos
efeitos sao similares aos da pr6pria morfina, mas cerca de cinco ve-
zes mais potentes.
A via de administra<;;ao e geralmente hipoctermica, e a depen-
dencia instala-se commaior facilidade.
4.10. Cocaina
A cocaina e urn alcal6ide estimulante extrafdo das folhas da
coca ou epadu (Erythroxylum coca). Fisicamente, caracteriza-se por
ser urn p6 branco e cristalino de saboriunargo (farinha, neve ou bran-
quinha).
Amaneiramais usual deutilizaepelaaspira<;;llo nasaldop6 (pita-
da ouprise), ou pela viasubcutilnea, com 0 uso deumaseringahipodermica
A cocaina tambeQ1 pode ser fulnada em cachimbos irnprovisa-
dos (maricas), quando na forma de crack (pedra) ou merla (rnelado).
Tanto 0 crack como a merla slio subprodutos da cocaina, obti-
dos a partir da mistura da pasta basica com bicarbonato de s6dio. 0
270
crack tern a forma de pedra, enquanto a merIa, de uma pasta viscosa.
por serem mais baratos, tomaram-se as drogas de eleic;lio entre os
usuiirios de baixo poder aquisitivo.
o consurno de cocaina leva a sensa<;;ao de ausencia de cansac;o, pro-
longamento do estado de vigilia e euforia intensa Ap6s a excita<;;llo segue
uroa depressao profunda que pode levar 0 cocainomano ao suicidio.
No Brasil, a cocaina e a droga mais utilizada pelos usuiirios de
fiirmacos injetaveis. 0 Mbito de compartilhar seringas, a baixa auto-
estima e os pessirnos habitos de higiene acabam por levar ao conta-
gio de viirias enfermidades como a hepatite, a dengue e a SIDA.
4.11. Maconha
Conhecida tambem por inlimeras outras denomina<;;oes, como
erva,fumo, haxixe, marijuana e pacau, a maconha e uma substancia
t6xica constitnfda pelas inflorescencias dos exemplares femiuinos da
Cannabis sativa au ctlnhamo da india.
Seu principio ativo e 0 9-garna-transtetrahidrocanabinol (THC),
urn composto fen6lico encontrado na resina das plantas femiuinas, e
cuja concentrac;ao e bastante variada.
A via de adrninistra<;;ao e basicamente 0 furno, sob a forma de
toscos cigarros denominados baseados.
Age no sistema nervoso central produzindo algumas alucina-
c;oes, altera<;;lio da percepc;lio temporal e certo grau de sonolencia.
Diminui a sensibilidade a temperatura e a dor.
Nlio causa dependencia ffsica, mas pode levar a dependencia
psfquica, se consumida por tempo prolongado.
o viciado cronico, como bern descreveZacharias (1991, p. 286),
"toma-se uma figura facilmente reconhecivel: desnutrido, emaciado,
ostenta na fisionomia expresslio aparvalhada; 0 rosto e palido, a pele
sem vic;o, os olhos aprofundados nas 6rbitas, 0 olhar morti<;;o, a voz
rouca, as mlios tremulas, 0 earninhar incerto".
4.12. Mescalina
A mesealina e urn aleal6ide extrafdo do eaeto peiote (Lophophora
williamsii), eujo princfpio ativo e 0 3,4,5-trimetoxifeniletilamina.
271
P
1I " '.
,\ .. .. }, ..!:" ;
j"'lJf-
';,1'.,
...
'!Y. -, II
ifE' i'
ii' ,i
1f1 ' : J
',,; 'rl
I
ii'll
;1
,i
, j.
. \
,
'I
, r
I
,
A administrac;:ao pode ser oral ou parenteral por inje\,ao
endovenosa.
Os efeitos sao alucinat6rios e despersonalizantes, similares aos
do LSD, com uma dura\,ao prolongada (12 horas).
Nao causa dependencia fisica, mas po de levar a danos
irrepaniveis no sistema nervoso.
4.13. LSD-25
o LSD-25, ou dietilamida do acido lisergico, cuja sigla deriva
do alemao Liserber Saure Diethylanid, e urn produto semi-sintetico
formado pela aglutina\,ao de uma dietilamida com 0 acido lisergico,
extraido do fungo Claviceps purpurea (esporao do centeio). 0 111lme-
ro 25 indica a vigesima quinta experiencia de uma serie.
Fisicamente e urn p6incolor, inadoro e sem sabor, que pode seringe-
rido sob a forma de comprimidos ou aplicado par endovenosas.
Os efeitos, que perduram por 6 a 12 horas, sao alucinat6rios e
despersonalizantes. As chamadas viagens levam 0 usuano a ter a er-
r5nea sensa\,ao que alcan\,ou outros pIanos de existencia, chegando
mesmo a sentir que 0 espirito abandonou 0 corpo.
Embora nao cause dependencia fisica, nao raro pode desenca-
dear crises psic6ticas, em pessoas predispostas, e comportamentos
aberrantes, que podem levar it pratica de crimes ou mesmo do suicidio.
Foram relatadas malforma\,oes fisicas e nos filhos de
usuanos, levando a conclusao de urn efeito teratogenico cumulativo.
4.14. Ester6ides ou anabolizantes
Os ester6ides ou anabolizantes sao urn gmpo de derivados sint-
ticos da testosterona, clinicamente recomendados para tratamento de
pessoas com baixas taxas do horm5niomasculino, por exemplo, ho-
mens submetidos a abla\,ao cirUrgica dbs testiculos. Como produtos
comerciais, poderiamos citar: Androxon, Deca-Durabolim eDurasteton.
De forma inadequada, essas drogas sao freqiientemente utiliza-
das por esportistas, que c.hegam a consumir doses cerca de cern vezes
superiores as terapeuticas; para aumento da massa muscular ou de-
sempenho fisico, de maneira a proporcionar vantagem em rela\,ao a
outros competidores.
272
>
AIem da fraude em si, pelo uso de substaucias sinteticas em
competi\,oes esportivas, que leva a desclassifica\,ao do atleta, 0 abuso
desses produtos pode causar serias altera\,oes fisicas e psicol6gicas,
como aumento da agressividade, redu\,ao da produ\,ao de esperma,
impotencia, ginecomastia (crescimento das mamas) e predisposi\,ao
a tumores hepaticos.
Usados por mulheres, levam ao surgimento de caracteres se-
xuais secundanos masculinos, como crescimento de pelos e en-
grossamento da voz, alem de atrofia dos ovanos e esterilidade.
Embora 0 uso de anabolizantes nao leve ao consumo de outras
drogas, hi! relatos de dependencia aos pr6prios ester6ides, em razao
de sintomas fisicos e psiquicos desagradaveis provocados pela su-
pressao da droga.
4.15. Inalantes
Iualantes sao hidrocarbonetos, tais como cloreto de etila (lan\,a-
perfume), butano, n-hexano, propano, tolueno, tricloroetileno, xilol etc.,
encontrados em urn sem-nUmero de produtos comerciais comuns, como
esmaltes, colas, tintas, removedores, gasolina, vemizes e outros, cujos
vapores e gases podem ser inalados proposital ou acidentalmente.
A import1\ncia toxico16gica dessas substancias reside exatamente
no fato de serem produtos comerciais comuns, nao vedados pela le-
gislac;ao. Por apresentarem baixo custo, facilidade de aquisic;ao e de
utilizac;ao, constituem drogas de eleiC;ao das crian\,as, principalmente
meninos de rna, abrindo caminho ao consumo de outros farmacos;
A inalac;ao acidental pode levar a configurac;ao de acidente do traba-
lho (emindustrias de calc;ados, oficinas de pintura, postos de gasoIina etc.).
Os efeitos fisicos sao siruilares aos dos anestesicos e incluem
sensac;ao de torpor e bem-estar que pode durar alguns minutos. Ha
tambem uma sensaC;ao de saciedade temporana, 0 que faz com que
sejam utilizados por crian<;as carentes para miniruizar a fome.
Se inalados em altas concentra\,oes, conduzem a sufocac;ao, pa-
rada cardiaca e morte. Outros efeitos, observados com 0 usa conti-
!lUO, sao perda de peso, incoordena\,ao motora, lesoes hepaticas e
renais, perda da mem6ria, danos no sistema nervoso central irre-
versiveis, coma e morte.
273
r I
r 1
1 'I'
'11
'il
j
' :1
1'1'
"
.!
1
1.1.
I
' I
.. t
i '!
I
Estudos recentes indicam que essas substancias atuam nas
mas regioes do cerebro que a cocaina (Jomal Saude, Cola de sapateij:;
ro afeta cerebro de forma igual Ii cocaina, advertem cientistas
www.saudeemmovimento.com.br).
o uso prolongado por levar Ii ffsica e psiquica (m.;;:'
comum).
Especificamente entre n6s, as colas de sapateiro (Cascola, Patex,
Brascoplast etc.), por conterem tolueno ou n-hexano em suas com-
posic;;oes, acabam {lor ser a droga mais usada entre meninos de rna e
estudantes da rede publica de ensino (CEBRID, Solventes ou inalantes
- www.saude.inf.br/cebrid).
Embora 0 tolueno nao esteja inc1ufdo entre as drogas de uso
proibido, e possivel responsabilizar as pessoas que vendem 0 produ-
to para crianc;;as com base no art. 243 do ECA, que teve a pena am-
pliada pela Lei n. 10.764, de 12-11-2003.
ECA
Art. 243. Vender, fomecer ainda que gratuitamente, ministrar ou entregar, de
qualquer fonna, a criam;a ou adolescente, sem justa causa, produtos cujos COID-
ponentes possam causar depend8ncia fisica ou psiquica, ainda que por
indevida:
Pena - de dois a quatro anos, e multa, se 0 fato nao constitui crime
roais grave.
4.16. Tabaco
o tabaco e uma planta do Nicotiana com mais de 50
especies diferentes, dentre as quais se destacam a Nicotiana tabacum;o
a Nicotiana langsdorfJii e a Nicotiana rustica, consurnidas em cigar-
ros,charutos e cachimbos, artesanais ou industriais.
Na combustiio do tabaco produzem-se milhares de substlincias (ga-
ses, va pores orgamcos e compostos libertados em forma de partfculas) que
sao transportadas pelo fumo ate os puhnoes. Dentre os inUrneros principi-
os ativos, destacam-se a nicotiua, diversos agentes irritantes e 0 alcatrao.
A nicotina e 0 alcal6ide responsilvel pela maior parte dos efei-
tos do tabaco e .fisica. Dentre os irritantes,pode-
mos mencionar: acrolema, amoniaco, fen6is e ilcido cianidrico, res-
ponsilyeispela irrita<;ao bronquica e tosse dos fumantes. 0 alcatrao
responde pelos efeitos altamente cancerfgenos do fumo.
274
Tido durante muitos anos como sfmbolo de satisfa"ao e status
social, ainda que, ao contrano de outras drogas, 0 Mbito de fumar seja
socialmente aceito e nao altere siguificativarnente 0 relacionamento
social do viciado, os danos Ii saude sao inegilveis, como, entre outros,
bronquite e enfisema pulmonar, cancer no pulmao e em outros 6rgaos
(boca, laringe, faringe, esOfago, pancreas, rim, bexiga e colo de utero),
doenc;;as vasculares (trombose e derrame cerebral), ulceras gilstricas,
sexual, complica<;oes na gesta<;ao e malforrna<;oes fetais.
4.17. Cafei1Ul
A cafema e uma substancia estimulante do sistema nervoso cen-
tral, presente em plantas como cafe, chil e cacau, bern como em algu-
mas bebidas Ii base de cola.
o consumo excessivo de cafema pode levar Ii de
gastrite, vornitos, intranqtiilidade, ansiedade, insonia, tremores mus-
culares e depressao.
Ainda que 0 uso moderado da cafema, por seu efeito estimulan-
te, possa ser benefico ao organismo, 0 consumo exagerado pode le-
var Ii ffsica. Sua interrup<;ao abrnpta produz uma espe-
cie de smdrome de caracterizada por dores de cabe<;a,
irritabilidade, e dirninui<;ao da capacidade inte1ectual.
4.18. "Poppers"
Os poppers (nitrato de amila ou butila) sao vasodilatadores ori-
ginalmente empregados no tratamento da angina.
Distribuidos em pequenas garrafas de vidro, sao norrnalmente
consumidos por inala<;ao gra<;as Ii extrema volatilidade do prbduto Ii
temperatura ambiente. Basta abrir a garrafa, colocil-Ia junto as narinas
e aspirar os gases. 0 efeito e imediato e corresponde a uma sensa<;ao de
estfmulo provocada pelo maior afluxo de sangue no cerebro e cora<;ao,
que dura cerca de dois minutos.
Ao lado do efeito vasodilatador estimulante, causa 0 relaxamento
de todos os musculos do corpo, inclusive do esffncter anal, razao
pela qual e muito utilizado pela comunidade homossexual, porque
favorece 0 intercurso sexual, nao obstante dificultar a ere<;ao.
Apesar de nao causar 0 usa prolongado pode pro-
vocar danos ao sistema cardiorrespirat6rio pelo aumento exagerado
275
:
i!
11
,
d)
I
ih
"r,
.,
,I:
"
,
I
i
1
,I
I
1,
,fii
Jli'
'lid
\;
I
,
) !
do trabalho cardiaco. Tarnbem sao relatados efeitos relacionados
imunossupressao.
5. ALCOOLISMO
Apesar de nao ter seu usa proibido e constituir, de certa WflUa.
um habito socialmente aceito, 0 alcoolismo e tao ou mais nocivo '.
saude e ii sociedade que as demais toxicofilias, traduzindo-se em ver-
dadeiro problema de saude publica.
o alcool pode agir no organismo de vanas formas, prodnzindo
desde uma siruples embriaguez episodicaate apsicose alco6lica (atual
transtomo psic6tico induzido por alcoo!). 0 esquema a seguir resu-
me os principais quadros da intoxicaao alcoolica, segundo a tenni_'
nologia classica:
AIcoolismo
276
agudo
cr6nico
(psicoses
aIco6licas)
embriaguez fase de conjUsiio (aguda ou do leao)
{
fase de excitariio (subaguda au do macaco)
fase siderativa ou comatosa (superaguda ou
do porco)
embriaguez patoI6gica excitomotora
{
agreSSiVa au violenta
(segundo Vihert) convuIsiva
com sintomas
psiquiatricos
com sintomaS \1
',psiquiatricos e
neu'roI6gicos
delirante
deItrio
aIco6lico
{
SUbagUdO
agudo (delirium
. tremens)
superagudo
depressao alco6lica aguda
alucinose auditiva aguda
. 'paran6ia aIc06llca-delfrio de ci11mes
,.dipsomania
psicose poliueurftica de Korsakoff
encefalopatia de Wernicke
encefalopatia porto-cava
sindr9me de Marchiafava
epilepsia alco6lica
demencia alco6lica
,
A nomenclatura dos transtomos mentais relacionados com 0 uso
de alcool foi significativamente alterada pelo DSM - IV da Asso-
cial(ao Psiquiatrica Americana:
transtomos por uso de alcool:
- dependencia de alcool;
- abuso de alcool;
transtomos induzidos por alcool:
- intoxicaao por alcool;
- abstinencia de alcool;
- delirium por intoxical(ao com alcool;
- delirium por abstinencia de alcool;
- demencia persistente induzida por alcool;
- transtomo amnesico persistente induzido por alcool;
- transtomo psicotico induzido por alcool;
- transtomo do humor induzido por alcool;
- transtomo de ansiedade induzido por alcool;
- disfunl(ao sexual induzida por alcool;
- traitstomo do sono induzido por alcool.
Por quest6es didaticas e por ser mais conhecida, neste trabalho
comentaremos a terminologia cIassica.
5.1. Alcoolismo agudo - embriaguez
o alcoolismo agudo, ou embriaguez alcoolica, pode ser normal
ou patol6gico.
Na embriaguez normal, comum, 0 usuano desenvolve os sinto-
mas em tres fases distintas. Inicialmente, mostra-se desinibido e eu-
f6rico, com vivacidade mental e motora (Jase da excitm;:ilo ou do
, macaco).
A intoxical(ao progride e surgem comportamentos anti-sociais,
como irrital(ao e agressividade. Os pensamentos tomam-se confusos
e comumente refletem quadro depressivo (Jase da confusilo ou do
leilo).
277
'f
'l
:d
H
'I
!:\
:1
,Ii
'n
'I
hi
i'
Wil
II
,I
,
'I
!
'
I';
1'1
II
I
Finalmente, 0 ebrio niio mais consegue manter-se em pe e
em sono profundo, que, na depen<iencia da quantidade de iilcocif
ingerida, pode acarretar coma e morte lfase siderativa ou comatosd:
ou do porco). , '
Hit certa discrepilncia entre os divers os autores quantoa'
alcoolemia necessaria para determinar cada fase, ate porque eXisteIri\
grandes varia<;;oes individuais. 0 quadro a seguir, baseado em similar
proposto por C. Simonin (Medicina legal judicial, 1962, p. 587),
uma uo<;;ao das dosagens em cada fase.
'"
i
55,1
m
!2
ii 4,50 ; 4.'
E 3.76
.,
e
3,0 I /I / d,
E 3,00
J? 2,25
I '8
iii 1,50
o :I! ';S::":
;g
1,12 j e;
<3 ()75
CTB-O:60 '.'
0,37 0.
3 4 6Hores
Vma outra maneira de dosar a alcoolemia e atraves da Tabela
Intemacional de Ladd e Gibson, que mede a concentra<;;ao de iilcool
no sangue em percentuais (apud Vargas, 1990, p. 166):
1.9: Grau
de 0,005 a 0,0111% de aleool no sangue
22Grau
de 0,015 a B;049% de aleool no sangue
3
2
Grau
de 0,050 a 0,1(19% de aleool no sangue
4" Grau
'. de 0,150 a 0;299% de aleool no sangue
5
2
Grau
0,300 a 0399% de aleool no sangne
(,2 Grau
de 0,400 a 0,600% de alcool no sangue
278
I
I
,I
o tempo de elimina<;;ao tambem varia de pessoa para pessoa,
influindo nao apenas a quantidade de iilcool ingerido, como tambem
o tipo de bebida, 0 consumo con junto de aIimentos, a complei<;;ao
Dsica, a idade, 0 sexo etc.
o C6digo de Trilnsito Brasileiro (Lei n. 9.503, de 23-9-1997),
em seu art. 276, adotando criterio objetivo, entendeu que a concen-
tragao de 0,6 g de iilcool por litro de sangue ja e suficiente para com-
prometer a dire<;;ao de veiculo automotor. Note-se que essa concen-
tragao encontra-se abaixo da necessaria para detec<;;ao de infcio de
embriaguez (1,12 gil de sangue - vide grafico).
C6digo de Tdlnsito
Art. 276. A eoneentra<;ao de seis decigramas de aleool por litro de sangue eom-
pIova que 0 condutor se acha iropedido de dirigir velculo automatar .
Alem desse dispositivo, a Resolu<;;ao n. 206, de 20 de outubro
de 2006, do CONTRAN, estabeleceu outros procedimentos e os li-
mites que permitem a afirma<;;ao de que 0 condutor de um vefculo
estava sob influencia de iilcoolou substilncias de efeitos aniilogos:
Resolu<;iio CONTRAN n. 206/06
Art. 12 A de que 0 condutor se encontra dirigindo sob a influencia
de ou de qualquer substancia entorpecente ou que determine dependencia
ffsica ou psfquica, se dara. por, pelo menos, urn dos seguintes procedimentos:
I - teste de alcoolemia com a de alcool igual ou superior a seis
decigramas de aleool por litro de sangue;
n - teste em aparelbo de ar alveolar pulmonar (etililmetro) qne resulte na eoneen-
tra<;ao de aleool igual ou superior a 0,3 mg por litro de ar expelido dos pulmoes;
ill - exame clfnico com laudo conclusivo e finnado pelo me<;lico examinador da
Polleia Judiciaria;
IV - exames realizados por laborat6rios especializados, indicados pelo 6rgao
ou entidade de trnsito competente ou pela Policia Judiciaria, em caso de uso de
substfulcia entorpecente, t6xiea Oll de efeitos analogos.
de culpa
A boa tecnica juridica determina que alcoolemia, assim como
qualquer outra condi<;;ao orgi\nica constatavel, seja determinada por
279
iH
;Ii
'I
'l'
'\
II
,
r
I:
I:
'.....1,
I
,
. ,!
interrn6dio de pericia. Entretanto, a Lei n. 11.275, de 7 de fevereiro
de 2006, alterou a redac;:ao do art. 277 do C6digo de Trfulsito Brasi-
leiro, para admitir, no caso de recusa do motorista em se submeter a
pericia ou ao teste do "bafometro" (etilometro), que 0 estado de
embriagues possa ser comprovado mediaute a obtenc;:ao de outras
provas em direito admitidas ( 2").
C6digo de Trmsito
Art. 277. Todo conduto! de veiculo automatar, envolvido em acidente de trfulsito
all que for aI vo de de transito, sob suspeita de dirigir sob a influencia
de sera submetido a testes de alcoolemia, exames clfnicos. pericia Oll DU-
tro exam.e que, por meios tecnicos Oll cientfficos, em apareIbos homologados
pelo CONTRAN, permitam certificar seu estado.
12 Medida correspondente aplica-se no caso de suspeita de usa de substancia
entorpecente, t6xica ou de efeitos aruiIogos.
2.!2 No caso de recusa do conduto! a realiz3c;ao dos testes, exames e da pericia
previstos no caput deste artigo, a infrac;3.o paden! ser caracterizada mediante a
obtenc;ao de outras provas em direito admitidas peIo agente de transito acerca
dos not6rios sinais qe embriaguez. ou torpor, resuItantes do consumo
de alcooI ou entorpecentes, apresentados peIo condutor.
Regulamentaudo 0 dispositivo, a Resoluc;:ao n. 206, de 20 de
outubro de 2006, do CONTRAN, em seu art. 2, previu que:
Resolur;lio CONTRAN D. 206/06
Art. 22 No caso de reCllsa do condutor a realizagao dos testes, dos exames e da:
pericia, previstos no art P!, a infragao podera ser caracteri.ztIa mediante a obten-
gao, peIo agente da autoridade de transito, de outras provas em direito admitidas
" acerca dos not6rios sinais resultantes do consumo de alcooI ou de qualquer subs-
tfulcia entorpecente apresentados peIo condutor, conformeAnexo desta
1
101
Os sinais de que trata 0 caput deste artigo, que Ievaram 0 agente daAutorida-
de de Transito it do estado do condutor e a da
prevista no art. 165 da Lei n. 9.503/97, deverao ser por ele descritos na ocorren-
cia ou em termo especffico que contenham as informag5es mi'nimas indicadas no
Anexo desta '
22 0 documento citado no 1.2 deste arligo devera ser preenchido e firmad9
pelo agente da Autoridade de Transito. que a recusa do candutor em
se submeter aos exames pelo art . ..217 da Lei D. 9.503/97.
o Anexo, a que se refere 0 caput do dispositivo acima trauscri-
to, traz 0 seguinte questionano:
__ 280
Jr
",
.. ......:, -. ._"-i{"
1 ! .
coNTRAN D. 206/06
I. Quanta ao condutor:
a.Nome;
b. Nfunero do Prontuario da CNH ou do documento de identificac:t
ao
;
c. sempre que possivel.
ll. Quanto ao vefculo:
a. Placa!UF;
b.Marca.
ill. Quanto ao tatoo
a. Data;
b. Hora;
c. Local;
d. NUmero do auto de
IV. Relato:
a. 0 condutor:
i. Envolveu-se em acidente de transito;
ii. Declara ter ingerido bebida a1co6lica;
Em caso quando:
iii. Declara ter feito uso de substancia t6xica, entorpecente ou de efeito amilago.
Em caso positivo, quando:
iv. Nega ter ingerido bebida a1co6lica;
v. Nega ter feito uso de substancia t6xica, entorpecente all de efeito amUogo;
h. Quanto a aparencia, se 0 condutor apresenta:
i. Sonole.Dcia;
ii. Ollios vermelhos;
iii. V6mito;
iv. Soluc:tos;
v. Desordem nas vestes;
vi. Odor de alcool DO hiilito.
c. Quanto A atitude, se 0 condutor apresenta:
i. Agressividade;
ii. Arrogancia;
iii.
iv. Ironia;
v. Falante;
vi. Dispersao.
d. Quanto a orientac:tao, se 0 condutor:
i. sabe onde esm;
ii. sabe a data e a hora.
e. Quanto it mem6ria, se 0 condutor:
i. sabe sell
ii. lembra dos atas cometidos;
f. - --
281
, '..'1
' .
I
, lt:
, '
I r!
"
I
,I!
f
dti
r
. ,
,
. I
O,'il)
", '
I
I
i'
,I
i',
,
I'
I"
I'
i;
r
I
[
r ,
I
I
i!
!
.i
ii
',; i
'I
------------------------
i. Dificuldade no
ii. Fala alterada;
V. Afinnagao expressa de que:
De acordo com as caracterlsticas acima descritaS, constatei que 0 canduto!" (nome
do eondutor) do vefeulo de plaea (plaea do vefculo). (esWniio esll\) sob a influeneia
de alcool, substancia t6xica, entorpecente ou de efeitos aruilogos e se recusou a
submeter-se aDS testes, exames ou perfcia que pennitiriam certificar 0 sen estado.
VI. Dados do Policial ou do Agente da Autoridade de Trilnsito:
a.Nome;
b. Matrfcula;
c. Assinatura.
Note-se que antes da do art. 277 do C6digo de Transi-
to Brasileiro, 0 caput do dispositivo previa: "Todo condutor de vefcu-
10 automotor, envolvido em acidente de trans ito ou que for alvo de
jiscalizar;iio de transito, sob suspeita de haver excedido os limites
(de alcoolemia) previstos no artigo anterior (art. 276), sera submeti-
do a testes de alcoolemia, exames clfnicos, perfcia, ou outro exame
que por meios tecnicos ou cientijicos, em aparelhos homolog ados
pelo CONTRAN, permitam certificar seu estado". conve-
nhamos, bern mais tecnica e razoavel que a atual, ate porque 0 polici-
al ou agente da autoridade de transito nao pode ser mais que mera
testemunha e nunca se subsumir na figura de perito, especialmente
em materia de natureza medica.
Assim, em que pese a boa do legislador, e bern possfvel
que 0 22 do art. 277 venha a ser declarado inconstitucional por of ens a
ao principio da de inocencia (CF, art. 52, LVll), do qual de-
corre 0 corolario de que 0 reu nao e obrigado a fazer prova contra si.
5.2. Alcoolismo agudo - embriaguez patolOgica
A embriaguez pato16gica, segundo'Delton Croce (1998, p. 97),
e a que se manifesta em descendentes de alco61atras, pessoas predis-
postas e com personalidades psicopati'(as.
Embora ingerindo pequenas quantidades, essas pessoas apre-
sentam respostas incomuns !lOS .efeitos do alcool que, segundo Ch.
Vibert, podem ser de quatro tipos, conforrne 0 quadro abaixo (in Precis
de medecine legale, 1917, pag. 700):
282
,
'-'
Agressiva ou violenta o alco61atra apresenta grande agressividade com
pequenas doses da substiincia, podendo. inclusive,
praticar crimes.
Excitomotora e fUria destmtiva, com acessos de rai-
va e
Convulsiva alem dos iropulsos destruidores. seguem-se epis6-
dios convulsivos, epileptiformes.
De1irante delfrios com ideias de auto-acusa<;ao e tendencia
ao suicidio.
-
5.3. Alcoolismo cronico
Enquanto 0 alcoolismo agudo e geralmente epis6dico, 0 alcoo-
lismo cronico e uma persistente do psiquismo, similar a
urna doenr;a mental, consistindo na progressiva do orga-
nismo pelo uso habitual do alcool.
Para que se instale, e necessario 0 consumo continuo e regular
de bebidas alco6licas por tempo bastante prolong ado. Identificam-se
quatro perfodos (apud Zacharias, 1991, p. 29):
Periodo oeulto Instabilidade emocional. tensao e angustia que somen-
te cessam com 0 consumo do alcool. A ingestao e ge-
ralmente as escondidas e 0 individuo nao IDostra sinto-
mas de embriaguez.
_. __ .
Periodo prociromico A nociva do alcool ja se faz sentir em pequenos
lapsos de mem6ria (amnesia lacunar). A necessidade
da bebida toma-se evidente. Os amigos e familiares
a manifestar preocupa<;ao.
Perfodo Msico Instala-se a dependencia. 0 individuo consegue
parar de beber e quase sempre 5e embriaga. Abandona
o emprego e a familia, toma-se e agressivo,
descuida dabigiene pessoal e da Certo grau
de impotencia esta presente.
Periodo cronico Aingestiio de iTIcool inicia-se jli pelamanha. Nesse perfo-
do e que vamos encontrar os sintomas mais graves da in-
ale06lica, com perda do aIDor pr6prio e da dig-
nidade pessoal. Crises de agressividade podem compelir 0
alco6latra it pratica de crimes. Estiio presentes as psicoses
- - - _.-
C'o'er!te
ns
5.4 e_5.5). _
- .- -
283
r!
)
,
Ii;
:1
il!'
I
':1
Iii! .
il'
'I?
11Ij
,
11'/:
!'
5.4. psicoses alco6licas com sintomas psiquititricos
5.4.1. Delirio alcoolico
o deIirio alc06lico pode ser subagudo, agudo ou superagudo.
No delfrio alco6Uco subagudo, tambem conhecido como
encefalose alco6Uca subaguda (apud Vargas, 1990, p. 242), 0 alc06-
latra apresenta sinais de e ins6nia, sudorese inten-
sa e deIirios que se traduzem por comportamentos e falas com seres
imaginarios.
Sao freqiientes os relatos de visoes de animais assustadores
(zoopsias), como cobras ou aranhas. Os ataques costumam ocorrer
no final da tarde para a noite e acometem, preferencialmente, os al-
c06latras com idade superior a 40 anos.
No delfrio alco6Uco agudo ou delirium tremens, 0 viciado apre-
senta sintomas mnito semelhantes aos do delfrio subagudo, apenas
mais acentuados. A qualidade e a quantidade das aumen-
tam significativamente, sendo comum a procura pelo suicidio.
No delfrio alco6lico superagudo, alem da mesma sintomatologia
delirante, instala-se urn completo estado de mental,
caracterizado pela total insensibilidade ao meio ambiente e perda da
capacidade de julgamento e raciocinio.
5.4.2. Depressao alcoolica aguda
A prolongada pelo illcool conduz 0 alc06latra 11 per-
da da auto-estima com conseqiiente depressao e tendencia ao snicidio.
5.4.3. Alucinose auditiva aguda
E uma do delirium tremens em que predominam mais
auditivas que visuais. 0 alco6Iatra pensa ouvir vozes de
comando e que podem tOplar-se cr6nicas e ate conduzir 11
esquizofrenia. A tendencia ao suicidio esta presente.
, 5.4.4. Paranoia alcoolica ,-, -, delirio 'de ciumes
Descrita inicialmente por Kraepelin, a psicose alcoDUca traduz-se
por ideias recorrentes de no relacionamento amoroso e fa-
284
----
nriliar. 0 alc06latra desenvolve urn sentimento doentio e nao fundamen-
tado de em relagao ao companheiro (deli rio de citimes), a
quem passa a perseguir, vigiar e acusar de traigao indiscriminadamente.
o descuido com a higiene pessoal, uma impotencia moderada e
a diminnic;;ao da libido podem acentuar 0 quadro, na rnedida em que
o parceiro passa a desenvolver certa repulsa aos contatos sexuais,
fazendo com que a do alc06latra aumente.
Nao raro, em razao das violentas crises que pode despertar, 0
viciado pode ser levado ao cometimento de crimes.
5.4.5. Dipsomania
Embora, no passado, tenha side descrita com certa freqiiencia
na literatura medica, a dipsomania e atualmente urn quadro raro que
se caracteriza por crises em que 0 alc06latra sente urna necessidade
incontrolavel de consumir bebidas alcoolicas em grande quantidade.
Interessante e 0 fato de 0 dipsllmano permanecer absolutarnente
abstemio entre as crises, que sao ciclicas, de durac;;ao bastante varia-
vel e geralmente precedidas de sintomas como tristeza
profunda, insllnia ou inapetencia.
Quando nao encontra a bebida, 0 dipsllmano chega a ingerir
illcool puro ou mesmo gasolina.
5.5. Psicoses alco6licas com sintomas psiquititricos e neuro-
16gicos
5.5.1. Psicose poliueuritica de Korsakoff
Tambem chamada de sfndrome de Korsakoff, a psicose
polineurftica de Korsakoff costuma aparecer nos estagios mais avan-
do alcoolismo crllnico, embora seja observada tambem em in-
por arsenico e mon6xido de carbono.
Manifesta-se com mais freqiiencia entre as mulheres e ap6s os
50 anos de idade, podendo surgir como conseqiiencia de uma crise de
delirium tremens.
Clinicamente, caracteriza-se por transtomos de memoria, par-
ticularmente a amnesia de jixa<;ao, que faz com que 0 doente
285
Ii,
I.
I,it
I,
I!
"
j:
11
L
:-,
:i
,';:1:
Ji
l
5.:
Ii:
;::
,',
',t:
!
'(;
!I
iji
ii
'" ;'1
I
r
,i;:'
:,1'
':;
!
I
','
\i
:f
\
, ,
\, if Jl
i';
I
I
"I
,: i
, :
, i
i
, j
I
os fatos mais recentes de sua vida. Desorienta<,;iio no tempo e
pa<,;o, cria<,;iio de relatos imaginarios (fabula<,;iio) e falsos reconheci_
mentos siio tambem sintomas comuns.
Fisicamente a sfndrome manifesta-se por paralisias e paresias
(perda parcial da mobilidade), acompanhadas de atrofiase dores
musculares que atingem preferencialmente os membros inferiores,
dificultando a movimenta<,;iio do doente.
o progu6stico e reservado, pois a evolu<,;iio conduz quase sem-
pre a demencia alco6Uca. A recupera<,;iio, quando ocorre, e bastante
lenta, podendo os sintomas perdurar por varios anos.
5.5.2. Encefalopatia de Wernicke
A maior parte dos autores niio reconhece a enceJalopatia de
como uma entidade autonoma, inc1uindo os sintomas na
pr6pria Sfndrome de Korsakoff.
Ocorre em uma pequena parcela dos alc06latras cronicos e pro-
vavelmente esta associada a carencia de vitaruinas do complexo B.
Clinicamente inicia-se com vomitos, falta de coordena<,;iio motora
(ataxia), insonia e alucina<,;oes (similares as do delirium tremens). A
deteriora<,;iio mental agrava-se rapidamente, podendo chegar a incons-
ciencia (estupor) e morte em curto periodo de tempo.
5.5.3. Encefalopatia porto-cava
E uma sindrome que aparece no alcoolati"a portador de cirrose
hepatica caracterizada por transtomos de consciencia em niveis va-
riados, em decorrencia de altera<,;oes circulat6rias relacionadas com
o sistema porta (sistema de circulaliiio do ffgado), que levam a urn
aumento da amonia no sangue.
Os sintomas neurol6gicos englobam perturbalioes da conscien-
cia, do humor, tremores (flapping), comahepatico e mor-
te (apud Vargas, 1990, p. 249).
5.5.4. Sindrome de Marchiafava
Quadro raro que acomete alco6latras cronicos, especialmente
viciados em vinho tinto italiano (acredita-se que em raziio de impu-
286
rezas metalicas), caracterizado pela necrose de areas especfficas do
cerebro (corpo caloso e comissura anterior).
Os sintomas compreendem urn quadro psic6tico agudo consis-
tente em incoordenaliiio motora (ataxia), desorientaliiio e confusiio,
que evoluem para apatia completa, hemiplegia (paralisia da metade
do corpo), coma e morte.
5.5.5. Epilepsia alco6lica
Cerca de 15 % dos alc06latras cronicos chegam a apresentar ata-
ques epileptiforrnes, crises convulsivas cuja origem e atribuida ao
usa imoderado do alcool.
Atualmente questiona-se a reialiiio do aleool com disturbios
epileptiforrnes, acreditando-se que, na maioria das vezes, ele pos-
sa funcionar apenas como "disparador" de uma condiliiio
preexistente.
Tanto isso e verdadeiro que, cessado 0 alcoolismo, desapare-
cern as crises convulsivas sem necessidade de medicaliiio pr6pria.
5.5.6. Demencia alco6lica
o terrno e norrnalmente utilizado para descrever as fases finais
da sfndrome de Knrsakoff. Consiste em uma grande deterioraliiio da
memoria e da capacidade intelectual, levando a progressiva e
irreversivel decadencia moral e ffsica.
5.6. Exame de avaliafiio de dependencia de drogas
A Lei 6.368, de 21 de outubro de 1976 (Lei deT6xicos), identi-
ficava quatro situalioes possiveis em relaliiio 11 dependencia (Vargas,
1990, p. 190):
a) usuano ou experimentador ocasional (art. 16 da Lei n. 6.3681
76);
b) usuano dependente (art. 19 da Lei n. 6.368176);
c) traficante (art. 12 da Lei n. 6.368176); e
d) traficante dependente (arts. 12 e 19 da Lei n. 6.368176).
287
"II
"
..' I
. ,
:1,\,
Ij t i
\\'\
i-
'1,1
1,)",1
I,
'" ;H;
L"
,.
t.<
F:,l
.,
i:'
" i
, I
I
I
A Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006, trouxe algumas altera-
90eS importantes. Primeiro, porque fez nitida separa.,:iio entre 0 usuano e
o traficante, dependentes ou niio, colocando-os, inclusive, em litulos di-
versos, e, em segundo lugar, porque multiplicou as figuras penais:
usuilrio (ocasional ou niio) - art. 28
traficante e assemelliados - art. 33 e
maquinilrio destinado a fabrica9lio - art. 34
associal,tao para 0 tim de trMico - art. 35
Lei n. 11.343/06 ou custeio ao triifico
infonnante eventual do triifico - art. 37
prescric;ao ou ministrac;ao culposa de droga
-art. 38
conduc;ao de embarcac;ao ou aeronaye
sob 0 efeito de drog> - art. 39
dependentes
ounao
o exame de avalia{:iio de dependencia de drogas, assim deno-
minado pelo art. 56, 22, da Lei n. 11.343/06, objetiva inicialmente
distinguir aquele que e de pendente de droga (seja usufuio, traficante
ou assemelhado) e, portanto, niio tern possibilidade, sem ajuda espe-
cializada, de fnrtar-se ao usa do farmaco, daquele que consome even-
tualmente (usnario ocasional) ou aufere vantagem economica no co-
mercio irregular dos entorpecentes (traficante ou assemelhado) sem
- deles se utilizar.
Lei n. 11.343/06
Art. 56 ....
22 A audiencia a que se refere 0 caput deste artigo realizada dentro dos 30
(trinta) dias seguintes ao recebimento da demlncia, salvo se detenninada a rea.li-
zal,tao de avaliafcio para atestar dependenda de drogas, se realizara em
90 (noventa) dias (grifo nosso).
Niio basta, porem, constatar 'ou niio a dependencia fisica e ou
- psiquica, pois "0 simples fato de () reu ser dependente de substilncia
psicotropica, niio significa seja ele iriimputavel" (JTAcrimSP, 67/253).
E necessario, em urn segiilldo momento, verificar 0 grau dessa depeu-
dencia para poder avaliar a imputabilidade do agente de acordo com 0
que disp5em os arts.45 a47 daLein.l1.343,de23 deagosto de 2006:
__ ---.288 --
L
Lei n. 11.343/06
Art. 45. E isento de pena 0 agente que, em razao da dependencia, ou sob 0 efeito,
proveniente de caso fortuito ou forc;a de droga, era, ao tempo da ac;ao ou
da omissao, qualquer que tenha sido a infras:ao penal praticada, inteiramente
incapaz de entender 0 carater iUcito do fato ou de determinar-se de acordo com
esse entendimento.
Paragrafo Unico. Quando absolver 0 agente, reconhecendo, por forc;a pericial,
que este apresentava, a epocado fato previsto neste artigo, as condic;oes referidas
no caput deste artigo, podera detenninar 0 juiz, na sentencra.::o seu encaminha-
mento para tratamepto medico adequado.
Art. 46. As penas podem ser reduzidas de urn. terc;o a dois terc;os se, por foI'.ta das L-'
circunstancias previstas no art. 45 desta Lei, 0 agente nao possuia, ao tempo da
ac;ao ou da omissao, a plena capacidade de entender 0 carater ilfcito do fato ou de
determinar-se de acordo com esse entendimento.
Art. 47. Na sentencra condenat6ria, 0 juiz, com base em avaliac;ao que ateste a
necessidade de encaminhamento do agente para tratamento, realizada por profis-
sional de saude com competencia especffica na fonna da lei, determinara que a
tal se proceda, observado 0 disposto no art. 26 desta Lei.
Siio oito situa.,:5es distintas:
a) 0 agente, em raziio de dependencia, era inteiramente inca-
paz de entender 0 carater ilicito do fato (art. 45, caput, da Lei n.
11.343/06);
b) 0 agente, em raziio de dependencia, era inteiramente incapaz
de determinar-se de acordo com 0 entendiruento sobre 0 carater ilici-
to do fato (art 45, caput, da Lei n. 11.343/06);
c) 0 agente, sob 0 efeito de droga, proveniente de caso Jortuito
ou de Jor{:a maior, era inteiramente incapaz de entender 0 carater
ilicito do fato (art. 45, caput, da Lei n. 11.343/06);
d) 0 agente, sob 0 efeito de droga, proveniente de caso Jortuito
ou de JOffa maior, era inteiramente incapaz de determinar-se de acordo
com 0 entendimento sobre 0 carater ilicito do fato (art. 45, caput, da
Lei n. 11.343/06);
e) 0 agente, em razllo de dependencia, eraparcialmente incapaz
de entender 0 carater ilicito do fato (art. 46 da Lei n. 11.343/06);
_ 1) 0 agente, em raziio de dependencia, era parcialmente incapaz
de deterininar-se de acordo com 0 entendimento sobre 0 carater ilici-
to do fato (art. 46 da Lei n. 11.343/06);
289
'I
Ii!
'I
I"
, -
o
R
t
BPi
,
':
'1,;1
:;'1'
.j,
"
t
,
il! ii
'I -
d'
.'- W
"
ID
1\
m
r
I
Ii
,I,
l I
l
E
I
I
I
f:
1"
:'.11,,",,,
'i
'r
mi'
m'I,!:
" i
"!,l
I' 'I
,
:i'
III
!,:
"
,I
"
I"
, I
:i
::1
'!
I'
Ii
I'
ti
g) 0 agente, sob 0 efeito de droga, proveniente de caso fortuito
ou de forr;a maior, era parcialmente incapaz de entender 0 carater
ilicito do fato (art. 46 da Lei n. 11.343/06);
h) 0 agente, sob 0 efeito de droga, proveniente de caso fortuito
ou de foYt;a maior, era parcialmente incapaz de deterrninar-se de acor-
do com 0 entendimento sobre 0 carater ilicito do fato (art. 46 da Lei
n. 11.343/06).
Nas quatro primeiras, temos a inimputabilidade, com a conse-
qiiente isen\,ao de pena. Nas quatro Ultimas, as hipoteses de semi-
imputabilidade como causa de redu\,ao de pena.
Note-se que nao se trata de semidependencia, figura inexistente
na anterior (Lei n. 6.368176) e na atuallegisla\,ao brasileira sobre
toxicos, mas sirn de semi-responsabilidade.
o dependente pode, ao tempo da a\,ao ou omissao, ser total-
mente capaz, parcialmente capaz ou incapaz de entender a natureza
ilicita de sua conduta e ou de agir de acordo com essa compreensao.
Em geral, os dependentes leves sao imputaveis, ja que perfeita-
mente capazes de entender 0 carater ilicito dos atos praticados e de
deterrninar-se de acordo com esse entendimento.
A dependencia moderada pode levar a semi-imputabilidade, com
conseqUente redu\,ao da pena (art. 46 da Lei n. 11.343/06), e a depen-
dencia severa, a inimputabilidade (art. 45, caput, da Lei n. 11.3431
06), exc1uindo a responsabilidade penal. '
Dependencia {
Ieve - imputabiJidade - aplica-se a pena
moderada - semi-imputabiJidade - pena reduzida
severa - inimputabilidade - isenta de pena
E irnportante lembrar que, se 0 agente nao dependente estiver
sob efeito de droga que nao seja proveniepte de caso fortuito ou for\,a
maior, nao podera beneficiar-se da isen\,ao ou da redu\,ao de pena
(actio libera in causa -, - art. 28, II, do'CP), podendo ate ver sua pena
agravada (embriaguez preordenada -, art. 61, II, I, do CP).
Ainda com rela\,ao a inimputabilidade ou semi-imputabilidade,
seguindo a orienta\,ao anterior (do Codigo Penal e da Lei n. 6.3681
76), a nova Lei de Drogas tambem adotou 0 criterio biopsico16gico.
Dessa forma, para se reconhecer a ausencia ou a diminuiao da capa-
290
cidade cognitiva do autor, e sempre necessario que ocorra a conjun-
<;ao de tres fatores (Mendon\,a e Carvalho, 2007, p. 176):
a) a causa biol6gica, ou seja, a constataao de que 0 agente era
dependente ou que agiu sob efeito de droga em razao de caso fortnito
ou fora maior;
b) a conseqiiencia psicol6gica, consistente em deterrninar se,
em razao da causa biol6gica, era 0 agente inteira ou parcialmente
incapaz de entender 0 carater ilicito do fato ou de detenninar-se de
acordo com esse entendimento; e
c) 0 elemento temporal de a conseqUencia psicologica existir no
instante da pratica do ato.
A pericia, entretanto, na maioria dos casos, so podera afmnar a
dependencia e 0 eventual comprometim
ento
psiquico do autor do
fato incriminado. Se estava ele sob 0 efeito da drog
a
no momento do
crime, se podia entender 0 carater ilicito do fato ou de deterrninar-se
segundo tal entendimento naquele exato momenta sao questoes que
precis am ser complementadas por outros meios de prova.
5.6.1. Procedimento para do exame
A nova Lei de Drogas nao tratou do procedimento para realiza-
ao do exame de avaliaf{ao de dependencia de drogas, que continua
sendo realizado segundo 0 rito previsto nos arts. 149 a 154 do C6di-
go de Processo Penal para 0 incidente de insanidade, no que couber.
5.6.2. Prazo para da pericia
A Lei n. 11.343/06 preve procedimentos diversos conforme 0
tipo de delito praticado.
Para as condutas previstas no art. 28, se cometidas isoladamen-
te, 0 rito deve ser 0 da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995-
Juizados Especiais Criminais (art.48, 12, da Lei n. 11.343/06). Nos
demais casos (crimes tipificados nos arts. 33 a 39), 0 rito deve ser 0
das Se .. oes I e II do Capitulo ill (arts. SO e s.).
Em rela .. ao a conduta do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (usuario),
como nao M possibilidade de prisao em flagrante (art. 48, 22), 0
exame, se requisitado, sera realizado em sede do Juizado Especial
Criminal. Nesse caso, no silencio da nova legisla .. ao, 0 prazo, em
291
:II'!
,I
'Ii,
i1
"'1' j,
1\"
11
!i,
,'Ii:
H
'M
l
'"i" "
I,
:'1
I
:1
;:
J
I,I
I
'I
,I
II
, .111.:11
i I
. II
If
!
i
, 'I
"i
ij':
II;
r '
I .
h
:f:
I';
I
I .
I .
i
!!
principio, seria aquele precoruzado pelo art. 150, 1 g, do C6digo de
Processo Penal (45 dias), salvo demonstradanecessidade de dila<;:ao.
Lei n. 11.343/06
Art. 48 ....
22 Tratando-se da conduta prevista no art. 28 desta Lei, nao se impora prisao
em flagrante, devendo 0 autor do fato ser imediatamente encaminhado aD juizo
competente OU, na falta deste, assumir 0 compromisso de a ele comparecer. Ia-
vrando-se tenno circunstanciado e providenciando_se as dos exames
e pericias necessanos.
Ocorre que, para os crimes mais graves, a nova Lei de Drogas
estabeleceu 0 prazo de 90 dias entre 0 recebimento da denuncia e a
audiencia de instru9ao e julgamento nos casos em que foi detennina_
da a pericia (no art. 56, 22).
Nao haveria sentido admitir prazo menor para os casos em que
o autor pennanece em liberdade. Sendo assim, entendemos que 0
novo prazo para realiza9ao do exame de avaliariio de dependencia
de drogas e hoje de 90 dias, em qUalquer hip6tese, facultado as par-
tes 0 oferecimento de quesitos.
Lei n. 11.343/06
Art. 56. Recebida a demincia. 0 juiz designara dia e hora para a aUdiencia de
e juIgamento, ordenara a pessoal do acusado, a intimalao do
Ministerio PUblico, do assistente. se for 0 caso, "e os laudos periciais ..
22 A audH!ncia a que se ref ere 0 caput deste artigo sera realizada dentro dos 30
(trinta) elias seguintes ao recebimento da demlncia, salvo se detemiinada a reali-
de avaliac;ao para atestar dependencia de drogas, quando se realizara em
90 (noventa) dias.
5.6.3. Quesitos
as quesitos mais comuns, baseados no texto de lei, continuam
sendo os mesmos;
1) era 0 examinado, ao tempo da ou omissao, dependente
de droga(s)? De qual(is) droga(s)?
2) em caso de resposta afinnativa ao quesito anterior, a depen-
dencia era ffsica ou psiquica?
292
3) era 0 examinado, ao tempo da ac;;ao ou omissao, em razao da
dependencia de droga(s), inteiramente incapaz de entender 0 carater
ilfcito do fato ou de detenninar-se segundo esse entendimento?
4) era 0 exarninado, ao tempo da a9ao ou omissao, em razao da
dependencia de droga(s), parcialmente capaz de entender 0 carater
ilicito do fato ou de detenninar-se segundo esse entendimento?
5) era 0 exarninado, ao tempo da a9ao ou omissao, em raziio de
estar sob 0 efeito de droga, inteiramente incapaz de entender 0 cara-
ter ilfcito do fato ou de detenninar -se segundo esse entendimento?
6) era 0 examinado, ao tempo da ac;;ao ou omissao, em raziio de
estar sob 0 efeito de droga, parcialmente capaz de entender 0 carater
ilfcito do fato ou de detenninar-se segundo esse entendimento?
7) necessita 0 examinado de tratamento? Qual 0 indicado?
8) em caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, e necessa-
ria a intema9ao hospitalar do examinado para tratamento? Por que?
5.7. Tratamento medico e medida de seguranfa
A Lei n. 11.343/06 trouxe algumas inova9oes importantes rela-
cionadas com 0 tratamento aplicavel aos inimputaveis e semi-impu-
taveis, esc1arecendo a duvida que durante anos penneou ajurispru-
dencia em rela9ao 11 interpretac;;ao do art. 29 da Lei n. 6.368176, a
respeito da possibilidade ou nao de tratamento aos semi-imputaveis.
Pela simples leitura do paragrafo uDico do art. 45 (inimpu-
tabilidade) e do art. 47 (semi-imputabilidade), verifica-se que tanto
ao inimputiivel quanta ao imputavel e possivel 0 encaminhamento
para tratamento medico adequado.
Lei n. 11.343/06
Art. 45 .... (inimputabilidade)
Paragrafo tInieo. Quando absolver 0 agente, reeonheeendo. por forc;a pericial,
que este apresentava, a epoca do fato previsto neste artigo, as eondic;6es referidas
no caput deste artigo. podera determinar 0 juiz, na 0 seu eneaminha-
mento para tratamento medico adequado.
Art. 47. Na sentenc;a condenat6ria, 0 juiz, com base em avaliac;ao que ateste a
necessidade de encaminhamento do agente para tratamento, realizada por profis-
sional de saude com competencia especifica na fonna da lei, detenninara .que a
tal se proceda, observado 0 disposto no art. 26 desta Lei.
293
/.
I
1,1
. ,
[:
K
I
t
I
'Ii
,
I
t
Ii
j,'.
t
'].
,
ijl
i ,.
!\:
)i
r
"
I!
,
Ii:
Ii
i
..
1 i
Ii
:1:
A grande novidade, entretanto, fica por conta do encaminha_
mentofacultativo ao tratamento, mesmo aos inimputaveis.
Pela sistematica da revogada Lei n. 6.368176, uma vez reconhe..
cida a dependencia e a inimputabilidade, 0 juiz era obrigado a deter_
minar 0 tratamento em regime de ou ambulatorial (arts.
10 e 29). Ao dependente com capacidade diminufda, 0 magistrado
impunha a pena e dispensava tratamento medico em ambulat6rio in-
temo do sistema penitenciario (art. 11).
I Lei n. 6.368n6 (REVOGADA)
Art. 29. Quando 0 juiz absolver 0 agente, reconbecendo por fo"a de pedcia
aficia!, que ele, em razao de dependencia, era, ao tempo da Oll da amissao,
inteiramente incapaz de entender 0 carater ilicito do fato ou de determinar-se de
acordo com esse entendimento. ordenani seja 0 meSma submetido a tratamento
medico.
Art. 10. 0 tratamento sob regime de interna9lio hospitalar sera obrigat6rio quan-
do 0 quadro cHnico 90 dependente ou a natureza de snas IDanifestac;oes
psicopato16gicas assim 0 exigirem.
III Quando verificada a desnecessidade de intema9ao, 0 dependente sera sub-
metido a tratamento em regime extra-hospitalar, com assistencia do servi90 soci-
al competente.
Art. 11. Ao dependente que, em razao da pratica de qualquer infra9lio penal, for
imposta pena privativa de liberdade ou medida de detentiva sera dis-
pensado tratamento em ambulat6rio interno do sistema perutenciano onde esti-
ver cumprindo a respectiva.
5.7.1. Inimputabilidade
Pela nova sistematica, reconhecendo a inimputabilidade do agente,
o juiz necessariamente decretara a absolvi9ao e decidira sobre a neces-
sidade ou nao de encaminhar 0 reu a trat!l1Ilento medico adequado que
continua tendo a natureza juridica de medida de seguranra.
Sendo 0 caso de reconhecimento ..& embriaguez resultante de
caso fortuito ou forc;a maio'!, nao ha falar em aplicac;ao de qualquer.
tratamento, daf a faculdade conferida ao juiz para analisar e decidir
sobre 0 caso concreto.
294
No caso da inimputabilidade por dependencia 0 tratamento con-
tinua sendo obrigat6rio.
Alguns autores tern entendido que, mesmo que 0 magistrado
determine 0 encaminhamento para tratamento, este sera facultativo e
s6 podera ser implementado com a concordfulcia do agente (ver Men-
donc;a e Carvalho, 2007, p. 179).
Ousamos discordar.
Se, por urn 1ado, e bern verdade que 0 tratamento e facultativo
no tocante it possibilidade de 0 magistrado, ao reconhecer a
inimputabilidade, decreta-Io ou nao, por outro, no caso de ser 0 trata-
mento necessario, a regra e a da obrigatoriedade de sua aplicac;ao.
Note-se que 0 paragrafo unico do art. 45 diz que 0 juiz "podera
detenninar, na 0 seu encaminhamento para tratamento
medico adequado". Encaminhar, aqui, tern 0 sentido de conduzir, le-
var, Jazer com que, e nao 0 de simplesmente mostrar urn caminbo
que pode ou nao ser seguido.
Entendimento diverso levaria ao absurdo de se permitir que urn
toxicomano severo, que tenba cometido varios homicfdios em razao
da depenooncia, possa ser absolvido e escolber se deseja 0 tratamen-
to ou prefere continuar consumindo 0 farmaco e matando impune-
mente.
Nesse sentido 0 magisterio de Greco Filho e Rassi: "0 juiz nao
podera determinar 0 tratamento se se tratar de absolvic;ao em razao
de caso fortuito ou forc;a maior, hip6tese em que nao ha 0 que se
tratar. Se, porem, a abs01vic;ao decorre da dependencia que, como ja
se expos, e mental, a unica e inafastavel conseqiiencia e ada
imposic;ao de medida de social, que e, no caso, 0 tratamen-
to, porque, tendo sido praticado crime em razao da dependencia, M
perigo social que nao pode simplesmente ser desconsiderado. Enten-
der 0 contrario seria suicfdio juridico, social e moral" (2007, p. 151).
5.7.2. Especie de tratamento a ser aplicado
Quanto it especie de tratamento que deve ser aplicado (intemac;ao
ou ambulatorial), embora a decisao seja do magistrado, deve basear-
se nas conc1us6es do re1at6rio medico, que indicara para cada caso a
medida mais adequada.
295
Iii I
il' .. 1 ,.
'I:: .
,! '
,_, .
i,i!l
i
d
"I:
,-I
,,'i!
De qu.i/quer fonna, a medida nao comporta prazo minimo e sera
aplicada por tempo indeterminado, persistindo ate que seja coustatada
a de periculosidade por laude medico (CP, art. 97, 12).
5.7.3. Semi-imputabilidade
Comrelac;:ao aos semi-imputaveis, a situac;:ao e urn pouco diversa,
pois a nova Lei de Drogas, seguindo a orientac;:ao anterior, previu uma
excec;:ao ao sistema vicariante do C6digo Penal, segundo 0 qual aos
semi-responsaveis pode ser aplicada pena reduzida ou, por substitui-
9iio, medida de seguranc;:a (CP, art. 26, paragrafo tinico, c/c 0 art. 98).
Ia na revogada Lei n. 6.368176 (art. 11), ao reconhecer a semi-
responsabilidade, 0 magistrado devia aplicar a pena reduzida, mas
decretava, tambem, tratamento medico em ambulat6rio interne do
sistema penitenciano.
o mesmo sistema foi adotado pela Lei n. 11.343/06, porem de
forma mais clara, afastando qualquer diivida de interpretac;:ao.
Reconhecendo que 0 agente, em razao de dependencia ou sob 0
efeito de droga, proveniente de caso fortuito ou forc;:a maior, nao pos-
sUla, ao tempo da ac;:ao ou da omissao, a plena capacidade de enten-
der 0 carater ilfcito do fato ou de detenninar-se de acordo com esse
entendimento, 0 juiz aplicara a reduc;:ao de urn a dois terc;:os na pena
correspondente (art. 46). Entendendo, porem, que existe anecessida-
de de tratamento, podera, cumulativamente, determinar "que a tal se
proceda" (art. 47), observado 0 disposto no art. 26:
",: I Lei n, 11.343/06
Art. 46. As penas podem sel reduzidas de urn a dois teI\=os se, por das
circunstfulcias previstas no art. 45 desta Lei, 0 agente DaD possuia. aD tempo da
Oll da omissao, a plena capacidade de entender 0 carater ilicito do fata ou de
detenninar-se de acordo com esse entendimento.
Art. 47. Na sentenl,;3 condenat6ria, 0 juiz, com base em avalia,ao que ateste a
necessidade de encaminbamento do agente pant tratamento. realizada por profis-
sional de sande com competencia especffica na forma da lei, detenninara que a
tal se proceda, observado 0 disposto no art. 26 desta Lei.
Art. 26. 0 usuano e 0 dependente de drogas.,qtie, em razilo da pratica de infra9ilo
I
penal, estiverem cumprindo de liberdade au submetidos a medida
de tern garantidos as de atent;ao a sua saude, definidos pelo
respectivo sistema penitenciano.
296
5.8. Tratamento medico no ECA
ALein. 8.069, de 13 dejuJhode 1990 (EstatutodaCrianc;:aedo
Adolescente), nao previu tratamento medico ou ambulatorial para 0
dependente como conseqiiencia da pratica de ate infracional, mas
apenas as medidas protetivas constantes do art. 101, V e VI, que po-
dem ser aplicadas ao infrator ou a qualquer crianc;:a ou adolescente
em situac;:ao de risco (art. 98 do ECA):
ECA
Art. 98. As medidas de a e ao adolescente sao aplicaveis sempre
que OS direitos reconhecidos nesta Lei forem ou viol ados:
I _ par au omissao da sociedade au do Estado;
D _ por faIta, omissao ou abuso dos pais au responsa.vel;
Ill-em razao de sua conduta.
Art. !OJ. Verificada quaIquer das hip6teses prevista
s
no art, 98, a autoridade
competente podera deterroinar, dentre outras, as seguintes medidas:
V __ de tratamento medico, psico16gico au psiquiatrico, em regime
hospitalar ou ambulatoriaI;
VI _ inclusao em programa oficial ou comunitano de auxilio, e trata-
mento a alco61atras e toxicomanos;
297
1\ .. '1
I'
tl
!1ll
I!t.
hi
ill!\ I.,
lii
Ii
",
(
f
I'
I,
,
Iii
I:
I,
\
I
. ...:..
if
"
t,
'I
"
I
I
!I
.i;':i
.!
Ii;
:,'
ii
I,
"
I
{i
,I
i:
il
:1'
i.
,
CAPiTULO 9
PSICOPATOLOGIA FORENSE
1. PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA FORENSE
Sob 0 titulo de psicopatologia forense costumam-se englobar
dois grandes ramos da medicina legal, a psicologia forense e a psi-
quiatria forense.
A primeira, psicologia forense, estuda a personalidade normal e
os fatores que nela influem, quer sejam de natureza biol6gica, quer
sejam de natureza mesol6gica (do meio, ecol6gica) ou social .
A psiquiatria forense ocupa-se, por sua vez, dos transtomos
anormais da personalidade, as chamadas "doen<;:as mentais", os
retardos mentais, as demencias, as esquizofrenias e outros transtor-
nos psic6ticos ou nao.
PSicopatologia forense forense
pSlCologia forense
Alguns autores falam, ainda, em psicologia judicidn'a como, a
aplica"ao da psicologia aos processos civis e crirninais.
o psicopatologista forense pode ser chamado para esclarecer
questCies relacionadas com a capacidade civil e a irnputabilidade pe-
nal. E a unica perfcia que nao pode ser determinada pela autoridade
policial, mas apenas pelo juiz, de offcio ou a requerimento das partes
(Croce, 1998, p. 528).
A constitui"ao biopsicol6gica de urn individuo e bastante com-
plexa, nela influenciando inlimeros fatores que oscilam desde a pr6-
pria conforma"ao fisica ate 0 con junto de experiencias pessoais
vivenciadas.
Assirn, nao se pode dizer que exista uma ''personalidade nor-
mal", nao ha urn limite rfgido, uma linha divis6ria clara entre 0 que
se convencionou charnar de normalidade e anormalidade.
o que se procura estabelecer, entretanto, e se 0 indivfduo carre-
ga ou nao os sinais patol6gicos que sao caracterfsticos das principais
molestias mentais conhecidas, ou seja, 0 conceito de normalidade
vern por exclusao. E normal todo indivfduo que nao tern sinais pr6-
prios de nenhuma enfermidade mental catalogada e que, por isso,
con segue viver em sociedade de forma harm6nica.
3. CAPACIDADE CIVIL E CRIMINAL
Para que alguem possa ter capacidade penal e civil e, con-
seqiientemente, responder pelos seus atos, e necessario que apresente
sande mental e rnaturidade psfquica.
Responsabilidade { imputabilidade
clvil- capacidade
A imputabilidade penal irnplica ter 0 agente pleno discemirnento
dos seus atos ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
A possihilidade de responsabiliza"ao penal aparece como conse-
qiiencia dos atos praticados diante desse entendimento.
Preve 0 art. 26 do C6digo Penal que:
CP
P
i<
\
ii.
I'!
i, :
"
':tij
" I;
;'
,
,
I
"
"
,
ii I
ii, J\
'i" :
,I
:! '
,( Art. 26. E isento de pena 0 agente que, por mental ou desenvolvimento ,
'i 2. NORMALIDADE E ANORMALIDADE mental ineompleto ou retardado, era, ao tempo da ou da omissao, inteira- l'
Po . .' , mente incapaz de entender 0 carater ilicito do fata ou de determinar-se de acordo !\
.1 rot defima personalldade cpmo "a sfntese de tod eom esse entendirnento. 'I',
I, mentos que concorrem'para a conforma,,- I d os os ele- Paragrafo linieo. A pena pode ser reduzida de um a dois se 0 agente, em !' ,j
'i soa, de modo a comunicar-lhe fi . .ao e uma pes- virtude de da salide mental ou por desenvolvirnento mental ineom- II 'I
II' 2002, p. 339). lSlOnOffila pr6pna (Maranhao, pleto ouretardado nao erainteiramente eapaz de entender 0 earaterilieito do fato ii' ,
1
;'1 ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. ;:1
I' 2 /'
':!'.. 98 j Ii 299 I!
l
II
II
.ii
!
f;
" ::
I
Da leitura atenta do texto de lei deduz-se que:
lmputabilidade
penal
inimputaveis
semi-imputaveis
inteiramente
incapaz de
discernir a
carater ilicito
dofato
inteiramente
incapaz de
detenninar-se
de acordo com
a entendimento
relativamente
incapaz de
discernir a
carater ilfcito
do fato
relativamente
incapaz de
detenninar-se
de acordo com
a entendimento
{
doenc;:a mental
desenvolvimento mental
incompleto
desenvolvimento mental
retardado
{
doen,a mental
desenvolvimento mental
incompleto
desenvolvimento mental
retardado
{
perturba,1io da saude
mental
desenvolvimento mental
incompleto
desenvolvimento mental
retardado
{
perturba.ao da saUde
mental
desenvolvimento, mental
incompleto
desenvolvimento mental
retardado
A respeito da imputabilidade penal, ver tambem item 5.6: Exa-
me de avaliar;iio de dependncia de drogas.
A capacidade civil, por outro lado, pode ser definida como a
aptidao para adquirir direitos e contrair obriga9
0e
s por Conta pr6pria,
sem a necessidade de representa9ao legal.
as arts. 3
2
e 4
9
do C6digo Civil determinam que:
CC
Art. 32 Sao absolutamente incapazes de pessoaimente as atos da vida civil:
I - as menores de dezesseis anos;
IT - as que, por enfermidade au deficienda mental, nao tiverem 0 necessario
discernimento para pratica desses atos;-
m - os que, mesmo par causa transit6ria. nao puderem exprimir sua vontade.
,
Art. 42 Sao incapazes, relativamente a certos atos, ou a maneira de as exercer:
I - as maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;
IT - as ebrios habituai.s. as viciados em t6xicos, e as que, por deficrencia mental.
tenham a discernimento reduzido;
---------------------
300
I
ill - ;;ntal - - --
IV - os pr6digos.
Paragrafo linico. A capacidade dos indios sera regulada par Iegislac;:ao especial.
Note-se que 0 novo C6digo Civil (Lei n. 10.406, de 10-1-2002)
alterou significativamente a reda9ao dos arts. 52 e 62 do C6digo de
1916.
Com rela9ao aos absolutamente incapazes, suprimiu as expres-
soes "loucos de todo 0 "surdos-mudos" e "ausentes, decla-
rados tais por atos do juiz".
No que toca aos relativamente incapazes, reduziu a maioridade
civil para 18 anos e acrescentou "os ebrios habituais, viciados em
t6xicos e excepcionais" como passfveis de semi-responsabilidade.
4. NOTA SaBRE A NOMENCLATURA E CLASSIFICA(:AO
DOS TRANSTORNOS MENTAIS
A questao da denomina9ao e classifica9ao dos transtomos men-
tais toma bastante dificil a elabora9ao de tim esquema didiitico que
englobe todas as orienta90es, porque a nomenclatura contemplada
pela Organiza9ao Mundial de Saude (Cm -10) diverge das classifi-
ca90es da Associa9ao de Psiquiatria Americana (DSM - ill e DSM
- IV), sendo que estas tambem diferem substancialmente entre si.
Alem disso, como bern observa Heber Soares Vargas (1990, p.
207), "praticamente, quase todos os livros de Medicina Legal ou de
Psiquiatria Forense ainda se cingem as antigas classifica90es das do-
en9as mentais", que sao diferentes daquelas supracitadas.
Por outro lado, nao houve modifica9ao substancial quanta ao con-
teudo te6rico da maior parte dos transtornos mentais, cujas entidades
classicas, representadas pelos retardos mentais, epilepsias, neuroses,
psicopatias e psicoses, permanecem relativamente estilveis na literatu-
ra medica especffica, embora com outras
{
retardos mentais
epilepsias
mentais neuroses
psicopatias
psicoses (inclui a esquizofrenia)
301
:
r :.'
,I'
:;,-i'
(,,:
1:\
'.
'\11.
, i
)
,J
t
I
f:
I'
[J
I'
Ii
UI
r
IF ;.'
iii:'
il
:I.
;!,
I'
i
'I
I
'I
I
II
t
[!
'Ii
:J
ii!
iii
II
'
Sendo assim, e em se tratando de obra destinada a concursos
publicos, optamos por apresentar a nomenclatura atual, proposta pela
Associac;:ao PsiquiatricaAmericana (DSM - IV), associada, quand()
possivel, a tenninologia referida pelos principais autores, ainda que
desatualizada.
Apenas para conhecimento, transcrevemos, a seguir, as classifi-
cac,;oes dos transtornos mentais, segundo 0 cm - 10 e 0 DSM - IV:
o cm - 10 agrupa os transtornos mentais e comportamentais
em onze categorias distintas, confonne 0 esquema a seguir:
transtornos mentais orgfulicos, inclusive os sintomaticos;
transtornos mentais e comportamentais devido ao usa de subs-
tancia psicoativa;
esquizofrenia, transtornos esquizotipicos e transtornos deli-
rantes;
transtornos do humor (afetivos);
transtornos neur6ticos, transtornos relacionados com 0 stress
e transtornos somatofonnes;
sfndromes comportamentais associadas a disfunc;:5es fisiol6-
gicas e fatores ffsicos;
transtornos da personalidade e do comportamento do adulto;
retardo mental;
transtornos do desenvolvimento psicoI6gico;--
transtornos do comportamento e transtornos emocionais que
aparecern habituahnente durante a infancia ou a adolescencia;
transtorno mental nao especificado.
o DSM - IV divide os transtornos rnentais em dezesseis cate-
gorias:
transtornos geralmente diagnOsticados pela primeira vez na
infancia ou adolescencia:
- retardo mental;
,
- transtornos da {lprendizagem;
- transtornos das habilidades motoras;
- transtornos da comunicac;:ao; transtornos invasivos do desen-
volvimento;
302
''F
- transtomos de deficit de aten\iao e do comportamento
diruptivo;
- transtornos da alimentac;:ao da primeira infancia;
- transtornos de tique;
- transtomos da excrec;:ao;
- outros transtomos da infancia e da adolescencia;
delirium, dernencia, transtomo arnnestico e outros transtornos
cognitivos:
-delirium;
-demencia;
- transtomos arnnesticos;
- outros transtornos cognitivos;
transtomos mentais devido a uma condi\iao medica geral;
transtornos relacionados a substancias:
- transtornos relacionados ao alcool;
- transtomos relacionados a anfetamina;
- transtornos relacionados a cafeina;
- transtomos relacionados a cannabis;
- transtomos relacionados a cocaina;
- transtomos relacionados a alucin6genos;
- transtomos relacionados a inalantes;
- transtomos relacionados a nicotina;
- transtomos relacionados a opi6ides;
- transtomos relacionados a fenciclidina;
_ transtornos relacionados a sedativos, hipn6ticos ou
ansiolfticos;
- transtomos relacionados a multiplas substancias;
_ transtomos relacionados a outras substancias ou substancias
desconhecidas;
esquizofrenia e outros transtornos psic6ticos;
transtomos do humor;
- transtomos depressivos;
- transtornos bipolares;
303
; .;,'
: ;{;,:
'. \; I
I!
{,-\.
[Ii i :
Hi
,
J
j
'.:.,.i l'l
".' II ' ,
:! i'"!j.
1- (
I
I:
.'
"I
I
(i
!i:
j
\
I
I,
!
i1
,j
'!
I
!
t! I,
:-: II
'I' ,[
\ II,
Ii
: I,
,
I
"
i
it
lU
transtomos de ansiedade;
transtomos somatoformes;
transtomos facticios;
transtomos dissociativos;
transtomos sexuais e da identidade de genero:
- disfunc;oes sexuais;
- parafilias;
- transtomos da identidade de genero;
transtomos aIimentares;
transtomos do sono:
- transtomos primarios do sono;
- transtomos do sono relacionados a outro transtomo mental;
transtomos do eontrole dos impulsos nao classifieados em outro
local;
niea,
transtomos da personaIidade;
outras eondic;oes que podem ser foeo de atenc;ao elinica:
- fatores psicologicos que afetam a eondic;ao medica;
- transtomos dos movimentos induzidos por medieamentos;
- problemas de relaeionamento;
- problemas relacionados ao abuso ou negligencia;
- eondic;oes adicionais que podem ser urn foeo de atenc;ao eli,
Ha uma tendencia atual no sentido de eonsiderar, alem da
sintomatologia em si, a quantidade e a quaIidade desses sintomas
para fixac;ao do diagnostieo, Assim, urn mesmo eonjunto de sinto-
mas pode earaeterizar urn transtomo menos ou mais severo, na de-
pendencia do grau de eomprometimento do psiquismo do paeiente.
5. LIMIT ADORES E MODIFICA,DORES DA CAPACIDADE
CIVIL E IMPUTABILIDADE PENAL
\
Vimos que 0 individuo pode ser eonsiderado normal quando
nao e portador de qualquer das patologias mentais eonheeidas e eOl1-
segue eonviver de forma harmonica na soeiedade. Com base nesse
eoneeito e possivel afITIDar que sera normal e, portanto, responsavel
304
,
!
toda pessoa que nao apresentar limitadores ou modificadores da ca-
pacidade civil ou imputabilidade criminal.
o quadro a seguir, adaptado de similar proposto por Delton
Croce (1998, p. 530), indica os prineipais limitadores e modifieadores
da responsabilidade civil e imputabilidade penal:
Fatares limitadores au
modificadotes da
capacidade civil e da
imputabilidade penal
ra<;a
idade
sexo
biol6gicos e paixii"
agonia
epilepsia
cegueira
{
diSSOniaS
transtornos parassonias -
do sono sonambulismo
psicopatol6gicos
transtornos mistos da linguagem re-
ceptivo/expressiva (surdimutismo)
transtomos da linguagem expressiva
-afasia
psiquiatricos
transtomos obsessivo-compulsivos
_ prodigalidade
relaclOoados t':;;
{ embria ez
a substancias OxlCO as
estados demenciais
retardos mentais (oligofreuias)
esquizofrenias e outros transtornos
psic6ticos
{
(neuroses)
transtornos diversos (psicoses)
{
ciVilizac;ao
meso16gicos psicologia das multidoes
legais - reincidencia penal
305
i, -'," I ,
i 'I,
1'1
H;
u:
t
1_ Q: i
at
\ I:!'
!f,\
:' -\'
I:' :'
j \ .
I,
:l::
I
I
!
J
i:
ill
!iI'
H,
i!1
'I!,
I!
:'j"
f
';:,'I",
':,
I:
r il
1"1
\:'i.
1:.1
:: ; i
it'
n
,i: 1;\
I!,!II
'r I
rio
FII
t ;;'!I
II:!
,!'!'I
kl
'" I
lil;
':I::i
.,iil
-!,!1: 11
IIi! i'
.. ,
i:-'
'I'
,
o quadro acima, principalmente no que toca aos fatores
psicopatol6gicos e psiquiatricos, e meramente exemplificativo, pois
ha urn sem-mlmero de transtomos mentais que podem levar ao com-
prometimento da capacidade civil ou da imputabilidade penal e que
nao sao normalmente abordados pela literatura medico-legal.
Neste trabalho, iremos nos ater aos t6picos mais usuais, adap-
tando, como salientado, a nomenclatura ultrapassada as classifica-
goes modemas.
6. FATORES BIOL6G1COS
6.1. Rafa
o fator rara nao e inclufdo no quadro original apresentado por
Delton Croce (1998, p. 530), mas M autores, como Genival Franra
(1998, p. 344), que incluem esse conceito apenas para analise.
A raga em .si nao pode ser considerada fator modificador da
capacidade civil ou imputablidade penal. Iii ficou amplamente de-
monstrado que nao existem ragas inferiores ou superiores, 0 que ha
sao caractetisticas culturais e economicas que em dado momenta his-
t6rico podem favorecer esta ou aquela comunidade ou grupamento
etnico. Existem trabalhos, entretanto, como 0 polemico The bell cur-
ve (A curva do sino), de Richard 1. Herrnstein e Charles Murray, que
pretendem afirmar a diferente habilidade intelectual ou a tendencia
inata de determinadas ragas para a criminalidad
e
.
Ver consideragoes do item 1.4.
6.2.ldade
A idade tern aparecido como fator determinante tanto em rela-
gao a imputabilidade penal quanto a capacidade civil. Os menores de
18 anos sao considerados inimputaveis, em razao de desenvolvimen-
to mental incomp1eto, e, portanto, nao se sujeitam as sangoes da lei
penal, ficando apenll;s adstritos.is medidas protetivas e socio-
educativas previstas pe10 Estatuto da Crianga e do Adolescente.
. .
Os maiores de 18 anos e menores de 21 anos, considerados a
epoca do Jato, devem ter suas penas necessariamente reduzidas (art.
306
1
65, I, do CP), sendo os prazos prescricionais contados pela metade
(art. 115 do CP).
A idade avangada tambem foi considerada pe10 legislador penal
como atenuante generica (art. 65, I, do CP), merecendo 0 maior de 70
anos, a epoca da sentenra, 0 mesmo tratamento do menor de 21 quanta
a redugao dos prazos prescricionais.
Alem disso, os maiores de 70 anos beneficiam-se do sursis etiirio
(art. 77, 2", do CP), que permite sejam suspensas condenagoes de
ate 4 anos, e da prisao albergue domiciliar (art. 117, I, da LEP).
Pela lei civil, os menores de 16 anos sao absolutamente inca-
pazes (art. 3
2
, I, do CC) e os menores de 18 anos relativamente incapa-
zes (art. 4", I, do CC), podendo os maiores de 16 anos ser emancipa-
dos nas hip6teses previstas no art. 52, I, do CC.
A lei civil tambem se preocupou com os valetudinarios, preven-
do, por exemplo, a aposentadoria compuls6ria aos 70 anos ou res-
tringindo 0 regime matrimonial para as pessoas maiores de 60 anos
(art. 1.641, n, do C6digo Civil).
o Estatuto do Idoso, Lei n. 10.741, de l"de outubro de 2003, e
tambem um born exemplo do reconltecimento, pelo ordenamento ju-
tidico, de que 0 idoso, em razao de suas peculiaridades ffsicas, deve
receber tratamento especial do Estado.
6.3. Sexo
o sexo, na lei penal, e apenas considerado como atenuante no
crime de infanticfdio. Mesmo assim, nao se pode considerar que a
atenuagao decorra em razao do sexo, mas, como vimos, de um parti-
cular estado mental da parturiente.
Ha, por outro lado, algumas alteragoes do psiqnismo relaciona-
das com petiodos cnticos da evolugao do organismo feminino, como a
gestagao, a lactagao, 0 climaterio, ou mesmo ligadas ao ciclo menstru-
al. Tais alteragoes, entretanto, se por um lado podem traduzir modifica-
goes de humor ou emotividade, salvo em casos absolutamente anor-
mais, nao devem influir na capacidade ou imputabilidade da mulher.
A tendencia atual, alias, e a de suprimir qualquer diferenga de
tratamento entre os sexos. Nesse sentido, por exemplo, 0 atual C6di-
go Civil igualou a idade mlbil do homem e da mulher em 16 anos
307
11
'\
,- L
, 1
(art. 1.517 - antigo art. 183, XU) e estabeleceu limite de 60 anos
para a ado\iao obrigatoria do regime matrimonial de separa\iao de
bens, independente do sexo dos nubentes (art. 1.641, II - antigo art.
258, paragrafo Unico, II).
6.4. Emofiio e paixiio
e pai:mo sao estados emocionais que se diferenciam
tao-somente pelo tempo de dura\iao. Na emo\iao 0 sentimento e ge-
iaImente fugaz, momentaneo, enquanto a paixao e mais duradoura.
. Tanto uma como a outra levam a altera90es orgfuricas, como,
por exemplo, aumento dos batimentos cardIac os e respirat6rios,
sudorese e diurese intensas. Ao lado, produzem urn comprometimen-
to das fun90es mentais superiores, diminuindo a capacidade de ra-
ciocfnio e de autodetermina\'lio.
o C6digo Penal nao considera a emo\iao como causa de exclu-
sao da imputabilidade (art. 28, I), podendo, entretanto, operarcomo
atenuante generica (art. 65, III, c) ou causa de diminni9ao de penano
hornicfdio (art. 121, I") e lesao corporal (art. 129, 4").
A e a paixiio sao geradas pelo sistema lfmbico, regiao
cerebral que engloba 0 Uilamo, hipoUilamo, hipofise e hipocampo
(Croce, 1998, p. 534). Em alguns casos patologicos, 0 desequiHbrio
do sistema limbico, quer por excesso de estimulac;:ao, quer por
estimulac;:ao insuficiente, pode levar a estados emocionais que os-
cilam desde 0 sentimentaIismo extremado ate a ira ou 0 medo. Nes-
sas hip6teses, apos urn exame psiquiatrico, podera ser possIvel cons-
tatar a inimputabilidade ou serni-imputabilidade.
6.5. Agonia
A agonia pode ser definida como 0 conjunto de fenomenos que
aparecem na fase final de doen\ias agudas ou cronicas e prenunciama
, \
morte.
N a verdade nao e a ptoXirnidade da morte que leva a invaIida<!e
dos atos praticados, mas sim a possibilidade de 0 paciente nao poder
expressar livremente a sua vontade.
308
.. \;'"""'--
Como 0 agonico depois da morte nao mais podera ratificar ou
retificar os seus atos, para que as a90es praticadas pelo moribundo
possam ter algum valor, e nonnaImente recomendada a presen\ia de
testemunhas.
6.6. Epilepsia
Remotamente denominada "mal sagrado", a epilepsia e uma das
doen9as mais antigas da humanidade. 0 tenno deriva do gregG e sig-
nifica "surpreender", em razao das crises que se instalam de maneira
subita e inesperada .
Nao e urna "doen9a mental", mas uma afec9ao do sistema ner-
voso central, de carater nonnaImente cronico, e que se manifesta por
altera90es sensitivas, motoras ou psfquicas, como perda dos senti-
dos, amnesia e convulsoes.
Se provocados entre os ataques, os epiJepticos podem reagir de
modo desmedido, dando causa a crimes bastante violentos.
6.7. Cegueira
A cegueira, por si so, nao pode ser considerada urn fator
modificador da imputabilidade penal ou da capacidade civil.
Entretanto, ha situa90es em que 0 cego experimenta algumas
limita90es Iegais.
E 0 caso, por exemplo, da incapacidade para depor como teste-
munha quando a ciencia dos fatos depender do sentido da visao (art.
405, 1 g, IV, do CPC), ou da necessidade do testamento publico (art.
1.867 do Ce).
epe
Art. 405. Podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes,
impedidas ou suspeitas.
l' Silo incapazes:
IV - 0 cego e 0 surdo, quando a ciencia do fato depender dos sentidos que lhes
fallam.
309
'j
i:
I
:,1
" ,0-'1
.,'[,
)-
II
I
1:'
I
i
I
'f
.:1
[i
CC
Art. 1.867. Ao cego s6 se pennite 0 testamento publico, que lhe sera lido, em voz
alta, duas vezes, uma pelo tabelHio OU por sen substituto legal, e a autra por uma
das testemunhas, designada pelo testador, fazendo-se de tudo circunstanciada
no testamento.
7. FATORES PSICOPATOL6GICOS
7.1. Transtomos do sono
Existem tres estados mentais principais nos seres humanos: vi-
gflia, sono e sonho. 0 sono e desencadeado pela presenc;a de media-
dores neuroqufmicos que atuam sobre 0 sistema nervoso e literal-
mente 0 forc;am a domllr.
o sonho C ou sono paradoxa!) e necess3rio para a saude do indi-
viduo.
A privac;ao do sono e principalmente do sono paradoxal pode
levar a perturbac;oes mentais, alucinac;oes e morte.
o sono normal em principio nao altera a capacidade ou a
imputabilidade. II possivel, porem, a ocorrencia da chamada "em-
briaguez do sono", estado imediatamente anterior it perda da consci-
encia, antes do sono, ou ao retorno it vigI1ia, apos ele. Nesses mo-
mentos a capacidade de intelecc;ao esta lirandemente comprometida.
Demonstrado claramente que alguem cometeu urn delito nesse
estado de semiconsciencia, deve ser tido como irresponsavel, ja que
seus atos sao puramente mec1l.nicos e nao dirigidos por vontade propria.
Dentre os transtornos do sono, 0 DSM - IV indica:
Transtomos do
sono
{
. d dn { dissonias
transtomos pnmdlJ.os 0 so. bulls
parassomas - sonam rno
transtomos do sana a outro transtomo mental
autros do sapo
Dissonias sao "transtornos prim3rios de iniciac;ao ou manuten-
c;ao do sono ou de sonolencia excessiva, caracterizados por urn dis-
310
tUrbio na quantidade, qualidade ou regulac;:ao de ritrno do sono" (DSM
- IV, p. 525).
Parassonias sao "transtornos caracterizados por eventos
comportamentais ou fisiologicos anormais, ocorrendo em associa-
c;:ao com 0 sono, estagios especificos do sono ou transi<;>oes do sono
para a vigI1ia. Diferentemente das dissonias, as parassonias nao en-
volvem anormalidades nos mecanismos geradores dos estados de
sono e vigI1ia, nem 0 tempo de ocorrencia do sono e da vigI1ia. Ao
inves disso, as parassonias representam a ativac;ao de sistemas fi-
siologicos em momentos improprios, durante 0 ciclo de sono-vigi-
lia. Em particular esses transtornos envolvem a ativa\iao do sistema
nervoso autonomo, do sistema motor ou de processos cognitivos
durante 0 sono ou as transi\ioes entre sono-vigilia. Diferentes
parassonias ocorrem em diferentes momentos durante 0 sono, e
parassonias especfficas freqiientemente ocorrem durante estagios
especfficos do sono. Os individuos com parassonias em geral se
apresentam com queixas de comportamento incomum durante 0
sono, ao inves de queixas de insonia ou sonolencia excessiva du-
rante 0 dia" CDSM - IV, p. 550).
Dentte as parassonias, encontramos 0 transtorno de sonambu-
lismo, perturba\iao mental relativamente comurn na infancia, em que
o individuo perde a consciencia, tem alguns dos sentidos diminufdos,
mas mantem a atividade locomotora, podendo andar e desviar-se de
objetos colocados em seu trajeto.
o hipnotismo e uma forma de "sonambulismo provocado", um
processo de sugestiio em que 0 individuo adentra em umestado de
transe e fica sob 0 dominio relativo do hipnotizador.
o que se tem demonstrado e que 0 hipnotizado somente age ate
os limites daquilo que facia sem estar hipnotizado, ou seja, jamais
executara ordens que forem contr3rias aos seus princfpios eticos e
morais.
Por esse motivo, 0 estado hipnotico nao tern sido aceito como
atenuante ou dirimente, podendo, entretanto, operar como agravante .
se a v(tima estiver hipnotizada.
311
I.i
:Ii'l
Ii
rl
I!
I:
g;
I:
Ii
I::
I'!'
i
i'l
,I I
['I
1,1 !
iii
i
I,
'I
til
:' i
: I
"
:i
:j';
p
::
,i'
H
1,1
:i
II,l!
': I
iii 1
l
' ,I 1
"" 1
:l i,l 'I
I:::,:
,; I
(' I
'11 :
',1,\1 II
'j
fll
'I !
I!i'
,
l: 1
7.2. Transtorno misto da linguagem receptivolexpressiva -
surdimutismo
o C6digo Civil de 1916, em seu art. 5
Q
, ill, indicava,como ab-
solutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil,
os surdos-mudos que nao pudessem exprimir a sua vontade. i,
Com extrema felicidade, 0 novo C6digo Civil, atento aos avan-
o;;os da psicologia e psiquiatria, substituiu a redao;;ao anterior para con-
siderar como absolutamente incapazes todos aqueles que, mesmo por
causa transit6ria, nao podem exprimir sua vontade (art. 3, ill).
A nova redao;;ao ampliou, destarte, 0 rol de possibilidades, para
englobar nao apenas os portadores de transtomos da linguagem (en-
tre os quais os surdos-mudos), como tambem os que exibam outras
pertnrbao;;oes que comprometam e viciem 0 seu consentimento.
De qualquer modo, tanto a inimputabilidade quanto a incapaci-
dade somente podem ser reconhecidas por exame pericial para averi-
guao;;ao da possibilidade de expressao livre da vontade e capacidade
de compreensao dos fatos.
7.3. Transtornos da linguagem expressiva - afasia
Ajasia e a perda completa da fala, 0 afasico, embora nao apre-
sentando demencia ou alterao;;oes do aparelho fonador, e inteiramente
incapaz de compreender a palavra falada ou escrita e de manifestar-
se nesse sentido. Sendo assim, a ajasia e mD. estado pato16giCo
modificador da capacidade e da imputabilidade que pode levar a
irresponsabilidade penal ou civil,
Nao se deve confundir ajasia com disartria. Nesta, 0 individuo
apenas nao consegue falar em decorrencia de lesoes nervosas; mas
compreende tudo que e dito, balbuchl palavras epode expressar-se
por outros meios que nao a fala.
7.4. Transtornos obsessivo-compulsivos -prodigalidade
, ,
Os transtomos obsessivo-comlmlsivos sao caracterizados essen-
cialmente por ideias obses'sivas ou comportamentos compulsivos re-
correntes que 0 paciente, embora ciente do absurdo e da inutilidade
do que faz, nao consegue evitar.
312
A prodigalidade e urna forma de transtomo compulsivo em que
a pessoa, sem qualquer justificativa, dilapida seu patrimonio de for-
ma desordenada, chegando a comprometer a pr6pria subsistencia.
Os pr6digos sao tidos como relativamente incapazes (art. 4, IV,
do CC), podendo praticar certos atos da vida civil, desde que devida-
mente assistidos por urn curador.
Alguns outros transtomos obsessivos, como, por exemplo, a
oniomania (compulsao para comprar tudo que ve) e a cibomania
(compulsao para 0 jogo), se forem capazes de comprometer todos os
haveres do paciente, podem dar margem a interdio;;ao civil (Gomes,
2003, p. 524).
7.5. Transtornos relacionados a substlincias - embriaguez e
toxicomanias
A embriaguez, no direito penal brasileiro, somente poden'i levar
a inimputabilidade se completa e proveniente de caso fortuito ou for-
o;;a maior. Nas demais hip6teses, ou sera agravante ou irrelevante penal.
Para 0 direito civil, os ebrios e toxicomanos sao relativamente
incapazes (art. 4, ll), podendo, ainda, constituir injUria grave de modo
a dar margem a separao;;ao judicial.
Os temas ja foram analisados no Capitulo 8.
8. FATORES PSIQurATRlCOS
Dentro do capitulo dos fatores psiquiatricos como modificadores
da capacidade civil e imputabilidade penal, estudam-se as chamadas
doem;as mentais, "termo inadequado, utilizado para compreender
todas as alterao;;oes m6rbidas da sande mental, qualquer que seja a
sua origem" (Vargas, 1990, p. 195).
Como bern salienta Genival Fran"a (1998, p. 355), a expressao
doen"a mental "nao se ajusta bern ao que se quer atingir, porque se
entende como sinllnimo de enferruidade da mente. Nao sendo a men-
te algo material, tecuicamente nao admite uma doeno;;a. A mente nao
e local do corpo, mas uma atividade, uma funo;;ao. Ademais, doeno;;a
mental nao pode ser igual a doeno;;a do cerebro. Enferruidade do cere-
bro e, a saber, urn tumor, urna esc1erose mnltipla, uma neurossffilis:
313
.f'
.jf
,if
t:
0',1
r
l"
L
r'
'
1-1
Ii
I!'
ii
I,ll
if
I,
E, na hora em que as enfermidades denominadas mentais demons-
tram doenc;a, os pacientes comec;am a ser transferidos da psiquiatria
para outros setores. 0 retardo mental para a Pedagogia; a neurossffilis,
para a Neurologia; 0 delirio das doenc;as infecciosas, para a Medicina
Intema".
Assim, embora na literatura juridica ainda seja de uso corrente,
a tendencia atual e sua substituic;ao pela expressao "transtomo men-
tal" (vide Lei n. 10.216, de 6-4-2001).
Dentre os fatores psiquiatricos de interesse medico-legal, se-
gundo a c1assificac;ao do DSM - N podemos citar:
estados demenciais;
retardos mentais (oligofrenias);
esquizofrenias e outros transtomos psicoticos;
transtornos diversos (neuroses).
8.1. Estados demenciais
Segundo a Organizac;ao Mundial de Saiide, "a demencia e uma
sfndrome devida a uma doenc;a cerebral, usualmente de natureza cro-
nica ou progressiva, na qual ha comprometimento de numerosas fun-
c;oes corticais superiores, tais como a memoria, 0 pensamento, a ori-
entac;ao, a compreensao, 0 ciilculo, a capacidade de aprendizagem, a
linguagem e 0 julgamento". Pode ser observilda na doent;a df(
Alzheimer, em doenc;as cerebrovasculares e em outras afecc;oes que
atingem primiiria ou secundariamente 0 cerebro.
8.2. Retardos mentais (oligojrenias)
Retardo mental ea "parada do desenvolvimento ou desenvolvi-
mento incompleto do funcionamento 4Itelectual, caracterizados es-
sencialmente por urn comprometimento; durante 0 perfodo de desen-
volvimento, das faculdades que detei'tninam 0 myel global de inteli-
gencia, isto e, das func;oes cognitivas, de linguagem, da motricidade
e do cornportamento social. 0 retardo mental pode acompanhar urn
outro transtomo mental ou fisico, ou ocorrer de modo independente"
(eID - 10, p. 361). Adrnite quatro graus: leve, modetado, severo e
profundo (DSM - N, p. 40).
314
o vocabulo oligojrenia, atualmente em desuso, mas ainda cita-
do por viirios livros de medicina legal como indicativo do retardo
mental de qualquer origem, e urn teono generico, que siguifica "pou-
co espirito".
As oligofrenias adrnitiam tres graduac;oes, confoone a gravi-
dade:
Quodente Idade mental
intelecmal
Idiotia Weriora25 Inferior a 3 anos Os idiotas profundos (retar
do mental profunda) nao
falam, tern vida psiquica
inferior aos animais supe-
tiares e nao conseguem eui-
dar de si.
Imbecilidade Entre 25 e50 Entre 3 e 7 anos Conseguem falar e apren-
der algumas tarefas, poden
do prover sua pr6pria sub-
sistencia. !eID sexualidade
precoce e por vezes prati-
cam certos atas de pequena
delinqiiencia.
Debilidade Entre50e90 Entre 7 e 12 anos Podem prover a pr6pria
mental subsistencia, embora nao
tenham condit;ao de com-
petir com pessoas nonnais.
Alguns conseguem atingir
ate 0 mvel superior, mas ja-
roais serao profissionais de
renome. Quanto it crimi-
nalidade, sao facihnente ir-
ritaveis, podendo chegar a
cometer delitos de lesao
corporal Oll homicidio.
Os portadores de retardos mentais severos e profundos (idiotas
e imbecis) sao penalmente inimputiiveis por serem inteiramente in-
capazes de entender 0 carater ilfcito de eventual ato criminoso prati-
cado ou de determinarem-se de acordo com esse entendimento. Da
315
:
"
i
I
J
Ii
i
;t
.11
111
.
n
ft
i.:1 i
I
'f,
i
r
j
/1
I
ill
f!1
I' i
tl
t /.
t
" ,
,
;;
i;
,
(
f
I
mesma fonna, devem ser tidos como absolutamente incapazes para
os atos da vida civil.
Os portadores de retardos mentais leves e moderados (debeis
mentais) podem, com certas exercer atos da vida civil,
sendo considerados relativamente incapazes. N a esfera penal, devem
ser rotulados como semi-imputaveis, por nao serem inteiramente ca-
pazes de entender 0 caniter ilfcito dos atos praticados ou de determi_
narem-se de acordo com esse entendimento.
8.3. Esquizojrenias e outros transtornos psic6ticos
A esquizojrenia e urn transtomo mental decorrente de fatores
orgitnicos nao perfeitamente esc1arecidos, que aparece de fonna
epis6dica, eventual ou progressiva, e que apresenta uma variada gama
de manifesta .. oes associadas aperda da aJetividade, desinteresse pe-
los Jatos normais da vida e assOCiQ9{io extravagante de ideias, como
comportamentos contradit6rios, chegando a pessoa a ouvir vozes e a
deteriora .. ao progressiva da inteligencia.
Surge geralmente na adolescencia, entre os 15 e os 25 anos,
tendo progn6stico bastante sombrio, jil que apenas 30% dos pacien-
tes evoluem favoravelmente.
Sao descritas cinco fonnas clinicas fundamentais (DSM-IV,
p.268):
Esquizofrenia
{
indifereUciada (simples)
desorganizada (hebefrenica)
catatonica
paran6ide
residual
,
Na fonna indiferenciada ou simples hil urn enfraquecimento
progressivo do psiquismo que pode'conduzir ate a demencia. Nao
COsturoa apresentar outras especies de. manifesta .. oes mais severas
senao 0 desinteresse geral por tudo e todos e perda gradual da inteli-
gencia. Existem sintonias que satisfazem 0 diagn6stico de
esquizofrenia, mas nao preenchem oscriterios gerais para os demais
subtipos.
316
"tM*
Na fonna desorganizada ou hebejrenica, alem da debilidade do
psiquismo, surgem outras manifesta .. oes, como ideias absurdas, alte-
de fullmo violentas que vao desde a apatia ou 0 sentimentalis-
roo ate a ira extrema. Freqllentemente assurnem posi .. iies de salvado-
res do mundo ou enviados dos ceus.
Na fonna catatonica os esquizofrenicos costumam permanecer
por tempo prolongado parados na mesma posi .. ao. Raramente apre-
sentam delirios, mas sao bastante irnpulsivos, podendo chegar ao
homicfdio au ate a autolesao.
Na fonna paran6ide, 0 esquizofrenico sente-se arrebatado, do-
minado por for .. as extemas que nao consegue explicar. Predominam
as alucina,.oes e os delirios. Normalmente desconfiam de tudo e to-
dos, apresentando acusa .. iies generalizadas e infundadas, como se 0
mundo conspirasse contra eles.
Na forma residual hil registro de pelo menos urn epis6dio de
esquizofrenia, mas 0 quadro clinico por ocasiao do exame nao apon-
ta sintomas positivos pr6prios, como alucina .. oes, delirios, discurso
ou comportamento desorganizado. Existem apenas evidencias carac-
terizadas pela presen .. a de sintomas negativos, como afeto embota-
do, discurso pobre e vontade dirninufda.
Genival Franfla (1998, p. 356) lembra que a "esquizofrenia pode
levar a uma variedade muito grande de delitos, ex6ticos e incompre-
ensfveis pela sua inutilidade. Os mais gravessaodecorrentes da for-
ma paran6ide. Em regra, 0 crime desses pacientes e ines-
perado e sem motivos".
8.3.1. Psicoses - transtomos bipolares
o tenno psicose e utilizado, de uma maneira geral, para apontar
qualquer transtomo mental diverso dos estados demenciais, retardos
mentais (oligofrenias) e transtomos diversos (neuroses), inc1uindo 0
que se entende pelos obsoletos insanidade e loucura.
Dentre as psicoses, destacam-se os transtomos bipolares (anti-
ga psicose manfaco-depressiva).
Os transtomos bipolares sao caracterizados "por dois ou mais
epis6dios nos quais 0 humor e 0 nivel de atividade do sujeito estao
317
r.: ..
f
o.
j
,
r I
I .
tl
. I
"
l\
.. :
R
hi
,i
'i
i
"
,
_ __ ..l
I
!
.
' I
I,
1 'I
fI
I
I
I
f
t
I
I
II
I
f
I,
i
i:'
i
it
Ii .
It I
Ir I
II:
: i
I ;
I I
'"i . 1
. ,
Ii
Ii I
Ii
profundamente perturbados, sendo que este distUrbio consiste em al-
gumas ocasioes de uma elevac;:ao do humor e aumento da energia e da
atividade (hipomania ou mania) e, em outras, de um rebaixamento do
humor e de reduc;:ao da energia e da atividade (depressao)" (Cm_
10, p. 325).
Franr;a (1998, p. 356) esc1arece que "a fase de hipomania e
mais perigosa, estado em que os sentimentos de poder" euforia,
autoconfianc;:a e otimismo estao mais exaltados, levando 0 paciente
a irrefletidas atitudes, negocios fantasticos, compras astron{jmicas,
criac;:oes de empresas e iniciativas esdn1xulas e inconseqiientes".
Na fase depressiva, podem chegar ao suicidio. "Sao sempre sui-
cidios bem planejados, friamente concebidos, cuja execuc;:ao e rigo-
rosamente revestida de precauc;:ao, inclusive com a preocupac;:ao de
deixar a familia numa situac;:ao melhor. Podem ainda matar a esposa e
os filhos, antes de tirar a propria vida, como forma de evitar 0 sofri-
mento e a desonra dos seus" (Franc;:a, 1998, p. 356).
8.3.2. Transtomos da personalidade (personalidades psicopaticas)
Os transtomos da personalidade, antigamente chamados de
personalidades psicopdticas, englobam:
personalidade paranoica ou paranoide;
personalidade esquizoide;
personalidade esquizotfpica;
personalidade anti-social (dissocial);
transtorno de personalidade com instabilidade emocional;
personalidade histri{jnica;
personalidade narcisista;
personalidade esquiva (ansiosa);
personalidade dependente; '"
personalidade obsessivo-compulsiva (anancastica).
\
'.
8.3.3. Personalidade parail6ica ou paran6ide
"Transtorno da personalidade caracterizado por uma sensibili-
dade excessiva face as contrariedades, recusa de perdoar os insultos,
318
.-
.;,:: -.-:
carater desconfiado, tendencia a distorcer os fatos interpretando as
ac;:oes imparciais ou amigaveis dos outros como hostis ou de despre-
zo; suspeitas recidivantes, injustificadas, a respeito da fidelidade se-
xual do esposo ou do parceiro sexual; e urn sentimento combativo e
obstinado de seus proprios direitos. Pode existir urna superavaliac;;ao
de sua auto-importaucia, havendo freqiientemente auto-referencia
excessiva" (Cm -10, p. 351). Tambem chamada de personalidade
expansiva,fanatica ou querelante.
8.3.4. Personalidade esquiz6ide
"Transtorno da personalidade caracterizado por urn retraimento
dos contatos sociais, afetivos ou outros, preferencia pela fantasia, ativi-
dades solitanas e a reserva introspectiva, e urna incapacidade de ex-
pressar seus sentimentos e a experimentar prazer" (Cm - 10, p. 352).
8.3.5. Personalidade esquizotipica
''Transtorno caracterizado por um comportamento excentrico e
por anomalias do pensamento e do afeto que se assemelham aquelas
da esquizofrenia, mas nao ha em nenhurn momenta da evoluc;;ao qual-
quer anomalia esquizofrenica manifesta ou caracterfstica. A
sintomatologia pode comportar um afeto frio ou inapropriado,
anedonia (NA - incapacidade de ter prazer ou divertir-se); um com-
portamento estranho ou excentrico; uma tendencia ao retraimento
social; ideias paranoides ou bizarras sem que se apresentem ideias
delirantes autenticas; rumiuac;:oes obsessivas; transtornos do curso
do pensamento e perturbac;;oes das percepc;oes; perfodos transitorios
ocasionais quase psicoticos com ilusoes intensas, alucinac;oes auditi-
vas ou outras e ideias pseudodelirantes, ocorrerido em geral sem fa-
tor desencadeante exterior. 0 infcio do transtorno e diffcil de deter-
minar, e sua evoluc;ao corresponde em geral aquela de urn transtorno
da personalidade" (Cm - 10, p. 320) .
8.3.6. Personalidade anti-social ou dissocial (sociopatas)
''Transtorno de personalidade caracterizado por um desprezo das
obrigac;:oes sociais, falta de empatia para com os outros. Ha um des-
319
ij
Ii n
"'r;'
,I i
':
It
Ii
,'" p,.,
t
"
.
[
Gi
I'
,
I
f
r
f
!
[
, r. '
b
i
!:
I:'
r
r I.
I
.1
,
mr
'I 'i ....
,
at
i
<.'I:
'1'
ii" ,t! '.'
. i'
];
d
,
'I
fji
li!
j,
Iii
'i:.
' ,
,
I! i
".'. I
I
i.;:. '
"1 i"i
r:ii !
t.,.', !I
{! :
H'
I'
I:::;,
! iI,
il,!
l. i
1;'1'
\1
1\:',
i;:
;:,1
U
P'
vio considenivel entre 0 cornportamento e as norrnas sociais estabe-
lecidas. 0 cornportamento nao e facilrnente rnodificado pelas experi-
encias adversas, inclusive pe1as Existe urna baixa toleran_
cia a frustrac;ao e urn baixo lirniar de descarga da agressividade, in-
clusive da violencia. Existe urna tendencia a culpar os outros ou a
fomecer plausfveis para explicar urn cornportamento
que leva 0 sujeito a entrar ern conflito corn a sociedade" (em -lO,
p. 352). Tambem chamada de personalidade amoral, associal ou
sociopatica.
8.3.7. Transtorno de personalidade com instabilidade emocional
(borderline e impulsivo)
"Transtomo de personalidade caracterizado por tendencia nftida
a agir de modo irnprevisfvel sem considerac;ao pelas conseqiiencias;
humor irnprevisfve1 e caprichoso; tendencia a acessos de c6lera e urna
incapacidade de controlar os cornportamentos impulsivos; tendencia a
adotar urn cornportamento briguento e a entrar em conflito com os
outros, particularrnente quando os atos irnpulsivos sao contrariados ou
censurados. Dois tipos podem ser distintos: 0 tipo impulsivo, caracteri-
zado principalmente por urna instabilidade emocional e falta de con-
trole dos impulsos; e 0 tipo 'borderline', caracterizado, alern disto, por
da auto-irnagem, do estal)elecimento de projetos e das
preferencias pessoais, por urna cronica de vacuidade, por re-
interpessoais intensas e instaveis e por urna tendencia a adotar
urn cornportamento autodestrutivo, cornpreendendo tentativas de sui-
ddio e gestos suicidas" (em - lO, p. 353).
8.3.8. Personalidade narcisista
A caracterfstica essencial da personalidade narcisista consiste
na emotividade excessiva e busca de que se inicia na idade
adulta e esta presente ern vanos
Os indivfduos com esse transtomo de personalidade sentem des-
conforto quando nao sacia centro das atenc;oes; apresentam compor-
tamento geralmente inadequado, sexualmente provocante ou sedu-
tor, utilizando constantemente a aparencia ffsica para chamar a aten-
320
".- f';':
c;ao sobre si; tern tendencia It dramatizac;ao e considerarn os relacio-
namentos mais fntimos do que realrnente sao (conceito adaptado do
DSM - IV, p. 620).
8.3.9. Personalidade histrionica
'Transtomo da personalidade caracterizado por urna afetividade
superficial e liibil, teatralidade, expressao exagerada
das sugestibilidade, egocentrismo, autocomplacencia, falta
de considerac;ao para corn 0 outro, desejo perrnanente de ser aprecia-
do e de constituir-se no objeto de atenc;ao e tendencia a se sentir facil-
mente ferido" (em - 10, p. 353).
8.3.10. Personalidade obsessivo-compulsiva (anancastica)
'Transtomo da personalidade caracterizado por urn sentimento
de duvida, perfeccionismo, escrupulosidade, verificac;oes, e preocu-
pac;aocom porrnenores, obstinac;ao, prudencia e rigidez excessivas.
o transtomo pode se acompanhar de pensamentos ou de impulsos
repetitivos e intrusivos nao atingindo a gravidade de urn transtomo
obsessivo-compulsivo" (em - lO, p. 353).
8.3.11. Personalidade ansiosa (esqniva)
'Transtomo da personalidade caracterizado por sentimento de
tensao e de apreensao, inseguranc;a e inferioridade. Existe urn desejo
perrnanente de ser amado e aceito, hipersensibilidade a crftica e a
rejeic;ao, reticencia a se relacionar pessoalmente, e tendencia a evitar
certas atividades que saem da rotina com urn exagero dos perigos ou
dos riscos potenciais em situac;oes banais" (em - lO, p. 353).
8.3.12. Personalidade dependente (astenica)
'Transtomo da personalidade caracterizado por: tendencia sis-
tematica a deixar a outrern a tornada de decisoes, importantes ou
rnenores; rnedo de ser abandonado; percepc;ao de si como traco e
incompetente; subrnissao passiva a vontade, do outro (por exemplo,
de pessoas mais idosas) e urna dificuldade de fater face as exigencias
da vida cotidiana; falta de energia que se traduz por alterac;ao das
321
Ii
II
I;:
I
, .
fun<;:oes intelectuais ou perturba<;:ao das emogoes; tendencia freqiien-
te a transferir a responsabilidade para outros" (CID - 10, p. 354).
Nota necessaria
Como salientamos no item 4, foram implementadas profundas
modificagoes na nomenclatura e classificagao dos transtornos men-
tais. As personalidades patol6gicas, mencionadas no item anterior,
refletem a posigao atual da Organizagao Mundial de Saude (CID-
10) e da Associagao Psiquiatrica Americana (DSM - IV) a respeito
dotema.
Como a quase-totalidade dos livros de medicina legal mantem a
classificagao antiga e considerando que boa parte dos laudos psi-
quiatricos ainda faz usa da nomenclatura tradicional, apresentamos,
a seguir, urn breve resumo do que a doutrina entende por personali-
dades psicopaticas.
S.3.13. Personalidades psicopaticas
Os portadores de personalidades psicopaticas sao indivfduos
que, embora nao apresentem transtornos da inteligencia, registram
severas alteragoes da afetividade, dos instintos, do temperamento e
do carMer.
Varios sao os termos utilizados para indicar a personalidade
psicopatica, por exemplo: "oligofrenicos morais" (Bleuler), "dege-
nerados" (Magnan), "estupidezmoral" (Baer), "semiloucos" (Grasset)
ou, segundo 0 conceito de Szekely, todo "aquele que apresenta uma
instabilidade mental patol6gica, sem perda de suas fungoes inte-
lectuais" (Croce, 1998, p. 560).
Genival Fran<;a (1998, p. 358) assevera que na verdade nao sao
personalidades doentes ou patol6gicas, mas sim anormais, cujo tra-
go caracteristico e 0 distlirbio da afeti'idade ou do carater, com a
manutengao da '
Os portadores de persdlialidade psicopatica precisam de trata-,
mento especializado e quando cometem delitos devem ser tidos como
semi-imputiiveis.
322
Ha varias classificac;oes, como as de Kraepelin e Kurt Schneider.
Segundo Kraepelin as personalidades psicopaticas c1assificam-
se em irritaveis, instaveis, instintivas, tocadas, mentirosas e
fraudadoras anti-sociais e disputadoras (Croce, 1998, p. 560).
Para Kurt Schneider, as personalidades psicopaticas divi-
dem-seem:
Classifica,1io das
personalidades psicopa:ticas
segundo KMrt Schneider
psicopatas hipertfmicos
psicopatas
psicopatas sem sentimentos, amorais ou perversos
psicopatas anancasticos ou inseguros de si mesmos
psicopatas famiticos
psicopatas necessitados de valorizac;ao ou carentes
de afeto
psicopatas lAbeis de estado de animo
psicopatas explosivos. irritaveis ou epilept6ides
psicopatas abUlicos on de instintividade debil
psicopatas astenicos
Psicopatas hipert{micos - tern grande tendencia as disputas,
escfuldalos e desajustes familiares. Seu estado de fulimo oscila entre
a tranqiiilidade e a fUria extrema e desproporcional (atual personali-
dade histrionica).
Psicopatas depressivos - freqiientemente chegam ao suicfdio
,y raramente a crirninalidade. Seu estado de fulimo e caracterizado
pela depressao constante e pelo pessimismo (atual transtorno de per-
sonalidade esquiz6ide).
Psicopatas sem sentimentos, amorais ou perversos - Genival
Fran<;a (1998, p. 358) os define como sendo aqueles cuja "principal
caracteristica e a impossibilidade de experimentarem sentimentos de
afeto, simpatia ou Valorac;ao das demais pessoas. Nao conhecem a
bondade, a piedade, a vergonha, a miseric6rdia e a honra. Desde a
inffulcia demonstram anormalidades pelas manifestagoes de cruelda-
, de, mitomania, precocidade sexual e delinqiiencia. Seus crimes sao
desumanos, frios, impulsivos, bestiais. Nao admitem ser fiscaliza-
dos. Realizam atos movidos pelas suas paixoes, pelo domfnio dos
323
:;
"1
,
I'
i/
I
I,
'.
II
,r;
I
I
I
i
i!
componentes instintivos de sua personalidade. Praticam 0 mal por
necessidade. Sentem sua falta, como 0 faminto 0 alimento, e s6 assim
se acham equilibrados e serenos, recebendo tranqiiilos e euf6ricos a
conseqiiencia dos seus feitos" Catual personalidade anti-social ou
dissocial) .
Psicopatas anancasticos ou inseguros de si mesmos _ sao pes-
soas inseguras, com complexo de inferioridade e dominadas por ideias
recorrentes surgidas sem aparente e que podem levar a
intenso sofiimento Catual personalidade obsessivo-compulsiva ou
anancastica).
Psicopatas fandticos - sao dominados por ideias filos6ficas,
religiosas e politicas. Quando assumem a de algum grupo
humano, apresentam geraImente atitudes extremadas, podendo levar
a guerra ou aos massacres Catual personalidade paran6ica).
Psicopatas necessitados de valorizariio ou carentes de afeto _
sua principal caracteristica e desejar parecer mais do que efetivamen-
te sao. NormaImente tornam-se mentirosos e fanfarroes Catual trans-
lorno de personalidade narcisista).
Psicopatas ldbeis de estado de animo - tem despro-
porcionais, com crises de e depressao, sendo perigosos nos
momentos de impulso Catual transtorno de personalidade com insta-
bilidade emocional).
Psicopatas explosivos, irritaveis ou epilept6ides _ sao extre-
mamente irritaveis, reagindo violentamente aos menores estfmulos
externos. Sao dos mais perigosos, pois podem chegar ao homicidio,
as lesoes corporais e a crimes passionais. Com certa freqiiencia nao
conseguem recordar-se do que fizeram em estado de
Psicopatas abulicos ou de instintividade debil-' _ nao tern von-
tade pr6pria, sendo faciImente Catual transtorno de
personalidade ansiosa-esquiva).
Psicopatas astenicos - senteni-Se muito cansados, fatigados,
dominados pelos sentimentos de incapacidade e inferioridade. "mm
tendencia as drogas e comumente chegam ao suicfdio Ctambem po-
dem ser classificados no atual transtorno de personalidade de pen-
dente).
324
','9
8.3.14. Sindromes psicopaticas
Alguns autores, ao largo das tradicionais, prefe-
rem falar em sfndromes psicopaticas, com sintomas comuns, mais
relacionados com 0 transtorno de personalidade anti-social ou
dissocial (psicopatas sem sentimentos, amorais ou perversos). Sao
exemplos os roteiros de H. Cleckley, Gray e Hutchison e W MacCord
e J. MacCord Cin Maranhao, 2003, p. 86):
Sindromes psicopaticas
H. Cleckley Gray e Hutchison MacCord e MacCord
Encanto superficial e boa inteli- E emocionalmente ima-
genda. turo.
Ausencia de delfrios ou outros
sinais de pensamento il6gico.
Ausencia de manifesta'ioes psi-
coneur6ticas.
Inconstancia.
Infidelidade e insinceridade.
Falta de remorso ou vergonha. E incapaz de sentir cuI- Sente escassos sentimentos
pa. de culpa.
Falta-The senso moral.
Conduta anti-social inadequada- Falta-The controle sobre E altamente impulsivo.
mente motivada. os impulsos.
As ac;6es dos psicopatas ca-
recem de. planejamento.
Falta de ponderaC;ao e fracasso Nao aprende pela expe- Movido por desejos incon-
em aprender pela experiencia. riencia. trolados.
Egocentrismo patol6gico e inca- 13 egocentrico. Desviada capacidade de
pacidade de amar. amar.
Pobreza geral nas afe- E incapaz de estabelecer 13 associal.
tivas. significativas.
Falta especffica de esclarecimen- A punic;ao nao The alte-
to interior (insight). ra 0 comportamento.
Irresponsabilidade nas Falta-The senso de res-
interpessoais. ponsabilidade.
Tendencia a conduta fantastica E agressivo.
com ou sem uso de aJ.cool.
Raramente suicidas.
Vida sexual impessoal, trivial e
pobremente integrada.
Incapacidade de seguir um pla- E cronica ou periodica- Cadamomento e uma fraC;ao
no de vida. mente anti-social. de tempo desvinculada das
demais.
325
"
,
r
Ii
'II
:1
t
[
.
(.
&i
I
i
j
'1
i
I
I
i'l ,. j
11
jl
it'
t.";
')1,
II
liE]
1#
0'
I
,I
I
E claro que qualquer dos dados, considerado isoladarnente e sem
continuidade no tempo, nao pode levar a urndiagn6stico. Apenas quando
analisados em con junto e persistentes e que podem caracterizar urna
eventual sfndrome psicopatica (Maranhao, 2003, p. 138).
8.4. Transtornos diversos - neuroses
Sob 0 nome generico de neuroses, a doutrina pretende inc1uir
urna gama de ttanstomos mentais atua1mente designados como trans-
tomos de ansiedade, transtomos somatofonnes, transtomos do hu-
mor, transtomos dissociativos ou transtomos factfcios.
A neurose representa urn conflito intemo, de personalidade, entte
os principios eticos, morais e religiosos e os impulsos instintivos e as
exigencias do mundo exterior, gerando alto grau de ansiedade.
o neur6tico, ao conttiirio do psic6tico, nao tem alterado 0 seu
senso de realidade. "Vive e reconhece perfeitamente a realidade que
o circunda, e inconformado com ela, sofre, angustia-se, procura me-
canismos de defesa, conscientes e inconscientes, que desencadeiam
urn sistema de seguranc;a contta os conflitos intemos, tentando esta-
belecer 0 equilibrio para tomar a vida suportavel. Nem sempre con-
segue, 0 sofrimento aumenta, a neurose se agrava." (palomba, Lou-
cura e crime, 1996, p. 131).
Entte os principais ttanstomos de fi.uido neur6tico podemos citar:
ttanstomos de ansiedade:
- ttanstomos de pfurico com ou sem agarofobia (medo de ficar
s6 em locais publicos);
- fobia simples;
326
- fobia social;
- ttanstomo obsessivo compulsivo;
- ttanstomo de esttesse p6s-ttaumatico;
- ttanstomo de ansiedade
ttanstomos somatoformes:
- ttanstomo de somatizac;ao;
- ttanstomo conversivo;
- ttanstomo doloroso;
,
\
- hipocondria;
ttanstomos dissociativos:
- amnesia dissociativa;
- fuga dissociativa;
_ ttanstomo dissociativo de identidade;
- ttanstomo de despersonalizac;ao;
ttanstomos do humor:
- ttanstomos depressivos;
ttanstomos facticios:
Nao obstante apresentarem-se sob as mais variadas formas, se-
gundo Porot (in Maranhao, 2003, p. 64), as neuroses rem sintomas
relativamente comuns que se caracterizam por:
a) perturbac;ao afetiva, mais ou menos consciente, que se ex-
pressa por uma hiperemotividade parasita;
b) comportamento de inadaptac;ao 11 realidade e ao meio social,
por irnpossibilidade de desviar 0 interesse de si mesmo e usar a ativi-
dade para objetivo da vida pratica;
c) sensac;ao de insnficiencia afetiva e sexual (em sentido amplo),
por incapacidade de sobrepujar os conflitos da via moral intima;
d) uma insatisfac;ao vital que se ttaduz por:
1-desordens neurovegetativas;
I1-fuga dos objetos simbolicamente relacionados ao conflito;
II1- atos magicos de anulac;ao do conflito;
IV - conversao da tensao emocional em express6es corporais.
Juridicamente, e bastante discutivel se esses quadros (neuroses)
deveriam ser incluidos entte os modificadores da imputabilidade pe-
nal e capacidade civil.
Raramente os neur6ticos se tomam criminosos, e quando isso
acontece em poucas ocasi6es e possivelligar 0 comportamento cri-
minoso ao ttanstomo mental.
Heber Vargas (1990, p. 199) apresenta urn quadro comparativo
entte os ttanstomos classificados como neur6ticos e psic6ticos:
327
Neurose
Comportamento geral Leve grau de des com-
pensal,;ao da personalida-
de, nao sendo atingidos
o contato com a reaIida-
de e a situal,tao social.
Natureza dos sintomas . Grande amplitude de sin-
tomas psicoI6gicos e
som.ticas. Nao bO, po-
rem, ou ou-
tros desvios extremos no
pensamento. sentimento
ou aC;ao.
Orientac;ao Raramente perde a orien-
tac;ao ambientaI.
Autoconhecimento Tern geralmente certa
compreensao da natureza
de seu estado psfquico.
Aspectos sociais Raramente 0 seu com-
portamento social e pre-
judicial ou perigoso para
si e para a sociedade.
Tratamento medico Raramente necessita de
hospitalar.
Tratamento juridico Salvo em situac;oes espe-
cialfssimas, e impuhiveI
e capaz.
9. FATORES MESOLOGICOS
9.1. Civilizafiio - silvicolas
Psicose
Elevado grau de des-
compensat;ao da perso-
nalidade; 0 contato com
a realidade e mnito atin-
gido. 0 psic6tico fica
impossibilitado de atua-
t;ao social.
Grande amplitude de sin-
tomas psicoI6gicos, com
delirios, alucinac;oes,
embotamento emocional
e outros comportamentos
anorrnais.
Geralmente perde a ori-
entac;ao ambiental.
Raramente tern compre-
ensao da natureza de seu
estado psiquico.
Freqtientemente 0 .seu
comportamento e preju-
elidal ou perigoso para si
e para a sociedade.
Geralmente precisa de
internac;ao hospitalar.
Em geral e penalmente
inimputaveI e incapaz ci-
vilmente.
"indio ou silvfcola e todo de origem e ascendencia
pre-colombiana que se identifica e e identificado como pertencente a
urn gropo etnico cujas caracterfsticas culturais 0 distinguem da so-
. ciedade nacional" (art. 3
2
daLei n. 6.001173).
Quanto ao grau de integra9ao, os indios podein ser considera-
dos isolados, em vias de integrar;ao ou integrados (art. 42 da Lei n.
328
"1
6.001173). Os nao integrados ficam sujeitos a urn regime tutelar pre-
visto naLei n. 6.001, de 19 de dezembro de 1973 (Estatuto do Indio).
o C6digo Penal nao faz referencia expressa aos silvkolas. En-
tretanto, os indios nao aculturados ou inadaptados podem ser consi-
derados semi-imputaveis, porque 0 choque de culturas muitas vezes
nao permite por parte do silvicola a intelec9ao do carater ilicito do
ate praticado, fazendo jus a urna atenua9ao da pena (art. 56 da Lei n.
6.001173). Os indios aculturados ou adaptados, por outro lado, tern
desenvolvimento mental suficiente para compreender 0 carater ilici-
to do ato praticado e, portanto, devem ser tidos como imputiveis.
9.2. Psicologia das multidoes
Nao e preciso dizer que individuos absolutamente normais e
sem qualquer tendencia a violencia, quando influenciados por multi-
does em tumulto, agem de forma totalmente irracional. Os exemplos
sao bastante comuns, como saques durante manifesta90es publicas
ou mesmo violencia nos estidios de futebol.
Sob influencia da multidao parece haver diminui9ao da
racionalidade, fazendo brotar no individuo uma disposi91io instintiva
para a violencia, que pode chegar a pnitica do homicidio.
Os chamados crimes multitudindrios, para 0 nosso C6digo Pe-
nal, constituem apenas uma atenuante generic a (art. 65, ill, e), nao
afastando a imputabilidade penal.
10. FATORES LEGAI - REINCIDENCIA PENAL
A reincidencia opera no direito penal como agravante generica
e pode ser definida como a pratica de urn novo crime depois de 0
agente ter sido condenado por urn delito anterior ..
CP
Art. 61. Sao circunstancias que sempre agravam a pena, quando nao constituem
ou quaIificam 0 crime:
I - a reincidencia;
Art. 63. Verifica-se a reincidencia quando 0 agente comete novo crime, depois de
transitar em julgado a sentenc;a que, no Pais ou no estrangeiro, 0 tenha condena-
do por crime anterior.
, I
I
"
,I
"I
11. TEMPERAMENTO
Entende-se por temperamento "a tendencia constitucional do
indivfduo para reagir de certo modo ao meio ambiente" (Campbell,
Dicionario de psiquiatria, 1986, p. 600). De acordo com os esti-
mulos extemos, algumas pessoas siio mais tranqiiilas, outras mais
vigorosas, algumas mais recatadas, outras mais impuisivas etc.
Essas tendencias pessoais podem ser reconhecidas desde a infan-
cia e niio se confundem com 0 cariiter, que e urn conceito mais amplo.
A maior parte dos autores considera 0 temperamento como fa-
tor irrelevante em termos de modifica<;iio da irnputabilidade penal e
da capacidade civil. Genival Franr;a (1998, p. 347), ao contriirio, en-
tende que 0 temperamento deve ser considerado, pois niio e possivel
colocar em urna mesma balan<;a delitos cometidos por pessoas com
temperamentos irnpulsivos, que agern de inopino, e os praticados por
pessoas com temperamentos tranqiiilos, que perpetram 0 crime de
modo estudado, planejado, com precisiio e frieza.
As c1assifica<;oes mais comuns, em medicina legal, relaciona-
das com 0 temperamento siio as de Ernest Kretschmer e de W. Sheldon,
que procuram estabelecer uma re1a<;iio entre a constitui<;iio fisica do
individuo e a sua personalidade.
o primeiro irnaginou quatro tipos biisicos de indivfduos:
a) p{cnico, caracterizado por urn c'orpo de contomos arredon-
dados, com amplas cavidades corporais, ao qual se associa uma
tendencia 11 personalidade cic1otfmica, altemando estados de eufo-
ria e hiperatividade com outros de depressiio, tristeza e inatividade;
b) leptossomico, portador de urn corpo delgado ao qual se asso-
cia uma tendencia 11 personalidade esquizotfmica, ou seja, que tende
11 esquizofrenia, que mostra rea<;oes' desproporcionais as situa<;oes
vividas; ,
c) atletico, possuidor de urn corpo bern desenvolvido ao qual
corresponde tendencia a uma persona1j.dade viscosa, ma<;ante; e
d) displastico, caraaterizado por urn corpo que niio se enquadra
em nenhum dos tres tipos anteriores e que demonstraria tambem uma
tendencia 11 personalidade cic10tfmica (a maioria dos autores ignora
esse quarto tipo, incluindo suas caracterfsticas no p{cnico).
330
Classificaciio de Kretschmer
Tipo
Variaveis
Tipo
morfologico
Sensibilidade
Ritmo psfquico Psicomotilidade temperamental
Plcnico
Varia na diatesia
M6bil X parado
Estimuliivel Ciclotfmico
Salta entre dais
Variana
Leptossomico
modos de
lnerte e rigido Esquizotfmico
psicoestesia
pensar e sentir
Explosivo
Estimulavel,
Atlltico
X
Mantem
mas lento
Viscoso
fleugmatico
Displdstico
Varia na diatesia
M6bil X parado
Estimulavel
CicIotfmico
(Quadro baseado em similar proposto por Maranhiio, 2002, p. 343.)
Sheldon estudou cerca de 4.000 estudantes do sexo masculino,
e depois estendeu suas observa<;oes para 0 sexo feminino, conc1uin-
do que, em 80% dos casos, hii uma rela<;iioentre 0 somatotipo e 0
temperamento.
Sheldon estabeleceu 0 seguinte quadro:
Tipologia de Sheldon
l
Temperamento l
Eudomorfismo
Viscerotonia
Mesomorfismo
Somatotonia
Ectomorfismo
Cerebrotonia
----
(Quadro baseado em similar proposto por Maranhiio, 2002, p. 344.)
Os endomorfos e viscerotonicos seriam individuos com excesso
de peso e com tendencia 11 redu<;iio das tensoes e interesse geral por
couforto, glutonaria, cordialidade e sociabilidade.
Os mesomorfos e somatotonicos seriam pessoas de complei<;iio
ffsica normal e personalidade em que predominam a atividade mus-
cular e a necessidade da afirma<;iio pelo uso do corpo.
331
!I
"Ii
H
I
.1 .. ; i:
; "
/:
,
I'
j'
/'
'I
, '
, " , f-
i it
i
;:
;!:,
,
J
II
I:
ii'l'
:ii .
."
:r
I
Ii
"I-
, I :
II
Ii
Ii Ii
, I'
I!
j I
II:
'I'
: it'
.f
1
'
I,
I
JL
Finahnente os ectomorfos e cerebroti3nicos seriam aqueles de
fragi! compleic;;ao ffsica e cuja personalidade e marcada pela
introversao e predomfnio da atividade mental sobre a ffsica.
,
332
BmLIOGRAFIA
ALMEIDA JUNIOR, A.; COSTA JUNIOR, J. B. de O. e. Liroes de
medicina legal. 21. ed. Sao Paulo: Nacional, 1996.
ALVES, Jones Figueiredo; DELGADO, Mario Luiz. Novo C6digo
Civil confrontado. 3. ed. Sao Paulo: Metodo, 2003.
AMAR,Ayush Morad. A verdade sobre as drogas. Sao Paulo: icone,
1988.
---. Investigariio de paternidade -aspectos medico-legais. Sao
Paulo: fcone, 1987.
ARAUJO, Alvaro Placeres de. Manual de dactiloscopia. 2. ed. Sao
Paulo: Ed. da Escola de Policia de Sao Paulo, 1960.
---.. Pequena enciclopedia dactilosc6pica. Sao Paulo: Ed. da
Escola de Policia de Sao Paulo, 1949.
BAMSHAD, Michael J.; OLSON, Steve E. Ambigiiidades que limi-
tamuma definic;;ao de rac;;a. Scientific American Brasil, EdiC;;ao
especial n. 16 - Genoma, 0 C6digo da vida, 2007, p. 68 a 75.
BONNET, Emilio Frederico Pablo. Medicina legal. 2. ed. Buenos
Aires: Lopez Libreros, 1993.
BORCHERT, Alfred. Parasitolog(a veterinaria. Zaragoza: Acribia,
1975.
BRITO FlLHO, Dilermando. Toxicologia humana e geral. 2. ed. Sao
Paulo: Livr.Atheneu, 1988.
BUTLER, John M. Forensic DNA typing - biology & technology
behind STR markers. 2. ed. San Diego: Academic Press, 2003.
CALABUIG, J. A. Gisbert. Medicina legal y toxicolo g(a. 5. ed. Bar-
celona: Masson, 1998.
CAMPBELL, Robert J. Diciondrio de psiquiatria. Sao Panio: Martins
Fontes, 1986.
333
:B
I,
fl
!
I1j
Ii'
I
II
I:.
i;
il::
, il
!'i'
'I! i.'.. ,.
I" j' , ,
il." 'I ,I,
;
'J
i
:! i
"
11
i
.' ..\.,
I
,
[ .,:
1' ...\.' '
! II'
;-1: I
,. t' I
,il
;i"! I
CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 2. ed. Sao Paulo: Sarai-
va, 1998.
CARVALHO, Hilario Veiga. Manual de tecnica tanatol6gica. Sao Pau-
lo: Faculdade de Medicina da Universidade de Sao Paulo, 1950.
CARVALHO, Protasio de.A didiitica dos t6xicos. Sao Paulo: GrMica
Vicentina,1977.
CI:llERI, Primarosa; ZANNONI, Eduardo A. Prueba del ADN. 2. ed.
Buenos Aires: Astrea, 2001.
COMPANHIA Brasileira de Cartuchos - CBC. Manual de aperfei-
r;oamento projissional. Sao Paulo: CBC, 1993.
---.lnjormativos tecnicos, n.1 a 9.
COSTELLO, D. Families: the perfect deception: identical twins. The
Wall Street Journal, February 12th, 1999.
CROCE, Delton; CROCE JUNIOR, Delton. Manual de medicina le-
gal. 4. ed. Sao Paulo: Saraiva, 1998.
DADIAN, Joao. Nunca atire para 0 alto! Revista Magnum, n. 46. Sao
Paulo: Magnum, nov./dez. 1988, p. 46.
DANGELO, Jose Geraldo; FATIINI, Carlo Americo. Anatomia hu-
mana sistemica e tegumentar. 2. ed. Sao Paulo: Atheneu, 1997.
DEL-CAMPO, Eduardo Roberto Alcantara. Armas, muniqoes, aces-
s6rios e equipamentos de uso restrito e 'permitido. Sao Paulo:
Edi\,oes APMP, 2001.
---. Fulmina\,ao. Partes I e II. Revista da Associar;iio Paulista
do Ministerio Publico, n. 39 e 40.
DEL-PICCHIA FILHO, Jose; DEL-PICCHIA, Celso Mauro Ribei-
ro. Tratado de documentoscopia. Sao Paulo: LEUD, 1976.
DI MAIO, Vincent J. M. Gunshpt wounds. New York: CRC Press,
1993.
DOREA, Luiz Eduru:do. Fenomen'os cadavericos & testes simples
para cronotanatognose. Porto Alegre: Sagra-Luzzatto, 1995. H: :i
'i'i' :!
n Ii DORON, Roland; PAROT, Fran\,oise. Dicionario de psicologia. Sao
A
t: ii' Paulo: tica, 1998.
,,I' '1
1),:1 :i
fl!i".I'!"- 334
.,- ,
FAVERO, Flamfnio. Medicina legal: introdw;iio ao estudo da medi-
cina legal. 11. ed. Belo Horizonte: Itatiaia, 1975. v. 1.
FOX, Douglas. Can masturbating each day keep the doctor away?
New Scientist, v. 179 issue 2404 -19 July, 2003, p. 15.
FRAN<;:A, Genival Veloso de. Medicina legal. 5. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1998.
FRANCO, Alberto Silva; STOCO, Rui et al. Leis penais especiais e
sua interpretar;iio jurisprudencial. 7. ed. Sao Paulo: Revista dos
Tribunais. 2 v.
GOMES, Helio. Medicina legal. 27. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bas-
tos,1989.
___ .. Atualizado par Hygino Hercules. 33. ed. Rio de Janeiro:
Freitas Bastos, 2003.
GRECO FILHO, Vicente. T6xicos - prevenr;iio e repressiio. 6. ed.
Sao Paulo: Saraiva, 1989.
GRECO FILHO, Vicente; RASSI, Joao Daniel. Lei de Drogas ano-
tada. Sao Paulo: Saraiva, 2007.
GUYT'ON, ArfuurC. Tratado dejisiologia medica. 4. ed. Rio de Ja-
neiro: Guanabara Koogan. 1973.
HERCULES, Hygino de Carvalho. Hist6ria da medicina legal. Re-
vista Academica da UFRJ.2 (2): 53-8, 1998.
HERRNSTEIN, RichardJ.; MURRAY. Charles. The bell curve. New
York: Free Press Paperbacks, 1996.
INMAN, Keith; RUDIN. Norah. An introduction to forensic DNA
analysis. New York: CRC Press, 1997.
JUNQUEIRA. L. c.; CARNEIRO. C. Histologia bdsica. 3. ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan. 1973.
LACASSAGNE. A. Precis de medecine legale. Paris: Masson et cm
Editeurs. 1906.
LIMA, Celso Piedemonte de. Genetica humana. 3. ed. Sao Paulo:
Harbra, 1996.
335
\-1..
I;:
t
\
I
L
I
'I
:
f
". Ii
,'.'1'
I' '
,
;
ill
j
,
i
T
. I'
;
ii,
t. Ii :! ,
I'
n!
"!f
ii
,
!
LOCARD, Edmond. L'enquBte criminelle et les methodes scien-
tifiques. Paris: Ernest Flammarion Emteur, 1933.
LYRA, Roberto. Comentdrios ao Codigo Penal. 2. ed. Rio de Janei-
ro: Forense, 1955. v. 2.
MALTONI, David; MAlO, Dario; JAIN, Ani1 K.; PRABHAKAR,
Salil. Handbook offingerprint recognition. New York: Springer-
Verlag, 2003.
MARANHAo, Odon Ramos. Curso biisico de medicina legal. 8. ed.
Sao Paulo: Malbeiros, 2002.
---. Psicologia do crime. 2. ed. Sao Paulo: Malbeiros, 2003.
MENDON<;:A, Andrey Borges de; CARVALHO, Paulo Roberto
Galvao. Lei de Drogas: Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006,
comentada artigo por artigo. Sao Paulo: Metodo, 2007.
NANAVlITI, Samir; THIEME, Michael; NANAVlITI, Raj. Biometrics
- identity verification in a networked world. New York: Wiley
Computer Publishing. 2002.
PALOMBA, Guido Arturo. Loucura e crime. 2. ed. Sao Paulo: Fiuza,
1996.
PEIXOTO, Afrfurio. Sexologiaforense. 3. ed. Sao Paulo: Ed. Nacio-
nal,1934.
PlNA, Luiz de. Dactiloscopia. Lisboa: Livr. Bertrand, 1938.
PLAT, Richard. Crime scene - the ultimate guide to forensic science.
New York: DK, 2003.
RABELLO, Eraldo. Curso de criminalfstica. Porto Alegre: Sagra-
Luzzatto, 1996.
---. Balfsticaforense. 3. ed. Porto Alegre: Sagra-Luzzatto, 1995.
RODRIGUES, Armando Canger. Morte subita e morte suspeita em
medicina legal. CiBncia Penall.,Sao Paulo: Bushatsky, 1973, p.
9-53.
SANDRlN, Carlos Fernandes; PENTEADO, Jaques de Camargo.
Drogas - imputabilidade e dependBncia. Sao Paulo: Associa<;;ao
Pal!lista do Ministerio PUblico, 1994.
SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite. Morte encefiilica e a lei dos
transplantes de orgaos. Sao Paulo: Oliveira Mendes, 1998.
SHECAlRA, Sergio Salomao. Criminologia. Sao Paulo: Revista dos
Tribunais, 2004.
SIMONIN, C. Medicina legal judicial. Barcelona: Jims, 1962.
SUTHERLAND, Edwin H. Principles of criminology. 6. ed. New
York: Donald R. Cressey, 1960.
TOCHETTO, Domingos et al. Tratado de pericias criminaUsticas.
Porto Alegre: Sagra-Luzzato, 1995.
TOCHETTO, Domiugos; WElNGAERTNER, Joao Alberto. Taurus
- uma garantia de seguranr;a. Porto Alegre: publica<;;ao da pro-
pria empresa, 1994.
TOURlNHO FlLHO, Fernando da Costa. Processo penal. 10. ed.
Sao Paulo: Saraiva, 1987. v. 2.
U.S. Department of Justice. Battered child syndrome: investigating
physical abuse and homicide. Washington, D.C.: Office ofJuvenile
Justice and Delinquency Prevention, 1996.
VARGAS, Herber Soares. Manual de psiquiatriaforense. Sao Paulo:
Freitas Bastos, 1990.
VlBERT, Ch. Precis de medecine legale. Paris: J. B .. Bailliere et Fils,
1917.
ZACHARIAS, Manif; ZACHARIAS, Elias. Colabora<;;ao de Miguel
Zacharias Sobrinho. Dicioniirio de medicina legal. 2. ed. Sao
Paulo: IDRASA; Curitiba: Ed. Universitilria Champanhat, 1991.
ZANOTA, Creso M.ldentificar;ao de munir;oes. Sao Paulo: Magnum,
1992.
ZARZUELA, Jose Lopes. Anota<;;oes de aula proferida naAcademia
de Policia do Estado de Sao Paulo. Curso de fonna<;;ao para peri-
tos criminais, 1982.
___ . 0 perito e as mortes violentas. Revista da Faculdade de
Direito das Faculdades Metropolitanas Unidas, v. 5, p. 220-253,
set. 1991.
337
!
&-
i,j
I'
1'1
I'
1'1
tj
r{
,
i
.1
:1
1
:1
,I
'I
,I:
-,I
ii'
f! "
il,1
"
i,
,
., '
; ;
i :
, '
1,
I'
II,'
:
l'
" '
!:
"
r
I
i :
In:
I' .,
II
It
Ii i
" "
Ill1
jt !i
Iii
I!
ri ii
il
lii"l
i
',I
II,
i
I, '.
:'I'j'
,j') :,1
. , ,lfl-..
----,. Temasjundamentais de criminalfstica. Porto Alegre: Sagra-
Luzzatto, 1996.
----,. Residuografia. Apostila do Curso de Atualizao;:ao para Pe-
rito Criminal. Sao Paulo: Academia de Polfcia de Sao Paulo, 1986.
ZARZUELA, Jose Lopes; MATUNAGA, Minoru; TIIOMAZ, Pedro
Lourenc;o. Laudo pericial - aspectos tecnicos e juridicos. Sao
Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.
Paginas da Internet visitadas
CEBRID - Centro Brasileiro de Informac;oes sobre Drogas Psico-
tr6picas. Disponivel em <www.saude.inf.br/cebrid>.
COSTA, J. Pinto da. Origens da medicina legal. Disponivel em
<www.geocities.com.Ijaf2000/mljpc.htm>.
DEPARTEMENT de Medicine et Traumatologie de Montagne de
L'H6pital de Chamonix. <http://perso.wanadoo.fr/dmtrncharn!
index.html>.
IMAGES of American Political History. <htpp:llteachpol.tcnj.edu!
amecpol_histl-use.htm>.
JORNAL SAUDE. Cola de sapateiro afeta cerebro de forma igual a
cocaina, advertem cientistas. <www.saudeemmovirnento.com.br>.
MERCK, Manual- Distfubios da Saude Mental- Capitulo 82-
Disturbios Somatoformes. <www.msd-brazil.comlmsd43/
m_manuallmm_sec7 _82.htm>.
MORAES, Ana Rita Medina de. l.esiio cerebral abusiva (shaken baby
syndrome). <www.sprs.com.br/areacientificasindromebebesac.htm>.
NICOLAU, Paulo Fernando M. lntrodut;iio ao estuda da medicina le-
338
',r".. I
I
,
I
,
,
t
r
t
i:
iii'
t:
Ii
II
j.-
Você também pode gostar
- IntradermoterapiaDocumento4 páginasIntradermoterapiaErica Rodriguez0% (1)
- Manual SCL-90-RDocumento12 páginasManual SCL-90-RSofiaBorges100% (8)
- LEI - 11236 Dispõe Sobre A Perícia Oficial de Natureza CriminalDocumento3 páginasLEI - 11236 Dispõe Sobre A Perícia Oficial de Natureza CriminalDélio Sobral do NascimentoAinda não há avaliações
- Livro - Tecnicas Basicas de Enfermagem-Parte1Documento16 páginasLivro - Tecnicas Basicas de Enfermagem-Parte1luh_biel2009Ainda não há avaliações
- Manual Medicina Legal Vanrell 5edDocumento25 páginasManual Medicina Legal Vanrell 5edRenanD'AlmeidaKnockoutMartialArts100% (2)
- Manual de Orientação para Quesitação Oficial À Perícia Forense Do Estado Do CearáDocumento228 páginasManual de Orientação para Quesitação Oficial À Perícia Forense Do Estado Do CearáMery Moreira100% (1)
- Principais Epônimos Da Medicina LegalDocumento8 páginasPrincipais Epônimos Da Medicina Legalcalanins100% (1)
- Reconhecimento Pessoal: Procedimento Penal e Aportes PsicológicosNo EverandReconhecimento Pessoal: Procedimento Penal e Aportes PsicológicosAinda não há avaliações
- Modulo 05 Exames de LocaisDocumento46 páginasModulo 05 Exames de LocaisPaulo Cavalhere100% (1)
- DatilosDocumento56 páginasDatilosIony Berto100% (1)
- 11 - Apostila - Medico Perito Legista - Sexologia Forense - 18hDocumento31 páginas11 - Apostila - Medico Perito Legista - Sexologia Forense - 18hIgor Ponte50% (2)
- Resumo Medicina LegalDocumento45 páginasResumo Medicina LegalAdriano Carneiro de Campos100% (2)
- Aula 4 Antropologia ForenseDocumento93 páginasAula 4 Antropologia ForenseBrado Africano67% (3)
- Medicina LegalDocumento224 páginasMedicina LegalAna Camila100% (1)
- Valor Probatório dos Atos do Inquérito Policial: com ênfase no crime de homicídio doloso (de acordo com o "pacote anticrime" - Lei 13.964/2019)No EverandValor Probatório dos Atos do Inquérito Policial: com ênfase no crime de homicídio doloso (de acordo com o "pacote anticrime" - Lei 13.964/2019)Ainda não há avaliações
- Eduardo Roberto Alcantara - Medicina Legal - 4º Edição - Ano 2007 PDFDocumento364 páginasEduardo Roberto Alcantara - Medicina Legal - 4º Edição - Ano 2007 PDFIsaac de Cristo100% (1)
- Manual Medidina Legal SPDocumento164 páginasManual Medidina Legal SPrafael25medAinda não há avaliações
- Perfis de Manchas de Sangue Do Local de Crime A El PDFDocumento1 páginaPerfis de Manchas de Sangue Do Local de Crime A El PDFDryka Sousa0% (1)
- 07 Balística ForenseDocumento86 páginas07 Balística Forenseanderson bento matiasAinda não há avaliações
- Medicina Legal - Completa (Pericias / Lesoes / Sexologia / Tanatologia / Energias de Orgem Fisica / Quimica...Documento320 páginasMedicina Legal - Completa (Pericias / Lesoes / Sexologia / Tanatologia / Energias de Orgem Fisica / Quimica...rdemarque1979100% (5)
- CriminalísticaDocumento51 páginasCriminalísticaAucilenia Marques100% (1)
- Mecina Legal (Neusa Bittar)Documento83 páginasMecina Legal (Neusa Bittar)Josiana Rafael Silva Santos100% (5)
- Apostila Medicina LegalDocumento109 páginasApostila Medicina LegalMauricio Teixeira100% (2)
- Balística Forense CfoDocumento29 páginasBalística Forense CfoHeliana Cunha100% (3)
- Prova - Auxiliar de NecropsiaDocumento11 páginasProva - Auxiliar de NecropsiaAlessandra BarrosAinda não há avaliações
- CriminalisticaDocumento67 páginasCriminalisticaRicardo Dutra100% (3)
- 02 Apostila PEFOCE 2015 - Medico Perito Legista 1 Classe - PapilosDocumento32 páginas02 Apostila PEFOCE 2015 - Medico Perito Legista 1 Classe - PapilosIgor PonteAinda não há avaliações
- Noções de CriminalísticaDocumento97 páginasNoções de Criminalísticakarineluzrego25100% (1)
- Exercício Medicina Legal LivroDocumento32 páginasExercício Medicina Legal LivroBruno CandeloroAinda não há avaliações
- Balistica ForenseDocumento14 páginasBalistica ForenseCarolina Medeiros Vieira100% (1)
- Medicina Legal - 60 QuestõesDocumento11 páginasMedicina Legal - 60 QuestõesDaniel Max100% (1)
- Medicina LegalDocumento5 páginasMedicina LegalFernanda Pignatari Malmegrim100% (2)
- Intervalo Post Mortem - Estimativa Do Tempo de MorteDocumento35 páginasIntervalo Post Mortem - Estimativa Do Tempo de MorteLeví Inimá de MirandaAinda não há avaliações
- APOSTILA DE MEDICINA LEGAL (Polícia Civil) EXEMPLODocumento40 páginasAPOSTILA DE MEDICINA LEGAL (Polícia Civil) EXEMPLOJH Deus Conosco100% (1)
- Apostila Medicina LegalDocumento37 páginasApostila Medicina LegalProfessor Márcio Roberto100% (1)
- 1 Simulado ITEPRN Perito Criminal Area Geral CompletoDocumento71 páginas1 Simulado ITEPRN Perito Criminal Area Geral CompletoAndreza FigueredoAinda não há avaliações
- Auxiliar de NecropsiaDocumento127 páginasAuxiliar de NecropsiaRafaelGomes100% (2)
- Curso de Medicina Legal Damásio III ResumidoDocumento75 páginasCurso de Medicina Legal Damásio III ResumidoRonaldo Galdino100% (2)
- Manual - OS VESTÍGIOSDocumento42 páginasManual - OS VESTÍGIOSmbgspcpi100% (1)
- Concurso IGP-SC 2017-Prova para Perito Criminal Geral.Documento12 páginasConcurso IGP-SC 2017-Prova para Perito Criminal Geral.AsdrubalTromboneAinda não há avaliações
- Apostila de CriminalísticaDocumento47 páginasApostila de CriminalísticaEnilsonPontes50% (2)
- Livro Medicina Forense PDFDocumento204 páginasLivro Medicina Forense PDFFernanda MolardiAinda não há avaliações
- Traumatologia ResumaoDocumento70 páginasTraumatologia Resumaoindira miranda100% (1)
- Prova Perito Criminal - Área FarmaceuticoDocumento16 páginasProva Perito Criminal - Área FarmaceuticoFernanda FernandesAinda não há avaliações
- Tramautologia Forense-Choque MecanicosDocumento101 páginasTramautologia Forense-Choque MecanicosJosé Jerônimo de Freitas NetoAinda não há avaliações
- Medicina Legal Completa Pericias Lesoes Sexologia Tanatologia Energias de Orgem Fisica QuimicaDocumento320 páginasMedicina Legal Completa Pericias Lesoes Sexologia Tanatologia Energias de Orgem Fisica QuimicaAlexandre Cardoso KatesAinda não há avaliações
- Manual de Rotinas ImlDocumento249 páginasManual de Rotinas ImlWharllesson Santos RodriguesAinda não há avaliações
- Teoria Direito Processual Penal IDocumento129 páginasTeoria Direito Processual Penal IALBERTO FÁBIOAinda não há avaliações
- Medicina Legal - Caderno BlancoDocumento70 páginasMedicina Legal - Caderno BlancoFátima Cristina100% (18)
- Criminalística AplicadaDocumento75 páginasCriminalística Aplicadahaleiwabay100% (2)
- Polícia Civil e Guarda Civil Municipal: Sugestão Integrada de Segurança PúblicaNo EverandPolícia Civil e Guarda Civil Municipal: Sugestão Integrada de Segurança PúblicaAinda não há avaliações
- A Demanda Reprimida De Inquéritos PoliciaisNo EverandA Demanda Reprimida De Inquéritos PoliciaisAinda não há avaliações
- Pasme, Excelência!: Estórias de um advogado insólitoNo EverandPasme, Excelência!: Estórias de um advogado insólitoAinda não há avaliações
- Contabilidade para as Carreiras PoliciaisNo EverandContabilidade para as Carreiras PoliciaisAinda não há avaliações
- Exame Ed 02Documento3 páginasExame Ed 02Roberto BiáAinda não há avaliações
- Colleccao Leis 1830 Parte2Documento74 páginasColleccao Leis 1830 Parte2Eloah BernardoAinda não há avaliações
- Guia Médico - Associação Dos Aposentados e Pensionistas PDFDocumento114 páginasGuia Médico - Associação Dos Aposentados e Pensionistas PDFThiago CostaAinda não há avaliações
- Decreto 1631 de 1907Documento291 páginasDecreto 1631 de 1907Beatriz EstrellaAinda não há avaliações
- Intruducao A Eletronica IlustradaDocumento47 páginasIntruducao A Eletronica IlustradaRinaldo Francisco100% (1)
- Capa-Extensivo Magis Estadual FullDocumento15 páginasCapa-Extensivo Magis Estadual Fullpaulomacaia1234Ainda não há avaliações
- 10 Check List de Auto Avaliação - Atividades Veterinárias IDocumento4 páginas10 Check List de Auto Avaliação - Atividades Veterinárias IYaylley JeziniAinda não há avaliações
- TOXICOLOGIADocumento52 páginasTOXICOLOGIARangel de Sousa50% (2)
- 2 Cuidados Paliativos Junto A Criancas e Adolescentes Hospitalizados Com Cancer o Papel Da Terapia OcupacionalDocumento9 páginas2 Cuidados Paliativos Junto A Criancas e Adolescentes Hospitalizados Com Cancer o Papel Da Terapia OcupacionalMafalda PampolimAinda não há avaliações
- Cateterismo VesicalDocumento25 páginasCateterismo VesicalDaniela CarnieloAinda não há avaliações
- NOVA TABELA ALLCARE Portfolio Allcare CA Canal MercadoDocumento6 páginasNOVA TABELA ALLCARE Portfolio Allcare CA Canal MercadoRafael AldoAinda não há avaliações
- 3 Avaliação de Língua Portuguesa - 2° Bimestre - 2017Documento2 páginas3 Avaliação de Língua Portuguesa - 2° Bimestre - 2017Aureliano Geraldo Dos SantosAinda não há avaliações
- Escalda PésDocumento4 páginasEscalda PésAna Clara MeloAinda não há avaliações
- LE GUILLANT A Neurose Das TelefonistasDocumento10 páginasLE GUILLANT A Neurose Das TelefonistasLarissa AlvesAinda não há avaliações
- Despacho 12336 - 2016 - Regulamento Interno Do Hospital Das Forças ArmadasDocumento48 páginasDespacho 12336 - 2016 - Regulamento Interno Do Hospital Das Forças ArmadasRACHAinda não há avaliações
- Julio Adiala - DROGAS, MEDICINA E CIVILIZAÇÃO NA PRIMEIRA REPÚBLICADocumento207 páginasJulio Adiala - DROGAS, MEDICINA E CIVILIZAÇÃO NA PRIMEIRA REPÚBLICAAKP31Ainda não há avaliações
- Aula Prática UrináliseDocumento1 páginaAula Prática UrináliseAndreza MartinsAinda não há avaliações
- Medicina em 5D - Entrevista Com Fernando Bignardi (Ficar de Olho Nesse Médico - Meditação, Homeopatia Etc.)Documento19 páginasMedicina em 5D - Entrevista Com Fernando Bignardi (Ficar de Olho Nesse Médico - Meditação, Homeopatia Etc.)bonifax1Ainda não há avaliações
- AVC - Acidente Vascular Cerebral PDFDocumento33 páginasAVC - Acidente Vascular Cerebral PDFSusana CardosoAinda não há avaliações
- CandidíaseDocumento20 páginasCandidíaseFiama RodriguesAinda não há avaliações
- Bula CuritybinaDocumento3 páginasBula CuritybinaFabio NegroniAinda não há avaliações
- 1 Massagem ClassicaDocumento9 páginas1 Massagem ClassicaGabriela OliveiraAinda não há avaliações
- Contraste Radiológico - Iodo Bário GadolíneoDocumento74 páginasContraste Radiológico - Iodo Bário GadolíneoRodrigo de Campos Souza100% (4)
- Questões de Provas Anteriores Da ESA - ENFERMAGEMDocumento21 páginasQuestões de Provas Anteriores Da ESA - ENFERMAGEMJoao PereiraAinda não há avaliações
- Estudo JacqueDocumento2 páginasEstudo JacqueMonique Jacob PavaneliAinda não há avaliações
- Artigo Científico: Identificação Das Espécies Ornamentais Nocivas Na Arborização Urbana de Santiago/rsDocumento13 páginasArtigo Científico: Identificação Das Espécies Ornamentais Nocivas Na Arborização Urbana de Santiago/rsNatalia Teixeira SchwabAinda não há avaliações
- Doenças AnorretaisDocumento1 páginaDoenças AnorretaisEmilly M T dos SantosAinda não há avaliações
- Pesquisa 1Documento13 páginasPesquisa 1lucas ferreiraAinda não há avaliações
- Aula 06 - Curathlon 17 ResumoDocumento9 páginasAula 06 - Curathlon 17 ResumoMariah RodriguesAinda não há avaliações
- Alterações Da Atividade VoluntáriaDocumento6 páginasAlterações Da Atividade VoluntáriaPedro BarrosAinda não há avaliações
- Brant & Helms - Vol. 1 - Cap. 1Documento22 páginasBrant & Helms - Vol. 1 - Cap. 1João Gabriel T. MotaAinda não há avaliações
- Atendente - de - Farmácia-Aul A2Documento21 páginasAtendente - de - Farmácia-Aul A2sescoopAinda não há avaliações
- Instituto Técnico Lugenda de Nampula: Sistema Osteomioarticura (Soma) TMG 17Documento42 páginasInstituto Técnico Lugenda de Nampula: Sistema Osteomioarticura (Soma) TMG 17Rubico Da Lúcia PauloAinda não há avaliações
- Sistema Digestivo Auxiliar de FarmáciaDocumento32 páginasSistema Digestivo Auxiliar de FarmáciaeloivasconcelosAinda não há avaliações