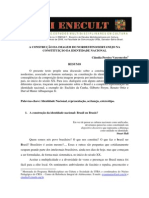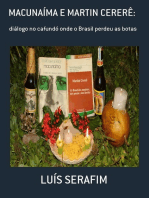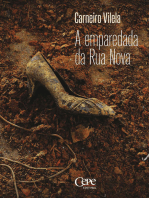Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Magia e Paixao o Mexico Sob o Olhar de Erico Verissimo Baggio
Magia e Paixao o Mexico Sob o Olhar de Erico Verissimo Baggio
Enviado por
Nuria MinuTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Magia e Paixao o Mexico Sob o Olhar de Erico Verissimo Baggio
Magia e Paixao o Mexico Sob o Olhar de Erico Verissimo Baggio
Enviado por
Nuria MinuDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Proj. Histria, So Paulo, (32), p. 79-95, jun.
2006 79
Resumo
Este artigo pretende analisar o olhar do
escritor gacho Erico Verssimo sobre
o Mxico, como parte integrante do es-
foro de construo de vises brasileiras
sobre os pases hispano-americanos. Em
1957, o autor publicou o livro Mxico,
misto de relato de viagem e ensaio sobre
a histria, a geografa, a sociedade e a
cultura mexicanas. Verssimo buscou no
Mxico referncias de identidade, como
brasileiro e latino-americano. Seu livro
revela as singularidades do olhar de
latino-americanos sobre outros latino-
americanos: um misto de identidade e
estranhamento.
Palavras-chave
Erico Verssimo; Mxico; relato de via-
gem; identidade.
Abstract
This article aims to analyze the views of
the writer Erico Verssimo about Mexico,
as part of the effort in constructing
Brazilian interpretations of the Hispanic
American countries. In 1957, the author
published the book Mexico, a mixture
of travel report and essay, on Mexican
history, geography, society and
culture. Verssimo searched in Mexico
for identity references, both as a Bra-
zilian and a Latin-American. His book
reveals singularities of Latin Americans
when they consider other Latin Ame-
ricans: a combination of identity and
strangeness.
Key-words
Erico Verssimo; Mexico; travel report;
identity.
maGia e PaiXo: o mXiCo SoB o olhaR
DE ERICO VERSSIMO
Ktia Gerab Baggio*
Proj. Histria, So Paulo, (32), p. 79-95, jun. 2006 80
Desde criana fui possudo pelo demnio das via-
gens. Essa encantada curiosidade de conhecer
alheias terras e povos visitou-me repetidamente a
mocidade e a idade madura. Mesmo agora, quando
j diviso a brumosa porta dos setenta, um convi-
te viagem tem ainda o poder de incendiar-me a
fantasia.
Erico Verssimo
Este texto foi escrito como parte de um objetivo mais amplo: procurar compreen-
der as vises, imagens, percepes e interpretaes construdas no Brasil sobre a His-
pano-Amrica, a partir das refexes de intelectuais brasileiros, tema que j explorei em
trabalhos anteriores.
1
As relaes entre o Brasil e os pases hispano-americanos, muitas
vezes permeadas por ambigidades e incompreenses, caracterizaram-se, em diferentes
momentos, por divergncias ou convergncias
2
. Alm de disputas e confitos de carter
territorial, geopoltico, militar ou econmico, e tentativas de integrao principalmente
de carter comercial , essas relaes foram marcadas por imagens construdas e veicu-
ladas por intelectuais, pela imprensa e pela mdia em geral.
Ao tentar recuperar a constituio dessas imagens, deparei-me com os relatos de
viagem, importantes veculos de construo de imaginrios sobre outras terras, pases,
culturas, naes. No podemos ignorar, tambm, que essas vises brasileiras sobre os
pases e regies hispano-americanas foram, em grande medida, informadas pelas imagens
construdas pelos europeus e norte-americanos sobre a Amrica Latina.
O tema da alteridade norteia os relatos de viagem. Pois as viagens e, particularmente,
seus relatos, buscam, entre outros objetivos, a percepo e a construo de uma imagem
do outro e, a partir dela, (re)construir a prpria imagem ante o outro e si mesmo. As vi-
ses dos brasileiros sobre os hispano-americanos no podem ser dissociadas do intento,
por parte dos brasileiros, de entender o seu pas. Por isso, em grande medida, as vises
sobre o(s) outro(s) informam mais sobre aqueles que enunciam os julgamentos do que
sobre aqueles que so julgados. Os pases hispano-americanos aparecem, com freqncia,
como elementos de comparao, como experincias para se pensarem as caractersticas
e os problemas do Brasil. A afrmao da identidade deve se pautar pela recusa da se-
melhana, pelo realce da diferena. Como aponta Myriam vila, descreve-se o extico
como melhor (mais puro) ou pior (menos civilizado) do que o ptrio, mas preciso evitar
faz-lo aparecer como igual.
3
Edward Said, por seu turno, acrescenta: A cultura (...)
uma fonte de identidade, e alis bastante combativa, como vemos em recentes retornos
cultura e tradio .
4
Proj. Histria, So Paulo, (32), p. 79-95, jun. 2006 81
No caso da Amrica Latina, interpe-se um outro elemento perturbador: as represen-
taes europias e norte-americanas. Essas representaes constituem parte fundamen-
tal do repertrio de imagens que os intelectuais latino-americanos dispem sobre seus
prprios pases. Como afrma vila, h uma reduplicao do olhar quando o latino-
americano escreve. Ou, como prefere o escritor argentino Ricardo Piglia, uma mirada
estrabica.
5
Os pensadores brasileiros, dentro dessa concepo, no assimilam as vises euro-
pias e norte-americanas sobre a Amrica Latina de maneira imediata. Nas anlises em
que contrapem o Brasil aos pases hispano-americanos ou aos Estados Unidos, ou nos
momentos em que refetem sobre as relaes do Brasil com as outras Amricas, eles
escolhem, selecionam e transformam as representaes europias e estadunidenses e,
tambm, as representaes hispano-americanas , segundo as suas prprias convices e
necessidades, alm de criarem novas imagens, a partir da sua prpria vivncia e condio
de brasileiros e, em parte dos casos, de uma auto-identifcao como latino-americanos.
Edward W. Said, em seu livro Orientalismo, em que analisa as construes ocidentais
sobre o Oriente, afrma que o Oriente ajudou a defnir a Europa (ou o Ocidente), como
sua imagem, idia, personalidade e experincia de contraste.
6
Pode-se tambm afrmar
que a Amrica Hispnica (em geral, pelos estigmas negativos) e os Estados Unidos (fre-
qentemente tomados como modelo de desenvolvimento) ajudaram a defnir o Brasil.
Partindo dessas refexes iniciais, minha inteno compreender qual o olhar que
Erico Verssimo dirigiu ao Mxico, como parte consciente, para o autor brasileiro da
construo de vises brasileiras sobre os pases hispano-americanos.
A trajetria de vida, a formao intelectual e as convices poltico-ideolgicas,
como no poderia deixar de ser, informaram a viso do escritor Erico Verssimo (1905-
1975) sobre o Mxico, como tambm sua viso sobre os Estados Unidos, sobre os pases
europeus (Portugal, Espanha, Holanda), Israel etc. (acerca dos quais tambm escreveu
relatos de viagem). Sua origem gacha e os contatos culturais com a Amrica hispnica
(nasceu e viveu at os 24 anos na cidade de Cruz Alta, interior do Rio Grande do Sul, na
regio conhecida como Planalto Mdio) so lembrados no livro que escreveu com base
em sua viagem ao Mxico.
7
O autor recorda que aprendeu o castelhano vendo compa-
nhias circenses e grupos de teatro mambembe que circulavam pela regio. Ao conhecer
a cidade mexicana de Puebla, afrma que ela o fazia rememorar as imagens construdas
na sua infncia sobre a Espanha, particularmente a Andaluzia, a partir das companhias
que visitavam Cruz Alta, representando dramas e zarzuelas espanholas (p. 120). Curioso
trajeto imaginrio de Erico Verssimo para chegar Espanha (que ainda no conhecia)
Proj. Histria, So Paulo, (32), p. 79-95, jun. 2006 82
atravs de Cruz Alta, passando por Puebla.
O livro Mxico foi publicado originalmente, no Brasil, em setembro de 1957, resul-
tado de uma viagem de Erico Verssimo ao pas, realizada pouco mais de dois anos antes,
por quase um ms, em maio de 1955. O livro teve vrias edies pela Editora Globo de
Porto Alegre e, posteriormente, pela nova Editora Globo, de So Paulo (em 1996, foi
impressa a 11. edio).
Quando realizou sua viagem ao Mxico, em companhia de sua mulher Mafalda, o
autor vivia em Washington, Estados Unidos, cidade na qual ocupou, de 1953 a 1956
(por trs anos e cinco meses), o cargo de diretor do Departamento de Assuntos Culturais
da Unio Pan-Americana (UPA), espcie de secretaria permanente da Organizao dos
Estados Americanos (OEA), sucedendo Alceu Amoroso Lima. Verssimo j havia estado
no Mxico anteriormente, mas por perodos muito breves (em 1941, apenas uma noite,
em translado na capital, e, em 1954, por uma semana) e sentindo vivo desejo de retornar
ao pas.
Em sua funo na UPA, Verssimo percorreu vrios estados norte-americanos, diver-
sos pases da Amrica Latina Venezuela, Mxico, Panam, Porto Rico, Peru, Equador
, e teve oportunidade de conhecer muitos polticos, intelectuais e artistas hispano-ame-
ricanos: o colombiano Alberto Lleras Camargo; o chileno Carlos Dvila (ambos ocupa-
ram o cargo de secretrio-geral da UPA); o cubano Fernando Ortiz, entre outros.
8
Nessas
viagens, o autor brasileiro dividia-se entre congressos, simpsios, conferncias, cursos e
atividades diplomticas ligadas OEA.
Cansado de suas atividades burocrticas em Washington, o autor decide passar suas
frias no Mxico. E explicita, no prlogo, suas impresses da capital norte-americana:
um burgo encantador, um modelo de organizao. No entanto, confessa que esta ci-
dade simtrica, que funciona como uma mquina eletrnica de selecionar fchas, comea
a me cansar e emburrecer. Desde que cheguei, no escrevi uma linha sequer. No sinto
gana (p. 1-3). E, por fm, revela:
[...] em suma, estou cansado deste mundo lgico, anseio por voltar, nem que seja por
poucos dias, a um mundo mgico. Sinto saudade da desordem latino-americana, das
imagens, sons e cheiros de nosso mundinho em que o relgio apenas um elemento
decorativo e o tempo, assunto de poesia. Dem-me o Mxico, o mgico Mxico, o
absurdo Mxico! (p. 3)
Verssimo pergunta-se como possvel existirem, to prximos, pases to diferentes
um do outro, e at que ponto a infuncia americana estar modifcando o carter e os
costumes mexicanos?, e espera, na viagem, conseguir obter algumas respostas (p. 13).
Proj. Histria, So Paulo, (32), p. 79-95, jun. 2006 83
Ao regressar ao Brasil, em setembro de 1956, Verssimo tinha como um de seus
principais objetivos a redao da ltima parte de o tempo e o vento: O arquiplago. En-
tretanto, como ele mesmo nos conta, as lembranas do Mxico se impuseram. No vero
de 1957, em frente mquina de escrever, com o plano decidido de iniciar o arquiplago,
comeou a desenhar: sombreros, feies indgenas, templos de fachada plateresca apa-
receram na folha de papel, e uma vontade irresistvel de escrever suas impresses de
viagem. Passou os meses seguintes a escrever sobre o Mxico, com um enorme gosto e
mpeto.
9
Seu livro um misto de relato de viagem e ensaio sobre a histria, a geografa, a
sociedade e a cultura mexicanas, alm de incluir transcries de longas conversas com
dois dos mais importantes intelectuais e artistas mexicanos, o ensasta Jos Vasconcelos e
o pintor, expoente do movimento muralista, David Alfaro Siqueiros. Mxico traz tambm
belos desenhos: reprodues de imagens pr-hispnicas e coloniais, alm de ilustraes
de sua autoria, inspiradas na paisagem que observava com agudeza.
10
O livro estruturado da seguinte maneira: so doze captulos, dos quais o primeiro e
o ltimo coincidem, previsivelmente, com o incio e o fm da viagem. Entretanto, o autor
intercala seu relato com captulos em que procura sintetizar alguns dos momentos mais
marcantes da histria mexicana, desde o perodo pr-hispnico, a partir de clssicos da
historiografa, cronistas da poca colonial, autores mexicanos, britnicos, entre outros.
11
No captulo 8, dedica-se a transcrever seus Colquios com Jos Vasconcelos, nos
quais o autor intercala narrativas e provocaes ao seu interlocutor sobre os mais marcan-
tes perodos da histria poltico-social do pas: a conquista e a colonizao espanholas,
o movimento de independncia, a ditadura do General Santa Anna, a perda do Texas e a
guerra entre Mxico e Estados Unidos, o papel da Igreja Catlica e a Reforma liderada por
Jurez, a interveno francesa e o curto perodo monrquico de Maximiliano, a ditadura
de Porfrio Daz e a Revoluo de 1910. Os sete colquios so encerrados com refexes
de Vasconcelos sobre os governos de lvaro Obregn (1920-24), do qual foi o respons-
vel pela pasta da Educao, e de Plutarco Elas Calles (1924-28). A transcrio das con-
versas interrompida por explicaes e refexes do prprio Erico Verssimo, inclusive
contestando gentilmente seu interlocutor. Voltaremos aos colquios mais adiante.
No livro, como se espera de um relato de viagem, o autor tambm narra suas an-
danas, impresses e experincias, em vrias cidades e pueblos, localizados, principal-
mente, na regio central do pas: a capital, Puebla, Cholula, Oaxaca, Cuernavaca, Taxco,
Guanajuato, Quertaro, entre outros.
12
Nesses relatos, o autor narra episdios curiosos;
comenta sobre personagens marcantes; trata de aspectos da vida cotidiana e dos hbitos
mais comuns das populaes locais; faz observaes sobre a paisagem, o clima, a arqui-
tetura, a organizao espacial das cidades, os stios arqueolgicos, a produo artstica, a
Proj. Histria, So Paulo, (32), p. 79-95, jun. 2006 84
linguagem, o teatro, a msica, o artesanato, a culinria, os frutos nativos, os animais, os
mercados populares, as lojas, as festas, os restaurantes, as pulqueras.
13
Dedica um espao considervel para tratar do movimento muralista e narra dois
longos encontros com Siqueiros, entremeados de conversas, histrias curiosas, passeios,
visitas s obras do artista. Nesse captulo, alm de consideraes sobre Orozco, Rivera,
Siqueiros e Tamayo, faz referncia importncia do trabalho do famoso gravurista Jos
Guadalupe Posada (p. 214-215).
14
Verssimo um admirador da produo artstica dos muralistas, em especial de Si-
queiros, com o qual trava amizade, a despeito das divergncias ideolgicas. Sobre os
expoentes do movimento, afrma, demonstrando arguta sntese:
De todos os muralistas mexicanos, Rivera talvez o que tem a obra mais vasta, o mais
apegado aos processos clssicos do afresco e o que melhor desenha. Orozco era indis-
cutivelmente o mais trgico, embora o menos espetacular. Tenho, porm, a impresso
de que nenhum possui como Siqueiros o esprito da pintura mural, o sentido plstico do
monumental. (p. 220)
O autor revela, assim, sua evidente preferncia pela fora e arrebatamento dos afres-
cos de Siqueiros. Sobre a arte engajada, defendida, de um modo geral, pelos muralistas,
tambm expressa sua posio: no acho que o artista deva fazer arte engag, poltica,
interessada; penso que ele poder, se quiser, seguir esse caminho. E, se tiver talento, con-
seguir conciliar arte com propaganda, embora isso no seja nada fcil (p. 226).
Erico revela-se, ao longo de todo o livro, um intelectual aberto refexo crtica e
s idias divergentes, o que fca expresso nas conversas com Vasconcelos e Siqueiros, os
dois em plos opostos do espectro poltico: Vasconcelos, nessa fase da sua vida, pendia
decididamente para a direita, com uma indisfarvel simpatia pelas idias franquistas;
Siqueiros foi um notrio militante stalinista e integrou as fleiras do Partido Comunista
Mexicano.
15
Verssimo, por sua vez criticado, em diversos momentos de sua vida pelas es-
querdas e por setores de direita , autodeclarou-se dentro do campo do humanismo
socialista. E antecipou possveis questionamentos, em texto denominado O escritor e
o espelho, publicado no segundo volume de suas memrias: Por que socialista? ho
de perguntar. Porque o extremismo da esquerda e o da direita no passam de faces da
mesma moeda totalitria; e porque o centro quase sempre o conformismo, a indiferena,
o imobilismo.
16
Ao longo de sua vida, Verssimo manifestou-se publicamente contra regimes ditato-
riais fliados a diferentes vertentes poltico-ideolgicas e a favor dos direitos humanos
Proj. Histria, So Paulo, (32), p. 79-95, jun. 2006 85
e civis, defendeu o direito s liberdades individuais e pblicas e a justia social. Como
argumento para defender sua autodefnio poltica, o autor afrmou: um erro imaginar
que socialismo e liberdade so termos ou idias que se contradizem. Fez referncias ao
prprio Marx e citou os frankfurtianos Erich Fromm e Herbert Marcuse, como suportes
de suas convices ideolgicas.
17
Erico Verssimo pode ser considerado um social-demo-
crata, no sentido mais usual do termo, ou seja, defensor convicto da democracia com um
claro sentido de justia social.
18
Penso que situar o autor do ponto de vista poltico-ideol-
gico fundamental para compreendermos sua viso sobre a trajetria histrica mexicana,
marcada de forma indelvel pelos embates e confitos poltico-sociais.
Suas convices e referncias intelectuais so evidenciadas em sua obra. O penl-
timo captulo de Mxico, escrito, segundo o prprio autor, dois anos depois do fnal da
viagem, um ensaio sobre o carter social e a psicologia do mexicano. Como ele ad-
mite, infuenciado por trs clssicos do pensamento mexicano: El laberinto de la soledad
(1950), de Octavio Paz; El perfl del hombre y la cultura en Mxico (1934), de Samuel
Ramos; e Mito y magia del mexicano (1952), de Jorge Carrin.
Nesse captulo, Verssimo discorre sobre o territrio, o clima, a composio tnica,
a linguagem, os gestos, a psicologia coletiva, as festas, a noo de tempo, o sentido da
morte, a religiosidade e, fnalmente, acerca das relaes entre Mxico e Estados Unidos,
inclusive no que se refere s vises recprocas construdas sobre os dois pases. Esse ca-
ptulo fundamental para compreendermos a viso do autor sobre o Mxico e, tambm,
sobre os Estados Unidos.
19
O livro como um todo demonstra que o autor tinha uma grande familiaridade com a
histria e a produo cultural mexicanas, fruto de muitas leituras feitas antes e depois da
viagem. Alm dos j citados, Verssimo refere-se a importantes historiadores, flsofos,
ensastas e pensadores mexicanos como Justo Sierra, Alfonso Reyes, Leopoldo Zea,
Mariano Picn Salas, Daniel Coso Villegas, Silvio Zavala, Fernando Bentez, Ramn
Xirau , aos poetas Xavier Villaurrutia, Jos Gorostiza, Rafael Lpez e Carlos Pellicer,
alm de obras clssicas do perodo colonial, como a Historia verdadera de la conquista
de la Nueva Espaa, do historiador e cronista espanhol Bernal Daz del Castillo, e a
Historia antigua de Mxico, do jesuta Francisco J. Clavijero. Tambm faz referncias
a obras de autores norte-americanos e britnicos, que se debruaram sobre a histria e
a cultura mexicanas: George C. Vaillant, William Prescott, Frank Tannenbaum, Aldous
Huxley, Graham Greene e D. H. Lawrence.
Percebe-se que Verssimo cercou-se de trabalhos historiogrfcos de diversas verten-
Proj. Histria, So Paulo, (32), p. 79-95, jun. 2006 86
tes tericas, ensaios, relatos de viagem (como Beyond the Mexico Bay, de Aldous Huxley)
e romances (como A Serpente Emplumada, de D. H. Lawrence), revelando sua inteno
de tentar compreender no s a trajetria histrica e os traos culturais do pas, mas as
imagens construdas sobre o Mxico por distintos autores e variadas formas de expres-
so.
20
Todas essas fontes foram lidas e comentadas com evidente esprito crtico. Como
exemplo, podemos citar suas observaes sobre os livros dos britnicos Huxley e Graham
Greene: afrma que o primeiro parece no ter gostado do Mxico e o segundo, escreveu
um livro sobre o pas com indisfarvel m vontade e incompreenso (p. 216).
Conforme j ressaltamos, seu cargo na OEA permitiu ao autor conhecer muitos in-
telectuais e artistas do continente, facilitando o estabelecimento de uma sociabilidade
intelectual que fca demonstrada no livro. Como sabemos, as atividades diplomticas
foram (e ainda so, em menor grau) importantssimas para o incremento da sociabilida-
de intelectual nas Amricas. Alm dos encontros j citados, Verssimo faz referncia a
uma conferncia que pronunciou na Universidade do Mxico (um Paralelo entre lati-
nos e gringos), a uma palestra de Diego Rivera sobre arquitetura moderna (que assistiu
por ocasio da viagem) e a encontros e passeios conjuntos com Vianna Moog e Aurlio
Buarque de Holanda, ento no pas.
21
Tambm evidente que o autor escreveu seu livro pensando em um leitor que des-
conhecesse a histria e a cultura mexicanas. Os captulos em que sintetiza a histria do
pas, os colquios com Vasconcelos, as conversas com Siqueiros, a descrio das cidades
e pueblos, as consideraes sobre a cultura e a psicologia mexicanas, tudo isso somado
(num livro de cerca de 300 pginas), demonstra a inteno de revelar o Mxico para
o leitor, com seus encantos, contradies, dilemas e ambigidades. Verssimo quis apro-
ximar seu leitor da magia do Mxico, segundo ele mesmo afrma, e da pluralidade da
cultura mexicana. Mas, como prprio dos relatos de viagem, tambm quis fazer do
leitor um companheiro dessa viagem.
O Mxico de Verssimo , ao mesmo tempo, indgena, barroco e moderno. Em sua
visita ao Zcalo (praa central da Cidade do Mxico), os elementos contrastantes estimu-
lam sua inventividade, levando-o a imaginar um cataclismo:
Se um grande terremoto derribasse um dia esta igreja [a catedral] e estes palcios,
revolvendo o solo, possivelmente veramos surgir do ventre da terra o cadver de Te-
nochtitln, a que se misturariam os escombros do Mxico colonial e os da metrpole
do sculo XX com seus arranha-cus, cinemas, night clubs, e soda fountais ... E nossos
olhos testemunhariam cenas espantosas, como por exemplo a cabea dum dolo asteca
Tezcatlipoca ou Quetzalcoatl coroada com um desses discos vermelhos da Coca-
Proj. Histria, So Paulo, (32), p. 79-95, jun. 2006 87
Cola que vemos sacrilegamente pregados nas faces destas velhas arcadas. (p. 35)
E, ao se referir s audcias arquitetnicas (p. 289) da Cidade Universitria, na
capital, afrma:
Quem partindo do Zcalo, das runas do Templo Maior e, passando pelos palcios
representativos do perodo colonial, pelos edifcios afrancesados da era porfriana, e
pelos arranha-cus imitativos dos Estados Unidos chegar a esta Universidade, ter
no s percorrido mais de quatrocentos anos da Histria do Mxico como tambm ser
recompensado com o privilgio de ter um luminoso vislumbre de seu futuro. (p. 48)
Futuro que, para ele, estava diretamente relacionado ao Mxico contemporneo
nascido do processo revolucionrio do incio do sculo XX , um pas que ainda estava
buscando, nos anos 1950, afrmar sua identidade (p. 191).
Ao longo de seu livro, Verssimo vai expondo sua viso sobre o pas. Em contraste
com uma intelectualidade brasileira voltada predominantemente para o universo cultural
europeu, o autor revela uma sensibilidade aguada e um interesse efetivo em compreen-
der o Mxico. Em uma das suas passagens mais interessantes, ao refetir sobre as igrejas
e conventos visitados em Puebla e Cholula (a antiga cidade sagrada dos toltecas), per-
gunta-se:
[...] no ter sido o barroco mexicano uma reao indgena contra a arquitetura que os
espanhis trouxeram para o Mxico logo depois da Conquista? Corts e seus soldados
arrasaram os templos astecas, e os missionrios catlicos, muitas vezes usando das pr-
prias pedras dos teocallis destrudos, ergueram suas igrejas nas quais havia muito mais
Idade Mdia que Renascimento, templos, em suma, que na sua sombria sobriedade de
linhas e tons, nada diziam alma dos ndios, to vida de ornamentos e cores vivas. An-
tes mesmo de o barroco espanhol ser trazido para o Mxico, j de certo modo os ndios
o haviam antecipado ao esculpir colunas, fachadas, imagens e altares.
E continua:
Ora, os frades desde o princpio tiveram de contar para a construo de seus templos
com trabalhadores locais, ndios ou mestios (...). O controle que exerciam sobre (...)
[eles] era limitado, de sorte que podiam os mexicanos dar expanso quase livre fan-
tasia, interpretando sua maneira os riscos e modelos dos padres. Essa a razo por
que vemos em tantos destes altares anjos, arcanjos, querubins, santos e at Cristos com
caras inditicas. (p. 115-116)
22
Ainda segundo Verssimo, os clrigos teriam no s percebido essa reao como a
encorajado, dentro da estratgia de converso dos indgenas ao catolicismo.
Proj. Histria, So Paulo, (32), p. 79-95, jun. 2006 88
Reforando sua interpretao, ressalta que a Nova Espanha era um ponto de encon-
tro das mais diversas culturas: a europia, a indgena, a africana e a asitica (p. 118). E
ressalta que as imbricaes culturais ocorreram em ambas as direes: ndios e espanhis
infuenciaram-se mutuamente, criando, dessa forma, novas expresses culturais:
[...] no momento mesmo em que os Conquistadores erguiam suas casas e palcios
imagem e semelhana dos que tinham deixado em sua ptria, do outro lado do mar, j
comeavam a sofrer a infuncia do povo que haviam submetido. No era apenas o fato
de estarem usando o material e at certo ponto a tcnica de construo dos nativos. Era
mais que isso, misteriosa e imponderavelmente mais que isso. (p. 35)
Essas passagens do texto mostram que Erico Verssimo j percebia como se proces-
savam certos mecanismos de mestiagem cultural na Nova Espanha, nos sculos XVI e
XVII, recentemente estudados por Serge Gruzinski.
23
Seu olhar sobre os ndios, entretanto, ambguo. Esfora-se para sentir empatia por
eles, mas, no decorrer da obra, percebe-se que essa empatia no se estabelece.
Aps conhecer um jovem estudante em Cholula, de clara ascendncia indgena, por
quem sente viva simpatia, afrma: Benito Jurez era ndio. O nosso Rondon ndio. E
h idiotas que continuam a falar em raas inferiores e raas superiores. Mito, puro mito
(p. 128). Entretanto, algumas pginas a seguir, no mercado de Oaxaca, no setor das comi-
das, ao observar a sujeira e o aspecto um tanto repugnante dos pratos e panelas expostos,
deixa sua impresso vir tona: Parados diante das tendas, ndios comem. Parecem roe-
dores. So pacas, rates-do-banhado, esquilos, lebres, no meio desta foresta, indiferentes
passagem ou vizinhana dos outros bichos (p. 158).
Em vrias passagens do livro, reala o que ele chama de imobilidade e mime-
tismo do ndio. Ao atravessar Chihuahua de trem, no incio da viagem, e descrever a
terra, os ndios e as casas, todos da mesma cor (um pardo acobreado), afrma: Como a
paisagem, o ndio desta regio triste, seco e solitrio. (...) Comeo a ter a impresso de
que o ndio mexicano no nasce como os outros mortais: brota do solo como uma planta
(p. 10). Reala, ainda que literariamente, como faz questo de ressaltar, a natureza ve-
getal ou mineral de certas etnias indgenas: No aspecto geral do ndio estaro o peso
e a cor sombria do chumbo. Na sua atitude esquiva, a qualidade resvaladia e arisca do
mercrio. Na pele, o cobre. O carvo nos olhos (pp. 10 e 11). E ainda refora, no penlti-
mo captulo: Sua capacidade de apagar-se no apenas psicolgica ou sociolgica, mas
tambm fsica, pois por um curioso mimetismo defensivo, como o de certos animais, o
ndio mexicano como que consegue diluir-se na paisagem (p. 258).
Mais adiante, deixa ainda mais claro o que pensa dos indgenas: povo primitivo,
dominado pelo pensamento mgico e de alma infantil. Assim, explica a adorao
Proj. Histria, So Paulo, (32), p. 79-95, jun. 2006 89
Virgem de Guadalupe, que teria ocupado o lugar deixado vazio com a morte dos seus
deuses e passado a representar a me de todos os mexicanos. Segundo a tradio, a apari-
o da Virgem Morena ocorreu exatamente no lugar onde havia o templo asteca dedicado
a Tonantzin, a deusa da terra e do milho (pp. 278-280).
Nesse sentido, Erico aceita, de certa forma, as opinies de Jos Vasconcelos, que de-
fende com veemncia, nos Colquios, a Espanha e a Igreja Catlica, e chega a afrmar:
A Espanha no destruiu nada no Mxico porque nada existia aqui digno de conservar-
se quando ela chegou a estas regies, a menos que se considere sagrada toda essa erva
daninha da alma que so o canibalismo dos caribes, os sacrifcios humanos dos astecas,
o despotismo embrutecedor dos incas. Por fortuna foram os espanhis os que primeiro
aqui chegaram, e graas a isso rica a histria desta regio do Novo Mundo, como no
a da zona ocupada pelos puritanos (p. 169).
Vasconcelos, como reconhece o prprio Verssimo, um dos principais expoentes da
corrente hispanista no Mxico. Faz elogios evidentes tradio europia latina, fliando-
se claramente corrente arielista.
24
De maneira coerente, o ensasta mexicano um crtico
duro das medidas anticlericais tomadas durante a Reforma do sculo XIX e no contexto
da Revoluo Mexicana, particularmente no governo Calles. Vasconcelos critica dura-
mente as interferncias norte-americanas, ocorridas em diversos momentos da histria
mexicana, e conclui: creio que toda a conquista causa danos tanto aos conquistados
como aos conquistadores. Aos conquistados, porque os envilece e aos conquistadores
porque desenvolve neles o militarismo que acaba por corromper as melhores naes
(p. 187).
Mas acrescenta: H um direito de humanidade que est acima dos abusos da barb-
rie. (...) cada vez que isso acontece, (...) a conquista estrangeira limpa a sangue e fogo a
sociedade corrompida (p. 187-188).
Como admite o autor brasileiro, Vasconcelos continua defendendo a Espanha e Her-
nn Corts.
Erico Verssimo tem muitas divergncias em relao s vises de Jos Vasconcelos
sobre a histria mexicana, e provoca seu interlocutor com crticas violncia e crueldade
dos conquistadores particularmente de Corts , e excessiva concentrao de riquezas
e corrupo do clero (pp. 168-70 e 182). Contudo, perceptvel que, ao fm das contas,
considera a colonizao espanhola um marco civilizador ante a barbrie pr-hispnica
(p. 258).
Ao discorrer sobre a Revoluo Mexicana, defagrada em 1910, o autor revela co-
nhecimento do processo e sensibilidade para entender seus impasses (pp. 190-192). Nos
dilogos com Vasconcelos, o escritor gacho busca junto a um dos principais atores do
Proj. Histria, So Paulo, (32), p. 79-95, jun. 2006 90
processo poltico mexicano na poca compreender melhor as dcadas de 1910 e 1920,
perodo decisivo na histria do pas (pp. 192-205). Durante todas as conversas, Vers-
simo ouve atentamente Vasconcelos, sem, no entanto, deixar de contest-lo e de revelar
ao leitor que a despeito da clareza de seus argumentos , em relao a diversos temas
e personagens, as interpretaes do ensasta mexicano eram evidentemente parciais e
tendenciosas.
25
No podemos esquecer que Vasconcelos foi candidato presidncia, em
novembro de 1929, em oposio a Pascual Ortiz Rubio aliado de Calles e vencedor do
pleito, sob suspeita de fraude.
Os colquios com o romancista brasileiro revelaram em Vasconcelos um homem
amargurado com os rumos de seu pas. O intelectual que nos anos 1920, como ministro
da Educao apostou em um amplo programa de alfabetizao, na expanso da educa-
o pblica, no estmulo produo cultural, na viabilizao do acesso das massas popu-
lares cultura e arte (por exemplo, atravs dos murais pintados em edifcios pblicos),
na utopia expressa em La raza csmica, trs dcadas depois, aos 73 anos, parecia haver
abandonado seus sonhos.
26
Verssimo manifesta sua percepo sobre o contraste entre es-
ses dois momentos da vida do autor mexicano e da trajetria do prprio pas, ao referir-se
s obras dos muralistas, incentivadas por Vasconcelos:
E o curioso que todas essas alegorias francamente comunistas foram pintadas nas
paredes do Ministrio de Educao
27
dum pas cujo governo, nos ltimos tempos, tem
derivado se no um pouco para a direita, pelo menos para o centro. E quem ofereceu
estas paredes antes vazias aos pintores marxistas foi um homem que hoje catlico
fervoroso. (p. 219)
O autor gacho termina sua narrativa sobre a histria do Mxico referindo-se ao
governo Lzaro Crdenas (1934-40) e declarando pronunciada simpatia por esse pre-
sidente que marcou a histria poltica mexicana. O autor brasileiro destaca a distribuio
de terras; o apoio aos direitos dos trabalhadores e aos sindicatos; a ateno educao e
sade; a expropriao das companhias petrolferas; o apoio Repblica durante a Guerra
Civil Espanhola e a abertura do Mxico aos republicanos exilados. No resta dvida de
que Erico viu na gesto Crdenas um projeto bem-sucedido de governo voltado para os
problemas nacionais e as questes sociais (pp. 206-208).
O penltimo captulo, intitulado O mexicano, fundamental, pois nele que o
autor sintetiza, com mais clareza, sua viso sobre o pas.
28
Escreveu esse captulo, como
j afrmamos, dois anos depois de deixar o Mxico.
A carncia de gua em vastas reas do territrio (nas regies norte e central) e a es-
cassez de terras frteis levaram a histria mexicana, segundo o autor, a resumir-se numa
luta pela posse da terra (p. 257). Para Erico Verssimo, a sntese do mexicano o mesti-
Proj. Histria, So Paulo, (32), p. 79-95, jun. 2006 91
o, maioria da populao e o que melhor representa o pas: o mestio, como a prpria
nao mexicana, um produto da violncia e da cupidez do espanhol, ser hbrido,
centauro (pp. 258-259). E acrescenta:
Se considerarmos o ndio pr-cortesiano como representante dum mundo catico sem
unidade nacional, dividido por diferenas de lngua, costumes, interesses em confito, e
outras rivalidades, e se encararmos o espanhol como uma fgura estranha a todo aquele
meio brbaro teremos de reconhecer que o mestio foi mesmo, desde os primeiros
tempos da Colnia, o elemento mais importante da populao mexicana, talvez o nico
a ter realmente uma idia ou, melhor, um desejo de nao. (p. 258, grifo no original)
O autor ressalta alguns dos traos principais, segundo ele, da psicologia do mexi-
cano: reserva, desconfana, suscetibilidade, patriotismo exacerbado, estoicis-
mo. Caractersticas essas herdadas desse nascimento doloroso que foi a Conquista e
aguadas pela sucesso de trgicos eventos, decepes e derrotas do pas e do povo, alm
do perigo representado pela geografa (terremotos, vulces, furaces) e pela presena dos
Estados Unidos como vizinho poderoso: uma atmosfera nacional saturada de ameaas
(p. 266). Ao mesmo tempo, identifca uma atitude peculiar diante da morte apenas uma
fase dum ciclo infnito, em que morte e vida se alternam , herdeira das concepes in-
dgenas. Diante dessa constatao, o romancista se pergunta: Se a morte a maior fonte
de angstia do homem, e se o mexicano no a encara com horror, de onde vem o drama
de que est saturada a vida deste povo? Eu diria que vem da prpria angstia de viver, da
fatalidade da vida (p. 274).
Para fazer as refexes constantes nesse captulo inspira-se, principalmente, como j
observado alm, evidentemente, de suas prprias experincias e impresses , nas in-
terpretaes de Octavio Paz, Samuel Ramos e Jorge Carrin, citados no incio e ao longo
do captulo.
O autor, apesar de reconhecer todos os perigos de fazer afrmaes categricas sobre
o carter social dum povo, acaba, em grande medida, por cair nessa tentao. Resume as
divergncias entre os Estados Unidos e o Mxico do seguinte modo: o americano um
povo lgico, o mexicano um povo mgico. Vivem dentro de coordenadas diferentes. E
reitera: Para os americanos, povo de ao, o importante fazer. Para o mexicano, povo
de paixo, o importante ser (p. 286). Temos nessa passagem a conhecida dicotomia: de
um lado, razo e pragmatismo, caractersticos dos norte-americanos, e, de outro, magia e
paixo, traos dos latino-americanos.
Ao voltar aos Estados Unidos e admitir sua oscilao entre esses dois mundos, ques-
tiona-se: entre a tese americana e a anttese mexicana, o Brasil possa vir a ser um dia a
Proj. Histria, So Paulo, (32), p. 79-95, jun. 2006 92
desejada sntese. Y quin sabe ? (p. 303). Curiosa insero do Brasil, entre o Mxico e
os Estados Unidos. O autor v o Brasil como um lugar intermedirio entre essa Amrica
mgica, representada pelo Mxico, e a racionalidade ocidental, representada pelos Esta-
dos Unidos. Olhar o outro permite sempre um olhar sobre si mesmo.
Diferentemente de muitos viajantes europeus que escreveram relatos sobre suas via-
gens pela Amrica Latina e pela frica, com uma pretensa autoridade do observador
inclusive em obras recentes, escritas na dcada de 1970 , o olhar de Verssimo sobre o
Mxico no pretende condenar, trivializar e dissociar-se radicalmente do que v,
conforme as refexes de Mary Louise Pratt a partir da anlise de relatos de viagens de
autores europeus, como o italiano Alberto Moravia pela frica Ocidental ou o norte-
americano Paul Theroux pela Amrica Latina.
29
Erico Verssimo buscou no Mxico apesar de sua incapacidade, assumida, para
compreender os valores e referncias culturais das populaes de origem indgena re-
ferncias de identidade, como brasileiro e latino-americano. Em seu livro, so fartas as
manifestaes de encantamento, inquietao intelectual e empatia com aquilo que o au-
tor/viajante v e experimenta, a despeito de certas afrmaes e concluses genricas e
discutveis, principalmente no captulo O mexicano.
Como todo viajante, o autor no pode se furtar a comparar paisagens, costumes,
particularidades mexicanas com seus equivalentes no Brasil e nos Estados Unidos. Mas
seu livro permeado por afrmaes de afeto e busca de identifcao com o Mxico,
muito mais do que as revelaes de estranhamento e incompreenso. Sua afetividade se
expressa em passagens como a seguinte:
[...] eu me sinto irmo destes mexicanos, irmo pelo menos na carne, se no no esprito.
Minha mulher j declarou que a maioria destes indiozinhos, de cara morena e redonda,
duros e lisos cabelos negros, parecem todos meus flhos naturais. Aceito a paternidade
com esquisita e terna alegria. (p. 112)
No podemos esquecer que o autor foi ao Mxico a partir dos Estados Unidos, onde,
a despeito da ordem, disciplina e conforto de sua vida em Washington, sentia, exatamente
por isso, que aquele no era completamente seu mundo, revelando um sentimento amb-
guo: de um lado, aprovao e atrao pelos Estados Unidos e seus valores culturais e, de
outro e ao mesmo tempo , deslocamento, inadequao e enfado.
A reduplicao do olhar do viajante latino-americano, conforme Myriam vila,
ou a mirada estrabica, como pensada por Ricardo Piglia,
30
no esto completamente
ausentes em Mxico o prprio autor lembra que suas primeiras impresses sobre o pas
vieram, ainda na infncia, atravs de fotografas da Revoluo Mexicana estampadas em
Proj. Histria, So Paulo, (32), p. 79-95, jun. 2006 93
velhos nmeros da revista parisiense LIllustration e, mais tarde, atravs dos flmes de
Hollywood, em que o mexicano fazia sempre o papel de hombre malo e o Mxico era
apresentado como uma espcie de terra de ningum assolada por bandidos, vulces, ses-
tas largas e ndios bbados (p. 190). Mas Erico, no seu af de entender o Mxico, antes
de escrever seu livro, debruou-se, principalmente, sobre as representaes e interpreta-
es mexicanas sobre o pas e buscou ler criticamente suas fontes (tanto as mexicanas
como as britnicas ou norte-americanas). Dessa forma, seu relato , ao mesmo tempo, um
olhar exterior e interior do pas, ou melhor, um olhar exterior que buscou interiorizar-se.
Diferentemente de muitos dos escritores e viajantes analisados por Mary Louise Pratt e
Edward Said, Verssimo buscou, efetivamente, sentir e compreender o Mxico. Seu livro
revela as singularidades do olhar de latino-americanos sobre outros latino-americanos:
um misto de identidade e estranhamento. As profundas referncias ocidentais e no oci-
dentais de nossas formaes culturais, em permanente hibridao, possibilitam esse olhar,
tambm ele, hbrido.
Termino, deixando o lado potico de Erico Verssimo manifestar-se: Quantos anos
precisarei para digerir o Mxico? Quantas vidas devia viver para compreend-lo? Mas um
consolo me resta e basta. No preciso nem de mais um minuto para am-lo (p. 302).
Recebido em maro/2006; aprovado em maio/2006.
Notas
*
Verso preliminar deste texto foi apresentada no VI Encontro da ANPHLAC Associao Nacional de Pes-
quisadores de Histria Latino-Americana e Caribenha, realizado na UEM, Maring, PR, julho de 2004.
**Professora de Histria da Amrica no Departamento de Histria da FAFICH-UFMG; mestre e doutora
em Histria pela Universidade de So Paulo.
1
Cf. BAGGIO, K. G. A outra Amrica: a Amrica Latina na viso dos intelectuais brasileiros das primei-
ras dcadas republicanas. Tese de doutorado. Departamento de Histria. So Paulo, FFLCH-USP, 1998.
2
Cf. PRADO, M. L. C. O Brasil e a Distante Amrica do Sul. Revista de Histria, n. 145, pp. 127-149,
2001.
3
Cf. VILA, M. Peripatografas. Consideraes sonre o motivo da viagem na literatura latino-americana
contempornea, a partir de Hctor Libertella. In: MACIEL, M. E. et alii. Amrica em movimento: ensaios
sobre literatura latino-americana dos culo XX. Rio de Janeiro, Sette Letras, 1999, pp. 113-128.
4
Cf. SAID, E. Cultura e imperialismo. So Paulo, Companhia das Letras, 1995.
5
Cf. VILA, op. cit., p. 118.
Proj. Histria, So Paulo, (32), p. 79-95, jun. 2006 94
6
CF. SAID, E. Orientalismo: o Oriente como inveno do Ocidente. So Paulo, Companhia das Letras,
1990.
7
Usei a terceira edio: VERSSIMO, E. Mxico: histria duma viagem. 3 ed. Porto Alegre, Globo, 1964.
Todas as citaes de trechos da obra foram retiradas dessa edio. No corpo do texto so feitas indicaes
apenas do nmero da(s) pgina(s). Na dcima primeira edio (So Paulo: Globo, 1996), pode ser consultada
a bibliografa usada pelo autor (pp. 301-302).
9
Cf. VERSSIMO, E. Solo de clarineta: memrias (segunda parte, pstuma, organizada por Flvio Loureiro
Chaves). Porto Alegre, Globo, 1976.
8
Era inteno de Verssimo incluir, no segundo volume de suas memrias, Solo de clarineta, relatos de
viagens ainda no escritos e/ou publicados (pelas Antilhas e por pases europeus) e impresses sobre pes-
soas relevantes em sua vida e trabalho. Entre elas, no plano da obra inacabada (de publicao pstuma),
Verssimo mencionou o cubano Alejo Carpentier, o guatemalteco Miguel ngel Asturias, os venezuelanos
Arturo Uslar Pietri e Mariano Picn Salas e os espanhis Federico de Ons, Juan Ramn Jimnez, Am-
rico Castro e Ramn J. Sender. Como sabemos, infelizmente, Verssimo morreu antes de completar suas
memrias, tendo deixado escritas apenas narrativas acerca das viagens a Portugal, Espanha (inconclusa)
e Holanda. Suas impresses no escritas sobre os amigos e intelectuais que conheceu e com os quais con-
viveu ao longo de sua vida (no Brasil, nos Estados Unidos, na Amrica Hispnica e na Europa) seriam de
inestimvel valia para recuperarmos a sociabilidade intelectual do autor gacho. Ver VERSSIMO. Solo
de clarineta: memrias. Porto Alegre, Globo, 1976, v. 2, p. 257.
10
O autor afrmou que havia nele um pintor frustrado. Ver VERSSIMO. Mxico. 3 ed., Porto Alegre,
Globo, 1964, p. 110.
11
Ver captulos 2, 4 e 5.
12
Os relatos acerca das vrias localidades visitadas esto nos captulos 3, 6, 7, 9,10 e 12.
13
Tabernas, vendas ou bares onde se vende bebida alcolica.
14
Sobre o movimento muralista, ver o captulo 9, pp. 214-229.
15
Sem esquecer o envolvimento de Siqueiros, em 1940, no primeiro atentado (fracassado) a Trotsky, ento
exilado no Mxico. Acusado e preso, foi para o exlio, retornando ao seu pas apenas em 1944.
16
Uma primeira verso desse texto, intitulada O escritor diante do espelho, j havia sido publicada na
edio da Fico Completa, Rio de Janeiro, Aguilar, 1966, v. III. Ver tambm VERSSIMO, Solo de clarineta:
memrias (segunda parte, pstuma, organizada por Flvio Loureiro Chaves). Porto Alegre, Globo, 1976.
17
Ibid. Cf. tambm FRESNOT, D. O pensamento poltico de Erico Verssimo. Rio de Janeiro, Graal,
1977.
18
APTER, D. E. Social-democracia. In: OUTHWAITE, W. e BOTTOMORE, T. (eds.). Dicionrio do
pensamento social do sculo XX. Rio de Janeiro, Zahar, 1996.
19
O autor escreveu dois livros em que revelou experincias e impresses acerca dos Estados Unidos co-
lhidas durante dois perodos em que o autor esteve no pas: Gato preto em campo de neve (Porto Alegre,
Globo, 1941), em que aborda a primeira viagem (durante trs meses, em 1941) e A volta do gato preto
(Porto Alegre, Globo, 1946), sobre sua segunda estada, bem mais longa (de setembro de 1943 a setembro
de 1945). Oportunamente, pretendo debruar-me sobre a viso de Erico acerca dos Estados Unidos, a partir
dessas duas obras e de suas memrias, Solo de clarineta.
20
Ver a bibliografa utilizada pelo autor, em VERSSIMO. Mxico. 11 ed. So Paulo, Globo, 1996, pp.
301-302.
21
Clodomir Vianna Moog, gacho de So Leopoldo, foi, em 1952, indicado representante do Brasil na
Proj. Histria, So Paulo, (32), p. 79-95, jun. 2006 95
Comisso de Ao Cultural da OEA, com sede na Cidade do Mxico, onde residiu por mais de dez anos
e ocupou a presidncia da Comisso. Por seu intermdio, Erico Verssimo conheceu vrios intelectuais
e artistas mexicanos. Aurlio Buarque de Holanda, por sua vez, estava no Mxico, sob os auspcios do
Itamarati, ministrando um curso intitulado Cultura Brasileira, na UNAM. Ver VERSSIMO. Mxico. 3
ed. Porto Alegre, Globo, 1964, p. 60.
22
Entre as igrejas visitadas o autor destaca a de Santa Mara Tonantzintla e a de San Francisco Acatepec
que, para ele, representam a indianizao do catolicismo, sobretudo a primeira (p. 131).
23
Cf. GRUZINSKI, S. O pensamento mestio. So Paulo, Companhia das Letras, 2001.
24
Sobre o arielismo, ver ROD, J. E. Ariel. Campinas, SP, Editora da Unicamp, 1991, e MITRE, A.
Fenmenos de massa na sociedade oligrquica: o despontar da modernidade em Ariel de Rodo. In: O
dilema do Centauro. Ensaios de teoria da histria e pensamento latino-americano. Belo Horizonte, Ed.
UFMG, 2003, pp. 103-21.
25
O autor esclarece que, apesar dos colquios no terem sido taquigrafados, as palavras do escritor mexi-
cano foram reproduzidas felmente. Informa tambm que foram inseridos, com autorizao de Vasconcelos,
trechos do seu livro Breve historia de Mxico, acerca de acontecimentos, personagens e idias discutidos
nos dilogos (nota na p. 205).
26
Regina Ada Crespo j tinha observado essa amargura que Vasconcelos revela em suas conversas com
Verssimo. Ver CRESPO, R. A. Cultura e poltica: Jos Vasconcelos e Alfonso Reyes no Brasil (1922-1938).
Revista Brasileira de Histria, vol. 23 (jul.), n. 45, pp. 187-208, 2003. Ver tambm, da mesma autora: Mes-
sianismos culturais: Monteiro Lobato, Jos Vasconcelos e seus projetos para a nao. Tese de Doutorado.
So Paulo, Depto. de Histria da FFLCH-USP, 1997.
27
Verssimo faz referncia aos afrescos pintados nas paredes do edifcio sede da Secretara de Educacin
Pblica, SEP.
28
O captulo 11, O mexicano, est dividido em trs partes A terra, O povo e Aspectos da vida e
do carter mexicanos que, por sua vez, esto assim subdivididas: A terra: Confgurao, Clima; O
povo: Grupos raciais, O mestio, O campo e a cidade; Aspectos da vida e do carter mexicanos: Lngua,
Cortesia, Gestos, Cantinfas e o pelado, A desconfana, Suscetibilidade, Patriotismo, Festas, Touradas,
Tempo, Estoicismo, Humorismo, A morte, O dia dos mortos, Religio, A Virgem Morena, Igreja e Estado,
Dilogo, Mxico e Estados Unidos (pp. 255-89).
Você também pode gostar
- FichamentoDocumento32 páginasFichamentoFran SilvaAinda não há avaliações
- A Poesia Revolucionaria de Jose Marti BR PDFDocumento10 páginasA Poesia Revolucionaria de Jose Marti BR PDFWilliany Freitas100% (1)
- La Relación Entre Rama y CandidoDocumento21 páginasLa Relación Entre Rama y CandidoFélix EidAinda não há avaliações
- Artigo Sobre Os Povos Indígenas e o Imaginário NacionalDocumento20 páginasArtigo Sobre Os Povos Indígenas e o Imaginário NacionalJan R. GuerraAinda não há avaliações
- SCHEMES, Elisa Freitas. A Literatura de Viagem Como Gênero Literário e Como Fonte de PesquisaDocumento13 páginasSCHEMES, Elisa Freitas. A Literatura de Viagem Como Gênero Literário e Como Fonte de PesquisaBEATRIZ SOARES DOS SANTOS SILVAAinda não há avaliações
- Maria Ligia Prado - O Brasil e A Distante America Do SulDocumento23 páginasMaria Ligia Prado - O Brasil e A Distante America Do SulRaynara MacauAinda não há avaliações
- Avaliação (2) 2º Ano RegularDocumento4 páginasAvaliação (2) 2º Ano RegularRaquel BicalhoAinda não há avaliações
- O Pensamento de Eduardo Prado e A América Hispânica Como Exterior Constitutivo Do Brasil em Fins Do Século XIX e Princípios Do Século XXDocumento17 páginasO Pensamento de Eduardo Prado e A América Hispânica Como Exterior Constitutivo Do Brasil em Fins Do Século XIX e Princípios Do Século XXJan MertensAinda não há avaliações
- Os Retratos e A Identidade Brasileira em O CortiçoDocumento24 páginasOs Retratos e A Identidade Brasileira em O CortiçoMelquisedeque da silva romanoAinda não há avaliações
- Artigo Luiza Baldo Identidade NacionalDocumento14 páginasArtigo Luiza Baldo Identidade NacionalAlexandre Piana LemosAinda não há avaliações
- Projeto Mestrado BrunaDocumento14 páginasProjeto Mestrado BrunacunhabfAinda não há avaliações
- ZILA BERND Cultura e Identidade NacionalDocumento26 páginasZILA BERND Cultura e Identidade NacionalCarlos Jorge Dantas de Oliveira100% (3)
- LINDOMAR - Fronteiras Da Civilização e Da Nação em Domingo Sarmiento e Euclides Da CunhaDocumento9 páginasLINDOMAR - Fronteiras Da Civilização e Da Nação em Domingo Sarmiento e Euclides Da CunhaNataly Lemes ValdezAinda não há avaliações
- Aline Montenegro Tecendo Memorias Gustavo Barroso e As Escritas de SiDocumento16 páginasAline Montenegro Tecendo Memorias Gustavo Barroso e As Escritas de SiCarla Pinheiro PatoAinda não há avaliações
- José VeríssimoDocumento10 páginasJosé Veríssimofabioestiva6825Ainda não há avaliações
- Zilá PDFDocumento11 páginasZilá PDFAnonymous Moyii0GNBnAinda não há avaliações
- A Construcao Da Imagem Do Nordestino Na Identidade NacionalDocumento13 páginasA Construcao Da Imagem Do Nordestino Na Identidade NacionalIvo De Moura VasconcelosAinda não há avaliações
- ClaudeteSantos A Linhagem de NabucoDocumento26 páginasClaudeteSantos A Linhagem de NabucoClauDaflonAinda não há avaliações
- Bib GabiDocumento50 páginasBib GabiBarbara SenrraAinda não há avaliações
- Uma Leitura Antropológica de Jorge Amado PDFDocumento25 páginasUma Leitura Antropológica de Jorge Amado PDFRômulo CastroAinda não há avaliações
- A Biblioteca de Darcy Ribeiro, Espaço Biográfico PDFDocumento12 páginasA Biblioteca de Darcy Ribeiro, Espaço Biográfico PDFLauana BuanaAinda não há avaliações
- Transculturação e HibridismoDocumento20 páginasTransculturação e HibridismoLuís MouraAinda não há avaliações
- 1 - SCHWARCZ Lilia Moritz. Introduo - o Espetculo Da Miscigenao O EspetcDocumento9 páginas1 - SCHWARCZ Lilia Moritz. Introduo - o Espetculo Da Miscigenao O EspetcBruno GuedesAinda não há avaliações
- Kerber - A Ilusão Biográfica e A Busca de Um Sentido Argentino Ou Latino-Americano Na Autobiografia de Libertad LamarqueDocumento29 páginasKerber - A Ilusão Biográfica e A Busca de Um Sentido Argentino Ou Latino-Americano Na Autobiografia de Libertad LamarquealejokhAinda não há avaliações
- Eduardodias,+artigo Emília Água Viva 2017 2 Revisado 09 07Documento15 páginasEduardodias,+artigo Emília Água Viva 2017 2 Revisado 09 07Rodrigo ColevatiAinda não há avaliações
- Ensaísmo No Brasil - o Retrato Como Crítica e CriaçãoDocumento18 páginasEnsaísmo No Brasil - o Retrato Como Crítica e CriaçãoHoury KarlaAinda não há avaliações
- ARAÚJO, Sônia ARAÚJO, Telmo. América Latina, Cultura e Educação Nos Escritos de José Veríssimo PDFDocumento16 páginasARAÚJO, Sônia ARAÚJO, Telmo. América Latina, Cultura e Educação Nos Escritos de José Veríssimo PDFRoni MenezesAinda não há avaliações
- Resenha Do Livro Política e Identidade Cultural Na América LatinaDocumento7 páginasResenha Do Livro Política e Identidade Cultural Na América LatinafabricioAinda não há avaliações
- Aula 4 - 1 EM - Diferentes Narrativas e A Produção Do Conhecimento Histórico (Povos Americanos)Documento23 páginasAula 4 - 1 EM - Diferentes Narrativas e A Produção Do Conhecimento Histórico (Povos Americanos)Daniel Barbosa100% (6)
- Discurso Literário e Construção Da Identidade Nacional BrasileiraDocumento10 páginasDiscurso Literário e Construção Da Identidade Nacional BrasileiraSueli SaraivaAinda não há avaliações
- Imagem Da América - ChiampiDocumento23 páginasImagem Da América - ChiampiRodrigo FaqueriAinda não há avaliações
- José de Alencar e As Américas Refletindo Sobe A Literatura Na AméricaDocumento30 páginasJosé de Alencar e As Américas Refletindo Sobe A Literatura Na AméricaValdeci Rezende BorgesAinda não há avaliações
- Parasita Azul - AnáliseDocumento8 páginasParasita Azul - AnáliseChristina BergerAinda não há avaliações
- Machado de Assis Crítica RomeroDocumento17 páginasMachado de Assis Crítica RomeroHenrique SantosAinda não há avaliações
- 04-Artigo 1Documento20 páginas04-Artigo 1GeovanaAinda não há avaliações
- Angela Alonso - Epílogo Ao RomantismoDocumento20 páginasAngela Alonso - Epílogo Ao RomantismofernandadalpiazAinda não há avaliações
- O Exílio de Darcy RibeiroDocumento15 páginasO Exílio de Darcy RibeiroPedro DemenechAinda não há avaliações
- Maria LeonelDocumento11 páginasMaria LeonelclaudiaAinda não há avaliações
- Paulo PradoDocumento6 páginasPaulo PradoHeitor Dutra100% (1)
- Regina IgelDocumento5 páginasRegina IgelEva Lana100% (2)
- Pratt-Zona de Contato e NacaoDocumento23 páginasPratt-Zona de Contato e NacaoArantxaAinda não há avaliações
- Vira e Mexe NacionalismoDocumento5 páginasVira e Mexe NacionalismoMylena QueirozAinda não há avaliações
- Os Olhos Do Imperio - PRATTDocumento9 páginasOs Olhos Do Imperio - PRATTDanilo BispoAinda não há avaliações
- Interpretacao de Texto RomamDocumento3 páginasInterpretacao de Texto RomamSuelem Da Silva BitencourtAinda não há avaliações
- Interpretacao de Texto RomamDocumento3 páginasInterpretacao de Texto RomamSuelem Da Silva BitencourtAinda não há avaliações
- O Sutra Do Girassol Enquanto Manifesto Do Ideal Beat Juli Anna RuzzarinDocumento16 páginasO Sutra Do Girassol Enquanto Manifesto Do Ideal Beat Juli Anna RuzzarinmarianotavaresAinda não há avaliações
- Inimigos ImagináriosDocumento5 páginasInimigos ImagináriosPaulo José CoutinhoAinda não há avaliações
- A Presença Dos EUA Na Obra Infantil de Monteiro LobatoDocumento8 páginasA Presença Dos EUA Na Obra Infantil de Monteiro LobatoHugãoAinda não há avaliações
- Artistas e Intelectuais No Brasil Pós-1960Documento30 páginasArtistas e Intelectuais No Brasil Pós-1960Carlos Alberto DiasAinda não há avaliações
- PIZARRO, Ana. O Voo Do TukuiDocumento254 páginasPIZARRO, Ana. O Voo Do Tukuihenrique100% (1)
- Literatura de Informacao Dos Viajantes DDocumento13 páginasLiteratura de Informacao Dos Viajantes Drbs432hz.freelancerAinda não há avaliações
- Raizes Do Brasil ResumoDocumento11 páginasRaizes Do Brasil ResumoNazare GomesAinda não há avaliações
- Lutas, Experiências e Debates Na América LatinaDocumento30 páginasLutas, Experiências e Debates Na América LatinaIsabella Oliveira da SilvaAinda não há avaliações
- Otavio PazDocumento14 páginasOtavio PazLucia CorreaAinda não há avaliações
- Literatura Hispano AmericanaDocumento24 páginasLiteratura Hispano Americanatabata bmAinda não há avaliações
- "Que Turista É Você?": As Visões Da Nação e Da Identidade Brasileiras em Canto IX: Caderno de Turismo e Canto XVI: Yamami, de Marcelino FreireDocumento18 páginas"Que Turista É Você?": As Visões Da Nação e Da Identidade Brasileiras em Canto IX: Caderno de Turismo e Canto XVI: Yamami, de Marcelino FreireThaíssa GomesAinda não há avaliações
- Ensino E Aprendizagem De Língua Espanhola/machado De Assis:o Escritor Do SéculoNo EverandEnsino E Aprendizagem De Língua Espanhola/machado De Assis:o Escritor Do SéculoAinda não há avaliações
- O negro visto por ele mesmo: ensaios, entrevistas e prosaNo EverandO negro visto por ele mesmo: ensaios, entrevistas e prosaAinda não há avaliações
- ÉSQUILO. Persas. Trad. Jaa Torrano (710-1688-1-SM)Documento32 páginasÉSQUILO. Persas. Trad. Jaa Torrano (710-1688-1-SM)Cássio TavaresAinda não há avaliações
- O Medo Negro Assombra A América PDFDocumento12 páginasO Medo Negro Assombra A América PDFliviaasrangelAinda não há avaliações
- Oxalá Cresçam PitangasDocumento12 páginasOxalá Cresçam PitangasliviaasrangelAinda não há avaliações
- Os Olhos Da Cobra Verde - Lília Momplé - Resenha PDFDocumento5 páginasOs Olhos Da Cobra Verde - Lília Momplé - Resenha PDFliviaasrangel100% (1)
- O Teatro e o Ensino Da Civilização EgípciaDocumento10 páginasO Teatro e o Ensino Da Civilização Egípcialiviaasrangel100% (1)
- Panafricanismo3 PDFDocumento284 páginasPanafricanismo3 PDFliviaasrangelAinda não há avaliações
- Do Antigo Oriente Próximo A RomaDocumento96 páginasDo Antigo Oriente Próximo A RomaliviaasrangelAinda não há avaliações
- Ficção e Memória Nos Diarios de Lucio Cardoso e Walmir AyalaDocumento209 páginasFicção e Memória Nos Diarios de Lucio Cardoso e Walmir AyalaliviaasrangelAinda não há avaliações
- Revista HistoriaDocumento185 páginasRevista HistoriatigercsAinda não há avaliações
- Resenha A Contrassexualidade Como Superação Das Dicotomias de Gênero e Sexo PDFDocumento4 páginasResenha A Contrassexualidade Como Superação Das Dicotomias de Gênero e Sexo PDFliviaasrangelAinda não há avaliações
- Magia e Paixão o México Sob o Olhar de Erico Verissimo - BaggioDocumento17 páginasMagia e Paixão o México Sob o Olhar de Erico Verissimo - BaggioliviaasrangelAinda não há avaliações
- Muralismo e Identidades Representações Pré-Hispanica em SiqueirosDocumento21 páginasMuralismo e Identidades Representações Pré-Hispanica em SiqueirosGabriela CanaleAinda não há avaliações
- Orozco e Siqueiros, Duas Representações de Participação Popular Na Revolução MexicanaDocumento12 páginasOrozco e Siqueiros, Duas Representações de Participação Popular Na Revolução MexicanaEunice SilvaAinda não há avaliações
- 6º Ano, Arte 11 SEMANA PDFDocumento1 página6º Ano, Arte 11 SEMANA PDFEutália Gomes100% (1)
- Muralismo Mexicano AdrianoDocumento11 páginasMuralismo Mexicano AdrianoAdriano Nunes100% (1)
- 8 - México Arte e RevoluçãoDocumento3 páginas8 - México Arte e RevoluçãoCamylla MaiaAinda não há avaliações
- Muralismo MexicanoDocumento2 páginasMuralismo MexicanoSuellen EstanislauAinda não há avaliações
- As Representações Das Lutas de Independência No México Na Ótica Do Muralismo - Diego Rivera e Juan O'GormanDocumento22 páginasAs Representações Das Lutas de Independência No México Na Ótica Do Muralismo - Diego Rivera e Juan O'GormanGustavoPiraAinda não há avaliações
- Fichamento - Ades - Arte Na America LatinaDocumento17 páginasFichamento - Ades - Arte Na America LatinaAna Holanda CantaliceAinda não há avaliações
- FABRIS, Annateresa - Portinari e A Arte SocialDocumento25 páginasFABRIS, Annateresa - Portinari e A Arte SocialAnonymous L8ibEVDOhVAinda não há avaliações
- VASCONCELLOS, C.M. Imagens Da Revolução. Capítulo IVDocumento19 páginasVASCONCELLOS, C.M. Imagens Da Revolução. Capítulo IVPriscila Cruz100% (1)
- Artes e InglesDocumento87 páginasArtes e InglesNaira CamaraAinda não há avaliações