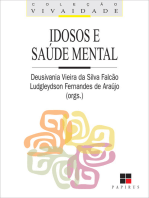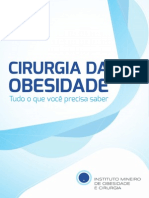Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Psicologia Do Envelhecimento
Psicologia Do Envelhecimento
Enviado por
Lilian CilzaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Psicologia Do Envelhecimento
Psicologia Do Envelhecimento
Enviado por
Lilian CilzaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Mdulo IV.
Psicologia do Envelhecimento
Manual elaborado por Leonor Silva, Dr.
Psicologia do Envelhecimento
Contedos:
Linhas orientadoras para o reconhecimento de algumas teorias psicolgicas
que tentam explicar o envelhecimento e as alteraes associadas ao
processo de envelhecimento. Diferenciao de conceitos de independncia,
dependncia e autonomia.
3
Objectivo Geral
No final deste mdulo, os formandos devero ser capazes de conhecer
algumas das teorias psicolgicas que tentam explicar o processo de
envelhecimento, bem como as alteraes associadas a este. Diferenciar os
conceitos de dependncia, independncia e autonomia.
O formando dever dedicar 8 horas de estudo para este mdulo
Contedos do mdulo
Emergncia da Psicologia do Envelhecimento e o Paradigma de
desenvolvimento ao longo de toda a vida (life-span).
Teorias Actuais: Selectividade Socioemocional; Dependncia
Aprendida.
Alteraes associadas ao processo de envelhecimento: Cognio,
Percepo e Ateno, Memria e Aprendizagem, Inteligncia e
Personalidade.
Envelhecimento e dependncia: incapacidade, (in)dependncia e
autonomia.
Objectivos Especficos
No final deste mdulo, os formandos devero ser capazes de:
o Identificar e definir a teoria da Selectividade Socioemocional.
o Identificar e definir a teoria da Dependncia Aprendida.
o Reconhecer as alteraes associadas ao processo de envelhecimento.
o Diferenciar os conceitos de dependncia, independncia e autonomia.
4
Indice
1. Emergncia da Psicologia do Envelhecimento e o
paradigma do desenvolvimento ao longo de toda a vida
(life-span)
5
2.Teorias Actuais: Selectividade Socioemocional;
Dependncia Aprendida
7
2.1. Teoria da Selectividade Socioemocional 7
2.2. Teoria da Dependncia Aprendida 10
3. Alteraes associadas ao processo de envelhecimento:
Cognio, Percepo e Ateno, Memria e Aprendizagem,
Inteligncia e Personalidade
13
3.1. Cognio 13
3.2. Percepo e Ateno 17
3.2.1. Percepo 17
3.2.2. Ateno 18
3.3. Memria e Aprendizagem 19
3.3.1. Memria 19
3.3.2. Aprendizagem 26
3.4. Inteligncia 26
3.5. Personalidade 29
4.Envelhecimento e dependncia: incapacidade,
(in)dependncia e autonomia
32
4.1. Dependncia 32
4.2. Independncia 34
4.3. Autonomia 34
Verificao de Conhecimentos 35
Proposta de Correco 36
Bibliografia 38
Indice de Quadros
Quadro 1.1 Efeitos do envelhecimento no funcionamento
cognitivo
15
Quadro 1.2- Efeitos da idade nas diferentes modalidades
sensoriais (Fontaine, 2000)
17
Porque n~o considerar esses novos anos de vida em termos de prosseguimento
ou os novos papis na sociedade como outra etapa no crescimento e no
desenvolvimento pessoal ou at mesmo espiritual?!
Betty Friedman,
The Fountain of Ac ge, 1993
5
1. Emergncia da Psicologia do Envelhecimento e o paradigma do
desenvolvimento ao longo de toda a vida (life-span).
Segundo Neri (in Freitas et al., 2006), as teorias psicolgicas do
envelhecimento devem contribuir para:
1. Descrio e explicao das mudanas comportamentais que
acontecem ao longo da velhice;
2. Caracterizao das diferenas existentes entre indivduos e
grupos com relao a, como, e porque se desenvolvem e
envelhecem;
3. Diferenciao entre o que peculiar aos idosos por causa da idade
e do que devido ao contexto scio-histrico e histria pessoal;
4. Identificao das diferenas entre os idosos e as pessoas de
outros grupos de idade;
5. Descrio sobre como se alteram e como se relacionam, na
velhice, os diferentes processos psicolgicos, como por exemplo,
a motivao e a cognio;
6. Saber se os diferentes processos psicolgicos se modificam ou se
mantm com o envelhecimento.
Os critrios mais utilizados pelas teorias psicolgicas do
envelhecimento para agrupar sujeitos e questionar as semelhanas e
diferenas entre eles, so: tempo decorrido desde o nascimento, o tempo
histrico, gnero, classe social, contexto sociocultural, nvel de escolaridade,
funcionalidade fsica e mental.
Os processos mais estudados so a inteligncia, a memria, a ateno,
a motivao, a aprendizagem, a afectividade, a personalidade.
Para Baltes e Smith (2004 in Freitas et al., 2006) o paradigma de
desenvolvimento ao longo da vida (life-span), que emergiu conjuntamente
com o estudo psicolgico do envelhecimento, e que ainda hoje tem
influncia na psicologia do desenvolvimento como um todo, pluralista.
Considera mltiplos nveis e dimenses do desenvolvimento, transaccional,
dinmico e contextualista.
Baltes (2000 in Freitas et al., 2006) fez um comentrio num artigo
autobiogrfico sobre as origens do paradigma onde afirma que a psicologia
6
do desenvolvimento alem j possua uma orientao ao longo de toda a
vida (life-span) desde o sculo XVIII.
Ainda o mesmo autor, menciona a influncia de vrios psiclogos.
Foram vrios os que tiveram uma contribuio importante, principalmente
na realizao de vrios estudos nesta rea.
Hans Thomae (1915-2001) realizou estudos longitudinais sobre a meia-
idade e a velhice. Interagiu com Havighurst, proponente da teoria da
actividade em gerontologia.
Um outro autor que esteve na origem deste paradigma foi K. Warner
Schaie. Teve um papel fundamental, ao planear um estudo denominado
Seattle Longitudinal Study, sobre a inteligncia, onde elaborou
estratgias que tinham em conta para alm das mudanas derivadas da
passagem do tempo do calendrio que marca as mudanas de origem
gentico-biolgica, as mudanas devidas ao tempo histrico onde esto
includas as mudanas socioculturais (Schaie, 1995, 1996, Neri in Neri Freitas
et al., 2006, p.66).
2. Teorias Actuais: Selectividade Socioemocional; Dependncia Aprendida
2.1. Teoria da Selectividade Socioemocional
Laura Carstensen (1991, 1993) foi quem formulou esta teoria. Esta foi
formulada para explicar o declnio que se verificava nas interaces sociais e
as mudanas no comportamento emocional dos idosos (Neri in Freitas et al.,
2006).
No mbito da gerontologia social, existiam trs noes aceites para
explicar a reduo nos contactos sociais na velhice. Uma derivava da teoria
da actividade e preconizava que a restrio das interaces sociais era
determinada por normas sociais que previam a inactividade para as pessoas
mais idosas (Havighurst e Albrecht, 1953, Neri in Freitas et al., 2006). Outra,
patente na teoria do afastamento, explicava que esta restrio era fruto do
afastamento recproco entre os idosos e a sociedade. Este afastamento era
adaptativo, pois preparava simbolicamente os idosos para a morte
(Cummings e Henry, 1994, Neri in Freitas et al., 2006). Por fim, a teoria das
trocas sociais que preconiza que as perdas relativas ao envelhecimento
acarretam diminuio na contribuio do idoso para as relaes
7
interpessoais, ameaam a reciprocidade dos relacionamentos e por isso
enfraquecem os laos sociais (Dowd, 1975, Neri in Freitas et al., 2006).
A teoria da Selectividade Socioemocional vem contradizer estas trs
teorias sociolgicas por vrias razes: no aceita que as pessoas reagem ao
contexto social de uma forma simplista, mas antes que elas constroem de
forma activa o seu mundo social. Decorrente deste pressuposto, a crena
b|sica desta teoria que a reduo na amplitude da rede de relaes
sociais e na participao social na velhice reflecte a redistribuio de
recursos socioemocionais pelos idosos, exactamente no momento em que a
mudana na sua perspectiva de tempo futuro passa a aparecer cada vez
mais limitado na velhice faz com que eles procurem seleccionar metas,
parceiros e formas de interaco, porque isso permite optimizar os recursos
de que dispe (Neri in Freitas et al., 2006, p.72).
Na velhice o mais importante o envolvimento selectivo com
relacionamentos sociais prximos que lhes permitam experincias
emocionais significativas.
Esta teoria de natureza life-span, uma vez que considera que a
adaptao delimitada pelo tempo e pelo espao e a fase de
desenvolvimento vivenciada pela pessoa um contexto importante para ela
se adaptar. A velhice caracteriza-se, como j falamos num dos mdulos
anteriores, pela diminuio dos contactos sociais, isto reflecte que a pessoa
idosa faz uma seleco activa, nas quais as relaes sociais emocionalmente
prximas so mais importantes para a sua adaptao. As pessoas nesta fase
da vida, tm tendncia para organizar as suas metas, e as suas relaes, a
dar prioridade a realizaes de curto prazo, preferindo relaes sociais mais
significativas e a no dar importncia ao que no entra nestes critrios (Neri
in Freitas et al., 2006).
A questo de tempo de vida nesta teoria, muito importante, pois a
forma como as pessoas idosas redefinem as suas relaes so vistas por
estas tendo em linha de conta que o tempo percebido como
relativamente limitado (Lang eCarstensen, 2002, Neri in Freitas et al., 2006).
A teoria de Carstensen orientou se na anlise do comportamento
emocional dos idosos mostrando que, com o envelhecimento as pessoas
passam a experimentar e a demonstrar emoes com menos intensidade e a
ter menor capacidade de descodifica~o de expresses emocionais (Neri in
Freitas et al.,2006, p.72).Estas alteraes no significam perdas mas antes
8
adaptaes, uma vez que permitem aos idosos poupar recursos j escassos,
canalizar as experincias passadas (reminiscncia) para situaes mais
relevantes e criar as condies mais favorveis para o seu funcionamento
afectivo e social. Esse processo vai reflectir-se na maior capacidade de
calibrar o efeito da intensidade dos acontecimentos, na integrao entre
cognio e afectividade, nos mecanismos de defesa mais maduros, uma
maior utilizao de estratgias pr-activas e na maior satisfao com a vida
(ibd.). Estas proposies foram corroboradas atravs da realizao de testes
empricos realizados pela autora e seus colaboradores.
Foram realizados vrios testes, vamos apenas abordar alguns deles.
Tsai e Cols (2000) mediram as respostas cardiovasculares, subjectivas e
expressivas de jovens e idosos norte-americanos e chineses enquanto viam
filmes engraados numa situao laboratorial. Verificaram que nos dois
pases, havia menos mudanas cardiovasculares entre os idosos do que entre
os jovens. Relativamente s respostas comportamentais e subjectivas dos
dois grupos no foram diferentes.
Foram ainda efectuadas outras investigaes tendo como principal
foque aspectos comportamentais que serviram para confirmar a teoria.
Carstensen e cols. (2000) exploraram diferenas etrias na experincia
emocional ao longo da vida adulta. Incidiram sobre a frequncia, a
intensidade, a complexidade e a consistncia da experincia emocional na
vida quotidiana em 184 pessoas entre 18 e 94 anos. Verificaram que at aos
60 anos os idosos experimentavam emoes positivas com a mesma
frequncia que os adultos jovens, mas experimentavam menos emoes
negativas. Os perodos de experincia emocional positiva, entre os mais
velhos, foram mais duradouros e os de experincias emocionais negativas
foram menos estveis do que entre os mais jovens. Isto sugere que os idosos
tm experincias emocionais complexas, menos independentes, e sugerem
a ocorrncia de selectividade emocional adaptativa na velhice (Neri in Freitas
et al., 2006).
Estas formulaes da teoria da selectividade socioemocional e os
dados empricos concebidos ajudam a compreender as preferncias sociais
ao longo da vida. Esta teoria defende que os idosos moldam o seu
ambiente social de modo a maximizar o seu potencial para sentir afectos
positivos e para minimizar os afectos negativos. Ao faz-lo por meio de
investimentos selectivos, os idosos esto a investindo na regulao do seu
comportamento socioemocional externo. Tais operaes representam o
9
cumprimento de metas teis ao alcance de uma velhice bem-sucedida
(ibd.,p.73).
2.2. Teoria da Dependncia Aprendida
A dependncia, na literatura gerontolgica, definida como a
incapacidade de a pessoa funcionar satisfatoriamente sem ajuda, devido a
limitaes fsico-funcionais, cognitivas ou a combinao das duas condies.
Vamos ainda, neste mdulo falar mais detalhadamente da dependncia.
A dependncia est associado condio de velhice, mas vamos ver
mais frente que isso no corresponde verdade. A dependncia dos idosos
determinada por mltiplas variveis em interaco assim como uma
condio com mltiplas faces (M.M. Baltes, 1996, Neri in Freitas et al., 2006)
A teoria da dependncia aprendida de M.M. Baltes (1996) foi
desenvolvida a partir da conduo de um programa de pesquisas
observacionais e experimentais no decurso de 20 anos, acrescentou anlise
da dependncia na velhice novos dados. Um elemento novo a noo de
aprendizagem social, em que a dependncia no uma condio exclusiva
da velhice, esta existe em todo o ciclo de vida, mas manifesta-se de formas
diferentes. Na vida adulta, a dependncia passa a envolver relaes
interpessoais. Na velhice esta condio de interdependncia pode ser
modificada por um ou mais eventos (mais frente vamos falar destes mais
em pormenor) (Neri in Freitas et al., 2006).
O significado da dependncia para os indivduos adultos e idosos e
para a sua rede de relaes sociais mais prxima pode produzir maior ou
menor tolerncia e aceitao e proporcionar melhor ou pior suporte
instrumental, informativo, material e afectivo (Neri in Freitas et al., 2006,
p.74).
Este o ponto fulcral do raciocnio da teoria, quando diz que a
dependncia na velhice reflecte condies do sistema microssocial em que o
idosos vive, condies essa que envolvem o sistema de crenas das pessoas
e seus comportamentos (ibd., p.74). Baltes argumenta que em grande
parte dos micro contextos sociais (instituies, residncias familiares,
hospitais) predomina um padro de interaco que envolve o reforo de
comportamentos dependentes e muitas vezes, extino ou punio de
comportamentos independentes. Isto leva a que um aumento na frequncia
de comportamentos dependentes (ibd.).
10
Neri (in Freitas et al., 2006), considera que a dependncia aprendida se
instala da seguinte maneira:
1) Os comportamentos dependentes que geram consequncias fsicas
e sociais tendem a manter-se e a aperfeioar-se, ao mesmo tempo
que as tentativas de independncia geram negligncia, falta de
ateno, restries, e assim tendem a diminuir de frequncia.
Existem algumas condies que propiciam dependncia aprendida,
so elas: ambientes super protectores e de baixa exigncia. Isto
leva a que os cuidadores familiares e profissionais vejam o cuidado
como uma tarefa que implica fazer pelo idoso, mas devem ter em
linha de conta que o cuidar envolve a ajuda necessria para que o
idoso se comporte na medida das suas possibilidades.
2) Os comportamentos dependentes estabelecem-se e mantm-se
porque asseguram a manuteno de contactos sociais e porque so
uma forma de controlar aspectos especficos do ambiente social.
Esses dois subprodutos da dependncia tm relao com a
promoo do bem-estar psicolgico dos idosos (p.74).
A dependncia significa para Baltes, perdas, no sentido em que
dificulta o envolvimento em aces que promovem a sua funcionalidade
fsica e psicossocial, mas significa tambm ganhos, dado que ajuda as
pessoas a ter ateno, contacto social e controlo passivo e que auxilia a
preservar, canalizar e rentabilizar energias para outras metas/objectivos.
Considera que a dependncia pode ser uma estratgia adaptativa. A
dependncia aprendida exige a modifica~o das contingncias existentes
(Neri in Freitas et al., 2006, p.75).
Baltes considera que, face enorme vulnerabilidade, as pessoas idosas
necessitam de ser capazes de modificar a sua vida para que a adaptao seja
feita com sucesso sempre que necessrio. A teoria focaliza o aspecto
adaptativo e compensatrio da dependncia. Pela dependncia aprendida o
idoso pode ter controlo passivo sobre o ambiente.
Ganhos, perdas, dependncia, envelhecimento e adaptao so
condies presentes na teoria que se entrelaam.
Existem mais teorias psicolgicas do envelhecimento, mas no
conseguiramos falar de todas.
J abordamos nos mdulos anteriores que o estudo cientfico do
envelhecimento pela psicologia recente, isto em comparao com ao
estudo da infncia e da adolescncia. Um dos motivos que quase sessenta
11
anos, desde o incio do sculo XX, a velhice era ainda, considerada pela
Psicologia uma fase caracterizada apenas por declnio. O aumento do
envelhecimento populacional foi o acontecimento que levou s mudanas
paradigmticas para a Psicologia do Desenvolvimento. Foi ento que surgiu
a Psicogerontologia, pautada ento, pela adopo de um enfoque de
desenvolvimento ao longo da vida (life-span), que engloba a
multicausalidade, multidimensionalidade e a complexidade das interaces
genticas-biolgicos e socioculturais.
3. Alteraes associadas ao processo de envelhecimento: Cognio,
Percepo e Ateno, Memria e Aprendizagem, Inteligncia e
Personalidade.
3.1. Cognio
Uma das preocupaes do ser humano o declnio cognitivo com o
aumento da idade. Esta preocupao baseia-se em algumas questes. H
perda de memria com o avanar da idade? O que que est prejudicado a
memria ou a falha bsica a ateno? As dificuldades cognitivas so
normais em idosos ou so sinais de processos demenciais e irreversveis?
Qual o papel da motivao do idoso, esto presentes ou no quadros
depressivos e de ansiedade na manuteno das funes cognitivas?
possvel retardar um idoso que apresente sinais de declnio? possvel
recuperar funes cognitivas em pessoas com idade mais avanada?
Estas questes tornam-se pertinentes e de extrema importncia,
devido ao aumento da expectativa de vida que se tem verificado.
A rea da Psicologia Cognitiva tem contribudo imenso para a questo
do envelhecimento, nomeadamente a abordagem de processamento de
informao.
Esta tem a preocupao de conhecer os mecanismos da cognio
humana, por exemplo, a memria, a linguagem, a ateno e as funes
executivas que podem vir a ser afectadas pelo envelhecimento. Estas
funes possuem uma certa independncia, pelo que, algumas capacidades
com o avanar da idade declinam, outras mantm-se ou ainda melhoram em
funo da experincia de vida (Parente e col.,2006).
12
Os psiclogos cognitivistas que se debruam sobre o fenmeno do
envelhecimento tm como objectivo a anlise das alteraes cognitivas que
ocorrem quando a pessoa envelhece.
O declnio cognitivo associado a desconforto pessoal, perda de
autonomia, e aumento dos custos sociais. Estes so motivos importantes
para que a realizao de estudos e a teorizao sobre o assunto seja uma das
reas mais fecundas da psicologia do envelhecimento.
consensual entre os investigadores que se dedicam ao estudo da
cognio que o envelhecimento acarreta um declnio normal, este pode
apresentar-se a partir da meia idade, mas a partir dos 70 anos que mais
comum. Existe forte variabilidade inter-individual e intra-individual em
relao aos domnios da cognio que declinam. Schaie (1996, Neri in Freitas
et al., 2006) atravs de dados de estudos longitudinais e de comparao
verificou que os desempenhos cognitivos nos domnios do significado
verbal, do espao e do raciocnio atingem a estabilidade entre os 40 e os 60
anos, enquanto que os desempenhos em nmero e fluncia verbal
estabilizam um pouco antes e comeam a declinar de forma modesta a partir
dos 50 anos.
Igualmente consensual a noo de que envelhecimento cognitivo
normal influenciado por processos gentico-biolgicos e de natureza
sociocultural. Os processos gentico-biolgicos determinam declnios no
funcionamento sensorial e diminuio na velocidade de processamento de
informao, estes associados a alteraes neurolgicas tpicas do
envelhecimento. Ao nvel sociocultural, este determina o desenvolvimento e
a manuteno das capacidades que esto dependentes da experincia,
podem ter uma aco compensatria em relao s perdas advindas do
envelhecimento biolgico (Baltes 1993,1997, Neri in Freitas et al., 2006).
O modelo psicomtrico o enfoque dominante, desde o incio do sc.
XX, no estudo do desenvolvimento intelectual ao longo da vida. H no
entanto, uma questo que se coloca em relao aos dados que se obtm
atravs do modelo psicomtrico aplicado ao envelhecimento cognitivo que
saber qual a relao existente entre o desempenho em testes de
inteligncia geral e especfica e os desempenhos cognitivos que acontecem
em contexto natural, ou seja, no desempenho em situaes de vida prtica e
das competncias de vida diria(ibd.)
13
A pesquisa efectuada pela psicologia do envelhecimento tem sido
efectuada em duas reas: a personalidade e o funcionamento cognitivo.
Quanto personalidade vamos abord-la mais adiante.
O domnio do funcionamento cognitivo assenta no estudo da
memria, inteligncia, percepo e ateno.
No quadro abaixo mencionamos os efeitos do envelhecimento no
funcionamento cognitivo. Este resume algumas reas especficas do
funcionamento cognitivo.
Aptido
Sentido da
mudana no
envelhecimento
Comentrio
Inteligncia
o Vocabulrio, fundo de
conhecimento
o Habilidades
perceptivomotoras
Estvel ou crescente
Em declnio
Pode declinar ligeiramente em idade
muito avanada; mais pronunciado
em tarefas novas
O declnio comea pelos 50-60 anos
Ateno
o Campo de ateno
o Ateno complexa
Estvel a declnio ligeiro
Declnio ligeiro
Problemas em dividir a ateno, filtrar
rudo, deslocar a ateno
Linguagem
o Comunicao
o Sintaxe, conhecimento de
palavras
o Fluncia, nomeao
o Compreenso
o Discurso
Estvel
Estvel
Declnio ligeiro
Estvel a declnio ligeiro
Varivel
Na ausncia de dfice sensorial
Varia com o grau de instruo
Lapsos ocasionais em encontrar
palavras
Alguma eroso no processamento de
mensagens complexas
Pode ser mais impreciso, repetitivo
Memria
o De curto prazo (imediata)
o De trabalho
o Secundria (recente)
o Implcita
o Remota
Estvel a declnio ligeiro
Declnio ligeiro
Declnio moderado
Estvel a declnio moderado
Varivel
Intervalos de dgitos em contagem
crescente intacto (72 itens) mas com
fcil ruptura por interferncias
Aptido diminuda para manipular
informao na memria de curto
prazo
Dfices de codificao e recuperao;
armazenamento intacta
Pode recordar com mais facilidade
caractersticas incidentais do que a
informao processada
insconscientemente
Intacta para aspectos mais
importantes da histria pessoal
Visuoespacial
o Copiar desenhos
o Orientao topogrfica
Varivel
Em declnio
Intacta para figuras simples, mas no
para complexas
14
Mais notvel em terreno no familiar
Raciocnio
o Resoluo lgica de
problemas
o Raciocnio prtico
Em declnio
Varivel
Alguma redundncia e
desorganizao
Intacto para situaes familiares
Funes de execuo Declnio ligeiro Planeamento/monitorizao menos
eficiente de comportamentos
complexos
Velocidade Em declnio Lentificao do pensamento e da
aco a mudana mais constante no
envelhecimento
Quadro 1.1 Efeitos do envelhecimento no funcionamento cognitivo ( adaptado de Spar e La Rue,
2005 in Figueiredo 2007).
Este quadro resume as tendncias gerais do envelhecimento para
algumas das reas especficas do funcionamento cognitivo.
H diversos factores que podem gerar declnio cognitivo, entre eles o
envelhecimento normal. A literatura cognitiva documenta o declnio
significativo em funes como a memria, ateno e funo executiva
tambm em idosos que no so portadores de patologias.
Segundo Abreu et al, (in Freitas et al., 2006) o declnio cognitivo pode
tambm ser causado por: a) tumores, quer sejam benignos ou malignos; b)
traumas resultantes de acidentes de viao ou quedas; c) infeces tais
como: encefalites, sfilis, sndrome de imunodeficincia adquirida (SIDA); d)
anxia aps ataque cardaco, paragem cardiopulmonar; e) toxinas como o
lcool e/ou outras toxinas; f) doena vascular, tais como as produzidas por
enfarte hemorrgico ou isqumico. Distrbios psiquitricos, como
esquizofrenia ou a depresso crnica, ou condies neurolgicas como a
doena de Parkinson, a esclerose mltipla e doenas neurodegenerativas,
como a doena de Alzheimer, podem tambm ter grande impacto na
cognio.
3.2. Percepo e Ateno
3.2.1. Percepo
Lieury ( 1990 in Fontaine, 2000) definiu a percep~o como o conjunto
dos mecanismos fisiolgicos e psicolgicos cuja funo geral a recolha de
informaes no ambiente ou no prprio organismo (p.61). H| autores que
distinguem a percepo da sensao. Esta corresponde fase de recepo
dos sinais, provenientes do ambiente e da sua transformao em influxos
nervosos.
15
A percepo no uma recepo passiva das mensagens vindas do
ambiente, antes um conjunto de actividades complexas de recepo de
uma situao por meio de um s canal sensorial. As percepes so
polissensoriais: so produto de uma integrao de mensagens sensoriais
diversas. Tomemos como exemplo, a audio participa com a viso na
sensao do espao.
As modificaes associadas idade podem situar-se a diferentes nveis
deste processo de integrao: a recepo da mensagem ou o tratamento e
anlise.
No h actividade perceptiva que demonstre melhor desempenho na
pessoa idosa do que no jovem, h, no entanto, uma grande variao, de
acordo com as modalidades sensoriais. Existem algumas que resistem e
outras no.
O quadro 1.2 apresenta uma viso sinttica do envelhecimento
perceptivo
Modalidade Efeito da Idade
Gosto Muito fraco
Olfacto Muito fraco
Cinestesia Muito fraco
Tacto Forte
Temperatura Forte
Dor Forte
Equilbrio Muito forte
Viso Muito forte
Audio Muito forte
Quadro 1.2- Efeitos da idade nas diferentes modalidades sensoriais (Fontaine, 2000)
Aconselhamos a leitura do captulo O envelhecimento perceptivo
do livro Psicologia do Envelhecimento Roger Fontaine, para uma
compreenso mais lata sobre o assunto.
consensual que as modalidades sensoriais mais afectadas pela idade
so a viso e a audio.
16
3.2.2 .Ateno
Prestar ateno uma das competncias para detectar mudanas no
meio externo, de mostrar interesse nessas mudanas e ao mesmo tempo
inibir a interferncia de outros interesses (Posner e Raichle, 1994, Abreu et
al.,in Freitas et al., 2006).
A ateno do indivduo mantm-se pela novidade e complexidade.
Segundo Abreu et al., (2006) a ateno uma competncia complexa e
multidimensional cujos componentes se misturam com outras habilidades,
como a memria e as funes executivas, tornando-se uma competncia
difcil de avaliar de forma pura mesmo em situao laboratorial.
A ateno composta por ateno sustentada (ou concentrao), a
ateno selectiva e a ateno dividida (Wonodruff-Pak, 1997, Abreu et al.,in
Freitas et al., 2006).
A ateno sustentada (ou concentrao) refere-se capacidade do
sujeito manter o foco atencional num estmulo particular e manter um
padro de resposta mantendo distante possveis distraces.
A ateno selectiva a capacidade de seleccionar um determinado
tipo de informao mediante a excluso de outras. Esta ateno dirigida
quer pela actividade interna (pensamentos) quer pela externa (aces).
A ateno dividida observada quando so realizadas duas tarefas
simultaneamente ou quando duas fontes de informao concorrentes so
seleccionadas como relevantes para o processamento, como quando se
tenta acompanhar duas conversas paralelas (Abreu et al., 2006).
A ateno uma das reas que muito sensvel ao processo de
envelhecimento.
H inmeras tarefas do quotidiano que envolvem a ateno. Toda e
qualquer tarefa cognitiva explcita, quer dizer, realizada de forma
consciente, requer processos atencionais, como provas de memria e de
funes visuoconstrutivas.
Iremos abordar mais pormenorizadamente os processos de
interveno nesta rea, no mdulo da interveno. Fica, no entanto, aqui
registado os testes psicomtricos utilizados para avaliar processos de
ateno: Dgitos Ordem Directa, Dgitos de Ordem Inversa, Escala de
Inteligncia Weschsler para adultos WAIS-III, Teste de Stroop.
3.3. Memria e Aprendizagem
17
3.3.1. Memria
A memria a funo psicolgica que nos mais conhecida e est
associada s nossas actividades quotidianas. Na nossa sociedade existe a
crena de que o envelhecimento acarreta uma perda da capacidade para
recordar. (Figueiredo, 2007). As prprias pessoas idosas acreditam que a sua
memria piorou com o avanar da idade.
Na comunidade cientfica actual comummente aceite que a memria
se modifica com a idade. Existem casos graves de memria que esto
relacionados com certas doenas mais frequentes em idades mais avanadas
(exemplo, doena Alzheimer), mas ao nvel da memria h modificaes que
constituem uma caracterstica do processo normal de envelhecimento (ibd.).
O declnio da memria est associado idade, no entanto, tambm se
pode observar que nem todas as capacidades mnsicas se alteram de igual
modo. H tarefas da memria que expressam grandes diferenas com a
idade (exemplo, memria episdica ou de trabalho), e outras que expressam
poucos efeitos com a idade (exemplo, memria semntica).
A memria entendida como um processo composto por trs fases:
codificao, armazenamento e recordao da informao (schaie e Willis,
2002 in Figueiredo, 2007).
A informao pode ser codificada e armazenada em trs sistemas de
memria: a memria sensorial, a memria a curto prazo e a memria a longo
prazo. O que as distingue a durao da informao armazenada e a
capacidade de armazenamento.
A memria sensorial retm os estmulos do meio, sem os analisar
semanticamente, durante dcimas de segundo. Nesta distingue-se a
memria icnica (visual) e ecica (auditiva). Este tipo de memria tem sido
pouco estudada, mas a maior parte dos resultados no revela diferenas
significativas ligadas idade.
A memria a curto prazo retm pequenas unidades de informao por
um determinado perodo de tempo ligeiramente superior ao da memria
sensorial. neste tipo de memria que a informao preparada para
passar a memria de longo prazo. A memria de curto prazo pode ser
dividida em memria primria e memria de trabalho. A memria primria,
envolve a reteno passiva de uma pequena quantidade de informao e a
sua recordao imediata, tem pouca capacidade e muito breve. A memria
de trabalho envolve ao mesmo tempo a reteno de informao e a sua
manipulao para resolver problema ou uma tomada de deciso. Esta
memria afectada com o passar da idade.
18
A memria de longo prazo envolve alteraes profundas e
permanentes nas estruturas das conexes sinpticas (Abreu, 2006), e
perspectivado como um sistema que possui uma enorme capacidade de
armazenamento de informao e onde pode ser retida durante longos
perodos de tempo (Figueiredo, 2007). Divide-se em diferentes subsistemas:
memria procedimental, semntica e episdica. A primeira a subjacente s
competncias aprendidas, quer dizer, uma vez aprendida uma competncia
bsica (por exemplo, andar de bicicleta), vamos record-la automaticamente
quando estivermos novamente perante o estmulo. A memria semntica
refere-se a informao factual, conceitos e categorias, a quantidade de
conhecimentos semnticos tende a aumentar com a idade, mas a velocidade
e a preciso do acesso a esse conhecimento diminuem (por exemplo,
lembrar qual a capital de Inglaterra). A memria episdica refere-se
informao com contexto espacial e temporal especfico (por exemplo,
lembrar episdios de uma festa na infncia) (Abreu, 2006). a memria para
acontecimentos da vida que se vo sucedendo no dia-a-dia (Figueiredo,
2007)
medida que envelhecemos estes diferentes subsistemas da memria
de longo prazo vem a ser afectados de forma diferente.
Ao nvel de tarefas de memria semntica e procedimental no se
verificam diferenas significativas com a idade. As diferenas com a idade
fazem-se sentir mais ao nvel das tarefas de memria episdica, onde as
pessoas mais velhas tm um desempenho inferior. Um tipo especfico de
memria episdica a memria prospectiva que inclui a recordao de
informao para aces futuras (por exemplo, lembrar a toma do
medicamento noite). O facto de os idosos terem piores desempenhos que
os mais jovens em tarefas de memria a curto e a longo prazo leva a crer que
est relacionado com as estratgias que utilizam para codificar e recuperar a
informao. Muitos idosos no empregam de forma espontnea
determinadas estratgias (tcnicas mnemnicas) para facilitar e a
codificao e processamento de informao.
No que diz respeito recuperao de informao existem duas
estratgias fundamentais: a recordao (recall), que consiste na capacidade
para recuperar um parte da informao; o reconhecimento (recognition),
que implica a identificao de um dado fragmento de informao. As
pesquisas tm revelado que os idosos tm menos dificuldades em tarefas de
reconhecimento do que em tarefas de memria que impliquem a recordao
da informao (Figueiredo, 2007).
19
Existe a crena de que as pessoas idosas recordam mais facilmente os
acontecimentos passados do que os recentes. Recordam mais facilmente os
acontecimentos que aconteceram entre os 10 e os 30 anos de idade.
denominado o ponto alto das recordaes ou reminiscence bump (ibd.). O
que explica esta situao o facto de nesta fase ocorrerem algumas das
vivncia mais significativas da vida das pessoas (primeiro relacionamento
amoroso, casamento, entrada na vida profissional). A ideia subjacente
que qualquer acontecimento que seja emotivo e pessoalmente significativo
rene todos os requisitos para permanecer intacto na nossa memria (ibd.
p.51).
A maioria ou quase a totalidade das memrias so formadas e
armazenadas na parte mais jovem e mais elaborada do crebro o
nocortex. Existem algumas que exigem o apoio de vrias estruturas sub-
corticais, outras que no necessitam de tal apoio extra. As memrias que
dependem somente do nocortex, e que no dependem de estruturas
adicionais fora dele, so invulnerveis decadncia e podem suportar o
declnio neurolgico, e at mesmo demncia, durante muito mais tempo. A
grande maioria das memrias deste ltimo tipo, so as memrias genricas.
O que se entende ento por memria genrica? Para compreendermos este
tipo de memria, necessrio ter em conta alguns factos bsicos sobre
recordar e esquecer. As memrias para acontecimentos banais e
inconsequentes continuam a decair muito rapidamente, logo a seguir aos
acontecimentos. H, no entanto, excepes, embora raras, de pessoas que
tm uma capacidade enorme para recordarem de tudo, sem esquecerem
nada.
Existe uma enorme selectividade no que entra na memria de longa
durao, o que no acontece na maioria das memrias.
Da, esquecer, enquanto fenmeno natural, uma coisa boa, desde
que seja circunscrito informao banal/inconsequente. Mas quando isto
no acontece, o esquecimento pode ser anormal, causado por diferentes
danos cerebrais, o qual se denomina amnsia. Existem vrios tipos de
amnsias, assim como, vrios nveis de gravidade. Esta pode ser causada por
certo tipos de doenas cerebrais, incluindo traumatismos cerebrais
originados por acidentes rodovirios, de trabalho, interrupo do
fornecimento de oxignio ao crebro, infeces cerebrais virais, bacterianas
ou parasticas, entres outras. Estas inmeras perturbaes tm algo em
comum, que consiste na probabilidade de interferir com a capacidade
20
cerebral de formar memrias, armazen-las e aceder a elas, quando
preciso. Para isso, importante saber como as memrias so geradas.
Uma nova memria comea a formar-se quando encontramos algo
que se est a apreender: um novo rosto, um novo som. O novo dado que
apreendido envolve a parte do crebro encarregue dos sentidos, e de
seguida alguns sistemas cerebrais de ordem superior, que esto encarregues
de analisar, processar a nova informao e relacion-la com algum
conhecimento que j estava adquirido. Esta actividade modifica o prprio
mecanismo neuronal envolvido e a mudana resultante nas redes neuronais
na recepo e processamento da nova informao precisamente a
memria. Inicia se o processo de formao da memria, com a sintetizao
de novas protenas, novas sinapses (contactos entre as clulas nervosas, os
neurnios) que se esto a desenvolver e outras a ser reforadas
relativamente s sinapses envolventes. a essncia da formao da nova
memria.
As memrias so formadas nas mesmas estruturas cerebrais e
envolvem as mesmas redes neuronais que participam no processamento da
informao, quando ela chega pela primeira vez.
As novas memrias iniciam a sua vida neuronal no crtice e
permanecem a ao longo da sua vida natural, contrariamente ao que se
acreditava, no passado, em que se pensava que existiam no crebro
armazns de memrias separados.
Na mesma lgica, foi tambm ao longo de muitos anos, partilhada a
ideia de que existiam diferentes partes do crebro, onde se localizavam
sistemas de memria de curta dura~o e sistemas de memria de longa
dura~o. De facto, assim n~o acontece, estes dois sistemas fazem parte do
mesmo processo, envolvem as mesmas estruturas cerebrais.
As memrias so armazenadas nas mesmas redes que receberam a
informao em primeiro lugar. Quando as mudanas na rede se tornam
duradouras, a informao fica firmemente encaixada no armazenamento de
longa durao. As mudanas que tero ocorrido na rede so qumicas e
estruturais. Houve alterao nos contactos sinpticos e a formao de novos
receptores. A memria ser mais forte e mais invulnervel a qualquer ataque
ao crebro, qualquer que seja o dano.
Estas mudanas no crebro, que so formadas da memria, no acontecem
instantaneamente, so lentas. Para que a memria atinja um estado de
codificao forte, o processo tem que recorrer a outras estruturas cerebrais.
A importncia deste processo continuar a reactivar as redes neuronais do
nocortex, onde ocorrem de forma gradual as mudanas qumicas e
21
estruturais, mesmo que depois de o estmulo ter desaparecido. Estes
processos de reactivao permanente, so de natureza elctrica,
envolvendo crculos de actividade bioelctrica no crebro. Alguns destes
circuitos envolvem um certo nmero de regies distantes. Estes processos
denominam-se reverbera~o ou reentrada cclica.
Existem outros circuitos que so locais, e propagam-se exactamente
onde existem as mudanas sinpticas. Os processos que so mediados pelos
circuitos locais s~o chamados de potencia~o de longa dura~o. Existem
dois tipos de compostos qumicos que desempenham um papel importante:
um neurotransmissor (substncia qumica que faz a comunicao entre os
neurnios) denominado Glutamato e o seu receptor, uma molcula N-
metil-D-aspartato, ou mais simples NMDA.
Assim o processo da formao da memria envolve o desempenho
conjunto entre as mudanas bioelctricas, bioqumicas e estruturais do
crebro.
A propagao dos crculos reverberantes depende de um certo
nmero de estruturas cerebrais fora do neocrtex. Estas incluem o
hipocampo, as estruturas circundantes, e o bolbo raquidiano. Estas
estruturas so muito importantes para a formao da memria de longa
durao, mas no so o local de armazenamento, sendo este efectuado no
neocrtex.
Estas reas, especialmente o hipocampo e as estruturas circundantes
so muito vulnerveis aos efeitos da demncia, e os danos nesta rea tm
probabilidade de provocar uma deficincia da memria.
Uma parte importante das deficincias de memria denominada por
amnsia. Esta deficincia parcial e produz diferentes tipos de amnsia.
Na Neuropsicologia faz-se uma distin~o entre amnsia antergrada
e amnsia retrgrada. A primeira diz respeito { perda de capacidade de
aprender nova informao aps ter ocorrido um dano cerebral. A segunda
diz respeito incapacidade de recordar informao adquirida antes que o
dano tivesse ocorrido. possvel desenvolver os dois tipos de amnsia como
resultado de danos cerebrais.
A distino entre elas depende do conhecimento do momento exacto
em que ocorreram os danos cerebrais, o que muitas vezes, difcil. No caso
de um indivduo que era saudvel antes de ter sofrido danos cerebrais
traumticos num acidente rodovirio, o tempo exacto do acontecimento
22
fcil de determinar, o que j no acontece na demncia, pois esta um
declnio gradual, desenvolvendo-se ao longo de anos.
O diagnstico destas amnsias no fcil, mas a sua distino tem sido
til para os neuropsiclogos e neurologistas que dedicam mais ateno
amnsia antergrada pois pressupe se que mais grave e mais comum
que a retrgrada.
Goldberg (2007) pensa que a amnsia retrgrada uma fonte de
informa~o sobre a forma como o conhecimento organizado e
armazenado no crebro (p.109). Este tipo de memria d|-nos o tempo
despendido pela formao da memria de longa durao. Quando h uma
leso cerebral na memria do passado, no significa que todas as memrias
sofram por igual extenso. As memrias mais recentes so mais afectadas
do que as memrias de um passado muito distante. Este fenmeno
denominado gradiente temporal da amnsia retrgrada, esta pode afectar
memrias que datam de h anos ou mesmo de dcadas.
A ablao do hipocampo pode resultar em amnsia retrgrada que
recue at um espao de tempo to alargado quanto quinze anos atrs. Isto
quer dizer, que pode demorar todo este tempo para que sejam formadas no
crebro uma memria de longa durao permanente, estrutural e
invulnervel. Este processo gradual e acompanhado por outra
caracterstica, o gradiente temporal: o encolhimento. N~o invulgar que
um paciente que tenha acabado de sofrer um dano cerebral num acidente, e
tenha um perda de memria que se pode estender ao longo de anos, ou
mesmo dcadas atrs. Pode acontecer que com o passar do tempo algumas
memrias regressam, e a recuperao delas segue um percurso temporal
ordenado. O encolhimento desenrola-se para trs, com a memria dos
acontecimentos mais distantes antes da memria dos mais recentes. Este
encolhimento incompleto e as memrias dos mais recentes nunca so
recuperadas. A extenso da perda permanente da memria, varia de sujeito
para sujeito e depende da gravidade dos danos cerebrais. Esta perda
permanente genuna e intratvel.
3.3.2. Aprendizagem
A aprendizagem humana pode ser entendida como a fase de aquisio
ou codificao da informao.
At dcada de 60, pensava-se que havia um declnio significativo na
capacidade de aprender, ligado idade avanada. At ento, no era dada a
devida importncia a dois aspectos fulcrais: a prpria natureza da
23
aprendizagem; e os aspectos no cognitivos passveis de a afectar (Simes,
1982, in Figueiredo, 2007). Hoje em dia, a investigao caracteriza-se por
trabalhar estes dois aspectos.
Botwinick (1973, Walsh, 1983, in Figueiredo, 2007) no que concerne
natureza da aprendizagem acentua a diferena entre aprendizagem como
um processo interno e performance como um acto externo. A pessoa pode
ver somente o acto e n~o o processo. Se a aprendizagem for inferida da
performance, tambm verdade que esta nem sempre reflecte a
aprendizagem (ibd. p.51). Uma performance fraca pode ser devido a
factores no cognitivos como a falta de motivao. A performance pode no
reflectir adequadamente a aprendizagem.
De acordo com esta perspectiva, as pessoas idosas podem aprender
tambm como os jovens mas, devido a factores no cognitivos, so
incapazes ou sentemse relutantes em demonstrar o que aprenderam
(Walsh, 1983 , in Figueiredo, 2007).
3.4. Inteligncia
A inteligncia diminui com a idade? A resposta depende das
competncias e da forma como estas so avaliadas. Na idade adulta o
desempenho cognitivo irregular. Embora algumas capacidades possam
declinar na velhice, outras h que se mantm estveis e outras que se
aperfeioam.
A Inteligncia um fenmeno complexo, cujas medidas so
irremediavelmente ambguas (Fontaine, 2000, p.79).
Grande parte dos dados obtidos acerca do funcionamento cognitivo
vem de estudos efectuados numa abordagem psicomtrica. As provas mais
realizadas para a avaliao da inteligncia: Escala de Inteligncia de Wechsler
(WAIS) e o Teste de Aptides Mentais Primrias de Thurstone (PMA).
Raymond Cattell e Jonh Cattell (1966) propuseram um modelo
bidimensional para a inteligncia, baseado em duas trajectrias evolutivas
sujeitas aco de condies gentico-biolgicas e de condicionantes
socioculturais, as quais se expressam de maneiras diferentes no
desenvolvimento inicial e na velhice.
Defendem um modelo de inteligncia mais complexo, composto por
duas dimenses: a inteligncia fluida e a inteligncia cristalizada.
24
A inteligncia fluida est mais relacionada com a habilidade mental
inata, reflecte a qualidade do crebro de cada sujeito e prende se com
capacidades bsicas tais como a ateno, a memria e as capacidades de
raciocnio; e a inteligncia cristalizada, representada por testes de
informao geral e vocabulrio, e que reflecte as capacidades mentais que
dependem da experincia, educao e aculturao.
Fontaine (2000) afirma que a inteligncia cristalizada revela-se
atravs de um grande nmero de actividades associadas profundidade do
saber e da experincia, do julgamento, da compreenso das relaes sociais
e das convenes, da habilidade do comportamento (p.86). As aptides
primrias a ela associadas so a compreenso verbal, a formao de
conceitos, o raciocnio lgico e o raciocnio geral.
Ainda o mesmo autor, considera que a inteligncia fluida revela-se
atravs das actividades de compreenso das relaes entre dados da
natureza espacial ou verbal, de construo de inferncias e de implicaes.
As aptides primrias associadas so o raciocnio indutivo, a flexibilidade
figurativa, o raciocnio lgico.
Baltes (1990, in Fontaine, 2000) afirma que os dfices da inteligncia
fluida so, durante muito tempo, compensados pelos desempenhos da
inteligncia cristalizada. O idoso compensaria pela sua experincia a sua
dificuldade em responder a situaes novas (p.87).
Para percebermos que capacidades resistem passagem do tempo
importante distinguir a inteligncia fluida da cristalizada. Figueiredo (2000)
salienta que as pontuaes que medem as capacidades fluidas
relacionadas com a rapidez, ateno, concentrao e raciocnio indutivo
comeam a diminuir por volta dos 30 anos. Ao contrrio, as capacidades
cristalizadas, reflectidas nas destrezas verbais, permanecem estveis at aos
60 anos (p.42).
H trs aspectos do processamento cognitivo que parecem estar
relacionadas com as diferenas em aptides especficas, associadas ao
declnio de algumas aptides intelectuais: a diminuio da velocidade do
processamento de informao, o dfice na memria de funcionamento e os
decrscimos na acuidade visual e auditiva (Montorio e Izal; 1999, Belsky,
2001; Marchand, 2001; Schaie e Willis, 2002; Spar e La Rue, 2005, in
Figueiredo, 2007).
Existem outros factores que tm demonstrado influncia nas
pontuaes dos indivduos em testes de inteligncia, sendo eles: problemas
de sade (por exemplo, doenas crnicas), variveis do tipo social
25
(isolamento social), a personalidade (por exemplo, autoconceito) (Montorio
e Izal, 1999; Marchand, 2001; Schaie e Willis, 2002, in Figueiredo, 2007).
Temos estado a falar de resultados baseados numa perspectiva
psicomtrica. Este tipo de escalas foram concebidas para avaliar o
rendimento escolar ou acadmica das crianas e jovens, assim estes podem
enviesar os resultados das investigaes contra os adultos e os idosos
(Schaie e Willis, 2002, in Figueiredo, 2007).
Neste sentido, tm os investigadores vindo a defender a necessidade
de elaborar provas que tenham validade ecolgica, ou seja, adequadas s
necessidades da vida real e capacidades cognitivas necessrias em
determinada idade (Izal e Montorio, 1999, in Figueiredo, 2007).
Schaie e Willis (2002, in Figueiredo, 2007) consideram que o ciclo de
vida se deve dividir em distintas fases em funo das capacidades
intelectuais relevantes em cada momento (p.44).
Na adultez, o comportamento inteligente caracteriza-se pela tomada
de decises lgicas e pela sensatez, na generalidade, pela manuteno de
uma perspectiva de vida equilibrada (Figueiredo, 2007).
Schaie e Willis (2002, in Figueiredo, 2007) reclamam que para avaliar
este tipo de capacidades so necessrias provas baseadas em situaes de
vida quotidiana que requerem um comportamento inteligente, ou seja,
centradas no conceito de inteligncia prtica.
Esta perspectiva de inteligncia prtica refere-se aos processos
intelectuais necessrios resoluo de problemas da vida real, onde
tambm se incluem o contexto e factores no cognitivo. Assim, para
compreender o funcionamento intelectual na vida diria, deve considerar-se
a sua relao com outros factores que influenciam, a resoluo do problema:
crenas, motivao, eficcia, emoes, contexto fsico e social (Willis, 1996,
in Figueiredo, 2007, p.45).
H investigadores que propuseram explicaes tericas que tentam
integrar as diferentes perspectivas acima descritas: a psicomtrica, baseada
nas capacidades intelectuais, e a centrada na inteligncia prtica.
Baltes e Schaie, (1976, in Figueiredo, 2007) defendem um modelo de
inteligncia composto por duas dimenses: a mecnica e a pragmtica. A
primeira implica as capacidades intelectuais na forma em que so definidas
sob um ponto de vista psicomtrico. A dimenso pragmtica refere-se ao
funcionamento cognitivo relacionado com a soluo de problemas e com a
vida do dia-a-dia.
26
3.5. Personalidade
Ser que a personalidade permanece estvel ou muda medida que
vamos envelhecendo? A resposta a estas questes tm sido alvo de enorme
interesse por parte dos investigadores da psicologia do envelhecimento. A
questo mais importante tem sido a de entender at que ponto o processo
de envelhecimento afecta possveis mudanas nos diferentes traos da
personalidade.
Existem imensas definies de personalidade, em termos acadmicos.
Freire (in Freitas et.al., 2006) afirma que o termo personalidade refere-
se { no~o de unidade integrativa do ser humano, que inclui o conjunto de
seus atributos diferenciais permanentes e suas modalidades especficas do
comportamento, podendo ser entendida como a organizao dos aspectos
cognitivos, afectivos, fisiolgicos e morfolgicos do indivduo (p.1260).
Todo o indivduo possui uma personalidade. Esta trata da nossa forma
de pensar, de sentir, de agir ou de reagir nas situaes quotidianas.
A personalidade uma estrutura, uma organizao, ou ainda um
integrador de comportamentos. A palavra integrao recorda a existncia de
um todo organizado, cujas unidades mantm relaes correntes, o que
permite a prossecu~o de uma finalidade comum (Fontaine, 2000, p.131).
Allport (1973, Freire in Freitas et al., 2006), preconiza a definio mais
aceite e segundo ele a personalidade a organiza~o din}mica e interna
dos sistemas psicofsicos que determinam o comportamento e o
pensamento caractersticos do indivduo e seus ajustamentos ao ambiente
(p.1261).
Existem alguns modelos da personalidade, vamos falar apenas do
modelo dos Cinco Grandes Factores (CGF). Este modelo uma verso
moderna da teoria do trao. Os cinco construtos referem-se a informaes
que as pessoas querem ter sobre aqueles com quem vo interagir. Os cinco
factores so denominados por:
Factor I Extroverso/Introverso
Factor II Agradabilidade (ou Afabilidade)
Factor III Conscincia
Factor IV Neurocitismo
Factor V Abertura Experincia (ou fraqueza)
Ainda no h concordncia quanto denominao destes factores, mas h
consistncia entre o modelo e os principais instrumentos de avaliao
(Freire, in Freitas et. al., 2006).
27
Num estudo longitudinal de Baltimore, foi utilizado o Inventrio de
Personalidade (NEO), que avalia estes cinco factores constatou-se que estas
dimenses da personalidade so comuns a todos os indivduos e mantm-se
estveis durante a vida adulta. Assim, a velhice no teria efeitos sobre a
personalidade, sendo esta uma estrutura homgenea, os aspectos estavis
predominam sobre aqueles que se modificam na vida adulta.
Estes resultados vm por em causa alguns esteritipos geralmente
associados { idade avanada: se { medida que envelhecem, as pessoas se
tornam, por um lado, infantis e emocionalmente instveis, e, por outro,
conservadoras, rgidas e introvertidas, ento deveria encontrar-se
pontuaes mais elevadas no neurocitismo e mais baixas na abertura
experincia e extrovers~o (Figueiredo, 2006, p.53). Isto vem demonstrar
que a imagem social que temos dos idosos como sendo seres isolados e
resistentes a novas experincias no corresponde verdade.
A estabilidade bsica nos traos de personalidade parece que
sensvel a acontecimentos de vida. A investigao tem tentado compreender
como que as pessoas idosas reagem e se adaptam a acontecimentos de
vida difceis. Grande parte dos estudos revelam que alguns acontecimentos
que as pessoas idosas experienciam so menos susceptveis de mudana
(doena crnica, viuvez), na velhice h uma certa tendncia a utilizar
estratgias de copping mais centradas nas emoes (ibd.).
Em jeito de concluso, poder-se- afirmar que as evidncias revelam
que acerca da mudana/estabilidade da personalidade devido ao processo
de envelhecimento indica uma tendncia para a estabilidade com o passar
do tempo, no que diz respeito abordagem dos traos.
28
4. Envelhecimento e dependncia: incapacidade, (in)dependncia e
autonomia.
Antes de entrarmos neste captulo, sugiro a visualizao do filme
Driving With Miss Daisy.
Estes conceitos so primordiais no trabalho efectuado com pessoas
idosas. Devem ser sempre tidas em conta e, sempre que possvel, devemos
promover a autonomia e a independncia.
4.1. Dependncia
Como vimos acima, Baltes (1996) considera que a dependncia dos
idosos caracteriza-se pela incapacidade de a pessoa funcionar sem ajuda,
devido s suas limitaes fisico-funcionais e cognitivas ou a combinao das
duas. Verificamos que a dependncia uma condio com mltiplas facetas
e determinada por mltiplas variveis em interaco.
Neri (in Freitas et al., 2006) considera que os determinantes da
dependncia considerada com condio multidimensional so:
a) Incapacidade funcional devido a patologias, sensao de desamparo,
estados afectivos negativos, falta de motivao, escassez ou
inadequao de apoio fsico e psicolgico.
b) Efeitos da exposio a acontecimentos inesperados ou incontrolveis
no quotidiano (ex. quedas) e na vida familiar (ex. acidentes com os
filhos e netos), assim como maior probabilidade de vivncia de
grandes acontecimentos stressantes do prprio ciclo vital ou dos
ciclos da vida familiar (ex. morte de pessoas queridas). A interaco
com tais acontecimentos pode gerar sintomas depressivos, entre eles
a predominncia de humores disfricos, queixas somticas,
dificuldades em inicar comportamentos e dificuldades de discriminar
correctamente as contigncias.
c) Acumulao dos efeitos das presses exercidas pelas perdas em vrios
domnios (ex. perda dos filhos + reforma + afastamento dos filhos +
doenas pessoais = maior vulnerabilidade).
d) Falta de motivao para o estabelecimento de objectivos, manuteno
de uma vida activa, produtiva, saudvel e o cultivo da espiritualidade.
e) Desestruturao do ambiente fsico devido s condies de pobreza,
abandono ou negligncia.
29
f) Presena de barreiras arquitectnicas (escadas, pisos escorregadios) e
ergonmicas (ex. tapetes, camas muito altas) ou falta de apoios
ambientais (ex. bengalas, andarilhos, cadeiras de rodas).
g) Presena de prticas sociais discriminativas (ex. ser despedido do
emprego, ser tratado como incapaz).
h) Desestruturao do ambiente social (ex. falta de rotinas, falta de
estmulos sociais).
i) Tratamentos medicamentosos inadequados, ou iatrogenia (interaco
medicamentosa), que podem conduzir inactividade, apatia e
deteriorao cognitiva.
Normalmente, associa-se velhice a dependncia, mas muitos autores
afirmam que um esteretipo. Existem pessoas que apresentam um declnio
no seu estado de sade e nas funes cognitivas, outras tm uma vida
saudvel at aos seus 80 ou mais anos de idade. A dependncia no um
elemento que caracteriza apenas esta fase da vida (Sousa et al., 2004).
Sousa et al., (2004) afirma que: assim que um idoso entre num
processo de dependncia, isto significa que se invertem as funes exercidas
ao longo da vida (role reversal), assumindo duas formas:
1) Um dos cnjuges assume as diferentes responsabilidades.
2) Um filho adulto assume o papel do cuidador e torna-se responsvel
pela tomada de deciso.
4.2. Independncia
A indepncia a condi~o de quem recorre aos seus prprios meios
para a satisfa~o das suas necessidades (ibd., p.49).
Para as pessoas idosas a prioridade manter a sua independncia,
serem capazes de realizar a suas tarefas sem ajuda de outrem.
O aspecto central a capacidade funcional, que significa poder
sobreviver sem ajuda para as actividades instrumentais e de autocuidado.
Sixsmith (1986, in Sousa et al., 2004) estudou o significado e a
importncia da independncia para as pessoas mais velhas. Os resultados
obtidos indicam que sinnimo de: capacidade de tomarem conta deles
mesmos; sem estarem dependentes dos outros para a realizao das tarefas
30
dmomsticas e cuidados pessoais; competncia de auto-deciso e liberdade
para fazer escolhas (autonomia); no se sentir um fardo/obrigao para os
outros. Outra situao aquela em que os idosos recebem ajuda directa
num contexto de reciprocidade e assim a independncia preservada.
Na perspectiva do idoso o conceito de dependncia, autonomia e
independncia so conceitos diferentes do ponto de vista terico, mas nem
sempre so entendidos dessa forma pelo idoso.
O trabalho do profissional que trabalha com idosos passa, sempre que
possvel, fomentar a independncia, prevenir a incapacidade fisica,
psicolgica e social.
4.3. Autonomia
A questo central no conceito de autonomia a noo do exerccio do
autogoverno, associado a liberdade individual, privacidade, livre escolha,
auto-regulao e independncia moral (Medeiros, in Freitas et. al., 2006).
31
Bibliografia
Abreu, V., Yassuda, M., (2006). Avaliao Cognitiva. In: Freitas, E.V. et al.
(Org.). Tratado de Geriatria e Gerontologia. 2.ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, pp. 1252-1259.
Figueiredo, D., Cerqueira, M. (2004). Envelhecer em famlia. Porto: mbar.
Goldberg, E., (2007). Wisdow Paradox How your mind can grow stronger as
your brain grows older.London: Simon & Schuster Uk Ltd.
Medeiros, S.,Lemos, N., (2006). Suporte Social ao Idoso Dependente. In:
Freitas, E.V. et al. (Org.). Tratado de Geriatria e Gerontologia. 2.ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, pp. 1227-1233.
Neri, A., (2006). Envelhecimento Cognitivo. In: Freitas, E.V. et al. (Org.).
Tratado de Geriatria e Gerontologia. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, pp. 1236-1244.
Neri, A., (2006). Teorias Psicolgicas do Envelhecimento: Percurso Histrico
e Teorias Atuais. In: Freitas, E.V. et al. (Org.). Tratado de Geriatria e
Gerontologia. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, pp. 58-77.
Parente, M., et Col. (2006). Cognio e Envelhecimento. Porto Alegre:
Artmed.
Sousa, L., et al., (2004). Envelhecer em famlia cuidados familiares na velhice.
Porto: mbar.
Você também pode gostar
- Desenvolvimento e envelhecimento: Perspectivas biológicas, psicológicas e sociológicasNo EverandDesenvolvimento e envelhecimento: Perspectivas biológicas, psicológicas e sociológicasNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Resumo - Como Elaborar Projetos de PesquisaDocumento10 páginasResumo - Como Elaborar Projetos de PesquisaRafael Gonçalves100% (1)
- Meditação Da Árvore Do Caminho DouradoDocumento3 páginasMeditação Da Árvore Do Caminho Douradoana almeida80% (5)
- Transtorno EsquizoafetivoDocumento8 páginasTranstorno EsquizoafetivoMarta GuedesAinda não há avaliações
- Relatório Estágio Básico IDocumento12 páginasRelatório Estágio Básico IDeborah FonteneleAinda não há avaliações
- Cartilha Cirurgia de ObesidadeDocumento36 páginasCartilha Cirurgia de ObesidadeMargareth Peret100% (2)
- ERIK ERIKSON - Desenvolvimento PsicossocialDocumento13 páginasERIK ERIKSON - Desenvolvimento PsicossocialLisy Lacerda100% (2)
- Obesidade e Distorção Da ImagemDocumento107 páginasObesidade e Distorção Da ImagemCristiane MarquesAinda não há avaliações
- Habilidades Sociais CristasDocumento2 páginasHabilidades Sociais CristasPedro GuimarãesAinda não há avaliações
- Prática de Texto Leitura e Redação - Luiz Roberto Dias de Melo e Celso Leopoldo PagnanDocumento259 páginasPrática de Texto Leitura e Redação - Luiz Roberto Dias de Melo e Celso Leopoldo Pagnanapi-3836120100% (11)
- Apostila STATA v14Documento56 páginasApostila STATA v14Albino Velasquez100% (2)
- Construção Do Discurso Sobre A Igualdade de Gênero Juliet MitchellDocumento15 páginasConstrução Do Discurso Sobre A Igualdade de Gênero Juliet MitchellKaren AndradeAinda não há avaliações
- MODELO Formulario de Requisicao de Pessoal Estagiario INFRADocumento10 páginasMODELO Formulario de Requisicao de Pessoal Estagiario INFRAA28Ainda não há avaliações
- Bem-estar e qualidade de vida no envelhecimentoNo EverandBem-estar e qualidade de vida no envelhecimentoAinda não há avaliações
- Família Contemporânea e Asilamento de IdososNo EverandFamília Contemporânea e Asilamento de IdososAinda não há avaliações
- Velhice bem-sucedida: Aspectos afetivos e cognitivosNo EverandVelhice bem-sucedida: Aspectos afetivos e cognitivosAinda não há avaliações
- Atenção psicossocial em saúde mental: temas para (trans)formaçãoNo EverandAtenção psicossocial em saúde mental: temas para (trans)formaçãoAinda não há avaliações
- O Processo de Envelhecimento PDFDocumento15 páginasO Processo de Envelhecimento PDFFilipa100% (1)
- Apostila em Reforma PsiquiátricaDocumento26 páginasApostila em Reforma PsiquiátricaIago AdrianoAinda não há avaliações
- Volume5 Perspectiva Biopsicologica Do EnvelhecimentoDocumento32 páginasVolume5 Perspectiva Biopsicologica Do EnvelhecimentoMichelle DantasAinda não há avaliações
- Psicologia Aplicada Ao Paciente IdosoDocumento6 páginasPsicologia Aplicada Ao Paciente IdosoDavi MinoraAinda não há avaliações
- Psicologia Do EnvelhecimentoDocumento74 páginasPsicologia Do EnvelhecimentoLashawn BaldwinAinda não há avaliações
- Suicidio e AdolescênciaDocumento54 páginasSuicidio e AdolescênciaAriane de AndradeAinda não há avaliações
- Psicologia Da VelhiceDocumento77 páginasPsicologia Da Velhicebernazitas100% (1)
- Manual Prevencao Suicidio Saude MentalDocumento76 páginasManual Prevencao Suicidio Saude Mentaltemploazul100% (1)
- Transtornos de Ansiedade, Transtorno de Pânico eDocumento12 páginasTranstornos de Ansiedade, Transtorno de Pânico eGuilherme GiacomelliAinda não há avaliações
- Ementa UFU - Psicopatologia InfantilDocumento2 páginasEmenta UFU - Psicopatologia Infantiledu76Ainda não há avaliações
- Transtorno EsquizoafetivoDocumento14 páginasTranstorno EsquizoafetivoMarta Guedes100% (1)
- Artigo Imagem CorporalDocumento8 páginasArtigo Imagem CorporalPerisson DantasAinda não há avaliações
- Ciclo Vital PDFDocumento32 páginasCiclo Vital PDFPaula FernandesAinda não há avaliações
- Aula 17 - Síndromes AnsiosasDocumento15 páginasAula 17 - Síndromes Ansiosassalomaosantana5902100% (1)
- Slides PsicologiaDocumento38 páginasSlides PsicologiaNanda BarrosAinda não há avaliações
- Luto Na Terceira IdadeDocumento2 páginasLuto Na Terceira IdadeCarol ViolanteAinda não há avaliações
- Aperfeiçoamento em Saúde Mental e Atenção PsicossocialDocumento50 páginasAperfeiçoamento em Saúde Mental e Atenção PsicossocialArthur AlvesAinda não há avaliações
- Avaliacao GeriatricaDocumento44 páginasAvaliacao GeriatricaChristiane FreitasAinda não há avaliações
- Ensinando Psicoterapia Com IdososDocumento11 páginasEnsinando Psicoterapia Com IdososBruna Vencato AlexandreAinda não há avaliações
- TEPT em Policiais MilitaresDocumento129 páginasTEPT em Policiais MilitaresBadRahnaAinda não há avaliações
- Sobre A Morte e o MorrerDocumento35 páginasSobre A Morte e o MorrerAureliano Lopes100% (2)
- 1 - O Processo de EnvelhecimentoDocumento38 páginas1 - O Processo de EnvelhecimentoAntónio Moreira100% (1)
- Dialogoa Dentro Da Psicologia PDFDocumento314 páginasDialogoa Dentro Da Psicologia PDFemiliaspoAinda não há avaliações
- LeandroKarnal-Aula1 - Como Lecionar em Tempos de PandemiaDocumento31 páginasLeandroKarnal-Aula1 - Como Lecionar em Tempos de PandemiaCélia Reis100% (1)
- E Book Soft SkillsDocumento47 páginasE Book Soft SkillsLiderar MelhorAinda não há avaliações
- O Processo de Luto No EnvelhecimentoDocumento9 páginasO Processo de Luto No EnvelhecimentoMarianapedrosaAinda não há avaliações
- Apostila de Psicologia ClínicaDocumento53 páginasApostila de Psicologia ClínicaUlysses FernandesAinda não há avaliações
- Psicologia No Tratamento de IdososDocumento26 páginasPsicologia No Tratamento de IdososMiguel Ângelo de SousaAinda não há avaliações
- Fragilidade No IdosoDocumento11 páginasFragilidade No IdosovalériaAinda não há avaliações
- Artigo - TCC e Coaching Cognitivo PDFDocumento10 páginasArtigo - TCC e Coaching Cognitivo PDFJosé Augusto RentoAinda não há avaliações
- Primeiros Socorros Psicológicos - Intervenção Psicológica Na Catastrofe PDFDocumento20 páginasPrimeiros Socorros Psicológicos - Intervenção Psicológica Na Catastrofe PDFEduardoRosoAinda não há avaliações
- Aspectos Psicológicos Da Obesidade Mórbida PDFDocumento16 páginasAspectos Psicológicos Da Obesidade Mórbida PDFFelipeAinda não há avaliações
- Atuação Do Psicólogo Nos CAPS DoDocumento9 páginasAtuação Do Psicólogo Nos CAPS DobebetherjAinda não há avaliações
- Psicologia Da Velhice 1Documento94 páginasPsicologia Da Velhice 1sofiaAinda não há avaliações
- Livro Morte e Desenvolvimento Humano KovacsDocumento132 páginasLivro Morte e Desenvolvimento Humano KovacsPaula100% (2)
- Abordagem Centrada Na Pessoa - Carl RogersDocumento4 páginasAbordagem Centrada Na Pessoa - Carl RogersLuis Meneses de SantanaAinda não há avaliações
- O Psicologoa Na Saude Mental - Uma Experiencia de Estagio em Um CAPSDocumento26 páginasO Psicologoa Na Saude Mental - Uma Experiencia de Estagio em Um CAPSAdriana Caldeira de OliveiraAinda não há avaliações
- Diagnóstico de Depressão Maior e Distimia PDFDocumento3 páginasDiagnóstico de Depressão Maior e Distimia PDFMarcos RodriguesAinda não há avaliações
- Exercicio Psicologia Social IIDocumento1 páginaExercicio Psicologia Social IIPauloAinda não há avaliações
- Link de Ariana O Filme Gênio IndomávelDocumento3 páginasLink de Ariana O Filme Gênio IndomávelThaise Van Marck CarvalhoAinda não há avaliações
- TCC e Dependência QuímicaDocumento45 páginasTCC e Dependência QuímicaLuciana Lú100% (1)
- Apresentação - Toc e TCCDocumento8 páginasApresentação - Toc e TCCSamantha MeloAinda não há avaliações
- Projeto Terapêutico SingularDocumento4 páginasProjeto Terapêutico SingulardaphineAinda não há avaliações
- Introdução - Psicologia e EnvelhecimentoDocumento33 páginasIntrodução - Psicologia e EnvelhecimentoDaiane CorreiaAinda não há avaliações
- O Surgimento Da Clínica PsicológicaDocumento14 páginasO Surgimento Da Clínica PsicológicaRafael MemphisAinda não há avaliações
- Figuras de Construção (Ou de Sintaxe)Documento14 páginasFiguras de Construção (Ou de Sintaxe)geovanaAinda não há avaliações
- Ricou, 2014Documento14 páginasRicou, 2014Daniela MarquesAinda não há avaliações
- Analise de ConteudoDocumento12 páginasAnalise de ConteudoLisped1Ainda não há avaliações
- Petição Dano Moral Inscrição SPC SersaDocumento12 páginasPetição Dano Moral Inscrição SPC SersaReinaldo Queiroz BrasileiroAinda não há avaliações
- Deus NevilleDocumento9 páginasDeus NevilleLeco Tp0% (1)
- Oracao Subordinada SusbtantivaDocumento7 páginasOracao Subordinada SusbtantivaGRAZIELLEAinda não há avaliações
- O Desenho Industrial No Projeto de Produto IndustrialDocumento12 páginasO Desenho Industrial No Projeto de Produto Industrialrobson_rosa_35Ainda não há avaliações
- Robert Misrahi Por Uma Ética Da FelicidadeDocumento6 páginasRobert Misrahi Por Uma Ética Da FelicidadeCissa SalmanAinda não há avaliações
- 1 Est - Desc - AlunosDocumento62 páginas1 Est - Desc - AlunosLurdes CardosoAinda não há avaliações
- Ijumper - O Novo Empreendedor Da Economia Digital (Ebook Completo)Documento523 páginasIjumper - O Novo Empreendedor Da Economia Digital (Ebook Completo)Beat Digital67% (6)
- Além Do Riso de Massa - Humor, Psicanálise e ContemporaneidadeDocumento157 páginasAlém Do Riso de Massa - Humor, Psicanálise e ContemporaneidadeglicoseAinda não há avaliações
- Termodinamica Macroscopica 2010-11-20 PDFDocumento226 páginasTermodinamica Macroscopica 2010-11-20 PDFJüvinal Pasiensia Simu DeitAinda não há avaliações
- Yvonne A Pereira O Cavaleiro de Numiers PDFDocumento99 páginasYvonne A Pereira O Cavaleiro de Numiers PDFNeio Lucio CieslakAinda não há avaliações
- 05 I Eclesiastes 2.18-26Documento14 páginas05 I Eclesiastes 2.18-26langrafeAinda não há avaliações
- Alfabetização Científico-Tecnológica - Auler e DelizoicovDocumento13 páginasAlfabetização Científico-Tecnológica - Auler e DelizoicovrenatoAinda não há avaliações
- A Fina Arte de Lidar Com Pessoas Difíceis - Ivan MaiaDocumento25 páginasA Fina Arte de Lidar Com Pessoas Difíceis - Ivan MaiaMaurilio Silva77% (13)
- A Temática Africana em Sala de AulaDocumento4 páginasA Temática Africana em Sala de AulaRenan PinnaAinda não há avaliações
- VolobuefDocumento11 páginasVolobuefWillian GonçalvesAinda não há avaliações
- EUNICE Simulado Avaliac3a7c3a3o Diagnc3b3stica 3c2ba Ano LP 1c2ba BimDocumento5 páginasEUNICE Simulado Avaliac3a7c3a3o Diagnc3b3stica 3c2ba Ano LP 1c2ba BimEunice Mendes de OliveiraAinda não há avaliações
- AVELAR Idelber - A Morta de Oswald de AndradeDocumento17 páginasAVELAR Idelber - A Morta de Oswald de AndradeEduardo SterziAinda não há avaliações
- Rendimento MecanicoDocumento15 páginasRendimento MecanicoFabio GriffithAinda não há avaliações
- A Noite Abre Os Olhos de TMDocumento7 páginasA Noite Abre Os Olhos de TMSílvia PintoAinda não há avaliações
- Conceito de Visão Sistêmica - Passo 1 - Etapa 2Documento3 páginasConceito de Visão Sistêmica - Passo 1 - Etapa 2Michele Maiara Dos SantosAinda não há avaliações
- Referências e Elogios Aos Livros e Vídeos 601Documento168 páginasReferências e Elogios Aos Livros e Vídeos 601Alfredo BernacchiAinda não há avaliações