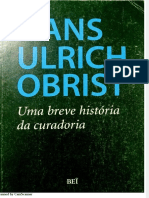Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Rubens
Rubens
Enviado por
Yan BelémDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Rubens
Rubens
Enviado por
Yan BelémDireitos autorais:
Formatos disponíveis
FACOM - n 16 - 2 semestre de 2006
10
RESUMO
Reexo sobre o conceito de fotograa
expandida, aquela que enfatiza a
importncia dos processos de criao e os
procedimentos utilizados pelo artista.
A fotograa hoje produto cultural complexo
que contribui para a transmisso das mais
variadas experincias perceptivas. O texto
avalia as vrias possibilidades de criao
na fotograa contempornea a partir dos
processos criativos desenvolvidos pelos
artistas.
PALAVRAS-CHAVE
Fotograa expandida, fotograa
contempornea, imagem fotogrca,
sistemas de produo fotogrca.
ABSTRACT
Considerations over the concept of expanded
photography, which focus on the creation
processes and the proceedings of the artist.
Nowadays, photography is a complex cultural
product that contributes for the transmission
of the most varied perceptions experiences.
This paper evaluates some possibilities of
creation in the contemporary photography
from the creative processes developed by the
artists.
KEYWORDS
Expanded photography, contemporary
photography, photographic images,
photographic process systems.
Para compreender a produo fotogrfica contempornea, bem
como seus processos de criao e produo, temos que mergulhar
no mundo das imagens, pois nada substitui a experincia de ver. Ver,
comparar, elaborar conexes, estabelecer relaes. Olhar para uma
imagem e explorar suas potencialidades narrativas. A eliminao
das f ronteiras entre as diferentes formas de expresso, produo e
circulao de imagens no mundo contemporneo, torna cada vez
mais difcil a tarefa de catalogar as manifestaes das artes visuais,
particularmente a fotografia. Da mesma maneira que percebemos o ir
alm, o ultrapassar de todos os limites, a contaminao das tcnicas,
o hibridismo dos suportes, verificamos o quanto difcil e impreciso
articular uma nomenclatura para a produo contempornea.
Processos de Criao na Fotograa
apontamentos para o entendimento dos vetores e
das variveis da produo fotogrca
por Rubens Fernandes Junior
FACOM - n 16 - 2 semestre de 2006
11
Denominamos essa produo contempornea
mais arrojada, l ivre das amarras da fotograf ia
convencional , de fotograf ia expandida, onde
a nfase est na i mportncia do processo de
criao e nos procedi mentos uti l izados pelo
artista, para justi f icar a tese de que a fotograf ia
tambm se expandiu em termos de f lut uao
ao redor da trade pei rciana
1
(signo cone,
ndice e s mbolo). Al guns autores cl ssicos
que discutem essa questo Rol and Barthes,
Phi l l iphe Dubois, Jean-Marie Schaeffer, Susan
Sontag, entre outros entre outros consideram a
fotograf ia como mani festao icnica e indexical .
J Arl indo Machado e Vi lm Flusser assumem
que a fotograf ia, signicamente, tambm tem
carter si mbl ico
2
.
A fotograf ia expandida existe graas ao arrojo dos
artistas mais inquietos, que desde as vanguardas
histricas, deram incio a esse percurso de
superao dos paradigmas fortemente impostos
pelos fabricantes de equipamentos e materiais,
para, aos poucos, fazer surgir exuberante uma
outra fotograf ia, que no s questionava os
padres impostos pelos sistemas de produo
fotogrf icos, como tambm transgredia a
gramtica desse fazer fotogrf ico.
A fotograf ia expandida portanto, tem nfase no
fazer, nos processos e procedimentos de trabalho
cuja finalidade a produo de imagens que
sejam essencialmente perturbadoras. A fotograf ia
expandida desafiadora, porque subverte os modelos
e desarticula as referncias. Essa denominao,
fotograf ia expandida, surgiu aps muita discusso
e reflexo em que buscava-se uma nomenclatura
mais adequada. Na verdade, utilizava-se o termo
fotografia construda, mas logo percebemos que
essa denominao no dava conta do universo que
pretendia contemplar. Em 1996, no Seminrio
Panoramas da Imagem, realizado no Mube-SP,
produzimos um pequeno ensaio denominado
Descobertas e Surpresas na Fotograf ia Brasileira
Contempornea Expandida.
Essa denominao fotograf ia expandida tem
como base terica os textos de Rosalind Krauss
(onde em um deles ela discute a questo da Escultura
Expandida
3
) e o texto de Gene Youngblood, que
discorre sobre o Cinema Expandido
4
. Alm disso,
h um texto do artista e editor Andreas Mller-
Pohle, Information Strategies, publicado na revista
alem European Photography
5
, em que ele discute
algumas questes que despertaram o desejo de
compreender melhor essa nova fotografia, mais
comprometida com o fazer fotogrfico. Outro
referencial terico importante, que impulsionou
esta pesquisa, foi a Crtica Gentica
6
, que
conhecemos atravs de Ceclia de Almeida Salles,
da PUC-SP, cuja proposta metodolgica trouxe
uma nova luz para estas investigaes.
A produo contempornea tem seu diferencial
porque, quero entender, vivemos uma saudvel
crise: de um lado, vemos um esgotamento das
artes plsticas tradicionais, e, do outro, temos
um novo momento tecnolgico em termos de
produo imagtica, no qual predomina a imagem
digital. Essa crise , em parte, responsvel pelo
interesse despertado pela fotografia seja pelos
museus e galerias, seja pelos colecionadores, pelos
artistas visuais que esto aprendendo (de novo) a
incorpor-la em seu trabalho, seja pelos prprios
fotgrafos, que esto trilhando outros caminhos
para concretizar sua produo e circulao de
imagens fotogrficas.
Para pensar essas questes em termos de
produo fotogrf ica contempornea, recortamos
uma possibil idade dentre muitas, para tentar
entender como a fotograf ia vem enfrentando
as questes do imaginrio nos ltimos anos.
Constatamos que caminhar nesse campo minado
de possibil idades tentar visual izar as poticas do
processo para buscar compreender em parte, esta
fantstica aventura contempornea. A fotograf ia
hoje, produto cultural de rara complexidade
que contribuiu e continua contribuindo de forma
categrica para a transmisso das mais variadas
experincias perceptivas.
Lembramos que Marshall Mcluhan no seu
livro Understand Media
7
, explicitava que hoje,
as tecnologias e seus ambientes conseqentes se
sucedem com tanta rapidez que um ambiente j
nos prepara para o prximo, reforando a idia da
semitica peirciana, da qual signo gera signo. Ao
surgir a nova tecnologia, defende Dcio Pignatari,
tradutor dessa obra de Mcluhan, existe uma forte
inteno de manter a anterior, que se torna mais
artesanal.
Sem pretenso de querer aambarcar todas as
possibilidades de criao de imagens, apontaremos
e discutiremos algumas possibilidades que, com
certeza, daro conta de alguns dos novos vetores
da produo fotogrfica contempornea. Os
procedimentos tcnicos e o olhar retrospectivo
sobre o processo so fundamentais para entender
FACOM - n 16 - 2 semestre de 2006
12
o percurso do artista e essa questo que nos
levou a investigar melhor e acompanhar mais de
perto o trabalho de alguns artistas.
A fotografia convencional, aquela que produto
de uma ao entre o sujeito e o objeto, intermediada
por uma prtese, a cmera fotogrfica, tambm
precisa ser repensada, mas nosso interesse est
centrado naquelas imagens que carregam a
centelha da inquietao, que estimula o leitor a
refletir sobre aquilo que v. Vilm Flusser autor do
clssico Filosof ia da Caixa Preta - elementos para
uma futura f ilosof ia da fotograf ia
8
, foi quem melhor
ancorou a idia de uma fotograf ia expandida j que
seu trabalho vai aprofundar a crtica questo da
imagem tcnica (e a fotografia foi a primeira delas),
que na sua opinio devia constituir denominador
FACOM - n 16 - 2 semestre de 2006
13
comum entre conhecimento cientfico, experincia
artstica e vivncia poltica de todos os dias.
9
Flusser chama a mquina que produz essa
imagem tcnica de cai xa preta
10
com a
f inal idade de remeter idia de magia e mistrio.
Ao contrrio das teorias que privilegiam o
documento fotogrf ico e estudam a relao entre
a real idade e a representao, Flusser af irma que
a fotograf ia supera a diviso da cultura entre
cincia e tecnologia, de um lado, e arte, do outro.
O conhecimento tcnico e o comportamento
tcnico so agora experimentados pelas imagens
tcnicas, que devem substituir a conscincia
histrica por uma conscincia mgica (...)
substituir a capacidade conceitual por capacidade
imaginativa.
11
Eustquio Neves, Crispin V, 2004.
FACOM - n 16 - 2 semestre de 2006
14
Flusser prope ento que toda crtica da imagem
tcnica deve visar o branqueamento dessa cai xa
preta
12
. Isso signif ica que como leitores, no
sentido mais amplo possvel, precisamos aprender
a desmontar a obra para refaz-la. Defende Flusser
que as pontas dos nossos dedos so feiticeiros que
embaralham o universo
13
, ou seja, ao apertarmos
teclas, estamos produzindo aes simples ou
complexas que detonam processos nem sempre
controlveis do ponto de vista sistmico.
O que Flusser objetiva tentar compreender o
que se passa no interior da caixa preta ou seja,
do aparelho. Este contm um programa que
limitador pela sua prpria natureza construtiva
e tcnica. Ele chama o usurio desse aparelho,
no caso o fotgrafo que obedece rigidamente
o programa imposto, de funcionrio pois so
aqueles que conseguem dar conta dos receiturios
e das bulas dos fabricantes, tanto de equipamentos,
como de materiais sensveis. Portanto, o fotgrafo-
funcionrio aquele que trabalha dentro do
programa, um respeitador dos programas pr-
estabelecidos, mas isso apenas conduz a uma
previsibilidade nos resultados visuais.
Flusser pressupe que o homem, e por extenso
a Humanidade, tem vestido o uniforme de
funcionrio para funcionar em funo do
aparelho e que os funcionrios tornam as coisas
funcionantes
14
. Flusser na realidade aproxima
o conceito de funcionrio idia explorada
pelo escritor Franz Kaf ka, tcheco como ele, que
discute essas questes em parte de sua obra O
Processo; Metamorfose, O Castelo, entre outras. Ou
seja, o funcionrio kaf kaniano que repete
exausto suas tarefas, com a exatido prevista
tanto pela prpria programao das suas tarefas,
como pela imposio do sistema. Ele demonstra
que o funcionrio no consegue compreender
a f inalidade do aparelho, ou seja, no consegue
aparelh-lo, apenas produz ou reproduz as
potencialidades inscritas no aparelho, que
grande, mas limitada.
Flusser critica o uso exagerado e repetitivo do
programa que no caso da produo da imagem
fotogrf ica tende a padronizar a visual idade
e defende que o criador aquele que penetra
no interior da cai xa preta e subverte as regras
estabelecidas. O fotgrafo que produz a
fotograf ia expandida, trabal ha com categorias
visuais no previstas na concepo do aparel ho,
ou seja, o artista tem que inventar o seu processo
e no cumprir um programa. Se no penetrar
no interior da cai xa preta, no l imite, ser
ignorante em relao l inguagem. Portanto,
os fotgrafos devem conhecer em profundidade
a bula dos fabricantes da mquina, do f i l me,
dos qumicos, dos soft wares, etc para poder
atravessar os l imites do aparel ho e inter vir nas
suas funes.
Pode-se verif icar com essas idias que os
procedimentos e as poticas do processo dos
fotgrafos que buscam ousar em seu processo de
criao, no se esgotaram nesses quase 170 anos
de histria da fotograf ia. Para quem trabal ha na
direo da fotograf ia expandida sempre existir
potencial idades dormentes, mesmo quando
submetido lgica do instrumento, o que torna
vivel a destruio dos modelos consagrados.
Subverter o cdigo impositivo uti l izar o
equipamento, seus acessrios, o material sensvel
e os soft wares com procedimentos contrrios
aos estabelecidos pelo seu produtor ou por
sua tradio cultural. Al is, para Flusser, o
verdadeiro fotgrafo aquele que procura inserir
na imagem uma informao no prevista pelo
aparel ho fotogrf ico.
Por outro lado, se pensarmos a fotograf ia
apenas como o resultado da obedincia dos seus
indicadores programticos, talvez estivssemos
fadados a conf in-la na mesmice de um
sistema fechado. Sabemos que o que permite a
manuteno de qualquer sistema o seu potencial
estado de heterogeneidade, na qual as variveis
se combinam e se diferenciam continuamente.
Em qualquer sistema fechado, temos um estado
inicial de diferenciao que vai se degradando
progressivamente, ou seja, o prprio sistema
anuncia sua morte que representada pela
passagem do heterogneo ao homogneo. Por
isso, existe o prazer pela ruptura, que se desdobra
em diversas formas, que busca avanar todos os
sinais previsveis, derrubar todas as barreiras,
inclusive aquelas que tradicionalmente def inem as
categorias ontolgicas da fotograf ia. Uma espcie
de Ordem e Caos permanente.
Romper uma matriz codif icada, subverter
os modelos institudos, operar nas brechas dos
programas. Essa a tarefa do artista que reconhece
o absurdo dos programas e no quer se submeter
s regras e s combinaes pr-estabelecidas
pelo sistema. A fotograf ia sempre esteve aberta:
tanto para aqueles que se quiseram mape-la e
FACOM - n 16 - 2 semestre de 2006
15
circunscrev-la em limites bem precisos, como
para aqueles que se propuseram a explor-la em
direo da ampliao de sua rea de atuao como
linguagem e representao.
O projeto esttico contemporneo e aqui se
inclui a fotograf ia expandida exatamente a busca
dessa diversidade sem limites e da multiplicidade
dos procedimentos novas formas do conhecimento
humano onde o mundo passa a ser entendido
como uma trama complexa, extraordinria e
instvel. A fotograf ia contempornea hoje um
suporte para vrias manifestaes imagticas
que exigem do espectador uma capacidade de
leitura diferenciada. Cada vez mais o que temos
a apresentao de uma idia, de um conceito
orquestrando o trabal ho do artista, que prope
Odires Mlszho, Antecmara da Mscara, 2001.
FACOM - n 16 - 2 semestre de 2006
16
uma lgica processual para tentar despertar o
espectador diante de mi l hares de imagens que
somos expostos diariamente.
Essa mestiagem contempornea, esse
hibridismo entre os processos de produo, essa
permanente contaminao visual , esses vos
alados rumo ao desconhecido. bal anam de
tempos em tempos, as vel has certezas da i magem
fotogrf ica. As novas snteses e combinaes
apontam cada vez mais para um entrel aamento
dos procedi mentos das vanguardas histricas, dos
processos pri mitivos, alternativos e peri fricos,
associados ou no s novas tecnologias.
Dentro dos conceitos de fotograf ia expandida (ou
fotograf ia experimental, construda, contaminada,
manipulada, criativa, h brida, precria, entre
Cssio Vasconcellos, Paisagem Marinha, 1993.
FACOM - n 16 - 2 semestre de 2006
17
tantas outras denominaes) devemos considerar
todos os tipos de intervenes que oferecem
imagem f inal um carter perturbador, a qual
aponta para uma reorientao dos paradigmas
estticos, que ousam ampliar os limites da
fotograf ia enquanto linguagem, sem se deter na
sua especif icidade. No nos interessa mais apenas
o cumprimento das etapas do processo codif icado
para o registro fotogrf ico. Agora, torna-se
importante considerar os contextos de produo e
as intervenes antes, durante e aps a realizao
de uma imagem de base fotogrf ica.
Todos esses procedimentos tcnicos apontam
para as novas questes conceituais da fotograf ia.
No mais suf iciente apenas a preocupao com a
aparente perda da referncia fotogrf ica e de sua
autoridade como documento testemunhal. A nova
produo imagtica dei xa de ter relaes com o
mundo visvel imediato, pois no pertence mais
ordem das aparncias, mas sugere diferentes
possibilidades de suscitar o estranhamento em
nossos sentidos. Trata-se de compreender a
fotograf ia a partir de uma ref lexo mais geral
sobre as relaes entre o inteligvel e o sensvel,
encontradas nas suas dimenses estticas.
Para justicar essa produo estabelecemos uma
conexo com as estratgias fotogrcas contemporneas
formuladas por Andreas Mller-Pohle, no ensaio
j citado Information Strategies, publicado na revista
European Photography. Ele prope algumas possibilidades
para a produo de imagens fotogrcas que, associadas
aos inmeros procedimentos tcnicos aqui sugeridos,
resultar no amplo panorama da fotograa expandida,
que vem provocando um novo impacto nas artes visuais
produzida nos ltimos anos.
Atualmente, podemos realizar qualquer tipo de
interveno na produo de imagens fotogrf icas,
em qualquer momento de seus diferentes estgios
de produo, e em qualquer nvel. No se questiona
mais a veracidade da fotograf ia. Fica claro que, uma
vez tornado possvel qualquer tipo de manipulao
no registro fotogrf ico e, independentemente da
dose de realismo, todas as imagens fotogrf icas
so suspeitas. Como af irmado anteriormente, o
mundo da representao visual est novamente
em crise.
As imagens contemporneas de base fotogrf ica,
cada vez mais, se aproximam do mundo da f ico
e representam a genuna carncia de autenticidade
do real dos nossos tempos. Liberados que
esto da preocupao testemunhal, os artistas
justapem a aparncia da realidade da fotograf ia
com sua grande capacidade de interveno e
magia, fazendo-nos aproximar e vislumbrar
um reino que est bastante prximo da razo
e da experimentao, simultaneamente. Esta
fotograf ia, em permanente expanso, aumenta
seu vnculo com outras manifestaes das artes
visuais e muitos artistas comeam a experimentar
essas alternativas de produo de imagem a f im
de superar as limitaes impostas pelo aparelho,
forando os parmetros de sua tcnica para
conseguir resultados que ultrapassem as barreiras
que lhe so inerentes.
As estratgias propostas por Mller-Pohle,
combinadas com os procedimentos tcnicos sugeridos
na pesquisa, oferecem trs nveis de interveno:
1. O ar t ista e o obj eto a const r uo e o
arranjo do assunto da fotograf i a, ou seja,
como i nter feri r no mundo visvel . Esta
est ratgi a i nclui t udo, desde nat urezas mor tas
arranjadas at a auto-encenao com o prprio
fotgrafo di ante da cmera, cujo campo de
ao ampl i ado em vri as di rees: di retor,
const r utor, dramat urgo, desenhista de cenrios,
ator, ent re out ros.
So inmeros os procedimentos para a
construo de uma imagem que ampliam a rbita
conceitual da linguagem fotogrf ica. Dentre
muitos procedimentos, destacamos: o cut paper;
a produo de imagens por apropriao de outras
imagens; a encenao do auto-retrato; a nova
natureza morta (still life); as construes por
miniaturas; a construo de realidades; a direo
de cenas; as instalaes e as esculturas: os dirios
ntimos; entre outros.
2. O artista e o aparelho no sentido de us-lo
contrariamente a sua funo preestabelecida, ou
seja, ao seu programa de funcionamento.
Para Flusser, as fotograf ias so real izaes de
algumas potencial idades inscritas no aparel ho.
O nmero de potencial idades grande, mas
l imitado (...) O fotgrafo manipula o aparel ho,
apalpa-o, ol ha para dentro e atravs dele, a f im
de descobrir sempre novas potencial idades. Seu
interesse est concentrado no aparel ho e o mundo
l fora s interessa em funo do programa. No
est empenhado em modif icar o mundo, mas em
obrigar o aparel ho a revelar suas potencial idades.
O fotgrafo no trabal ha com o aparel ho, mas
FACOM - n 16 - 2 semestre de 2006
18
brinca com ele. (...) O aparel ho funciona, efetiva
e curiosamente, em funo da inteno do
fotgrafo.
15
Ou seja, a inquietao do usurio
que trabal ha buscando ultrapassar os l imites
impositivos dos equipamentos, esgarando e
reinventando suas possibi l idades. Entendemos
essa interferncia no aparel ho como, por exemplo,
o movimento (horizontal, vertical, circular) da
cmera durante o registro, gerando uma imagem
trmula e nem sempre reconhecvel imediatamente;
a cmera cega (blind camera); o uso de f i ltros sem
intenes corretivas; a superposio de imagens;
o desfoque como estratgia de representao;
a cmera pinhole (buraco de agul ha); o uso de
cmeras artesanais, cmeras amadoras, cmeras
de foco f i xo com lentes de bai xa qual idade; a
fotograf ia sem o aparel ho (sem cmera); entre
outras.
3. O artista e a imagem interferindo na prpria
fotograa quer dizer, interferncia no suporte
(negativo e/ou positivo). O processo produtivo aps
fotografar implica, nessa estratgia, pelo menos uma
etapa de processamento envolvendo a integrao da
fotograa em um organismo visual mais complexo,
combinando-a com outras mdias ou transferindo-a
para outros suportes. Nessa alternativa de interveno,
associada aos diversos procedimentos, a fotograa
vem desenvolvendo seu campo mais frtil de expanso,
atuando ora na matriz negativa, ora na matriz positiva,
ora combinando diferentes procedimentos, em busca de
um esgarcamento da linguagem. As experincias visuais
mais intrigantes nos ltimos anos devem-se a essas
inmeras intervenes possveis a partir do positivo e/
ou negativo fotogrco. Podemos destacar a solarizao,
o fotograma, as fotomontagens e as superposies
(os sanduches), a revelao forada; as alteraes de
processos qumicos, como por exemplo, a substituio
da revelao do lme positivo, no processo E-6 por
C-41; a reproduo de processos primitivos como o
ciantipo, heliograa, fotogravura, platina e paldio,
Van Dyke, goma bicromatada; e ainda a manipulao da
matriz aps ser digitalizada via scanner e transportada
para o computador, que, atravs de softwares variados,
torna possvel diversas alteraes.
No podemos esquecer que foram os fotgrafos
que sempre ousaram romper as barreiras impostas,
no s pelos fabricantes, mas tambm pela tradio
e pelo conservadorismo das classes dominantes.
Em 1989, John Szarkowski, curador de fotograf ia
do MOMA por quase quatro dcadas, realizou
uma belssima exposio para comemorar os 150
anos da fotograf ia. O ei xo central da exposio
dava aos fotgrafos o crdito do desenvolvimento
tcnico da fotograf ia e no indstria. Ou seja,
foram os fotgrafos os verdadeiros responsveis
pela evoluo tecnolgica, j que sempre foram
eles que utilizaram os equipamentos e os materiais
sensveis alm dos limites estabelecidos, para
superar as limitaes impostas pelo sistema.
A fotografia contempornea quer-se transgressora,
e para isso capaz de assumir os mais diferentes e
inslitos procedimentos experimentais. Com certa
dose de certeza, podemos afirmar que a fotografia foi
a linguagem mais reinventada nos ltimos 170 anos.
A nova produo imagtica no deixa de ter relaes
com o mundo visvel imediato, pois no pertence
mais ordem das aparncias, mas aponta para as
diferentes possibilidades de suscitar o estranhamento
em nossos sentidos. Trata-se de compreender a
fotografia a partir de uma ref lexo mais geral sobre
suas intrincadas relaes, encontradas nas suas
dimenses figurativas e plsticas.
Hoje, a fotograf ia no est mais preocupada
em f lagrar um instante no tempo, pois o carter
efmero da ao quase j no tem o mesmo interesse
para o mundo da visualidade. Sabemos muito
bem o que querem os artistas com a fotograf ia:
atravs dos procedimentos especf icos de um fazer
artesanal, dotar sua imagem de densidade poltica,
densidade histrica e densidade potica.
No devemos ter nostalgia daquela fotograf ia
que era fruto de uma espcie de aliana entre os
programas pr-estabelecidos e um modo de ver o
mundo. A fotograf ia contempornea abdicou essa
busca incessante da tenso do momento decisivo
o acontecimento singular e sua historicidade e
se voltou para a direo de outras evidncias. Por
isso mesmo que podemos compreend-la mais
como conceitos que expressam idias, como uma
possibilidade que se dilata visualmente para questes
mais subjetivas. As imagens contemporneas
causam uma sensao de exploso e de unidade ao
mesmo tempo, pois no trazem a serenidade, mas
inquietao. Rudos, incompletudes, ausncias, o
interesse pela banalidade do cotidiano, processos
de fragmentao e simultaneidade, processos de
desconstruo. Tudo articulado numa espcie de
narrativa visual que cria uma irresistvel atmosfera
de encantamento.
Vivemos um momento de culto excessivo a uma
FACOM - n 16 - 2 semestre de 2006
19
RUBENS FERNANDES JUNIOR
Diretor e Professor Titular de Teoria da
Comunicao da Facom-FAAP, Doutor em
Comunicao e Semitica pela PUC-SP. Autor
de Labirinto e identidades panorama da
fotograa brasileira {1948-1996}, editora
Cosac Naify.
hegemnica subjetividade. Da, talvez, a produo
contempornea buscar problematizar suas
questes nos limites, na expanso, nas questes da
identidade, da memria, do territrio, das etnias, do
coletivo, do gnero, do corpo, da materialidade do
suporte, entre muitas outras. Na verdade, busca-se
uma resposta aos exauridos sistemas de dominao
impostos principalmente pelo mercado.
A fotograf ia expandida uma possibilidade
de expresso que foge da homogeneidade visual
repetida a exausto. Uma espcie de resistncia
e libertao. De resistncia, por utilizar os mais
diferentes procedimentos que possam garantir
um fazer e uma experincia artstica diferente
dos automatismos generalizados; de libertao,
porque seus diferentes procedimentos, quando
articulados criativamente, apontam para um
inesgotvel repertrio de combinaes que a
torna ainda mais ameaadora diante do vulnervel
mundo das imagens tcnicas.
A produo contempornea, se conf irma e se
mostra como uma apai xonada experincia pelo
fazer, cuja intensidade, provocada pelos rudos e
estranhamentos que saltam aos olhos, cria uma
fascinante surpresa que pe em xtase os nossos
sentidos, pois tem a capacidade de nos transportar
para um outro mundo de luzes e sombras, que se
articulam numa atmosfera plural e pelas tenses
que da emanam.
NOTAS
1
Ver teoria geral dos signos, de Charles Sanders Peirce.
2
Arlindo Machado buscou ampliar esse entendimento do signo
fotogrco, incorporando nessa reexo a fotograa como smbolo.
Considerando os elementos codicadores da fotograa como arbitrrios
e convencionais, a fotograa, particularmente a contempornea, d
abertura para teoriz-la como manifestao simblica, elaborando-a
como lei ou norma generalizante. A fotograa uma atividade tcnica
extremamente precisa, resultante de medidas especcas determinadas
histrica e ideologicamente pelo fabricante. Tudo resultado de um
conjunto de regras necessrio para sua concretizao. Essa adequao
a um modelo que pode caracterizar a fotograa como smbolo, dada a
universalidade dos seus procedimentos.
3
Ver Sculpture in the expanded eld, in: revista October, N 8,
primavera 1979.
4
Ver Expanded cinema, Gene Youngblood, A Dutton Paperback, 1970.
5
Information Strategies, in revista European Photography. Gttingen:
Volume 6, N 1, Jan.-Mar., 1985.
6
Para Ceclia Almeida Salles, chamamos de Crtica Gentica s
pesquisas que tm como objeto os documentos dos processos de
criao e o propsito de compreender aquele percurso especco. So
estudos de caso, cuja metodologia enfatiza o olhar retrospectivo, isto ,
uma crtica que acompanha e interpreta, com o auxlio de instrumentos
tericos diversos, a histria da obra de arte.
7
Marshall Mcluhan. Os meios de comunicao como extenses do
homem. So Paulo, Cultrix, 8 ed., 1974.
8
Vilm Flusser, Filosoa da caixa preta elementos para uma futura
losoa da fotograa. Rio de Janeiro: Relume-Dumar, 2002.
9
Idem, p.18.
10
Para Flusser, se desconhecemos o que se passa no interior da caixa
preta, somos, por enquanto, analfabetos em relao s imagens
tcnicas. No sabemos como decifr-las.
11
Idem, p.16.
12
Idem, p. 25.
13
Vilm Flusser. Elogio da supercialidade (manuscrito indito verso
em portugus de: Lob der Oberfchlichkeit), p.11.
14
Gustavo Bernardo. A dvida de Flusser. So Paulo: Globo, 2002,
p.170.
15
Vilm Flusser. Filosoa da caixa preta ensaios para uma futura
losoa da fotograa. Rio de Janeiro: Relume-Dumar, 2002, p.23.
Você também pode gostar
- VISUALISMO Livreto DigitalDocumento15 páginasVISUALISMO Livreto DigitalLucas BambozziAinda não há avaliações
- As Imagens na História: o cinema e a fotografia nos séculos XX e XXINo EverandAs Imagens na História: o cinema e a fotografia nos séculos XX e XXIAinda não há avaliações
- Da Fotografia, Seus Espaços [Articulações, Dinâmicas e Experiências]No EverandDa Fotografia, Seus Espaços [Articulações, Dinâmicas e Experiências]Ainda não há avaliações
- Cinemas em redes: Tecnologia, estética e política na era digitalNo EverandCinemas em redes: Tecnologia, estética e política na era digitalAinda não há avaliações
- Harald Szeemann - EntrevistaDocumento8 páginasHarald Szeemann - EntrevistaMaykson CardosoAinda não há avaliações
- COUQUELIN, Ligia. O Legado Dos Anos 60 e 70Documento13 páginasCOUQUELIN, Ligia. O Legado Dos Anos 60 e 70TatianaFunghettiAinda não há avaliações
- Autoral Aula2 2018Documento90 páginasAutoral Aula2 2018niwonderland100% (1)
- Colagem e Montagem Cinematografica PDFDocumento16 páginasColagem e Montagem Cinematografica PDFMarco GiannottiAinda não há avaliações
- Performance Documentacao Amelia Jones PerformatusDocumento19 páginasPerformance Documentacao Amelia Jones PerformatusWallace Lima DutraAinda não há avaliações
- Hans Ulrich Obrist Szeemann ZaniniDocumento69 páginasHans Ulrich Obrist Szeemann ZaniniGlaucio SouzaAinda não há avaliações
- Extremidades Do Vídeo - Novas Circunscrições Do Vídeo. MELLO, ChristianeDocumento14 páginasExtremidades Do Vídeo - Novas Circunscrições Do Vídeo. MELLO, ChristianeFip Nanook FipAinda não há avaliações
- Por Um Cinema Pós-Industrial Cezar MigliorinDocumento7 páginasPor Um Cinema Pós-Industrial Cezar Migliorinlimasilv76Ainda não há avaliações
- Jacques Ranciere - Conferência Política Da Arte PDFDocumento14 páginasJacques Ranciere - Conferência Política Da Arte PDFcamaralrs9299100% (1)
- A Unidade Múltipla. Ensaios Sobre A PaisagemDocumento275 páginasA Unidade Múltipla. Ensaios Sobre A PaisagemGustavo ChiesaAinda não há avaliações
- Uma Arque-Genealogia Do Cyberpunk - Adriana AmaralDocumento328 páginasUma Arque-Genealogia Do Cyberpunk - Adriana AmaralCibercultural100% (1)
- Duchamp - o Ato Criador - Citação Do BATTCOCK, Gregory. A Nova Arte. Coleção "Debates"Documento4 páginasDuchamp - o Ato Criador - Citação Do BATTCOCK, Gregory. A Nova Arte. Coleção "Debates"AnaTarecoAinda não há avaliações
- VAILATI - Antropologia Audiovisual Na Prática PDFDocumento307 páginasVAILATI - Antropologia Audiovisual Na Prática PDFLuciana RibeiroAinda não há avaliações
- Iconografia e IconologiaDocumento8 páginasIconografia e IconologiaGuaraci GomesAinda não há avaliações
- ARTIGO Viviane Furtado MatescoDocumento15 páginasARTIGO Viviane Furtado MatescoJuliana NotariAinda não há avaliações
- ARTIGO - O Traje de Cena Como DocumentoDocumento21 páginasARTIGO - O Traje de Cena Como DocumentoArlindo CardosoAinda não há avaliações
- Cinema Expandido - Uma Perspectiva IntermediariaDocumento249 páginasCinema Expandido - Uma Perspectiva Intermediariaedimgh9995Ainda não há avaliações
- AUT5836Documento5 páginasAUT5836TucaVieiraAinda não há avaliações
- A Edicao Fotografica Como Construcao de Uma Narrativa VisualDocumento16 páginasA Edicao Fotografica Como Construcao de Uma Narrativa VisualvaleciaribeiroAinda não há avaliações
- RESENHA Cultura Da ParticipaçãoDocumento1 páginaRESENHA Cultura Da ParticipaçãoEverton Rodolfo BastosAinda não há avaliações
- Oguibe - O Fardo Da CuradoriaDocumento12 páginasOguibe - O Fardo Da CuradoriaBia MorgadoAinda não há avaliações
- Retrato: Representação e InterpretaçãoDocumento13 páginasRetrato: Representação e InterpretaçãoPedro SantosAinda não há avaliações
- A Fotografia Como Exercicio Do OlharDocumento14 páginasA Fotografia Como Exercicio Do OlharGustavo Salvador100% (1)
- Cidade e Cultura: Esfera Pública e Transformação UrbanaDocumento3 páginasCidade e Cultura: Esfera Pública e Transformação UrbanaPaula Georgia0% (1)
- Cinema de Ficção e Não-Ficção - CompletoDocumento41 páginasCinema de Ficção e Não-Ficção - CompletoTaís Monteiro100% (1)
- Fotografia Fotojornalismo e FotodocumentosDocumento75 páginasFotografia Fotojornalismo e Fotodocumentosfrancisco_f_ribeiro_3Ainda não há avaliações
- SOUTO, Mariana. Constelações FílmicasDocumento13 páginasSOUTO, Mariana. Constelações FílmicasTranse FilmesAinda não há avaliações
- O Contraste Do OlharDocumento22 páginasO Contraste Do OlharRafael SandimAinda não há avaliações
- Horizonte ExpandidoDocumento59 páginasHorizonte ExpandidomarceloarmestoAinda não há avaliações
- Livro - Arquitetura de Plantas - Carlos AguiarDocumento46 páginasLivro - Arquitetura de Plantas - Carlos AguiarKeila KeilinhaAinda não há avaliações
- Crítica KoyaanisqatsiDocumento2 páginasCrítica KoyaanisqatsiRódney ManchekoAinda não há avaliações
- Annateresa Fabris - Diálogos Entre Imagens PDFDocumento13 páginasAnnateresa Fabris - Diálogos Entre Imagens PDFLuciano LanerAinda não há avaliações
- Arte e Mídia No BrasilDocumento20 páginasArte e Mídia No BrasilAna Luiza Prado IzaAinda não há avaliações
- Mestiçagens Na Arte Contemporânea - Icleia Borsa CattaniDocumento3 páginasMestiçagens Na Arte Contemporânea - Icleia Borsa CattaniKathleen OliveiraAinda não há avaliações
- Mimoso: Comunidade tradicional do Pantanal Mato-Grossense - Diversidade de SaberesNo EverandMimoso: Comunidade tradicional do Pantanal Mato-Grossense - Diversidade de SaberesAinda não há avaliações
- MACHADO, Arlindo - Arte e MídiaDocumento15 páginasMACHADO, Arlindo - Arte e MídiaGabriela AlmeidaAinda não há avaliações
- A Arte Como Um Sistema CulturalDocumento3 páginasA Arte Como Um Sistema CulturalgeorgiafrancoAinda não há avaliações
- O Sujeito Na Tela:: Modos de Enunciação No Cinema e No CiberespaçoDocumento4 páginasO Sujeito Na Tela:: Modos de Enunciação No Cinema e No CiberespaçoClecyo de SousaAinda não há avaliações
- Design e Emoção - Alguns Pensamentos Sobre Artefatos de MemórDocumento11 páginasDesign e Emoção - Alguns Pensamentos Sobre Artefatos de MemórCarlos Eduardo SilvaAinda não há avaliações
- FOSTER, Hal - O Artista Enquanto Etnógrafo PDFDocumento28 páginasFOSTER, Hal - O Artista Enquanto Etnógrafo PDFKamylle AmorimAinda não há avaliações
- 16 Bienal - Catálogo GeralDocumento248 páginas16 Bienal - Catálogo Geral.Vítor.Ainda não há avaliações
- Inovação Tecnológica e Desenho AnimadoDocumento114 páginasInovação Tecnológica e Desenho AnimadoJose Eliezer Mikosz100% (11)
- O Sex Appeal Do Inorgânico Reflexões Sobre A Moda e Fetichismo Sexual em Walter Benjamin - Doc.warley Dias VERSAOFINALDocumento16 páginasO Sex Appeal Do Inorgânico Reflexões Sobre A Moda e Fetichismo Sexual em Walter Benjamin - Doc.warley Dias VERSAOFINALWarley Souza DiasAinda não há avaliações
- Resenha - Magia e Capitalismo - ROCHA - Página 07 À 73 - Marcelo LemosDocumento4 páginasResenha - Magia e Capitalismo - ROCHA - Página 07 À 73 - Marcelo LemosmarceloblemosAinda não há avaliações
- André Parente 01Documento13 páginasAndré Parente 01Bruno DornelesAinda não há avaliações
- A Cultura Do GifDocumento185 páginasA Cultura Do GifBruno PapiroAinda não há avaliações
- Desing Anos 80 - PsicodelismoDocumento11 páginasDesing Anos 80 - Psicodelismorick_weAinda não há avaliações
- ARANTES, Priscila - Cartografias Líquidas A Cidade Como Escrita Ou A Escrita Da CidadeDocumento7 páginasARANTES, Priscila - Cartografias Líquidas A Cidade Como Escrita Ou A Escrita Da CidadeZé100% (1)
- David HockneyDocumento35 páginasDavid HockneyCarla Mitsy100% (1)
- Lais Myrrha 2007 Mestrado EbaDocumento142 páginasLais Myrrha 2007 Mestrado EbaFranklin Dias RochaAinda não há avaliações
- Fotografia Publicitária - David LachapelleDocumento9 páginasFotografia Publicitária - David LachapelleMichelineAinda não há avaliações
- Processos de Codificação VisualDocumento59 páginasProcessos de Codificação Visualapi-3827709100% (1)
- BORIS. Kossoy. Fotografia & História, 4º Edição, São Paulo. Ateliê Editorial, 2012.Documento2 páginasBORIS. Kossoy. Fotografia & História, 4º Edição, São Paulo. Ateliê Editorial, 2012.ThiagoAinda não há avaliações




![Da Fotografia, Seus Espaços [Articulações, Dinâmicas e Experiências]](https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/405731278/149x198/a5ba90b568/1668666324?v=1)