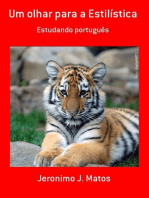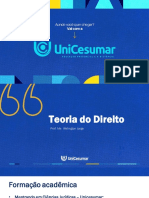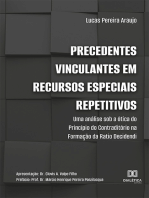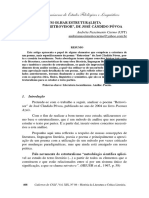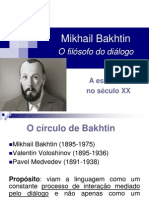Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Estruturalismo - Ivan Teixeira
Estruturalismo - Ivan Teixeira
Enviado por
Odiléa CorrêaDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Estruturalismo - Ivan Teixeira
Estruturalismo - Ivan Teixeira
Enviado por
Odiléa CorrêaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
+76 - outubro/98 34
O estruturalismo representou a
maior revoluo metodolgica nas
cincias humanas nos ltimos cinqenta
anos, sendo certo que hoe se encontra
em relativo descrdito, embora algumas
de suas postulaes se tenham incor-
porado definitivamente ao prprio modo
de ser do pensamento contemporneo.
Nenhum intrprete das humanidades
pensar de forma adequada, caso no
incorpore os pressupostos estrutura-
listas, ainda que apenas para os negar.
Todavia, a teoria estrutural apresenta
uma espcie de paradoxo relativamente
a evoluo dos mtodos de crtica
literria no sculo XX. Fsse paradoxo,
apenas aparente, decorre da seguinte
situao: desde alguns formalistas
russos - passando pelos esforos da nova
retrica, da estilstica e do v o
-, a orientao tida como mais moderna
tem se caracterizado pela abordagem
imanente do texto, detendo-se no exame
da estrutura particular e concreta das
obras.
A crtica estrutural teve Roland Barthes
e Tzvetan Todorov entre seus principais
representantes, empenhando-se na criao
de uma potica preocupada em construir
um modelo arquetpico que desse
conta de todas as narrativas existentes
Srie destaca as principais
tendncias da crtica literria
Fortuna Crtica uma srie de seis
artigos de Ivan Teixeira sobre as princi-
pais correntes da crtica literria. O pri-
meiro, publicado no nmero 12 da
CULT (julho), abordou a retrica de Aris-
tteles e Quintiliano; o segundo texto
(agosto) foi sobre o formalismo russo; o
terceiro (setembro) estudou o new criti-
cism. O presente ensaio sobre o estru-
turalismo. Nas prximas edies, sero
analisados o desconstrutivismo e o new
historicism. Ivan Teixeira professor do
Departamento de Jornalismo e Editora-
o da ECA-USP, co-autor do material
didtico do Anglo Vestibulares de So
Paulo (onde lecionou literatura brasilei-
ra durante mais de 20 anos) e autor de
Apresentao de Machado de Assis
(Martins Fontes) e Mecenato pombalino
e poesia neoclssica (a sair pela Edusp).
Tem-se dedicado a edies comentadas
de clssicos entre eles, as Obras
poticas de Baslio da Gama (Edusp) e
Poesias de Olavo Bilac (Martins Fon-
tes) e dirige a coleo Clssicos para
o vestibular, da Ateli Editorial.
$em deixar de estabelecer as neces-
srias conexes entre os gneros e as
diversas obras da mesma srie, a postura
imanentista encara o texto como obeto
autnomo, e no como documento ou
manifestao de qualquer instncia
exterior. O estruturalismo prope o
abandono do exame particular das obras,
tomando-as como manifestao de outra
coisa para alm delas prprias: a estrutura
do discurso literrio, formado pelo
conunto abstrato de procedimentos que
caracterizam esse discurso, enquanto
propriedade tpica da organizao mental
do homem. As obras individuais seriam
manifestaes empricas de uma
realidade virtual, constituda pelas
normas que regem as prticas singulares.
A anlise desse discurso, que paira acima
das obras e antes de sua existncia
singular, que consiste no obeto de
investigao do mtodo estrutural.
Os estruturalistas recusam a descrio
imanente, por acreditar que um mtodo
cientfico no pode se esgotar em
F O R T U N A C R T I C A 4
ESTRU TU RA LI SMO
Ivan Teixeira
O crtico francs Roland Barthes
F
o
t
o
s
/
R
e
p
r
o
d
u
o
outubro/98 - +76 35
operaes prticas e singulares. Ao
contrrio, deve voltar-se para o exame da
estrutura do discurso literrio, abstra-
tamente concebido, do qual as obras
concretas no passam de particula-
rizaes. Fm ltima anlise, a crtica
estrutural preocupa-se com a criao de
uma /.., no no sentido clssico de
conunto de normas ou preceitos para a
conquista da adequao das obras aos
respectivos gneros, mas no sentido de
uma teoria da estrutura e do funciona-
mento do discurso literrio.
Fvidentemente, o estudo de obras
particulares desempenha um estgio
importante nas pesquisas estruturais, mas
apenas enquanto meio para a formulao
de uma potica, preocupada em
construir um modelo arque-
tpico que d conta de todas as
narrativas existentes e as que
porventura venham a existir. O
obetivo da potica estrutural
seria, enfim, a descoberta da
gramtica segundo a qual se
articulam as narrativas do
homem, que no so aleatrias
nem imprevisveis, mas que
obedecem a uma estrutura,
entendida como o conunto de pro-
priedades essenciais do discurso literrio.
^as qual seria o modelo para a
estrutura das narrativas do homem, tanto
as chamadas primitivas, estudadas por
Lvi-$trauss, quanto as literrias,
estudadas por inmeros tericos nos anos
ou, dentre os quais o presente ensaio
selecionou Roland Barthes e Tzvetan
Todorov como fontes principais: O
modelo por excelncia do sistema
narrativo aquele revelado pela lin-
gstica saussuriana.
Antes de $aussure, os estudos
lingsticos preocupavam-se com o
desenvolvimento histrico da lngua
(viso diacrnica), sobretudo em sua
dimenso filolgica. A filologia o
estudo comparativo da evoluo das
lnguas. $eu principal mtodo consiste no
exame, na descrio e na comparao
entre as diversas lnguas do mundo, com
o propsito de descobrir semelhanas e
relaes entre elas. Com isso, os fillogos
pretendiam estabelecer as razes comuns
de certos vocbulos e, no limite, definir a
aquisio da lngua entre os homens.
Todavia, os fillogos no chegaram a
formular uma teoria especfica da lngua
que a concebesse como uma, e apenas
uma, dentre as inmeras manifestaes
da linguagem. A filologia clssica
considerava que a lngua era uma espcie
de espelho da realidade (teoria mi-
mtica), entendendo que cada vocbulo
possua uma relao natural com a coisa
a que se refere, sem se dar conta de que a
lngua no reflete espontaneamente a
natureza.
obeto da potica estruturalista, decorre
de outra formulao de $aussure, talvez a
mais importante para as cincias humanas
depois dele: a distino entre /./ e
/../. L./ o sistema abstrato de
normas segundo o qual se manifesta a
/../, que uma espcie de proeo
concreta daquela estrutura ideal, formada
pelo conunto hipottico de todas as
/../ do homem. Assim, qualquer obra
literria deve ser entendida como uma
/../, isto , como o uso individual da
/./, que aquele sistema impessoal
constitudo pelo conunto de todos os
usos que antecederam a apropriao
especfica desse sistema por um dado
autor num determinado momento.
Assim como o usurio da
lngua se apropria de estruturas
que antecedem sua fala, o ro-
mancista lana mo de unidades
narrativas preexistentes a seu
romance. A crtica imanente
preocupava-se com a descrio
do romance (/../), a crtica
estrutural investiga o sistema de
unidades narrativas anteriores ao
romance (/./). Nesse sentido,
a postura estrutural aproxima-
se do mtodo extrnseco de investigao
literria.
A diferena essencial entre os mtodos
extrnsecos tradicionais e a crtica es-
trutural consiste em que aqueles asso-
ciavam a literatura a um discurso hetero-
gneo (histria, sociologia, psicanlise,
psicologia etc.), conduzindo-a para uma
rea diversa do saber, ao passo que esta
associa a literatura com uma instncia
homognea: a lingstica, de cua
natureza decorre a prpria configurao
da literatura e cuo estudo deve neces-
sariamente ser regulado por uma potica.
^as se o estruturalismo recusa a
descrio imanente das obras individuais,
assim como no incorpora os resultados
dos estudos extrnsecos do fenmeno
literrio, como ento caracterizar sua
atividade: Fm rigor, a crtica estrutural
no recusa totalmente a descrio, apenas
no partilha da idia de que a obra
Ao conceber a lngua como um
aspecto da linguagem humana, $aussure
criou uma nova cincia, a semiologia,
preocupada com a sistematizao dos
sinais, e no apenas com o estudo das
lnguas. Tomando-as como matriz de
todos os demais cdigos, o sbio de
Genebra, em vez de se concentrar na
evoluo das lnguas (diacronia),
orientou suas pesquisas sobretudo para o
exame do funcionamento delas no
presente (sincronia), preocupando-se
com as leis que regem a gerao do
significado. A partir da, criou tambm a
teoria da arbitrariedade do signo
lingstico, segundo a qual as relaes
entre os vocbulos e o mundo se
estabelecem, no por leis imanentes da
natureza, mas por operaes do esprito
humano (cultura).
Todavia, o princpio essencial da
noo de estrutura do discurso literrio,
O princpio essencial
da noo de estrutura
do discurso literrio
decorre da distino
entre langue e parole
formulada pelo
lingista suo
Ferdinand de Saussure
+76 - outubro/98 36
individual se constitua no fim nico e
ltimo dos estudos literrios. Fstes devem
obetivar a investigao das propriedades
do discurso literrio, com vistas a
formulao de uma potica que pudesse
servir de base operacional a histria
literria, que deveria, esta sim, dedicar-
se a descrio da estrutura particular das
obras com vistas ao estabelecimento de
um sistema de valor. ^esmo essa noo
relativizada por Tzvetan Todorov em
seu E//./o. /.. (1o), sob o
argumento de que a descrio imanente
de uma obra implica seu desligamento
da dimenso histrica. Logo, a verdadeira
preocupao de uma histria literria de
feio estrutural deveria se caracterizar
pelo exame da evoluo das propriedades
do discurso literrio, e no exatamente
pelo exame das obras em si.
Por causa de afirmaes desse tipo
que Terry Fagleton identifica, em tom
peorativo, o mtodo estrutural com o
idealismo, afirmando que o resultado de
seus trabalhos no passa de mais uma
manifestao da doutrina idealista
clssica", segundo a qual o mundo
constitudo pela conscincia humana, e
no o contrrio. De fato, o estruturalismo
amais se submeteu ao materialismo
empirista. Roland Barthes afirma, na
I.//. ` ../ //./ /. ....
(1oo), que no seria necessrio
investigar todas as narrativas do mundo
para chegar a essncia do discurso
narrativo. Bastava o conhecimento de um
nmero considervel de exemplos para
obter as regras segundo as quais se
articulam as demais narrativas. Logo, o
estruturalismo desde o incio adotou o
mtodo dedutivo de conhecimento, e no
o indutivo.
^esmo assim, no se pode descon-
siderar o vasto levantamento e o exame
concreto de inmeras narrativas folcl-
ricas levados a efeito pelo formalista russo
\ladimir Propp, um dos principais
antecedentes do estruturalismo francs,
para o estabelecimento das constantes
fundamentais do conto popular em seu
M././.. /. .. o...//.. (1!).
Diga-se o mesmo com relao as pesquisas
do antroplogo Lvi-$trauss, que, antes de
formular sua gramtica do discurso
mitolgico, passou anos estudando os
mitos indgenas de diversos pases,
incluindo os do Brasil. Propp chamou
// as unidades narrativas recorrentes
nos contos populares, assim como Lvi-
$trauss denominou oo. as seqncias
matriciais dos mitos indgenas.
Roland Barthes desenvolveu as
pesquisas de Propp, demonstrando que
um conunto de funes forma um ncleo
existem as // ..., que tra-
balham em sentido vertical, seman-
tizando o sintagma narrativo: os //.
Correlatos do procedimento metafrico,
os ndices so unidades que no con-
tribuem para o desenvolvimento linear
da trama, mas para a caracterizao das
personagens, dos ambientes e dos
prprios ncleos narrativos. H aes
que integram a unidade da narrativa: por
serem essenciais, a ausncia delas produz
uma lacuna no relato, essas sos as
funes cardinais. Fxistem outras, cua
ausncia no preudica a unidade da
narrativa, a funo delas agenciar um
significado geral para o texto ou ilustrar
o tipo de ao que predominar no relato.
\ea-se um exemplo de ao indicial
em c /.., de ]os de Alencar: o fato de
Peri subugar uma ona no incio do
romance no possui nenhuma conse-
qncia no desenvolvimento da fbula. $ua
funo apenas revelar a fora e a astcia
do ndio, o que ter repercusso no final
do romance, quando, no momento crtico
da enchente, o heri arranca com os braos
uma palmeira secular, com a qual
improvisa uma angada e salva Ceclia.
Fssas seqncias, aparentemente seme-
lhantes, possuem natureza distinta: a
primeira distribucional, compe-se de
ncleos, a segunda integrativa, constitui-
se num ndice.
Conforme Todorov, as condies
essenciais para que uma potica sea
estrutural so: recusa da descrio
concreta das obras, eleio de organi-
zaes abstratas anteriores a sua mani-
festao em textos individuais, a correta
noo de sistema, a conduo da anlise
at as unidades elementares do discurso
e, por fim, a escolha explcita dos
processos. Considere-se em particular a
noo de que a potica deve se empenhar
na decomposio do discurso literrio at
suas menores unidades. Do ponto de vista
prtico, ao menos no que diz respeito ao
ensino da literatura, esta ltima noo
tem-se mostrado til, na medida em que
facilita a apresentao imediata de
qualquer romance, sem necessariamente
narrativo. Pela importncia e pela
extenso dessas unidades, elas recebem o
nome de // ./., as quais se unem
pela mediao de unidades menores
chamadas ../. Compreendidos entre
as // ///.., os ncleos
formam o sintagma narrativo, numa
sucesso metonmica de aproximao e
distenso horizontal e seqencial do
relato, processo em que predomina uma
relao de causa e efeito.
Alm dessas seqncias narrativas que
operam na horizontalidade do texto,
O antroplogo Lvi-Strauss
passou anos estudando os
mitos indgenas de diversos
pases incluindo os do
Brasil antes de formular
sua gramtica do discurso
mitolgico
outubro/98 - +76 37
E//./o. /.., de Tzvetan
Todorov. Traduo de ]os Paulo Paes.
$o Paulo, Cultrix, 1u.
ntroduo a anlise estrutural da
narrativa", de Roland Barthes. n:
4./ //./ /. .... /.
/ .. /. .. c.oo/..
] n , 1oo|. Traduo de ^aria
Zlia Barbosa Pinto. ntroduo de
^ilton ]os Pinto. Petrpolis, \ozes,
11.
I/, /, .o/.., // I.o
//./o . /.o./, de ]ohn
Lechte. Londres/Nova York, Routledge,
1o.
G.oo. // D.o., de
Tzvetan Todorov. Paris, ^outon,
1o.
L., o 4 .//. .
/., ./ /., de Charles F.
Bressler. Fnglewood Cliffs, New
]ersey, Prentice Hall, 1-.
'Los Gatos` de Charles Baudelaire",
anlise estrutural de Roman ]akobson
e Claude Lvi-$trauss. n: E//-
./o. , /./.. $eleo de ]os
$azbn. Buenos Aires, Fdiciones
Nueva \isin, 1!.
M././.. /. .. o...//.., de \.
. Propp. Traduo de ]asna Paravich
$arhan. Organizao e prefcio de
Boris $chnaiderman. Rio de ]aneiro,
Forense-Lniversitria, 1-.
P.. /. /.., de Tzvetan Todorov.
Traduo ^aria de $anta Cruz.
Lisboa, Fdies u, 1.
//./ /. //./o
// ./ / //, ./ /./, de
]onathan Culler. Nova York, Cornell
Lniversity Press, 1!.
B I B L I O G R A F I A
afast-lo das abstraes da estrutura do
discurso narrativo.
Tome-se mais um exemplo de
Alencar: I.o.. Quem de fato leu esse
livro sabe que se trata de uma narrativa
com diversos movimentos na fbula. Do
ponto de vista estrutural, talvez pudesse
ser descrito da seguinte forma: chega ao
continente americano um explorador
europeu, que se une a uma virgem com
funes sagradas em sua tribo. Fssa
unio quebra um tabu. A moa paga com
a morte. Deixa, no entanto, um filho
mestio, que implanta a civilizao
europia na regio. Aplicado ao ensino
da literatura, esse tipo de descrio
demonstra uma possvel aplicao da
narratologia ao exame particular das
obras, visto que a descrio do discurso
literrio propriamente dito no
seguraria todos os alunos por muito
tempo em nenhuma aula de literatura
no Brasil.
Lma das grandes limitaes do
mtodo estrutural que ele no consegue
solucionar o problema do valor artstico,
pois a caracterizao do discurso literrio
ou a descrio estrutural de uma obra no
explicam as razes de sua beleza. O
prprio Todorov reconhece os limites do
mtodo estrutural diante do problema do
esttico, embora afirme tambm que
nenhum sistema anterior o resolveu
satisfatoriamente. Hegel, por exemplo,
considerava que a perspectiva legiti-
madora do belo era sempre a do prncipe.
Acrescente-se a isso a conhecida idia de
que quase toda a arte renascentista se
modelou pelo critrio dos papas ou dos
grandes mecenas, a cuo gosto - um
gosto sistmico - os artistas se inte-
gravam. Fm Portugal, c U./.,, de
Baslio da Gama, articulou-se conforme
um padro imposto pelo ^arqus de
Pombal. Nem por isso deixou de ser uma
obra-prima. Diante da impossibilidade
do estabelecimento de qualquer par-
metro absoluto, Todorov entende os
uzos estticos como simples propo-
sies de um processo de enunciao: o
valor de uma obra depende de sua
estrutura, mas s se manifesta mediante a
leitura e os critrios de quem l.
O representante mais consagrado da
crtica estrutural nos Fstados Lnidos
talvez sea ]onathan Culler, cuo
//./ /. (1) retoma esse
postulado do estruturalismo francs para
desenvolver, no mais uma potica do
discurso literrio, mas uma potica da
leitura. Preocupado com a recepo da
obra de arte, procura estabelecer uma
/./ da interpretao. Depois de acusar
o excesso de interpretaes concretas dos
textos literrios, Culler prope o exame
do ato de interpretao em si, acreditando
que o leitor, de alguma forma, possui uma
competncia para a leitura, cua estrutura
precisa ser caracterizada tanto quanto a
estrutura do discurso narrativo. Deslo-
cando a ateno do texto para o leitor, o
estudioso norte-americano procura
estabelecer o conunto de regras ou o
sistema que rege a leitura e a interpretao
da obra literria. Como se v, trata-se de
uma confluncia entre o estruturalismo e
a Teoria da Recepo, cuo expoente
mais famoso Hans Robert ]auss.
A descrio estruturalista
das obras de Jos
de Alencar permite
decompor unidades
narrativas peculiares a
romances como
O guarani e Iracema,
sem perder de vista
as abstraes da
construo discursiva
Você também pode gostar
- Direito Natural e JusnaturalismoDocumento39 páginasDireito Natural e JusnaturalismoCamila.Ainda não há avaliações
- Poder Pública Maurice Hauriou Versus Serviços Públicos Léon Duguit PDFDocumento5 páginasPoder Pública Maurice Hauriou Versus Serviços Públicos Léon Duguit PDFWill WilsonAinda não há avaliações
- Conceito e Evolução Histórica Da HermêneuticaDocumento31 páginasConceito e Evolução Histórica Da HermêneuticacarlaAinda não há avaliações
- Direito EgípcioDocumento9 páginasDireito EgípcioMarcioAinda não há avaliações
- Fichamento Historia Do DireitoDocumento17 páginasFichamento Historia Do DireitoSilvioBatistaAinda não há avaliações
- Resenha TGEDocumento23 páginasResenha TGETiago MartinezAinda não há avaliações
- Ingleses No BrasilDocumento4 páginasIngleses No Brasillegurb21Ainda não há avaliações
- Trabalho de Direito RomanoDocumento11 páginasTrabalho de Direito RomanoRui Lemos100% (1)
- ESTUDO DIRIGIDO - Teoria Política Clássica PDFDocumento16 páginasESTUDO DIRIGIDO - Teoria Política Clássica PDFDennys EspíndolaAinda não há avaliações
- 257 Guia de Leitura A Flauta MagicaDocumento6 páginas257 Guia de Leitura A Flauta Magicalegurb21Ainda não há avaliações
- Trabalho Constituição de 1967Documento41 páginasTrabalho Constituição de 1967diego1rafaelAinda não há avaliações
- UntitledDocumento108 páginasUntitledGabriela FrançaAinda não há avaliações
- Precedentes Vinculantes em Recursos Especiais Repetitivos: uma análise sob a ótica do Princípio do Contraditório na Formação da Ratio DecidendiNo EverandPrecedentes Vinculantes em Recursos Especiais Repetitivos: uma análise sob a ótica do Princípio do Contraditório na Formação da Ratio DecidendiAinda não há avaliações
- BenvenisteDocumento16 páginasBenvenisteClaudiene DinizAinda não há avaliações
- Direito Hebraico AntigoDocumento10 páginasDireito Hebraico AntigoRosevania0% (1)
- Problemas e Teorias Atuais Da Interpretação Jurídica - Rodolfo VigoDocumento62 páginasProblemas e Teorias Atuais Da Interpretação Jurídica - Rodolfo VigoWallace MagalhãesAinda não há avaliações
- BARBOSA, Rui. Crime de Hermenêutica. - CompressedDocumento60 páginasBARBOSA, Rui. Crime de Hermenêutica. - CompressedtheuanAinda não há avaliações
- Sociolinguística VariacionistaDocumento22 páginasSociolinguística VariacionistaLucas BatistaAinda não há avaliações
- Filomeno Rodrigues - Dissertação PDFDocumento197 páginasFilomeno Rodrigues - Dissertação PDFmoviraAinda não há avaliações
- História Do Pensamento ContemporâneoDocumento94 páginasHistória Do Pensamento ContemporâneoSam TraderAinda não há avaliações
- VocabDurk PDFDocumento26 páginasVocabDurk PDFKarla KolbeAinda não há avaliações
- Fichamento Capítulo 8, Livro Teoria Pura Do Direito. KELSEN, HansDocumento3 páginasFichamento Capítulo 8, Livro Teoria Pura Do Direito. KELSEN, HansEdna Almeida Amorim100% (1)
- Um Olhar Estruturalista No Poema RetrovisorDocumento13 páginasUm Olhar Estruturalista No Poema RetrovisorWilton RamosAinda não há avaliações
- Estruturalismo LinguisticoDocumento8 páginasEstruturalismo LinguisticoIsaquia FrancoAinda não há avaliações
- Normas JuridicasDocumento16 páginasNormas JuridicasMacedo GeloAinda não há avaliações
- Realismo e Idealismo Nas Relações InternacionaisDocumento14 páginasRealismo e Idealismo Nas Relações InternacionaisFagner VelosoAinda não há avaliações
- 2 - Conceitos e Tipos de Constituição PDFDocumento6 páginas2 - Conceitos e Tipos de Constituição PDFleoAinda não há avaliações
- CAPPELLETTI, Mauro. O Controle Judicial de Constitucionalidade Das Leis No Direito ComparadoDocumento4 páginasCAPPELLETTI, Mauro. O Controle Judicial de Constitucionalidade Das Leis No Direito ComparadokarovastraAinda não há avaliações
- HDPDocumento34 páginasHDPSimão FinoAinda não há avaliações
- Determinismo Biologico e GeograficoDocumento5 páginasDeterminismo Biologico e Geograficoedmilton_xavierAinda não há avaliações
- Exemplos de Citação DiretaDocumento6 páginasExemplos de Citação DiretaMichel LourençoAinda não há avaliações
- Plano de AulaDocumento5 páginasPlano de AulaRosiane MacedoAinda não há avaliações
- Resumão Radcliffe BrownDocumento5 páginasResumão Radcliffe BrownLuana CostaAinda não há avaliações
- Teoria Do Estado - Os Modos de Surgimento Do EstadoDocumento7 páginasTeoria Do Estado - Os Modos de Surgimento Do EstadoEyshila FreitasAinda não há avaliações
- Aula 04 - Leitura + Fichamento + Resumo + ResenhaDocumento40 páginasAula 04 - Leitura + Fichamento + Resumo + ResenhaThiago Alvarenga100% (1)
- FichamentoDocumento2 páginasFichamentoSyntyalayny da silva lucenaAinda não há avaliações
- Conceito de Sistema Semiótico LiterárioDocumento6 páginasConceito de Sistema Semiótico LiterárioBiosedal Sedal officialAinda não há avaliações
- Fichamento - Capítulo 1 - Laval e DardotDocumento3 páginasFichamento - Capítulo 1 - Laval e DardotRaphaël CruzAinda não há avaliações
- Direito Eleitoral - Fundamentos, Objeto, Fontes, Princípios, Relacionamento Com Outras Disciplinas JurídicasDocumento24 páginasDireito Eleitoral - Fundamentos, Objeto, Fontes, Princípios, Relacionamento Com Outras Disciplinas JurídicasCicefran Souza de CarvalhoAinda não há avaliações
- ESTRUTURALISMO - FichamentoDocumento4 páginasESTRUTURALISMO - FichamentoJackson CiceroAinda não há avaliações
- Direito RomanoDocumento15 páginasDireito RomanolenacabralAinda não há avaliações
- Fichamento Do Livro Do Contrato SocialDocumento8 páginasFichamento Do Livro Do Contrato SocialCiceroFilhoAinda não há avaliações
- Crôncia - Aula de InglêsDocumento3 páginasCrôncia - Aula de InglêsSandra Lucia SilvaAinda não há avaliações
- LUZIA GOMES DA SILVA Sociologia JuridicaDocumento22 páginasLUZIA GOMES DA SILVA Sociologia JuridicahelderAinda não há avaliações
- Antropologia PoliticaDocumento4 páginasAntropologia PoliticaCarlos Filadelfo de AquinoAinda não há avaliações
- A Polissemia Do Direito e o Tridimensionalismo JurídicoDocumento4 páginasA Polissemia Do Direito e o Tridimensionalismo JurídicoJoão Guedes de SouzaAinda não há avaliações
- 3 - Marcas de TextualidadeDocumento4 páginas3 - Marcas de Textualidadeedmarciogomess3965Ainda não há avaliações
- Lévi Strauss - Raça e Historia ResumoDocumento2 páginasLévi Strauss - Raça e Historia ResumoLaleskaDantasAinda não há avaliações
- Introdução Aos Estudos LiteráriosDocumento3 páginasIntrodução Aos Estudos LiteráriosElianemikasAinda não há avaliações
- Formação Extralegislativa Do DireitoDocumento3 páginasFormação Extralegislativa Do Direitogorgwashington100% (1)
- Semiótica e Linguística TextualDocumento17 páginasSemiótica e Linguística TextualMaria SilvaAinda não há avaliações
- A Intertextualidade Entre As Obras de Romeu e Julieta, de Shakespeare, e Inocência de Visconde de TaunayDocumento41 páginasA Intertextualidade Entre As Obras de Romeu e Julieta, de Shakespeare, e Inocência de Visconde de Taunayjunior_pcpeAinda não há avaliações
- O Que É Norma JurídicaDocumento4 páginasO Que É Norma Jurídicatabatinha_1100% (1)
- Estilística Da EnunciaçãoDocumento20 páginasEstilística Da EnunciaçãoHeloisa MarchioroAinda não há avaliações
- Época Post-Clássica (230-530)Documento13 páginasÉpoca Post-Clássica (230-530)Deivid JuniorAinda não há avaliações
- BOBBIO, Norberto. O Positivismo Juridico, Lições Da Filosofia Do Direito. Fichamento Cap. 1Documento3 páginasBOBBIO, Norberto. O Positivismo Juridico, Lições Da Filosofia Do Direito. Fichamento Cap. 1karovastraAinda não há avaliações
- As Marcas LinguisticasDocumento62 páginasAs Marcas LinguisticasManoelFilhuAinda não há avaliações
- Ciencia e Politica ResumoDocumento5 páginasCiencia e Politica ResumoAnor Afonso SerioAinda não há avaliações
- Como e por que o Direito muda?: uma resposta a partir do pensamento de Miguel Reale e Niklas LuhmannNo EverandComo e por que o Direito muda?: uma resposta a partir do pensamento de Miguel Reale e Niklas LuhmannAinda não há avaliações
- Programacao Abralic 2018Documento6 páginasProgramacao Abralic 2018legurb21Ainda não há avaliações
- Identificação de Neologismos de Economia No Jornal Zero HoraDocumento103 páginasIdentificação de Neologismos de Economia No Jornal Zero HoraHellen SilvaAinda não há avaliações
- Manuel Pinheiro Chagas Leitor Crítico de José de AlencarDocumento17 páginasManuel Pinheiro Chagas Leitor Crítico de José de Alencarlegurb21Ainda não há avaliações
- Análise Do Conto A SANTA de Gabriel Garcia MarquesDocumento1 páginaAnálise Do Conto A SANTA de Gabriel Garcia Marqueslegurb21Ainda não há avaliações
- Terminologia de Jogos EletrônicosDocumento1 páginaTerminologia de Jogos Eletrônicoslegurb21Ainda não há avaliações
- Alfredo Boulos JúniorDocumento3 páginasAlfredo Boulos Júniorlegurb2150% (2)
- Terminologia e Tradução - o Caso Dos Textos LiteráriosDocumento214 páginasTerminologia e Tradução - o Caso Dos Textos Literárioslegurb21Ainda não há avaliações
- A Contribuição de Filósofos Judaicos para A Ética Do Traduzir Na ContemporaneidadeDocumento11 páginasA Contribuição de Filósofos Judaicos para A Ética Do Traduzir Na Contemporaneidadelegurb21Ainda não há avaliações
- CordelDocumento26 páginasCordellegurb21Ainda não há avaliações