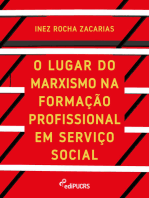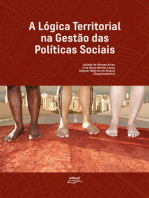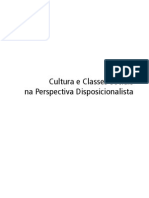Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
978 85 397 0303 6
978 85 397 0303 6
Enviado por
Brenna Gomez0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
75 visualizações104 páginasTítulo original
978-85-397-0303-6
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
75 visualizações104 páginas978 85 397 0303 6
978 85 397 0303 6
Enviado por
Brenna GomezDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 104
Chanceler
Dom Dadeus Grings
Reitor
Joaquim Clotet
Vice-Reitor
Evilzio Teixeira
Conselho Editorial
Armando Luiz Bortolini
Ana Maria Lisboa de Mello
Agemir Bavaresco
Augusto Buchweitz
Beatriz Regina Dorfman
Bettina Steren dos Santos
Carlos Gerbase
Carlos Graef Teixeira
Clarice Beatriz de C. Sohngen
Cludio Lus C. Frankenberg
Elaine Turk Faria
rico Joo Hammes
Gilberto Keller de Andrade
Jane Rita Caetano da Silveira
Jorge Luis Nicolas Audy Presidente
Lauro Kopper Filho
Luciano Klckne
EDIPUCRS
Jernimo Carlos Santos Braga Diretor
Jorge Campos da Costa Editor-Chefe
Porto Alegre, 2013
Comentado
SERVIO SOCIAL
2010
Gleny Terezinha Duro Guimares
Maria Isabel Barros Bellini
(Organizadoras)
EDIPUCRS, 2013
CAPA: Rodrigo Braga
REVISO DE TEXTO: FERNANDA LISBA
EDITORAO ELETRNICA: RODRIGO VALLS
Dados Internacionais de Catalogao na Publicao (CIP)
Ficha Catalogrfca elaborada pelo Setor de Tratamento da Informao da BC-PUCRS.
EDIPUCRS Editora Universitria da PUCRS
Av. Ipiranga, 6681 Prdio 33
Caixa Postal 1429 CEP 90619-900
Porto Alegre RS Brasil
Fone/fax: (51) 3320 3711
E-mail: edipucrs@pucrs.br - www.pucrs.br/edipucrs
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. Proibida a reproduo total ou parcial, por qualquer meio ou processo, especialmente por sistemas grfcos, microflmicos, fotogrfcos, reprogrfcos, fonogrfcos, videogrfcos.
Vedada a memorizao e/ou a recuperao total ou parcial, bem como a incluso de qualquer parte desta obra em qualquer sistema de processamento de dados. Essas proibies aplicam-se tambm s caractersticas
grfcas da obra e sua editorao. A violao dos direitos autorais punvel como crime (art. 184 e pargrafos, do Cdigo Penal), com pena de priso e multa, conjuntamente com busca e apreenso e indenizaes
diversas (arts. 101 a 110 da Lei 9.610, de 19.02.1998, Lei dos Direitos Autorais).
E56 ENADE comentado 2010 : servio social [recurso eletrnico] /
Gleny Terezinha Duro Guimares, Maria Isabel Barros
Bellini (organizadores). Dados eletrnicos. Porto
Alegre : EDIPUCRS, 2013.
130 p.
ISBN 978-85-397-0303-6 (on-line)
Sistema requerido: Adobe Acrobat Reader
Modo de Acesso: <http://www.pucrs.br/edipucrs>
1. Ensino Superior Brasil Avaliao. 2. Exame
Nacional de Cursos (Educao). 3. Servio Social Ensino
Superior. I. Guimares, Gleny Terezinha Duro. II. Bellini,
Maria Isabel Barros.
CDD 378.81
CONTEDO
APRESENTAO ................................................................................................ 7
QUESTO 12 ..................................................................................................... 11
QUESTO 13 ..................................................................................................... 15
QUESTO 14 ..................................................................................................... 19
QUESTO 15 ..................................................................................................... 21
QUESTO 16 ..................................................................................................... 25
QUESTO 17 ..................................................................................................... 29
QUESTO 18 ..................................................................................................... 33
QUESTO 19 ..................................................................................................... 37
QUESTO 20 ..................................................................................................... 41
QUESTO 21 ..................................................................................................... 45
QUESTO 22 ..................................................................................................... 49
QUESTO 23 ..................................................................................................... 53
QUESTO 24 ..................................................................................................... 57
QUESTO 25 ..................................................................................................... 61
QUESTO 26 ..................................................................................................... 65
QUESTO 27 ..................................................................................................... 67
QUESTO 28 ..................................................................................................... 71
QUESTO 29 ..................................................................................................... 73
QUESTO 30 ..................................................................................................... 77
QUESTO 31 ..................................................................................................... 81
QUESTO 32 ..................................................................................................... 83
QUESTO 33 ..................................................................................................... 87
QUESTO 34 ..................................................................................................... 89
QUESTO 35 ..................................................................................................... 93
QUESTO 36 ..................................................................................................... 97
QUESTO 37 ................................................................................................... 101
Comentado
SERVIO SOCIAL
7
2010
APRESENTAO
A Faculdade de Servio Social da PUCRS a mais antiga do Estado do Rio Grande do Sul,
tendo sido criada em 1945. Desde seu surgimento, vem formando assistentes sociais que, com sua
competncia, tm projetado a profisso em mbito local, nacional e internacional. Entre a tradio,
oriunda de seus 68 anos de histria, e a renovao, marcada pela sintonia com as demandas
societrias contemporneas e com as novas exigncias do mundo do trabalho, o Projeto Pedaggico
do Curso de Servio Social objetiva formar profissionais crticos, que tenham internalizados os valores
do projeto tico-poltico da profisso e o compromisso com a sua materializao. A proposta formativa
do Curso converge para um perfil profissional habilitado a realizar leitura crtica e interveno na
realidade social de modo a contribuir com a reduo das desigualdades (expresses da questo
social) e com o fortalecimento das resistncias dos sujeitos sociais incidindo na ampliao de
sua cidadania e autonomia e no desenvolvimento de processos sociais emancipatrios. Com essa
viso, a formao oferecida pela Faculdade de Servio Social (FSS/PUCRS) vem repercutindo no
reconhecimento de sua excelncia, expressa na obteno da nota mxima (5) em todos os critrios
do MEC na ltima avaliao. Nesse cenrio, inclui-se o excelente desempenho de seus alunos no
ENADE Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes realizado em 2010, cujas questes
so tematizadas no presente e-book. Espera-se que o esforo dos professores da FSS/PUCRS, ao
apresentarem o debate crtico sobre cada uma das questes do ltimo ENADE, possa traduzir-se em
material didtico valioso para os alunos de Servio Social em seu processo de formao.
Beatriz Gershenson Aguinsky,
Diretora da Faculdade de Servio Social da PUCRS.
Comentado
8
Comentado
SERVIO SOCIAL
9
2010
COMPONENTES ESPECFICOS
QUESTES OBJETIVAS
QUESTO 11
O assistente social, tanto em sua prtica investigativa para conhecimento da realidade
quanto em sua atuao junto aos movimentos sociais, necessita do aporte terico de autores
clssicos. Desses, alguns conceitos tericos devem ser priorizados, objetivando perceber a
realidade tal qual ela .
GOHN, M. G. Teoria dos movimentos sociais: paradigmas clssicos e
contemporneos. So Paulo: Loyola, 2000 (adaptado).
Assinale a alternativa que apresenta conceitos fundamentais que devem ser considerados
pelo assistente social em sua prtica.
A. Classes, estamentos, papis em Durkheim, funo e organizao da cultura em Weber e
estrutura, infraestrutura e superestrutura em Marx.
B. Ao social e suicdio em Durkheim, anomia/disnomia em Weber e conscincia individual,
capital e trabalho em Marx.
C. Luta de classe em Durkheim, burocracia e aparelhos de estado em Weber e estratifcao
social em Marx.
D. Organizao em Durkheim, desorganizao em Weber e conscincia de classes em Marx.
E. Anomia/disnomia em Durkheim, burocracia em Weber e conscincia e luta de classes em Marx.
* Gabarito: Alternativa E.
* Tipo de questo: Escolha simples, com indicao da alternativa correta.
* Contedos avaliados: Realidade Social, Anomia, Burocracia e Conscincia.
* Autores: Francisco Arseli Kern e Luiza Rutkoski Hoff.
COMENTRIO
A alternativa E est correta. Os conceitos tericos fundamentais sobre a realidade social
com a qual o Assistente Social desenvolve a sua prtica investigativa podem ser encontrados em
Comentado
10
Durkheim, Weber e Marx. O conceito de Anomia encontrado em Durkheim refere-se diviso de
tarefas no mundo do trabalho quando o prprio sentido de trabalho passa a ser fragmentado. Essas
tarefas constituem um conjunto sem unidade, porque carecem de um sentido de planejamento e
de organizao. A burocracia encontrada em Weber possui o sentido da forma mais racional para
atingir objetivos organizacionais. Na obra Um Toque de Clssicos, escrita por Quintanero, Barbosa
e Oliveira (2002), evidencia-se que a concepo de burocracia para Weber se coloca dentro da
perspectiva ideal, ou seja: A burocracia enquanto tipo ideal pode organizar a dominao racional
legal por meio de uma incomparvel superioridade tcnica que garanta preciso, velocidade, clareza,
unidade, especializao de funes, reduo do atrito, dos custos de material e pessoal (2002,
p. 139). Complementa-se com esses conceitos, a concepo de conscincia e luta de classes em
Marx. Com base nos estudos de Karl Marx, a conscincia humana sempre um produto social,
produzido pelos homens a partir de suas representaes, de suas ideias etc. Na obra A Ideologia
Alem, Marx afirma: A conscincia , portanto, desde incio, um produto social e assim suceder
enquanto existirem homens em geral. A luta de classes em Marx deve ser entendida como o
confronto entre opressores e oprimidos como classes antagnicas. Quintanero, Barbosa e Oliveira
(2002) afirmam que a luta de classes a partir de Marx, relaciona-se diretamente mudana social,
superao dialtica das contradies existentes (p. 43). Continuam os autores: por meio da
luta de classes que as principais transformaes estruturais so impulsionadas, por isso ela dita o
motor da histria (p. 43).
A alternativa A est errada porque no responde especificamente aos aportes tericos
trabalhados na prtica investigativa relacionada aos autores.
A alternativa B est errada porque o conceito de anomia/disnomia trabalhado por Durkheim
e no por Max Weber.
A alternativa C est errada porque a temtica da luta de classes estudada em Marx e no
em Durkheim.
A alternativa D est errada porque organizao e desorganizao so conceitos trabalhos
por Durkheim.
REFERNCIAS
QUINTANEIRO, Tania; BARBOSA, Maria Ligia; OLIVEIRA, Mrcia Gardncia Monteiro. Um toque
de clssicos: Marx, Durkheim, Weber. MG: UFMG, 2002.
GOHN, Maria da Glria. Teoria dos movimentos sociais: paradigmas clssicos e contemporneos.
So Paulo: Loyola, 2002.
Comentado
SERVIO SOCIAL
11
2010
QUESTO 12
O processo histrico de instituio dos direitos fundamentais consistiu primeiramente na
conquista das liberdades polticas, o que foi denominado como direitos de primeira gerao, tendo
como subsdio os valores do liberalismo no perodo da Revoluo Francesa. Nesse processo,
considera-se que a luta travada no ambiente poltico da poca consistia em uma luta de classe
I. em busca da afrmao dos direitos individuais.
II. para impor freios aos poderes absolutistas.
III. pela afrmao dos direitos sociais.
IV. pela afrmao ao direito greve.
V. pela preservao do direito de propriedade.
correto apenas o que se afirma em
A. I, II e III.
B. I, II e V.
C. I, IV e V.
D. II, III e IV.
E. III, IV e V.
* Gabarito: Alternativa B.
* Tipo de questo: Escolha combinada, com indicao da resposta correta.
* Contedo avaliado: Processo Histrico dos Direitos Fundamentais.
* Autora: Idilia Fernandes.
COMENTRIO
Considerando a historicidade dos direitos humanos, tem-se que primeiramente acontece a
conquista das liberdades polticas e o fundamento para isso so os valores calcados no liberalismo
do perodo da Revoluo Francesa. Partindo desse contexto inicial, compreende-se que existia
uma busca da afirmao dos direitos individuais para impor freios aos poderes absolutistas. Existe
nesse contexto tambm a luta pela preservao do direito de propriedade, o que imprime um tom
burgus gnese dos direitos fundamentais. Assim sendo, a alternativa B a correta, pois a
mesma assinala esses aspectos nos itens I, II e V.
Comentado
12
Os sujeitos de direitos podem ser individuais ou coletivos. O direito de votar e ser votado,
por exemplo, um direito individual. O direito de greve, em contrapartida, um direito coletivo. Com
efeito, a histria dos direitos humanos pode ser vista como um processo de expanso dos sujeitos
de direitos e dos objetos correspondentes. Os primeiros direitos humanos, que surgiram no sculo
XVIII, so os chamados direitos civis e polticos. Os sujeitos destes direitos so os indivduos; objetos
sobre os quais eles versam, por sua vez, so as liberdades individuais (liberdade de ir e vir, liberdade
de expresso, liberdade de crena etc.). Por isso mesmo os direitos civis e polticos so tambm
conhecidos como direitos-liberdade. (RABENHORST, 2011, p. 6)
Dentro desse entendimento histrico, o item III, que vincula a origem pela afirmao dos direitos
sociais, est incorreto, bem como o item IV, que indica pela afirmao ao direito greve. Esses
ltimos tm caractersticas que remetem ao coletivo e, portanto, buscam garantir direitos para alm dos
direitos individuais. No entanto os direitos fundamentais, mesmo que em determinado contexto tenham
servido luta de classe, favorecendo a classe burguesa, no perdem o mrito de se colocarem como
um evento para a humanidade se repensar enquanto humanidade afirmando o direito peculiar a cada
ser humano de fazer parte de seu contexto sem ser discriminado nem banido, preservando sempre sua
dignidade, independentemente da sua condio social, religiosa, poltica, cultural ou subjetiva.
A histria da maldade humana longa e assustadora, e a lista dos mortos sempre ultrapassou
a casa dos milhes. Milhes de negros africanos capturados, trafcados e transformados em escravos
por toda a Amrica. Milhes de ndios dizimados por guerras e doenas trazidas pelos colonizadores.
Milhes de judeus mortos pelos nazistas em campos de concentrao. Foi contra essas deplorveis
barbries que construmos o consenso de que os seres humanos devem ser reconhecidos como
detentores de direitos inatos, ainda que flosofcamente tal ideia venha a ensejar grandes controvrsias.
Por isso mesmo, podemos dizer que os direitos humanos guardam relao com valores e interesses
que julgamos ser fundamentais e que no podem ser barganhados por outros valores ou interesses
secundrios (RABENHORST, 2011, p. 5).
A sociedade vem se estruturando, tambm, em torno de guerras, torturas, processos de
subalternizao de povos sobre povos, capitalistas sobre trabalhadores, homens sobre mulheres,
culturas sobre culturas e assim por diante. Nesse processo, a humanidade foi se desumanizando
e perdendo valores humanos de respeito fundamental dignidade humana, cidadania e
solidariedade. A luta dos direitos humanos acontece para se contrapor barbrie de crimes contra
humanidade e busca garantir a dignidade nossa espcie humana.
Viver em um mundo no qual as pessoas so vistas como detentoras de direitos uma
grande conquista, seno vejamos. Durante sculos, milhes de seres humanos, nos mais diversos
lugares do mundo, inclusive no nosso pas, foram reduzidos condio de escravos e submetidos
aos tratamentos mais cruis e degradantes que podemos imaginar. At bem pouco tempo, a
violncia contra a mulher e o abuso sexual de crianas despertavam apenas indignao moral. Hoje
acarretam punies jurdicas. H duas dcadas, os trabalhadores que no pagavam contribuies
previdencirias em nosso pas eram tratados como indigentes nos hospitais ou postos de sade. Hoje
dispomos de um Sistema nico de Sade que, apesar de todas as difculdades, presta servios a
todos os cidados brasileiros. bem verdade que o mundo continua sendo profundamente perverso
e injusto, sobretudo com relao aos mais vulnerveis. No Brasil, parte signifcativa da populao
sofre com a falta de emprego, sade, alimentao, gua potvel etc. Mas, ao menos diante destes
absurdos, hoje podemos dizer: isso no est direito! E mais importante, podemos nos dirigir ao Estado
como cidados e exigir que nossas demandas sejam atendidas, no a ttulo de favor, mas exatamente
porque elas so direitos! (RABENHORST, 2011, p. 2)
Para a garantia dos direitos humanos fundamental a presena de um Estado forte para o
desenvolvimento social. Essa caracterstica vai de encontro a um projeto neoliberal que pretende
diminuir a esfera pblica e privatizar os servios. O descompromisso do Estado com a sociedade
alimenta o sistema de desigualdade e privilgios de poucos. Isso limita o acesso das pessoas com
menor poder aquisitivo utilizao dos servios e circulao pelas diversas instncias sociais. Assim,
para que se possa falar em uma sociedade de direitos, ser imprescindvel um Estado democrtico
com acesso universal aos seus cidados e cidads, preservando a dignidade da pessoa humana,
que campo dos direitos humanos.
13
Com a crescente globalizao econmica, acentua-se a privatizao, quando a questo
social deixa de ser associada ao mercado de trabalho para ser vinculada ao mercado de consumo.
Atualmente o Estado procura diminuir o seu tamanho, ou seja, reduzir os custos com as polticas
pblicas voltadas realizao da cidadania. O cidado agora visto pela sua capacidade de consumo
e no por ser portador de direito ao pertencimento social pelo fato de fazer parte da sociedade, assim
tambm a sua proteo social fica reduzida e ameaada.
O povo se v desvalido de direitos sociais bsicos, enquanto as elites polticas no articulam
democracia poltica com democracia social, pois o pas uma das maiores economias do mundo e
tambm uma das maiores desigualdades sociais. Os direitos sociais cada vez mais passam a ser
entendidos como necessidades sociais, pois os direitos estando privatizados, vincula-se a proteo
capacidade produtiva de cada um.
A questo social no Brasil moldada de acordo com os interesses das elites polticas. A
questo social, que com a questo trabalhista firma-se como proteo social (como direitos sociais e
filantropia), assume caracterstica paternalista, de poltica do favor, de patriarcalismo autoritrio, ou
seja, misrias transformam-se em instrumentos, armas de dominao, bem como a reproduo do
sistema. Por isso, ainda hoje, direitos so vistos pela elite como privilgios, favores.
Desde a sua origem, o nosso sistema de proteo social, em vez de existir para garantir a
capacitao e incluso do cidados (desempregados, analfabetos, pessoas em situao de misria)
no mercado de trabalho, tem funcionado apenas para reproduzir o atual sistema de subalternidade,
de subservincia, de apadrinhamento das classes assalariadas e do povo em geral frente queles
detentores do poder econmico e poltico do pas. Vivemos, na verdade, um sistema de desproteo
social, e as mltiplas expresses da questo social atravessam o cotidiano da maior parte dos brasileiros,
levando-os a uma vida de privaes e no acesso aos bens sociais e riqueza produzida socialmente.
REFERNCIAS
BARROCO, Maria Lcia. A inscrio da tica e dos direitos humanos no projeto tico-poltico do
Servio Social. Revista Servio Social e Sociedade n 79. So Paulo: Cortez, 2004.
______. A historicidade dos Direitos Humanos. APROPUC: 2008. Disponvel em: http://www.
apropucsp.org.br/apropuc/index.php/revista-puc-viva/39-edicao-33/433-a-historicidade-dos-direitos-
humanos1. Acesso em: abr. 2011.
FERREIRA FILHO, Manoel Gonalves. Direitos humanos fundamentais. So Paulo: Saraiva, 2004.
MONDAINI, Marco. Direitos humanos no Brasil. So Paulo: Contexto, 2009.
ORGANIZAO DAS NAES UNIDAS. Declarao Universal de Direitos Humanos, 1948.
______. Pacto Internacional dos Direitos Econmicos Sociais e Culturais, 1966.
PIOVENSAN, Flvia. Direitos humanos: fundamento, proteo e implementao: perspectivas e
desafos contemporneos. Curitiba: Juru, 2008.
______. Direitos Sociais, Econmicos e Culturais e Direitos Civis e Polticos. SUR Revista
Internacional de Direitos Humanos. Ano 1, n 1.
RABENHORST, Eduardo R. O que so os direitos humanos? Disponvel em: http://www.dhnet.org.
br/direitos/textos/index.html.
SIMES, Carlos. Curso de direito do Servio Social. Biblioteca Bsica de Servio Social. So
Paulo: Cortez, 2008.
TRINDADE, Jos Damio de Lima. Histria Social dos direitos humanos. So Paulo: Editora
Petrpolis, 2002.
Comentado
14
Comentado
SERVIO SOCIAL
15
2010
QUESTO 13
As primeiras formulaes tericas do servio social no Brasil seguem os princpios propostos
pela Igreja Catlica, determinados basicamente nas encclicas Rerum Novarum e Quadragsimo Ano,
documentos que propunham o envolvimento dos catlicos com os problemas sociais. Essa perspectiva
de formao terica visa subsidiar a prtica profissional dos assistentes sociais sob uma viso terica
A. fenomenolgica.
B. neopositivista.
C. materialista.
D. racionalista.
E. neotomista.
* Gabarito: Alternativa E.
* Tipo de questo: Escolha simples, com indicao da alternativa correta.
* Contedos avaliados: Fundamentos histrico, terico e metodolgico do Servio Social.
* Autores: Francisco Arseli Kern e Mrcia Salete Arruda Faustini.
COMENTRIO
A resposta correta a alternativa E, que problematiza o neotomismo. O neotomismo est
na base das concepes presentes no surgimento da profisso na dcada de 30. Sua influncia no
Servio Social se dar a partir da prpria vinculao histria da profisso com a Igreja Catlica, com
repercusses na formao e no trabalho profissional da poca. A profisso, cuja origem no pode
ser apreendida isoladamente, nasce vinculada a profundas transformaes do Estado e, tambm,
ao laicato da Igreja Catlica, num momento em que a Igreja passa por uma reordenao interna
profunda e procura mobilizar, reorganizar e reanimar o bloco catlico, lanando-o numa militncia
ativa (CARVALHO, IAMAMOTO, 1993, p. 220).
O pensamento social catlico, que vai se expressar na Doutrina Social da Igreja, indica a
necessidade desta de ter uma participao ativa na vida social atravs da sua ao na sociedade,
e est ancorado nas encclicas como a Rerum Novarum (Leo XIII, 1891) que traz o papel social
da Igreja na sociedade moderna, destaca a situao dos trabalhadores e a questo da justia e a
Quadragsimo Ano (Pio XI, 1931) que destaca a ao social da Igreja junto questo social, indicando
os efeitos do poderio econmico na sociedade e a busca de harmonia entre as classes sociais.
Comentado
16
Documentos que ancoram princpios e valores que vo ser traduzidos em postulados e
rebatidos na profisso atravs de um corpo de referncias ao pensar e ao agir profissional em sua
origem. A seguir, trazemos dois extratos referentes ao pensamento expresso nestes documentos.
Em Rerum Novarum (1891), temos:
estamos persuadidos, e todos concordam nisto, de que necessrio, com medidas prontas e efcazes,
vir em auxlio dos homens das classes inferiores, atendendo a que eles esto, pela maior parte,
numa situao de infortnio e de misria imerecida. O sculo passado destruiu, sem as substituir
por coisa alguma, as corporaes antigas, que eram para eles uma proteo; os princpios e o
sentimento religioso desapareceram das leis e das instituies pblicas, e assim, pouco a pouco, os
trabalhadores, isolados e sem defesa, tm-se visto, com o decorrer do tempo, entregues merc de
senhores desumanos e cobia duma concorrncia desenfreada.
Em Quadragsimo Ano (1931), vemos:
Sem dvida que a condio dos operrios melhorou e se tornou mais tolervel, sobretudo
nas cidades mais progredidas e populosas, onde os operrios j no podem todos sem exceo
ser considerados como indigentes e miserveis. Mas, desde que as artes mecnicas e a indstria
moderna em pouqussimo tempo invadiram completamente e dominaram regies inumerveis, tanto
as terras chamadas novas como os reinos do remoto Oriente cultivados j na antiguidade, cresceu
desmesuradamente o nmero dos proletrios pobres, cujos gemidos bradam ao cu. Acresce o
ingente exrcito dos jornaleiros relegados nfma condio e sem a mnima esperana de se verem
jamais senhores de um pedao de terra; (43) se no se empregam remdios oportunos e efcazes,
fcaro perpetuamente na condio de proletrios.
Vemos com Olegna Guedes (2000) que a influncia neotomista marca a gnese do Servio
Social no Brasil. A autora destaca, em seus estudos, a influncia desse pensamento na concepo
de homem da profisso, que vinculava uma filiao neotomista por parte dos primeiros assistentes
sociais, influenciados pelo retorno da filosofia de S. Toms de Aquino.
Assim, o pensamento neotomista, em sua traduo, para o Servio Social vai marcando valores
que acompanham o surgimento da profisso, atravs de postulados, como referido por Yasbek (2009):
a noo de dignidade da pessoa humana; sua perfectibilidade, sua capacidade de desenvolver
potencialidades; a natural sociabilidade do homem, ser social e poltico; a compreenso da sociedade
como unio dos homens para realizar o bem comum (como bem de todos) e a necessidade da
autoridade para cuidar da justia geral.
Esse pensamento neotomista estar presente no que Barroco (2003) vai caracterizar como os
fundamentos filosficos da tica profissional tradicional, que traduzem uma moral conservadora e
vo contribuir na operacionalizao de um ethos profissional no crtico, que acaba deslocando para
o campo da moral as desigualdades sociais.
No podemos ter como resposta correta o item A, que se refere viso terica Fenomenolgica,
posto que essa perspectiva terica no estava presente nas primeiras formulaes tericas do
Servio Social no Brasil, ingressando no universo de discusso terica da profisso por ocasio do
Movimento de Reconceituao nas dcadas de 60 e 70.
No podemos ter como resposta correta o item B, que se refere viso terica neopositivista
posto que, no surgimento da profisso suas primeiras formulaes tericas, esto muito mais
pautadas em princpios e valores do que em um mtodo cientfico.
No podemos ter como resposta correta o item C, que se refere viso terica materialista
posto que essa perspectiva tambm ingressa como referncia terica a ser considerada no universo de
discusso terica da profisso por ocasio do Movimento de Reconceituao nas dcadas de 60 e 70.
No podemos, igualmente, ter como resposta correta o item D, que se refere viso terica
racionalista posto que o racionalismo destaca a racionalidade como princpio fundamental para o
conhecimento da realidade e no princpios religiosos ou dogmticos que no passam pelo crivo do
movimento razo.
17
REFERNCIAS
BARROCO, Maria Lucia Silva. tica e Servio Social: fundamento ontolgico. 2. ed. So Paulo:
Cortez, 2003.
IAMAMOTO, M.; CARVALHO, R. Relaes Sociais e Servio Social no Brasil. So Paulo: Cortez;
Lima [Peru], CELATS, 1993.
GUEDES, Olegna de Souza. A Compreenso da Pessoa Humana na Gnese do Servio Social
no Brasil: uma Infuncia Neotomista. (2000). Acesso em: abr. 2011. Disponvel em: http://www.
ssrevista.uel.br/c_v4n1_compreensao.htm.
QUADRAGSIMO ANNO (1931). Acesso em: abr. 2011. Disponvel em: http://www.vatican.va/holy_
father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19310515_quadragesimo-anno_po.html.
RERUM NOVARUM (1891). Acesso em: abr. 2011. Disponvel em: www.vatican.va/.../hf_l-xiii_
enc_15051891_rerum-novarum_po.html.
YASBEK, Maria Carmelita. Os fundamentos do Servio Social na contemporaneidade (2009).
Acesso em: abr. 2011. Disponvel em: www.pucsp.br/pos/ssocial/professor/yazbek_fundamentos.doc.
Comentado
18
Comentado
SERVIO SOCIAL
19
2010
QUESTO 14
A partir da dcada de 1950, estruturou-se em pases de capitalismo perifrico, entre eles o
Brasil, um modelo de desenvolvimento denominado desenvolvimentismo, que marcou profundamente
o modo de funcionamento dessas sociedades. Nesse modelo, o Estado
A. assume o papel de agente central do processo de industrializao acelerada e de modernizao
econmica e social.
B. realiza investimento em infraestrutura econmica, combinando-o a um esforo de enxugamento
dos gastos pblicos.
C. enfatiza a construo de grandes monoplios e o saneamento da economia para reduzir a
infao e o dfcit pblico.
D. promove captao de investimentos privados estrangeiros para realizar investimento no
mercado fnanceiro.
E. atua menos no campo econmico e concentra-se em seu papel como agente poltico.
* Gabarito: Alternativa A.
* Tipo de questo: Escolha simples, com indicao da alternativa correta.
* Contedos avaliados: Desenvolvimento poltico, econmico e social brasileiro,
desenvolvimentismo, Estado.
* Autora: Maria Palma Wolf.
COMENTRIO
O modelo desenvolvimentista brasileiro se definiu pelo protagonismo do Estado na conduo
da economia. A inteno era consolidar um caminho de acelerao do desenvolvimento industrial e
assim possibilitar a modernizao econmica e social do pas. Sendo assim, correta a alternativa A,
pois a centralidade do Estado foi inconteste nesse processo (FONSECA, 2010; BOSCHETTI, 2009).
Embora seja correto afirmar que o modelo desenvolvimentista priorize o investimento em
infraestrutura visando acelerao do processo de industrializao, tambm verdade que essa
poltica implica justamente um aumento dos gastos pblicos. O capital estatal viabilizava o programa
de melhorias da infraestrutura necessria para a sustentao do modelo, atravs da construo de
rodovias e da ampliao do potencial da matriz energtica do pas. Tudo isso gerou um aumento dos
gastos, sem que houvesse qualquer esforo no sentido reduzir o dficit pblico; , portanto, incorreta
a alternativa B (FEE, 1983).
Comentado
20
A alternativa C est incorreta por pressupor, para o perodo desenvolimentista, a construo de
grandes monoplios e o saneamento da economia para reduzir a inflao e o dficit pblico. A poltica de
mobilizao das massas em torno de questes gerais como inflao, custo de vida, bem-estar social estava
articulada com o tema do desenvolvimento industrial de base nacional, o que montou as bases de uma
estratgia de poder que iria marcar todo o perodo populista. Por outro lado, os mecanismos econmicos
adotados resultaram na agudizao do processo inflacionrio. O rpido desenvolvimento econmico,
anunciado pelo Governo Vargas e estimulado pelo Governo Juscelino, representou, na realidade, um
alto custo para os trabalhadores, medida que veio acompanhado de um processo inflacionrio que
redundou na queda do poder aquisitivo dos salrios (FEE, 1983; Behring, Boschetti, 2007).
A alternativa D, que refere o objetivo da captao de recursos privados estrangeiros para
investir no mercado financeiro, est igualmente incorreta. Isso porque, em meados dos anos 50, mais
precisamente durante o governo de Juscelino Kubitscheck, comea a se configurar um modelo de
desenvolvimento calcado na produo de bens de consumo durveis e de equipamentos. No incio da
dcada de 1950, ainda no havia uma definio em torno da industrializao, via-se capital estrangeiro
ou estatal. Mas a presena norte-americana tambm j era visvel em nossa economia. A ascenso de
Juscelino Kubitschek, em 1956, marcou o incio de um processo de industrializao inteiramente ajustado
aos interesses do capital internacional. A penetrao do capital estrangeiro ocorreu de forma macia,
ocupando os ramos da indstria pesada: indstria automobilstica, de caminhes, de material eltrico e
eletrnico, de eletrodomsticos, de produtos qumicos e farmacuticos, de matria plstica (FEE, 1983).
A implantao definitiva do sistema industrial no Brasil dependia do encontro de solues para
a implantao dos diversos ramos da indstria: pesada, produtora de bens durveis de consumo,
bens intermedirios e bens de capital. Para isso, era imprescindvel a atuao firme do Estado no
campo econmico, propiciando as condies especialmente para a industrializao pesada, mediante
investimento nacional ou estrangeiro no pas. Alm disso, o governo juscelinista definiu com clareza
o rumo da industrializao ao implantar o modelo desenvolvimentista estreitamente associado ao
capital estrangeiro. Em oposio a essa abertura ao capital estrangeiro, surgiu um macio movimento
de nacionalizao do petrleo, sob o lema O petrleo nosso. Em 1953, finalmente, o Congresso,
pressionado pela fora que o movimento atingira, aprovou a lei que instituiu o monoplio estatal da
explorao e do refinamento do petrleo. Com isso, o Estado assume protagonismo como agente
econmico privilegiado no pas; a alternativa E, portanto, tambm no est correta (BOSCHETTI, 2009).
REFERNCIAS
Behring, elaine R.; Boschetti, Ivanete. Poltica Social: fundamentos e histria. So Paulo:
Cortez, 2007.
BOSCHETTI, Ivanete et al. Poltica Social no Capitalismo tendncias contemporneas. So
Paulo, Cortez, 2009.
FEE. Fundao de Economia e Estatstica. A Poltica social brasileira 1930 1964. Porto Alegre:
FEE, 1983.
FONSECA, Pedro Cezar Dutra. Nem ortodoxia nem populismo: o Segundo Governo Vargas e a
economia brasileira. Tempo [online]. 2010, v. 14, n. 28. Disponvel em: http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1413-77042010000100002&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: abr. 2011.
Comentado
SERVIO SOCIAL
21
2010
QUESTO 15
O atual quadro scio-histrico no se reduz a um pano de fundo para que se possa, depois,
discutir o trabalho profissional. Ele atravessa e conforma o cotidiano do exerccio profissional do
assistente social, afetando as suas condies e as relaes em que se realiza o exerccio profissional,
assim como a vida da populao usuria dos servios sociais. A anlise crtica desse quadro requer
um diagnstico mais complexo sobre os processos sociais e a profisso neles inscrita.
IAMAMOTO, M. V. As dimenses tico-polticas e terico-
metodolgicas no Servio Social contemporneo. Servio
social e sade: Formao e Trabalho Profssional, Cortez,
2006, p. 76 (adaptado).
A partir do texto e considerando o exerccio da assistncia social no contexto atual, assinale
a alternativa correta.
A. O contexto scio-histrico traz os elementos necessrios para o profssional categorizar os
problemas sociais e os vulnerabilizados, facilitando a priorizao das aes e as opes
tcnicas. Tais procedimentos encontram respaldo no projeto tico-poltico profssional para a
defnio das estratgias de interveno.
B. sob o escopo das questes scio-histricas que os problemas sociais confguram-se como
pessoais e delimitam os elementos terico-metodolgicos e tico-polticos que norteiam as
estratgias profssionais.
C. Os limites e possibilidades da interveno esto impressos no terreno scio-histrico em que
se exerce a profsso e nas referncias ticas, polticas e metodolgicas do assistente social.
D. A prtica profssional uma relao singular entre o assistente social e o cliente e estabelece
as bases para as estratgias profssionais, pois o servio social uma profsso do agir.
E. A prtica profssional interfere diretamente no cotidiano da populao, razo pela qual o
cotidiano alcana a centralidade da ateno profssional.
* Gabarito: Alternativa C.
* Tipo de questo: Escolha simples, com indicao da alternativa correta.
* Contedo avaliado: O atual quadro scio-histrico do trabalho profssional.
* Autora: Idilia Fernandes.
Comentado
22
COMENTRIO
A resposta certa a alternativa C, os limites e possibilidades da interveno esto impressos
no terreno scio-histrico em que se exerce a profisso e nas referncias ticas, polticas e
metodolgicas do assistente social.
A direo social que orienta este projeto de profsso tem como referncia a relao orgnica
com o projeto das classes subalternas, reafrmado pelo Cdigo de tica de 1993, pelas Diretrizes
Curriculares de 1996 e pela Legislao que regulamenta o exerccio profssional, Lei n. 8.662 de
07/06/93. (YASBEK, 2009, p. 156)
A alternativa A no est correta, pois diz que o contexto scio-histrico traz os elementos
necessrios para o profissional categorizar os problemas sociais e os vulnerabilizados, facilitando
a priorizao das aes e as opes tcnicas [...]. Isso no assim, h uma invisibilidade das
verdadeiras expresses da questo social nos processos sociais, essas precisam ser desvendadas
por um mtodo investigativo crtico e atento a uma viso de totalidade e contradio.
Sartre dizia na obra Questo de Mtodo o marxismo a flosofa insupervel do nosso
tempo. Enquanto as condies nas quais o marxismo se debruou permanecerem o capitalismo, o
marxismo continuar sendo o instrumento analtico mais adequado, mais poderoso, mais abrangente,
mais percuciente para revelar esse mundo. um instrumento adequado ao seu objeto, que a anlise
da realidade capitalista. Enquanto o capitalismo existir, nas suas formas, nas suas consequncias, o
marxismo continuar sendo o mais importante instrumento analtico de interveno. Instrumento de
crtica e autocrtica de visualizao e de superao dessa realidade. As fontes do pensamento de
Marx so constitudas por uma concepo de mundo e mtodo que a flosofa dialtica, na qual se
percebe que tudo que existe um permanente devir, uma permanente superao, um permanente
movimento (PAULA, 1995, p. 30).
Na alternativa A, tambm est colocado que: [...] tais procedimentos encontram respaldo
no projeto tico-poltico profissional para a definio das estratgias de interveno, o que no
verdade pelo fato de que tais procedimentos de categorizao de problemas sociais no o
recomendado pela profisso. A expresso problemas sociais no bem-vista na profisso de
servio social, pois remete a uma viso fragmentria e localizada de situaes que fazem parte da
realidade de um sistema social e da estrutura de uma sociedade.
sob o escopo das questes scio-histricas que os problemas sociais configuram-se como
pessoas e delimitam os elementos terico-metodolgicos e tico-polticos que norteiam as estratgias
profissionais, o que diz a alternativa B e est incorreto. Essa ideia insiste na perspectiva dos
problemas sociais em detrimento de uma viso de totalidade e ainda indica, de forma confusa, que
as pessoas so configuraes desses problemas e vo delimitar metodologias, uma ideia nada
esclarecedora sobre a profisso.
A histria do conhecimento no pode ser relacionada histria abstrata do ser social, mas
histria concreta da prtica social. As trs caractersticas que atribumos ao conhecimento (prtica,
social, histrico) caractersticas que formam um todo indissocivel. A lgica formal, lgica da forma,
lgica da abstrao. Quando nosso pensamento, aps essa reduo provisria do contedo, retorna
a ele para reaprend-lo, ento assim a lgica formal se revela insufciente. (LEFEBVRE, 1995, p. 137)
As questes scio-histricas vo evidenciar um processo social de desigualdade e acumulao
de capital para uma pequena minoria em detrimento de uma maioria populacional que fica margem
de usufruir os bens da sociedade e de exercer sua plena cidadania e pertencimento social. Esse
processo social vai configurar a questo social a qual o servio social vai tomar como objeto de
estudo e interveno social.
Na alternativa D, est colocado que A prtica profissional uma relao singular entre o
assistente social e o cliente e estabelece as bases para as estratgias profissionais, pois o servio
social uma profisso do agir. Essa questo no est correta, primeiramente pela linguagem, j
abandonada pelo servio social, expresso cliente, nossa relao com os sujeitos sociais no se
faz base do clientelismo e sim de uma abordagem com cidadania. A base para uma interveno
23
profissional transformadora no pode se restringir relao profissional-sujeito, ter que investigar,
compreender e intervir em contextos, nos quais esses sujeitos esto inseridos.
Observa-se que a complexidade da questo social no est na abordagem de questes
microssociais, locais ou que envolvam dimenses de valores, afetos e da subjetividade humana
(questes de necessrio enfrentamento), mas est na recusa da Razo e na descontextualizao,
na ausncia de referentes histricos, estruturais no no reconhecimento de que os sujeitos histricos
encarnam processos sociais, expressam viso de mundo e tem suas identidades sociais construdas
na tessitura das relaes sociais mais amplas. Relaes que se explicam em teorias sociais
abrangentes que confguram vises de mundo onde o particular ganha sentido referido ao genrico
(YASBEK, 2009, p.157-158).
Na lgica dialtica que est sendo desenvolvida aqui para anlise dessas questes, pode-
se afirmar tambm que a alternativa E est errada. Tal questo assevera que A prtica profissional
interfere diretamente no cotidiano da populao, razo pela qual o cotidiano alcana a centralidade
da ateno profissional. O cotidiano um dado de realidade significativo da prtica profissional
dos assistentes sociais, porm no se pode afirmar que seja o mesmo a centralidade da nossa
interveno. Tanto quanto exagero afirmar que nossa prtica profissional venha interferir diretamente
no cotidiano da populao. Poder alterar ou no fazer diferena, dependendo da intencionalidade
das aes e das articulaes de foras polticas que forem possveis de serem conjugadas para o
alcance efetivo de mudanas nesse cotidiano.
Para que ocorram transformaes no cotidiano, necessrio ir para alm dele, ou seja,
perceber os processos de subjugao, hierarquizao, explorao, subalternizao, discriminao
que nele estejam presentes. Esses processos esto presentes na sociedade de classes e capitalista
em que nosso cotidiano acontece historicamente e no tempo presente.
Oswaldo Iamamoto (1997) tem um artigo intitulado o cotidiano uma questo para o
marxismo?, em que desenvolve uma anlise que remete ao entendimento do cotidiano como
uma categoria de anlise que contm alguns aspectos peculiares a serem observados. Esse
artigo indica que, na cotidianidade, as coisas simplesmente so impostas mecnica, instintiva, sub
e inconscientemente aos homens: o mundo da familiaridade. O cotidiano como qualquer outro
campo, tomado na sua imediaticidade, o lcus do fragmentrio, do microscpico, do efmero, do
imaginrio. Portanto o cotidiano uma questo relevante para o marxismo (IAMAMOTO, 1997).
O servio social brasileiro, a partir das novas diretrizes curriculares de 1996, assume uma
perspectiva epistemolgica de matriz marxista. Nessa perspectiva, o trabalho profissional vai se
orientar pelo mtodo dialtico, que tem na totalidade e na contradio duas de suas categorias
de anlise do real. Isso nos levar a uma viso de ampliao dos horizontes para anlise e
interveno na realidade. Sendo assim, ao analisarmos o cotidiano, precisaremos situ-lo num
contexto maior de sociedade e de estrutura social, localizando o significado do mesmo nas foras
que se movem dentro dessa sociedade marcada por condicionantes econmicos, culturais, sociais
e singulares. Cada situao particular tem sua singularidade situada numa contextualidade inscrita
na universalidade onde se move cada sujeito desse social. Se o cotidiano fosse central para nossa
anlise e interveno, correramos o risco de despolitizar a profisso e ter uma ao focada apenas
num sujeito, descontextualizado de sua realidade social e de vida.
REFERNCIAS
IAMAMOTO, Marilda V. O Servio Social em tempos de capital fetiche e formao profssional.
So Paulo: Cortez, 2008.
IAMAMOTO, Oswaldo H. o Cotidiano, uma questo para o marxismo? Revista Servio Social e
Sociedade, n 54. SP: Cortez, 1997.
KOSIK, Karel. Dialtica do Concreto. 3. ed. Traduo de Clia Neves e Alderico Torbio. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1995.
LEFEBVRE, Henry. Lgica Formal/Lgica Dialtica. 6. ed. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 1995.
Comentado
24
PAULA, Joo Antnio. A Produo do Conhecimento em Marx. Cadernos ABESS 5. A produo do
conhecimento e o Servio Social. So Paulo, 1995.
YASBEK, Carmelita. Fundamentos Histricos e Terico-Metodolgicos do Servio Social. Servio
Social: direitos sociais e competncias profssionais. Braslia: CFESS/ABEPSS, 2009.
Comentado
SERVIO SOCIAL
25
2010
QUESTO 16
O pensamento neoliberal defende uma segmentao entre as esferas do Estado e do
mercado. O neoliberalismo entende a existncia e permanncia das questes econmicas no mbito
do mercado, enquanto, ao Estado, cabem os processos da poltica formal e, eventualmente, algumas
atividades sociais. Desse modo, trata-se de uma concepo do Estado como pblico e de tudo o que
no estatal como privado. Nesse sentido, o modelo de Estado que mais se aproxima ao ideal do
pensamento neoliberal aquele que
A. centraliza o poder de dirigir os interesses particulares de fraes da populao, no toma
conhecimento da atuao da sociedade civil e tem como meta a luta contra a tirania da maioria.
B. promove a democracia governada, restringe a participao poltica ao silencioso ato eleitoral
e assegura a legitimao total da dominao da sociedade.
C. amplia suas responsabilidades no tratamento da questo social, prioriza a questo econmica
como determinante do sistema e se distancia da sociedade.
D. reduz suas intervenes no campo social, apela solidariedade e se apresenta como parceiro
da sociedade em suas responsabilidades sociais.
E. fornece a estrutura necessria para a livre concorrncia do mercado, atua de forma
descentralizada e reconhece a universalizao dos direitos sociais a todos os cidados.
* Gabarito: Alternativa D.
* Tipo de questo: Escolha simples, com indicao da alternativa correta.
* Contedo avaliado: O papel do Estado frente ao iderio neoliberal.
* Autor: Giovane Antonio Scherer.
COMENTRIO
O neoliberalismo se caracteriza por ser uma argumentao terica que restaura o mercado
como instncia mediadora societria elementar e insupervel e uma proposio poltica que
repe o Estado mnimo como a nica alternativa e forma de democracia (NETTO, 1993). Nesse
sentido, o iderio neoliberal possui como concepo a minimizao do Estado frente a suas
responsabilidades, colocando uma centralidade na instncia do Mercado, que deveria suprir, na
lgica da mercantilizao, as necessidades humanas. Desse modo, a alternativa D a alternativa
correta, uma vez que o iderio neoliberal compreende que o Estado no deve intervir no campo
social, pois essa concepo defende o pressuposto que a interveno estatal nas refraes da
questo social destruidora da liberdade dos cidados e da vitalidade das competncias dos
Comentado
26
sujeitos, afirmando que a desigualdade um fator positivo e indispensvel de que as sociedades
necessitam (HOUTART, POLET, 2002), uma vez que impulsiona a competitividade entre os sujeitos,
que, segundo essa concepo, fundamental para o seu desenvolvimento. Diante desse contexto,
o Estado deve ser moderado nas despesas sociais, sendo que esse processo de minimizao do
estatal se d por uma dupla via: de um lado uma crescente mercadorizao dos atendimentos s
necessidades sociais, de outro, uma transferncia das suas responsabilidades governamentais
para organizaes sociais e organizaes da sociedade civil de interesse pblico (IAMAMOTO,
2008). Assim, a ideologia neoliberal desloca para a sociedade civil as responsabilidades do Estado,
apelando para o discurso da solidariedade, apoiada na ideia de bem comum, que esconde por trs
dessa concepo a desresponsabilizao do Estado e a reduo das possibilidades de interveno
e participao poltica, sobretudo das camadas populares, dos segmentos sociais subalternos e
suas representaes coletivas (DEGENSZAJN, 2010).
Pode-se perceber, dessa forma, que o iderio neoliberal busca o fortalecimento do modo de
produo capitalista de modo perverso, potencializando as desigualdades em prol do fortalecimento
da lgica do modo de acumulao, especialmente quando tal concepo fomenta, atravs de
ajustes estruturais, os processos de desigualdades sociais, considerados elementos necessrios
para potencializar a competitividade do modo de produo capitalista. Sendo assim, a alternativa
A incorreta, uma vez que a presente questo afirma que essa ideologia tem como meta a luta
contra a tirania da maioria. A ideologia neoliberal possui como meta a estabilizao da economia,
a conservao da taxa de lucro e estabilizao dos processos inflacionrios, desse modo, tal
ideologia no luta contra a tirania, mas sim d condies de potencializar os processos de
explorao de modo mais contundente, uma vez que, quanto mais a competitividade for acirrada
para aqueles que vendem a sua fora de trabalho, menores sero os salrios da classe que vive do
trabalho (ANTUNES, 2009) e maior o lucro dos proprietrios dos meios de produo. Essa lgica
perversa sustenta os processos de dominao de explorao de uma classe sobre a outra.
Nesse sentido, a alternativa C tambm est incorreta, uma vez que afirma que o modelo de Estado
Neoliberal aquele que amplia as suas responsabilidades no tratamento da questo social, quando,
para essa concepo, o Estado deve ser mnimo, reduzindo ao mximo o atendimento no campo social,
deslocando aes governamentais pblicas para a instncia do mercado e da sociedade civil.
Esse deslocamento da satisfao das necessidades da esfera pblica para a esfera privada
ocorre em detrimento das lutas e de conquistas sociais e polticas extensivas a todos. exatamente
o legado dos direitos nos ltimos sculos que est sendo desmontado nos governos de orientao
neoliberal, em uma ntida regresso da cidadania que tende a ser reduzida sua dimenso civil e
poltica, erodindo a cidadania social. (IAMAMOTO, 2008, p. 197)
Como o Estado, segundo as orientaes neoliberais, deve ser mnimo quanto s suas
responsabilidades no enfretamento da questo social, pode-se perceber que a alternativa E est
incorreta, uma vez que afirma que essa concepo reconhece a universalizao dos direitos sociais
a todos os cidados, quando essa ideologia prega o desmonte dos direitos conquistado pelas lutas
histricas por sua efetivao. A ideologia neoliberal no defende a universalizao dos direitos sociais
a todos os cidados, pelo contrrio, convoca o desmantelamento desses direitos universais, uma vez
que o mercado deve ser a instncia reguladora das necessidades sociais da populao; sendo que
essas necessidades devem ser supridas na lgica da compra e venda e no na lgica do acesso a
direitos universais.
REFERNCIAS
ANTUNES, Ricardo. Os Sentidos do Trabalho: Ensaio sobre a Afrmao e a Negao do Trabalho.
2. ed. So Paulo: Boitempo, 2009.
DEGENSZAJN, Raquel R. Cidade, questo social e relaes internacionais. Revista Temporalis n
19, jan./jun. Braslia: ABEPSS, 2010.
27
HOUTART, Franois; POLET, Franois. O Outro Davos: Mundializao de Resistncias e Lutas. So
Paulo: Cortez, 2002.
IAMAMOTO, Marilda Villela. Servio Social em Tempo de Capital Fetiche: capital fnanceiro,
trabalho e questo social. 2. ed. So Paulo: Cortez, 2008.
NETTO, Jos Paulo. Crise do Socialismo e Ofensiva Neoliberal. 1. ed. So Paulo: Cortez, 1993.
Comentado
28
Comentado
SERVIO SOCIAL
29
2010
QUESTO 17
As principais vertentes de fundamentao terico-metodolgica que emergiram no bojo
do Movimento de Reconceituao foram: a vertente ________________, caracterizada pela
incorporao de abordagens funcionalistas e estruturalistas e, mais tarde, sistmicas (matriz
positivista), voltadas a uma modernizao conservadora (NETTO, 1994, p. 164); a vertente de
inspirao ____________________, centrada na anlise do vivido e das vivncias dos sujeitos;
e a vertente ___________________, que remete a profisso conscincia de sua insero na
sociedade de classes.
Assinale a opo cujas palavras preenchem corretamente as lacunas na ordem em que
esto dispostas no texto.
A. modernizadora, fenomenolgica, marxista
B. fenomenolgica, modernizadora, marxista
C. sistmica, marxista, modernizadora
D. marxista, sistmica, fenomenolgica
E. sistmica, fenomenolgica, marxista
* Gabarito: Alternativa A.
* Tipo de questo: Escolha simples, com indicao da alternativa correta.
* Contedos avaliados: Vertentes de fundamentao terico-metodolgicas no Servio Social.
* Autoras: Maria Isabel Barros Bellini e Luiza Barreto Eidt.
COMENTRIO
O Movimento de Reconceituao do Servio Social no teve sua expresso apenas no Brasil
e sim envolveu alguns pases da Amrica Latina nos anos entre 1965 e 1975, perodo em que vrios
pases latino-americanos vivenciavam crises e governos ditatoriais, o que serviu como mola propulsora
para a organizao de movimentos sociais. O Movimento de Reconceituao do Servio Social significou
a construo de uma relao diferenciada da profisso com a sociedade e com os trabalhadores, na
medida em que buscou romper com teorias e mtodos importados e empacotados especialmente do
contexto norte-americano que no dialogava com a realidade latina e, no caso especifico, com a realidade
brasileira. O Servio Social latino-americano em um movimento de contranitncia submisso aos
mtodos e teorias americanas e/ou europeias, ou seja, em um movimento de oposio ao conservadorismo
que caracterizava a profisso desde sua origem, organizou um movimento que teve como propsito:
reconceituar/reconceber ou rever opinies, conhecimentos, fundamentos, finalidades e compromissos,
Comentado
30
ou seja, propunha uma reviso crtica ao tradicionalismo profissional. Denominado de Reconceituao
do Servio Social, esse movimento [...] de base terica e metodolgica ecltica [...] foi polarizado pelas
teorias desenvolvimentistas [...], representou as primeiras aproximaes do Servio Social tradio
marxista (IAMAMOTO, 2008, p. 212) e imps aos profissionais a reviso dos fundamentos da profisso
e a preocupao com o carter cientfico e no doutrinrio das atividades profissionais (IAMAMOTO,
2008). O movimento tambm teve importncia quanto denncia da pretensa neutralidade poltico-
ideolgica (IAMAMOTO, 2008), o que impulsionou a busca da vocao do Servio Social brasileiro e,
a partir da, o surgimento de vertentes de fundamentao terico-metodolgica para fundamentar essa
vocao. A reconceituao , sem qualquer dvida, parte integrante do processo de eroso do Servio
Social tradicional, portanto, nessa medida, partilha de suas causalidades e caractersticas. Como tal,
ela (a Reconceituao) no pode ser pensada sem a referncia ao quadro global (econmico-social,
poltico, cultural e estritamente profissional) em que aquele se desenvolve. No entanto, ela se apresenta
com ntidas peculiaridades, procedentes das particularidades latino-americanas, nas nossas latitudes e
ainda a ruptura com o Servio Social tradicional se inscreve na dinmica de rompimento das amarras
imperialistas, de luta pela libertao nacional e de transformao da estrutura capitalista excludente,
concentradora (NETTO, 2005, p. 145-146). Sobre essas vertentes de fundamentao terico-
metodolgica desencadeadas pelo Movimento de Reconceituao, trata a questo aqui analisada.
A vertente modernizadora se caracterizada pela incorporao de abordagens funcionalistas,
estruturalistas e, posteriormente, sistmicas (matriz positivista), voltadas a uma modernizao conservadora
(NETTO, 1994, p. 164), com a melhoria do sistema pela mediao do desenvolvimento social e enfrentamento
da marginalidade e da pobreza na perspectiva de integrao da sociedade. Os recursos para alcanar tais
objetivos esto baseados na modernizao tecnolgica e em processos e relacionamentos interpessoais.
Essas opes, conforme Yasbek (2009, p. 149), configuram um projeto renovador tecnocrtico que buscava
moldar a profisso s exigncias sociopolticas e integr-la no processo de desenvolvimento, tornando-a
instrumento integrador e no questionador da ordem social vigente. Fundado na busca da eficcia, norteando
a produo do conhecimento e a interveno profissional.
Centrada na anlise do vivido e das vivencias dos sujeitos, a vertente de inspirao
fenomenolgica, propunha outra forma de compreenso e interveno da realidade, antagnica
vertente modernizadora de cunho positivista. Com interesse centrado no vivido e nas vivncias dos
sujeitos, rompendo, assim, com as formas de controle, ajuda, adaptao, cooptao e desajustes,
situando-se como uma proposio inovadora e de orientao psicossocial. Apresenta uma metodologia
baseada na trade: dilogo, pessoa e transformao social.
A vertente marxista remete a profisso conscincia de sua insero na sociedade de
classes, introduzindo novas reflexes e compromissos para os assistentes sociais. Claramente
rompe com a herana conservadora das concepes tericas e metodolgicas que no permitiam
a crtica radical das relaes econmicas e sociais vigentes. A aproximao com essa vertente se
iniciou na dcada de 1960, tendo como estofo os movimentos reivindicatrios internacionais. No
Servio Social brasileiro, tivemos como impulso a constatao da incapacidade do Servio Social
tradicional frente ao padro de acumulao capitalista vigente (NETTO, 1989). Para Netto (1991, p.
117), Servio Social tradicional entendido como
a prtica empirista, reiterativa, paliativa e burocratizada dos profssionais, parametrada por uma
tica liberal-burguesa e cuja teleologia consiste na correo desde um ponto de vista claramente
funcionalista de resultados psicossociais considerados negativos ou indesejveis, sobre o substrato
de uma concepo (aberta ou velada) idealista e/ou mecanicista da dinmica social, sempre
pressuposta a ordenao capitalista da vida como um dado factual ineliminvel.
J nos anos 80 e 90 (do sculo XX), essa nova direo social assumida pelo Servio Social
baseada no pensamento social crtico fomentou avanos terico-metodolgicos, tico-polticos e
tcnico-operativos. Avanos esses notrios nos Cdigos de tica Profissional de 1986 e tambm
no ltimo e atual Cdigo de tica de 1993. Rompendo com a viso tradicional da profisso,
assumindo uma reflexo tica e apreendendo a insero da profisso em um espao contraditrio,
de antagonismo de interesses e classes, tendo, de um lado, interesses das classes dominantes e,
31
de outro, os interesses das classes dominadas. Essa oposio de interesses torna-se geradora de
tenses, sendo essas realmente visveis em uma perspectiva crtica, concebida atravs de encontro
e aproximao do Servio Social com a vertente marxista.
Considerando essa discusso, possvel afirmar que a alternativa correta A, pois a vertente
modernizadora caracteriza-se pela incorporao de abordagens funcionalistas, estruturalistas e, mais
tarde, sistmicas (matriz positivista), voltadas a uma modernizao conservadora (NETTO, 1994, p.
164). Na segunda lacuna da questo, identifica-se que a vertente de inspirao fenomenolgica era
centrada na anlise do vivido e das vivncias dos sujeitos; e finalmente que a vertente marxista a
que remete a profisso conscincia de sua insero na sociedade de classes, conforme exposto
anteriormente. A alternativa B est incorreta pois nem a fenomenolgica nem a modernizadora
propuseram o que est aportado nas lacunas correspondentes. Apenas a terceira parte da questo
est correta. A alternativa C est incorreta pois a primeira lacuna dessa alternativa considera a
abordagem sistmica como uma vertente e no um tipo de abordagem incorporada pela vertente
modernizadora. Na segunda e terceira lacuna, igualmente no h correspondncia entre a vertente
e a caracterizao afirmada na questo. A alternativa D est incorreta pois a posio/ordem das
vertentes marxista e fenomenolgica na resposta no corresponde s lacunas a serem preenchidas
e ao que est explicitado na citao, e a abordagem sistmica no se caracteriza como uma vertente
em si. E, finalmente na alternativa E, a primeira lacuna a ser preenchida considera a abordagem
sistmica como uma vertente, o que est incorreto, conforme j afirmado anteriormente. A segunda
e terceira parte da questo esto corretas.
REFERNCIAS
IAMAMOTO, M. Servio Social em tempo de capital fetiche. Capital fnanceiro, trabalho e questo
social. So Paulo: Cortez, 2008.
NETTO, J. P. O Servio Social e a tradio marxista. Revista Servio Social e Sociedade, n. 30,
Cortez, So Paulo, 1989.
______. Capitalismo Monopolista e Servio Social. 2. ed. So Paulo: Cortez, 1992.
______. Ditadura e Servio Social: uma anlise do Servio Social no Brasil ps-64. 8. ed. So
Paulo: Cortez, 2005.
______. Ditadura e Servio Social: uma anlise do Servio Social no Brasil ps-64. So Paulo:
Cortez, 1991.
______. O movimento de reconceituao 40 anos depois. Revista Servio Social e Sociedade,
n. 84. So Paulo: Cortez, 2005, p.21-37
______ . Notas sobre marxismo e Servio Social, suas relaes no Brasil e a questo de seu ensino.
Cadernos ABESS, n. 4, Cortez, So Paulo, 1991.
YASBEK, M.C. Fundamentos histricos e terico-metodolgicos do Servio Social in Servio
Social: direitos sociais e competncias profssionais. Braslia: CFESS/ABPESS, 2009, p. 143-164.
Comentado
32
Comentado
SERVIO SOCIAL
33
2010
QUESTO 18
O servio social tem, junto s questes ambientais, um espao que vale a pena ser ocupado
pelas inmeras possibilidades de estudos interdisciplinares que apresentam, no s frente s questes
ligadas ao desenvolvimento urbano, preservao do meio ambiente e gerao de renda, mas
tambm pela importncia da qual se revestem essas questes, que criam inmeras oportunidades de
interveno ao servio social, em aes de mobilizao, organizao das populaes ameaadas pela
degradao do seu meio ambiente ou de educao dessa mesma populao para sua preservao.
COLITO, M. C.; PAGANI, A. M. M.
Conversando sobre as questes ambientais e o servio social.
Disponvel em: <http://www.ssrevista.uel.br/c_v1n2_conversando.htm>.
Acesso em: 17 ago. 2010 (adaptado).
Nesse contexto, a educao ambiental compreendida como um dos processos mais
importantes de construo de valores, conhecimentos, habilidades e atitudes, tendo como objetivo
A. estimular e fortalecer uma conscincia crtica sobre a problemtica ambiental e social.
B. estimular as prticas preservacionistas calcadas no senso comum, valorizando-as em relao
cincia e tecnologia.
C. garantir o sigilo sobre informaes ambientais que possam causar prejuzos s comunidades
e que comprometam a segurana nacional.
D. fortalecer a interferncia de povos possuidores de conscincia ambiental sobre povos que
desenvolvem procedimentos de destruio do meio.
E. incentivar a responsabilizao do poder pblico na preservao do equilbrio do meio ambiente,
restringindo-se defesa da qualidade ambiental ao Estado.
* Gabarito: Alternativa A.
* Tipo de questo: Escolha simples, com indicao da alternativa correta.
* Contedos avaliados: Servio Social junto s questes ambientais.
* Autora: Idilia Fernandes.
COMENTRIO
A alternativa A est correta pelo fato de realmente ser necessrio ter como objetivo estimular e
fortalecer uma conscincia crtica sobre a problemtica ambiental e social. Esse fato uma necessidade
Comentado
34
quando nossas aes so pautadas na educao ambiental. Para o servio social, ser imprescindvel
agregar conhecimentos em torno da preservao ambiental e planetria para cumprir com sua funo
social de buscar uma sociedade justa para todos e todas. O contexto natural, no qual todos os indivduos
sociais esto inseridos, vem sofrendo com a agresso de um sistema social que no respeita os seres
humanos nem a natureza que o cerca. Para o envolvimento com questes ambientais, necessrio
investimento de estudo nessa rea, na qual no temos acmulo de conhecimento.
E os assistentes sociais, em muito, contribuindo, nas ltimas dcadas, para a construo
de uma cultura do direito e da cidadania, resistindo ao conservadorismo e considerando as polticas
sociais como possibilidades concretas de construo de direitos e iniciativas de contradesmanche
nessa ordem social injusta e desigual. (YASBEK, 2009, p. 161)
No possvel tratar questes que envolvem a vida das pessoas de forma superficial. Nesse
sentido, a alternativa B est errada, pois indica que estimular as prticas preservacionistas calcadas
no senso comum, valorizando-as em relao cincia e tecnologia. O senso comum no um bom
indicador e muito menos o mesmo deveria ser valorizado em relao cincia e tecnologia. Pelo
contrrio, todo conhecimento sobre a realidade deve ser profundo, pois s possvel transformar
aquilo que se conhece profundamente. necessrio buscar consistncia terico-reflexiva sobre as
prticas sociais e a realidade social, por isso o senso comum no o indicado. Nesse, o conhecimento
sempre superficial e sem uma viso de totalidade e conexo.
A alternativa C, garantir o sigilo sobre informaes ambientais que possam causar prejuzos
s comunidades e que comprometam a segurana nacional, est, tambm, errada, porque no pode
ser um objetivo ter sigilo em relao a informaes ambientais que prejudiquem s comunidades. Ao
contrrio, necessrio dar visibilidade para isso, demonstrando como expresso da questo social
fatos ambientais que estejam em detrimento dos sujeitos e pondo em risco a segurana nacional.
Fortalecer a interferncia de povos possuidores de conscincia ambiental sobre povos que
desenvolvem procedimentos de destruio do meio, como diz na alternativa D, seria um equvoco,
pois isso favoreceria uns em detrimento de outros e no desenvolveria a conscincia ecolgica.
A alternativa E diz que preciso incentivar a responsabilizao do poder pblico na
preservao do equilbrio do meio ambiente, restringindo-se defesa da qualidade ambiental ao
Estado. Essa questo est errada, pois as questes do meio ambiente so uma responsabilidade
de todos, da sociedade civil, das empresas, do Estado, das organizaes no estatais e de cada
cidado. Alm da defesa da qualidade ambiental, para se preservar o Planeta, preciso colocar
limite na produo e consumismo exagerados que extrapolam a capacidade que o Planeta Terra tem
de comportar as extravagncias do consumo desenfreado.
O capitalismo se desenvolveu, estamos na era toyotista da acumulao flexvel, o que
significa dizer na era da superinformatizao, de superexigncias para o trabalhador que hoje
deve ser polivalente, na era da flexibilizao dos contratos de trabalho, dos direitos trabalhistas,
mas grande parte da sociedade vive em condies de pobreza e excluso social. Segundo Netto
(2001), a questo social surge com a capacidade de a sociedade produzir riquezas e bens sociais
e muitos no terem acesso a isso. O pas se modernizou sim, produziu riquezas, mas ainda somos
dependentes de outras economias e com alto nvel de excluso social e pobreza de seu povo. E todo
esse processo se deu, tambm, em cima da explorao da natureza e revelia de sua degradao
e de imensa agresso ao ambiente natural do ser humano. Todos ns sofremos a consequncia
do desregramento de um sistema social que se concentra na acumulao sem importar-se com as
consequncias para o Planeta e para as pessoas do mesmo.
No Brasil, por exemplo, o estudo do perodo colonial torna-se essencial para compreender a
estrutura econmica da socidade em detrimento do bem-estar de seus cidados, pois sobre esse
passado que se conforma uma certa estrutura econmica, dotada de caractersticas prprias, distintas
das estruturas que emergem de um passado feudal, sobre essa estrutura ir se desenvolver uma
economia capitalista, cujo ponto culminante estar na emergncia de foras produtivas especificamente
capitalistas, com a industrializao pesada, a partir da segunda metade do sculo XX. Essa
35
industrializao pesada se desenvolveu sem considerar a preservao do planeta em que vivemos e
hoje a consequncia danosa. Em razo desse processo imprescindvel que as profisses do social
se atentem s questes ambientais e ecolgicas que so expresses da questo social.
A expresso questo social estranha ao universo marxista, tendo sido cunhada por volta
de 1830 (STEIN, 2000). Historicamente foi tratada sob o ngulo do poder, vista como ameaa que a
luta de classes em especial, o protagonismo da classe operria representativa ordem instituda.
Entretanto, os processos sociais que ela traduz encontram-se no centro da anlise de Marx sobre a
sociedade capitalista. Nessa tradio intelectual, o regime capitalista de produo tanto um processo
de produo das condies materiais da vida humana quanto um processo que se desenvolve sob
relaes sociais, histricas, econmicas de produo especfcas. Em sua dinmica produz e
reproduz seus expoentes: suas condies materiais de existncia, as relaes sociais contraditrias e
formas sociais atravs das quais se expressam. Existe, pois, uma indissocivel relao entre produo
dos bens materiais e a forma econmica social em que realizada, isto , a totalidade das relaes
entre os homens em uma sociedade historicamente particular, regulada pelo desenvolvimento das
foras produtivas do trabalho social (IAMAMOTO, 2001, p. 30).
No mbito de nossa profisso, servio social, se compreende a questo social como objeto
de nossa interveno e a mesma se configura a partir de suas inmeras expresses que so causadas
pela sociedade capitalista e na tenso entre capital e trabalho. Nesse sentido, percebe-se a questo
ambiental da contemporaneidade como uma das expresses da questo social. O desenvolvimento da
sociedade industrial no qual se estabelece as bases do sistema social do capitalismo surge agresso
ao ambiente natural, por falta de cuidado com o contexto de natureza em que vivem os sujeitos sociais.
Dessa forma, se faz necessrio que os profissionais da rea social, estejam atentos a essa expresso
e desenvolvam estratgias de ao que possam vir a colaborar com a reverso desse processo de
explorao da natureza pelo gnero humano. O direito a uma vida humana digna tambm o direito a
poder viver em um ambiente natural que no esteja ameaado pela sua extino. E, nisso, tambm, se
v, todos os dias, uma violao dos direitos vida humana com o desrespeito s leis da natureza.
REFERNCIAS
CASTEL, Robert. As Armadilhas da Excluso. Desigualdade e a Questo Social. 2. ed. So Paulo:
EDUC, 2000.
ENGELS, Friedrich. A Dialtica da Natureza. 5. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.
FREIRE, Paulo. sombra desta mangueira. So Paulo: Olho Dgua, 1995.
HOLANDA, Srgio Buarque. Razes do Brasil. 26. ed. So Paulo: Companhia das Letras, 1995.
IAMAMOTO, Marilda. A Questo Social no Capitalismo. Revista Temporalis 3, ano II, n 3, jan./jul.
2001. Braslia: ABEPSS, Grafine, 2001,
MARX, Karl. Manuscritos Econmicos e Filosfcos de 1844. Conceito Marxista do Homem.
Apndice: manuscritos econmicos e flosfcos de 1844 de Karl Marx. 8. ed. Rio de Janeiro: Zahar
editores, 1983.
NETTO, Jos Paulo. Cinco Notas a Propsito da Questo Social. Revista Temporalis 3, ano II, n.
3, jan./jul. 2001. Braslia: ABEPSS, Grafine, 2001.
YASBEK, Carmelita. Fundamentos Histricos e Terico-Metodolgicos do Servio Social. Servio
Social: direitos sociais e competncias profssionais. Braslia: CFESS/ABEPSS, 2009.
ZILIOTO, Marco Aurlio (org.) Mudanas Climticas, Sequestro e Mercado de Carbono no Brasil.
Curitiba: Instituto Ecoclima, 2009.
Comentado
36
Comentado
SERVIO SOCIAL
37
2010
QUESTO 19
As transformaes internacionais da dcada de 1970 significaram uma verdadeira revoluo
originria, cujas consequncias foram os desequilbrios nas balanas de pagamento, choque do
petrleo, globalizao do comrcio, finanas e setor produtivo, crise do sistema fordista e substituio
pela especializao flexvel. Essas rpidas transformaes implicaram srias dificuldades para
os pases em desenvolvimento, entre os quais o Brasil, devido dependncia tecnolgica e as
consequentes dificuldades de competitividade no novo cenrio.
Nesse cenrio, o Brasil reagiu, poca, de acordo com as recomendaes dos organismos
internacionais, alinhados com a(s)
A. medidas protecionistas, que iniciaram o processo de desconcentrao interna de renda.
B. lgica keynesiana de ampliar o papel do Estado de maneira a constituir um novo patamar de
proteo social.
C. vertente neoliberal, que resultou, ao longo do tempo, na manuteno do processo de
concentrao de renda.
D. fexibilizao do processo produtivo, que ampliou o mercado de trabalho interno devido ao
aumento das exportaes.
E. inovao tecnolgica do parque industrial brasileiro visando superar a dependncia externa e
qualifcar a mo de obra.
* Gabarito: Alternativa C.
* Tipo de questo: Escolha simples, com indicao da alternativa correta.
* Contedos avaliados: Transformaes sociais e implicaes para o Brasil.
* Autoras: Maria Isabel Barros Bellini e Marisa Camargo.
COMENTRIO
Ao longo do processo histrico, enquanto relao social que orienta a dinmica e a inteligibilidade
de todo o processo da vida social, o capitalismo tem apresentado movimentos cclicos de crise
e reconfigurao (IAMAMOTO, 2008). Dentre os movimentos mais contemporneos, destaca-se a
crise estrutural do capitalismo, com repercusses em escala global, ocorrida no incio dos anos 70
do sculo XX, perodo no qual se reverteu a tendncia expansionista da economia internacional
presente at o final dos anos 60.
Comentado
38
A crise estrutural do capitalismo desafiava as medidas que vinham sendo empregadas
pelos pases industrializados, estando associada a dois grandes vetores. O primeiro refere-se ao
esgotamento do referencial fundamentado nas teorias keynesianas de formulao das polticas
econmicas e sociais, que cedeu espao ascenso do neoliberalismo. O segundo relaciona-
se saturao do modelo de gesto e organizao do trabalho de inspirao taylorista-fordista,
que adquiriu caractersticas flexveis, impactando em transformaes nos processos de gesto e
produo (HARVEY, 1993; ANTUNES, 2002; GROS, 2003).
As recomendaes dos organismos internacionais estavam alinhadas com a vertente
neoliberal, que resultou, ao longo do tempo, na manuteno do processo de concentrao de renda,
estando, portanto, correta a alternativa C. Iniciou-se o perodo de fortes tendncias protecionistas
nos pases centrais, que viriam a afetar as economias exportadoras, como as da Amrica Latina
(GROSS, 2003). Contudo a maior parte dos pases latino-americanos experimentou as consequncias
do ajuste neoliberal somente a partir da dcada de 1980.
Considerando que a adoo de medidas contra o protecionismo econmico, a liberdade
individual de concorrncia no mercado privado e a concentrao de renda se constituem em alguns
dos pressupostos bsicos do neoliberalismo, a alternativa A est incorreta. Alm disso, os ajustes
econmicos promovidos pelos pases latino-americanos, a partir da dcada de 1980, em ateno s
imposies dos organismos internacionais, com saneamento das contas pblicas e corte de salrios,
gastos e investimentos, visavam gerar enormes saldos na balana comercial para o pagamento
da dvida externa (TAVARES, 2000, p. 23) e no desconcentrao de renda ou diminuio das
desigualdades sociais.
O ajuste neoliberal marcado pela privatizao do Estado, desregulamentao dos direitos
sociais, desmonte do setor produtivo estatal, intenso processo de reestruturao produtiva (ANTUNES,
2002), tendo em vista dotar o capital dos meios necessrios para buscar a reposio dos padres
de expanso anteriores. Essas caractersticas se contrapem lgica keynesiana de ampliao do
papel do Estado de maneira a constituir um novo patamar de proteo social, o que torna incorreta a
alternativa B. De acordo com os idealizadores do neoliberalismo. a regulao social e o igualitarismo
promovidos pelo Estado de Bem-Estar Social ameaavam a prosperidade de todos ao destruir a
liberdade dos cidados e a vitalidade da concorrncia (GROS, 2003, p. 24).
Sob a orientao dos pressupostos neoliberais, o capitalismo foi responsvel pelo
desencadeamento de mltiplas transformaes no mundo do trabalho. O aspecto mais negativo
resultante dessas transformaes que sinalizam um processo de heterogeneizao, fragmentao e
complexificao da classe trabalhadora trata-se da expanso do desemprego estrutural, em escala
global (ANTUNES, 1998), que atinge os trabalhadores provenientes dos mais diversos setores
econmicos. No Brasil, segmentos inteiros da [...] economia foram desmantelados, com todas as
sequelas econmicas e sociais conhecidas, [...] provocando um desemprego sem precedentes
na histria (TAVARES, 2000, p. 44). Emergente no mbito da produo e acumulao flexveis, o
desemprego estrutural mais uma das caractersticas do neoliberalismo, estando, portanto, incorreta a
alternativa D. Aliada ao desemprego estrutural, ampliam-se tambm as alternativas desregulamentadas
de trabalho, a exemplo das distintas formas de terceirizao (ANTUNES, ALVES, 2004).
Por fim, a alternativa E est incorreta, pois, no lugar de inovao tecnolgica do parque
industrial brasileiro visando superar a dependncia externa e qualificar a mo de obra, o Brasil passou
a enfrentar um contexto de crise econmica e financeira, crescimento da dvida externa, inflao,
agravamento dos problemas sociais e uma sria ameaa do aprofundamento do atraso tecnolgico
da indstria (CANO, 1989). Enquanto determinados setores permanecem desproporcionalmente
dependentes de formas de utilizao da fora de trabalho humano, paralelamente, h outros setores
em que a fora de trabalho humano intensamente substituda pelo uso de mquinas ou equipamentos
modernos, conhecimento tcnico e/ou cientfico (MARTINS, 1997). Com isso, surgem o emprego e
o desemprego sazonais, as migraes temporrias, o trfico de mo de obra e problemas sociais, a
39
exemplo da explorao do trabalho infantil complementar ao adulto e familiar, fazendo ressurgir com
novas roupagens antigas expresses de explorao da fora de trabalho por parte do capital.
REFERNCIAS
ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo
do trabalho. 5. ed. So Paulo: Cortez; Campinas: Editora da Universidade Estadual de Campinas,
1998, 155 p.
______. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afrmao e a negao do trabalho. So Paulo:
Boitempo, 2002, 349 p.
______; ALVES, Giovanni. As mutaes no mundo do trabalho na era da mundializao do capital.
Rev. Educao & Sociedade, Campinas, vol. 25, n. 87, p.335-351, mai./ago. 2004. Disponvel em:
http://www.scielo.br/pdf/es/v25n87/21460.pdf. Acesso em: 06 mai. 2011.
CANO, Wilson. Reestruturao internacional e repercusses inter-regionais nos pases
subdesenvolvidos: refexes sobre o caso brasileiro. Campinas: UNICAMP, Instituto de Economia,
1989, 37 p.
GROS, Denise Barbosa. Institutos liberais e neoliberalismo no Brasil da Nova Repblica. Porto
Alegre: FEE, 2003, 253p. Disponvel em: http://www.fee.tche.br/sitefee/download/teses/teses_
fee_06.pdf. Acesso em: 08 mai. 2011.
HARVEY, David. A condio ps-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudana cultural.
So Paulo: Loyola, 1993.
IAMAMOTO, Marilda Villela. Servio Social em tempo de capital fetiche: capital fnanceiro, trabalho
e questo social. 2. ed. So Paulo: Cortez, 2008, 495 p.
MARTINS, Jos de Souza. Excluso social e a nova desigualdade. So Paulo: Paulus, 1997.
TAVARES, Laura Soares. Os custos sociais do ajuste neoliberal na Amrica Latina. So Paulo:
Cortez, 2000. Coleo Questes da Nossa poca, v. 78.
Comentado
40
Comentado
SERVIO SOCIAL
41
2010
QUESTO 20
A flexibilizao das relaes de trabalho que atingem inclusive os postos de trabalho situados
no mbito do Estado brasileiro, importante empregador dos assistentes sociais do pas, geram como
consequncias para essa categoria de profissionais
A. retrao dos postos de trabalho, com melhoria salarial.
B. maior liberdade para o profssional que souber se situar e vencer a concorrncia.
C. oportunidades diferenciadas de insero no mercado, sempre com possibilidades concretas
de maior incremento salarial.
D. novas possibilidades de trabalho, pois podero ocupar espaos antes destinados a profssionais
com formao tcnica diversa.
E. obrigao de permanente qualifcao profssional, pois o profssional chamado a responder
a demandas variadas e mutantes.
* Gabarito: Alternativa E.
* Tipo de questo: Escolha simples, com indicao da alternativa correta.
* Contedos avaliados: Flexibilizao das relaes de trabalho e consequncias para os
assistentes sociais.
* Autoras: Maria Isabel Barros Bellini e Marisa Camargo.
COMENTRIO
Em sua verso contempornea, o modo de produo capitalista orientado por pressupostos
neoliberais responsvel pelo desencadeamento de uma mltipla processualidade no mundo do
trabalho. De um lado, tem-se uma diminuio da classe operria industrial tradicional, com maior ou
menor repercusso em reas industrializadas do terceiro mundo (ANTUNES, 1998). De outro lado,
constata-se uma expanso do trabalho assalariado, a partir da ampliao do assalariamento no setor
de servios (ANTUNES, 1998).
Nesse nterim ocorre a heterogeneizao, ou seja, incorporao do contingente feminino no
mercado de trabalho, acompanhada de intensificada subproletarizao, isto , expanso do trabalho
parcial, temporrio, subcontratado, terceirizado, precrio etc. (ANTUNES, 1998). A reestruturao
produtiva emerge como condio necessria retomada do padro de acumulao capitalista, com
significativos impactos sobre o mundo do trabalho. Esse novo regime de acumulao, apoiado na
concorrncia entre os trabalhadores e flexibilizao do trabalho, tem como aspecto mais perverso o
desemprego estrutural, em escala global, perpetuado nos mais diversos espaos scio-ocupacionais,
Comentado
42
atingindo as inmeras categorias profissionais que compem a diviso social e tcnica do trabalho.
Trata-se de uma retrao dos postos de trabalho marcada tambm por significativa perda salarial, o
que torna, concomitantemente, incorretas, as alternativas A e C.
Em meio ao processo de reestruturao produtiva, h tambm um novo delineamento do
carter interventivo do Estado brasileiro, marcado pela minimizao estatal em relao ao patamar
de proteo social e efetivao de direitos. Observa-se o crescente privilgio conferido lgica
do mercado privado; valorizao da individualidade dos sujeitos, associada desmobilizao
social e poltica; redesenho do carter pblico e transformaes de ordem societria. Orientado
por pressupostos neoliberais, ao redimensionar-se, o Estado redefine tambm as polticas sociais
e pblicas, historicamente implementadas pela categoria profissional dos assistentes sociais
(IAMAMOTO, 2001), com forte apelo e transferncia de responsabilidades sociedade civil.
O Servio Social considerado uma especializao do trabalho. Por conseguinte, o
assistente social tem sua interveno reconhecida como trabalho, inscrito no mbito da produo
e reproduo social (IAMAMOTO, 2001). Na condio de trabalhador assalariado, inserido na
diviso social e tcnica do trabalho, no obstante s demais profisses, o assistente social est
subordinado s injunes decorrentes da flexibilizao das relaes de trabalho. Apesar de o
Servio Social ser regulamentado como profisso liberal, o assistente social dispe de relativa
autonomia na conduo do seu exerccio profissional (IAMAMOTO, 2008), estando, pois incorreta
a alternativa B, que afirma a existncia de uma maior liberdade para o profissional que souber
se situar e vencer a concorrncia. O dilema da inter-relao entre projeto profissional e trabalho
assalariado reside em uma dupla dimenso:
Por um lado, na relativa autonomia do assistente social na conduo da atividade profssional
socialmente legitimada pelo aparato legal regulador de uma profsso liberal na sociedade,
condicionada pelas lutas hegemnicas inerentes ao modo de produo capitalista que ampliam ou
reduzem as bases sociais que sustentam a direo social e a teleologia da profsso. Por outro, no
fato de que o exerccio profssional realiza-se pela mediao do trabalho assalariado, sob a forma de
mercantilizao da fora de trabalho, subordinado aos ditames do trabalho abstrato e dilemas dos
processos de alienao, sendo o Estado e os organismos privados os maiores responsveis pelos
espaos scio-ocupacionais dos assistentes sociais (IAMAMOTO, 2008, apud CAMARGO, 2009,
p.119).
Compreender o Servio Social implica o esforo de inseri-lo no conjunto de condies e
relaes sociais que lhe atribuem um significado social e nas quais a profisso se torna socialmente
til e necessria (IAMAMOTO; CARVALHO, 2006). A diviso do trabalho na qual se insere no
simplesmente a diviso de trabalhos teis de determinadas qualidades. Trata-se de uma diviso
que pressupe a existncia de classes sociais e relaes capitalistas de propriedade, representadas
pela posse ou no dos meios de produo (IAMAMOTO, 2008). Est incorreta a alternativa D,
sobre a flexibilizao das relaes de trabalho desencadear novas possibilidades de trabalho para
os assistentes sociais, na ocupao de espaos antes destinados a profissionais com formao
tcnica diversa. O que se tem visto, no mbito da sociedade capitalista neoliberal, que se tornam
cada vez mais presentes as disputas de projetos societrios e projetos profissionais, na busca pelo
estabelecimento de hegemonias.
Diante das estratgias de descentralizao das polticas pblicas, o momento presente desafia
os assistentes sociais a se qualificarem para acompanhar, atualizar e explicar as particularidades da
questo social nos nveis nacional, regional e municipal (IAMAMOTO, 2001, p. 41). Considerando
que o assistente social chamado a responder a demandas variadas e mutantes, torna-se imperiosa
a permanente qualificao profissional, estando, portanto, correta a alternativa E.
REFERNCIAS
CAMARGO, Marisa. Confguraes do processo de trabalho em que participa o assistente
social na sade coletiva no espao scio-ocupacional da ateno bsica. Dissertao (Mestrado
43
em Servio Social). Faculdade de Servio Social. Programa de Ps-Graduao em Servio Social.
Pontifcia Universidade Catlica do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2009.
IAMAMOTO, Marilda Villela; CARVALHO, Raul de. Relaes Sociais e Servio Social no Brasil:
esboo de uma interpretao histrico-metodolgica. 19. ed. So Paulo: Cortez, 2006. 380 p.
______. Servio Social em tempo de capital fetiche: capital fnanceiro, trabalho e questo social.
2. ed. So Paulo: Cortez, 2008, 495 p.
______. O Servio Social na contemporaneidade: trabalho e formao profssional. 4. ed. So
Paulo: Cortez, 2001, 326 p.
Comentado
44
Comentado
SERVIO SOCIAL
45
2010
QUESTO 21
A partir da Constituio Federal de 1988, uma nova configurao social se apresenta no cenrio
brasileiro, sobretudo para as polticas pblicas, as quais vm garantir, de forma efetiva, direitos antes
concedidos como benesses e que remetiam a populao usuria situao de dependncia. Nesse
sentido, a assistncia social passa a ser regulamentada pela Lei Orgnica da Assistncia Social
(LOAS, 1993). Desde ento, novos conceitos e novos modelos passaram a vigorar no Brasil, com a
assertiva do direito de cidadania, com vistas a garantir o atendimento s necessidades bsicas dos
segmentos populacionais vulnerabilizados pela pobreza e pela excluso social.
Considerando as informaes apresentadas, avalie as afirmativas a seguir.
I. A assistncia social representa uma poltica pblica, componente da seguridade social.
II. A seguridade social compreende o conjunto de aes integradas de iniciativa dos
poderes pblicos e da sociedade civil, destinadas a assegurar os direitos da populao
relativos sade, previdncia e assistncia social.
III. A assistncia social parte integrante das aes que visam garantir direito de
cidadania e igualdade de condies de vida a todos os brasileiros que dela necessitar.
IV. O novo modelo da assistncia social no Brasil integra aes de responsabilidade dos
servios pblicos e privados para enfrentamento das situaes de risco decorrentes
da pobreza.
correto o que se afirma em
Comentado
46
A. I e IV, apenas.
B. II e III, apenas.
C. I, II e III, apenas.
D. II, III e IV, apenas.
E. I, II, III e IV.
* Gabarito: Alternativa D.
* Tipo de questo: Escolha combinada, com indicao da resposta correta.
* Contedos avaliados: Polticas Sociais, Seguridade Social, Assistncia Social.
* Autora: Esalba Maria Silveira.
COMENTRIO
A assertiva I pode ser considerada correta, considerando que, em 1988, foi promulgada a
nova constituio brasileira, que contou com forte apoio popular, que permitiu introduzir significativos
avanos na rea social. A Assistncia Social passa a ser tratada como poltica pblica, integrante da
Seguridade Social, junto s polticas de Sade e Previdncia Social. O fato de alar a Assistncia
Social condio de poltica pblica, direito do cidado e dever do Estado implica a mudana de
concepo da Assistncia Social, retirando-a do campo da benemerncia, do dever moral e do
assistencialismo dos direitos sociais.
Reitera-se a escolha como correta, adotando-se a concepo de poltica pblica tal como
Potyara Pereira (1996, p. 130) a define: "linha de ao coletiva que concretiza direitos sociais declarados
e garantidos em lei. mediante as polticas pblicas que so distribudos ou redistribudos bens e
servios sociais em resposta s demandas da sociedade e, por isso, o direito que as fundamenta. E,
por ltimo, recorre-se a Couto e Silva (2009, p. 31) quando diz que a assistncia social assume um
carter de poltica pblica a partir da Constituio de 1988 ao compor, juntamente com as polticas
de sade e previdncia, o sistema de Seguridade Social.
A assertiva I poder ser considerada incorreta caso queira distinguir-se o conceito de poltica
pblica e de poltica pblica social. Ento, polticas sociais se referem a aes que determinam o
padro de proteo social implementado pelo Estado, voltadas, em princpio, para a redistribuio dos
benefcios sociais, visando a diminuio das desigualdades estruturais produzidas pelo desenvolvimento
socioeconmico, bem como alcanar um certo patamar de equidade. Essa definio de poltica social
se inscreve numa ao redistributiva, concepo poltica que no se perde no jogo do poder ou no
desequilbrio de foras, mas se insere numa ao estatal de alocao e distribuio de valores.
A assertiva II est correta porque a Constituio Federal, no artigo 194, refere que A
seguridade social compreende um conjunto integrado de aes de iniciativa dos Poderes Pblicos
e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos sade, previdncia e assistncia
social (BRASIL, 1988).
A assertiva III est correta tendo-se que, para Campos (2001, p. 13), a cidadania significa
o conjunto e a conjugao de direitos civis, sociais e polticos assegurados aos membros de uma
determinada sociedade. Tais direitos adquirem efetividade atravs do exerccio das liberdades
individuais, da participao poltica e do acesso a bens de consumo e proteo social pblica. A
partir da Constituio Federal de 1988, a Assistncia Social ficou regulamentada pela Lei Orgnica
da Assistncia Social (LOAS). Desde ento, novos conceitos e novos modelos passaram a vigorar no
47
Brasil, com a assertiva do direito de cidadania, com vistas a garantir o atendimento s necessidades
bsicas dos segmentos populacionais vulnerabilizados pela pobreza e pela excluso.
No contexto atual a Assistncia Social pode ser uma poltica social que, orientando-se por
padres de universalidade e justia e no de focalizao, devolva a dignidade, a autonomia, a
liberdade a todas as pessoas que se encontram em situaes de excluso e abra possibilidades para
que adquiram condies de existir enquanto cidads e cidados. Neste sentido ela pode ser uma
poltica social que contribui para a incluso social e para a incorporao de uma cultura de direitos
pela sociedade civil (PEREIRA, 2002).
A assertiva IV est correta, uma vez que a Constituio Federal de 1988, denominada de
Constituio Cidad, pelo reconhecimento e ampliao dos direitos sociais, trouxe inovaes
significativas ao instituir espaos de participao popular na formulao, gesto e controle das
polticas sociais. Uma das principais inovaes relacionadas participao da sociedade civil nas
decises polticas o controle social exercido pela populao que se viabiliza por meio da participao
de organizaes representativas nos conselhos deliberativos (BRAVO, 2001).
REFERNCIAS
ABRANCHES, Sergio H. Poltica Social e Combate Pobreza: a teoria da prtica. In: ABRANCHES,
S.; SANTOS, W.G.; COMIMBRA, M. Poltica Social e a Questo da Pobreza. Rio de Janeiro:
Zahar, 1987.
BRASIL. Constituio da Repblica Federativa do Brasil promulgada em 05 de Outubro de 1988.
______. Lei Orgnica da Assistncia Social Lei 8.742 de 07 de dezembro de 1993.
CAMPOS, Edval Bernardino Campos. Poltica Social e Cidadania. Anais do 3 Congresso de
Assistncia Social da Amaznia. Belm, 2001. Acesso em: 20 mai. 2011. Disponvel em: unb.
revistaintercambio.net.br/24h/pessoa/temp/anexo/1/112/118.doc.
COUTO, Berenice Roja; SILVA, Marta Borba. A poltica de assistncia e o Sistema nico de Assistncia
Social: a trajetria da constituio da poltica pblica. O Sistema nico de Assistncia Social: as
contribuies fundamentao e os desafos implantao. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2009.
PEREIRA, Potyara Amazoneida. Sobre a Poltica de Assistncia Social no Brasil. In: BRAVO, Maria
I.S.; PEREIRA, Potyara A.P. Poltica Social e Democracia. 2. ed. So Paulo: Cortez; Rio de Janeiro:
UERJ, 2002.
Comentado
48
Comentado
SERVIO SOCIAL
49
2010
QUESTO 22
O momento conjuntural e as transformaes sociais, polticas e econmicas pelas quais
passa o Brasil exigem dos assistentes sociais intervenes que respondam s demandas das novas
configuraes societrias. A apropriao do conhecimento das variveis conjunturais que compem
o planejamento social, dos mtodos e das tcnicas eficazes, constitui instrumento fundamental para
que as administraes pblicas possam atingir seus objetivos e as metas elegveis como prioritrias.
Nessa perspectiva, o assistente social que for solicitado a trabalhar com planejamento social deve
I. defnir a sntese dos fatos e das necessidades que motivam o plano e a formulao de
objetivos.
II. prever que possvel resolver os problemas sociais com poucos recursos.
III. prever as mudanas legais, institucionais e administrativas indispensveis para a
viabilidade do plano.
IV. propor aes que visem atender demandas clientelistas.
V. propor aes de carter populista.
correto apenas o que se afirma em
A. I e II.
B. I e III.
C. II e V.
D. III e IV.
E. IV e V.
* Gabarito: Alternativa B.
* Tipo de questo: Escolha combinada, com indicao da resposta correta.
* Contedo avaliado: Planejamento Social.
* Autoras: Ana Lcia Surez Maciel e Ins Amaro da Silva
COMENTRIO
Na contemporaneidade, o Servio Social tem se deparado com um conjunto de demandas
que lhe requisitam a construo, criativa e efetiva, de respostas e/ou propostas para interveno
qualificada na realidade social. Dentre essas demandas, destacamos o lugar privilegiado que o
planejamento social tem ocupado no cenrio das organizaes ao qual o profissional est vinculado,
Comentado
50
dentre elas, as organizaes pblicas. O planejamento social constitui-se em uma instncia estratgica
da interveno profissional na realidade social e condio para uma ao profissional competente,
crtica e criativa, alinhada com a dinmica da realidade e das necessidades e demandas sociais.
O planejamento se realiza a partir de um processo de aproximaes, que tem como centro
de interesse a situao delimitada como objeto da interveno profissional (BATISTA, 2000, p. 27) e
responde necessidade de uma ao sistemtica para responder a questes que colocam desafios
de respostas mais complexas. Tais questes envolvem necessidades como a de utilizar recursos
escassos para atender grandes problemas, de aplicar recursos disponveis ou de fundamentar novos
programas ente outras (BATISTA, 2000, p. 28).
O planejamento envolve uma racionalidade que se expressa em um conjunto de operaes
complexas e interligadas de reflexo, deciso, ao e retorno da reflexo. Esse processo se d
em um movimento contnuo de anlise e sntese entre prioridades, meios e recursos disponveis
para consecuo das finalidades, efetivao de metas e realizao dos resultados desejados, em
determinados perodos de tempo.
Para cada uma dessas fases metodolgicas do processo de planejamento social (reflexo,
deciso, ao e retorno da reflexo), existem instrumentos correspondentes. O Plano constitui-
se no documento que expressa a dimenso mais ampla, um instrumento normativo e poltico
que contempla as decises do nvel estratgico e de carter geral do sistema, as grandes linhas,
as diretrizes gerais e os macro-objetivos que norteiam a instituio ou organizao. Assim, aps
delimitao do objeto de planejamento (sobre o que planejar), o estudo da situao explora os fatos
e as necessidades que motivam o plano numa perspectiva compreensiva e explicativa da realidade.
A organizao e a anlise dos dados obtidos permitiro a identificao de prioridades de interveno
e a definio de objetivos e estabelecimento de metas (BATISTA, 2000, p. 43). Sendo assim, uma
das requisies ao assistente social que vai trabalhar com planejamento social a definio dos
fatos e das necessidades que motivam o plano e a formulao de objetivos (item I). A descrio e
a interpretao dos dados permitem apreender as prioridades relacionadas ao objeto; e a dialtica,
explicao e compreenso permitem identificar os pontos sobre os quais se deve atuar para que a
ao seja eficaz e efetiva (BATISTA, 2000, p. 74).
Depreende-se, assim, que o planejamento social supe a construo de uma ao intencional
e transformadora na realidade social, rompendo com aes casusticas e que tm como referncia
as manifestaes imediatas dos fenmenos. Sendo assim, o planejamento constitui-se exatamente
em instrumento de ruptura com aes clientelistas, paternalistas e assistencialistas, ao contrrio
do que afirma o item IV. O processo de elaborao e reelaborao do objeto compreende tomar a
demanda institucional imediata como ponto de partida, a qual, na interao com as demandas dos
demais agentes (usurios, tcnicos), vai sendo desocultada/desmistificada/decodificada de modo a
apreender as dimenses mais concretas da realidade e suas mltiplas determinaes.
Assim, a alternativa correta a questo B, pois, no processo de planejamento social,
condio precpua, na etapa de identificao das demandas, definir a sntese dos fatos e das
necessidades que motivam o plano e a formulao de objetivos, bem como prever as mudanas
legais, institucionais e administrativas indispensveis para a viabilidade do plano, tendo em vista o
espao institucional onde o planejamento acontece (nesse caso, junto administrao pblica).
No processo de planejamento, a implementao refere-se ao momento em que sero
tomadas providncias concretas para a realizao do que foi planejado. A tarefa da implementao
criar condies favorveis implantao do plano. Envolve buscar, formalizar e incorporar
recursos humanos, fsicos, financeiros e institucionais que viabilizem o projeto, bem como garantir a
instrumentalizao jurdico-administrativa necessria (BATISTA, 2000, p. 104). Compreende-se assim
que prever as mudanas legais, institucionais e administrativas indispensveis para a viabilidade do
plano uma das solicitaes ao profissional que vai atuar com planejamento social (item III).
O item II est incorreto, pois prever que possvel resolver os problemas sociais, apreendidos
como expresses da questo social, com poucos recursos, revela desconhecimento acerca de
51
rubricas oramentrias necessrias para o desenvolvimento de planos, programas ou projetos
sociais. H um mito de que a atuao no social dispensa investimento financeiro, o que no
verdadeiro, posto que se considerssemos apenas os profissionais como recursos necessrios
para o desenvolvimento de um projeto, por exemplo, teramos que orar o valor/hora desses
profissionais e, tambm, os encargos sociais dos mesmos, gerando valores que, evidentemente,
no podero ser considerados escassos.
O planejamento deve ser real e factvel. Embora uma das motivaes do planejamento seja
buscar uma adequada e efetiva aplicao dos recursos existentes para os fins a que se destinam e que,
no raramente, as solicitaes de planejamento respondam a necessidades de decidir sobre a aplicao
de escassos recursos para solucionar grandes e/ou complexos problemas, o planejamento expressa a
racionalidade tcnica e poltica da deciso sobre a forma de garantir mais efetividade ao recurso disponvel
e no a previsibilidade de que seja possvel resolver os problemas sociais com poucos recursos.
Os itens IV e V esto incorretos, pois o planejamento social, ao possuir uma dimenso poltica,
ou seja, balizada pela inteno tico-poltica do profissional (no caso dos assistentes sociais, o seu
projeto tico-poltico), distancia-se de propostas que afiancem o carter clientelista e/ou populista
dos projetos, j que se trabalha em uma perspectiva de que as iniciativas vinculadas ao poder pblico
se ancoram no direito social do cidado e, portanto, no dever do Estado em ofertar servios pblicos
de qualidade e capazes de atender s demandas dos cidados.
REFERNCIAS
BATISTA, Myrian Veras. Planejamento Social: intencionalidade e instrumentao. So Paulo: Veras
Editora; Lisboa: CPIHTS, 2000.
MELO RICO, Elizabeth (org.). Avaliao de Polticas Sociais: uma questo em debate. So Paulo:
Cortez, 1998.
Comentado
52
Comentado
SERVIO SOCIAL
53
2010
QUESTO 23
Os estudos de Antunes (2001) acerca da centralidade das transformaes no mundo
do trabalho esclarecem aspectos fundamentais da influncia do toyotismo e do processo de
mundializao no setor produtivo.
ANTUNES, R. Os Sentidos do Trabalho: ensaios sobre a
afrmao e negao do trabalho. 5.ed. So Paulo:
Boitempo Editorial, 2001 (fragmento).
A expanso do trabalho social combinado significa
A. a utilizao do trabalho de imigrantes, negros e crianas.
B. a articulao do trabalho industrial com o setor de servios.
C. o aumento progressivo do trabalho feminino no interior da classe trabalhadora.
D. a incorporao de trabalhadores de diversas partes do mundo no processo de produo e
de servios.
E. a ampliao das empresas multinacionais nos pases pobres como estratgia de explorao
de mo de obra barata.
* Gabarito: Alternativa D.
* Tipo de questo: Escolha simples, com indicao da alternativa correta
* Contedo avaliado: Modo de produo toyotista.
* Autora: Maria Beatriz Marazita.
COMENTRIO
A alternativa correta D. A introduo de um novo padro tecnolgico toyotismo gerou
profundas mudanas no modo de produo, nas condies de trabalho e de sua reproduo. a
chamada produo flexvel, que altera o padro rgido do fordismo mediante uma nova base tcnica:
a microeletrnica, digital e miniaturizada.
Jonh Persos, engenheiro americano da Fora Area, em estudos realizados em 1949,
vislumbrou a possibilidade de acoplar o computador mquina ferramenta universal, introduzindo
o controle numrico, permitindo a preciso na produo.
Criou-se, assim, a possibilidade de automatizar a produo em pequena escala, quebrando
o saber/poder do trabalhador na operao das mquinas. No modelo taylorista e fordista, a base de
Comentado
54
linha de montagem era tcnica: o saber do trabalhador era valorizado na medida em que lhe permitia
operar as mquinas. Havia produo em massa e garantias salariais para manuteno do consumo.
O toyotismo apresenta um novo padro tecnolgico microeletrnica , produo flexvel que
altera o padro rgido do fordismo, introduzindo o controle numrico atravs da produo automatizada
em pequena escala. A programao computadorizada passou a ser uma fora de trabalho de
importncia estratgica para as empresas, porque propiciou a articulao entre descentralizao
produtiva e avano tecnolgico atravs da rede microeletrnica de informaes. Inverte a forma
vertical do modelo fordista, introduzindo, assim, a produo flexvel, que horizontal, descentralizada
e pode ser realizada atravs de formas terceirizadas e de subcontratao de pequenas e mdias
empresas, muitas vezes, com perfil semiartesanal e familiar.
O toyotismo baseado em tecnologias intensivas, poupadoras de mo de obra e causa efeitos
devastadores sobre a fora de trabalho tais como: heterogeneizao, fragmentao e complexificao
da classe trabalhadora; aprofundamento do desemprego estrutural; perda salarial e retrocesso sindical.
Transformaes radicais na reestruturao do mercado de trabalho ocorrem a partir da
influncia do toyotismo. Regimes e contratos flexveis, reduo do emprego regular, trabalho parcial,
temporrio, subcontratado, empregos de tempo integral com maior margem de direitos, tendncias
qualificao e intelectualidade, ou seja, segundo Antunes (1999), desproletizao do trabalho fabril e
subproletarizao do trabalho com tempo parcial sem direitos assegurados.
No mbito da poltica, as consequncias tambm foram danosas: queda dos ndices de
sindicalizao e articulaes coletivas. Ausncia de alianas em favor do trabalhador; tendncias
neocorporativas e individuais ou econmico-corporativas, que impedem o encaminhamento dos
projetos universais: no se forma uma conscincia de classe; dificuldades de articulao dos sujeitos
polticos e fratura de identidades.
As novas alteraes no modo de produo do capital/trabalho, identificadas como revoluo
tecnolgica, incorporam a extrao da mais-valia absoluta, especialmente no setor terceirizado e familiar,
com reserva inesgotvel da fora de trabalho, especialmente a feminina nas indstrias txtil e eletrnica.
Segundo Mattoso (1995) e Harvey (1993), sobre as mudanas contemporneas no mundo do
trabalho, apontam para a insegurana no emprego, com reduo da estabilidade, no prioridade do
pleno emprego, destruio de empregos em plena expanso econmica; ampliao da desigualdade
e reduo dos benefcios sociais; insegurana de renda com a flexibilizao de salrios; queda
nos gastos sociais e fiscais das empresas, deteriorizao na distribuio de renda, crescimento da
pobreza, insegurana no contrato de trabalho, insegurana nas formas de representao do trabalho;
retrocesso nas conquistas democrticas.
Segundo anlise de Iamamoto (2008), o novo padro tecnolgico acelera a corrida em busca
do diferencial de produtividade; causa a mundializao da economia; exige um ajuste neoliberal
imprimindo um novo perfil s polticas econmicas e industriais desenvolvidas pelo Estado. Estamos
vivendo um regime de acumulao mundial predominantemente financeiro.
A alternativa A no est correta. A utilizao do trabalho de imigrantes negros e crianas
ocorre no Brasil, no final do sculo XIX, e atravessa a passagem para o sculo XX, em um outro
contexto econmico, poltico e social que foi marcado pela formao dos primeiros sindicatos, na
agricultura e nas indstrias rurais. Esse processo se d sob uma forte influncia dos imigrantes que
traziam os ares dos movimentos anarquistas e socialistas europeus para o pas.
A alternativa B no a correta. A afirmao remete a um outro momento histrico da relao
entre Estado e sociedade civil identificado como capitalismo tardio ou maduro. O capitalismo tardio
ou maduro caracteriza-se por um intenso processo de monopolizao do capital, pela interveno do
estado na economia e no livre movimento do mercado, constituindo oligoplios privados (empresas)
e estatais (empresas e fundaes pblicas), e expande-se aps a crise de 1929-1932 e, sobretudo,
aps a segunda guerra mundial.
55
A alternativa C no correta. A afirmativa est contextualizada na segunda metade do sculo
XIX, quando a fora de trabalho reagia explorao extenuante, fundada na mais-valia absoluta, com
a extenso do tempo de trabalho e, tambm, expanso feminina no interior da classe trabalhadora.
A alternativa E no correta. No responde a afirmativa do autor, porque a ampliao das
empresas multinacionais esto relacionadas s escolhas polticas dos governos no espao nacional;
o tempo histrico em que ocorrem as mudanas em diferentes formaes sociais; a insero do pas
na dinmica do capitalismo requisito da mundializao.
Na anlise de Iamamoto (2008), as consequncias foram a dissoluo da unidade constitutiva
do Estado e do capital nacional, atrativos s invases estrangeiras, ponto de apoio para as empresas,
subordinao das polticas nacionais a grupos mundiais.
REFERNCIAS
ANTUNES, R. Adeus ao trabalho? Ensaios sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do
trabalho. So Paulo: Cortez/UNICAMP, 1995.
______, Os sentidos do trabalho. So Paulo: Boitempo,1999.
IAMAMOTO, M.V. Servio Social em tempo de Capital Fetiche. Capital Financeiro, trabalho e
questo social. So Paulo: Cortez, 2008.
HARVEY,D. A condio ps-moderna. So Paulo: Loyola, 1993.
MATTOSO, J. A desordem do trabalho. So Paulo: Hucitec, 1995.
Comentado
56
Comentado
SERVIO SOCIAL
57
2010
QUESTO 24
A Poltica Nacional de Assistncia Social (2004) revela contedos, princpios, diretrizes e
objetivos da assistncia social no sistema de Proteo Social Brasileiro. Em consonncia com a Lei
Orgnica da Assistncia Social (1993), avalie se cada afirmao a seguir constitui um principio ou
uma diretriz da poltica de assistncia.
I. Supremacia do atendimento s necessidades sociais sobre as exigncias de
rentabilidade econmica.
II. Universalizao dos direitos sociais, a fm de tornar o destinatrio da ao assistencial
alcanvel pelas demais polticas pblicas.
III. Participao da populao, por meio de organizao representativa, na formulao das
polticas e no controle das aes em todos os nveis.
IV. Divulgao ampla dos benefcios, servios, programas e projetos assistenciais, bem
como dos recursos oferecidos pelo poder pblico e dos critrios para sua concesso.
V. Descentralizao poltico-administrativa, cabendo a coordenao e as normas gerais
esfera federal e a coordenao e execuo dos respectivos programas s esferas
estadual e municipal, bem como a entidades benefcentes e de assistncia social,
garantindo o comando nico das aes em cada esfera de governo, respeitando-se as
diferenas e as caractersticas socioterritoriais locais.
So princpios da poltica de assistncia apenas os descritos em
A. I, II e III.
B. I, II e IV.
C. I, IV e V.
D. II, III e V.
E. III, IV e V.
* Gabarito: Alternativa B.
* Tipo de questo: Escolha combinada, com indicao da resposta correta.
* Contedo avaliado: Poltica de Assistncia Social.
* Autora: Thasa Teixeira Closs.
Comentado
58
COMENTRIO
A Poltica Nacional de Assistncia Social (2004) reafirma os princpios e diretrizes presentes
na Lei Orgnica de Assistncia Social LOAS (1993), lanando as bases para a constituio do
Sistema nico de Assistncia Social.
Neste horizonte, a alternativa correta consiste na de letra B (itens I, II e IV), pois, como
podemos observar no artigo 4 da LOAS, os princpios que norteiam esta poltica so os seguintes:
I - supremacia do atendimento s necessidades sociais sobre as exigncias de rentabilidade
econmica; II - universalizao dos direitos sociais, a fm de tornar o destinatrio da ao assistencial
alcanvel pelas demais polticas pblicas; III - respeito dignidade do cidado, sua autonomia e
ao seu direito a benefcios e servios de qualidade, bem como convivncia familiar e comunitria,
vedando-se qualquer comprovao vexatria de necessidade; IV - igualdade de direitos no acesso
ao atendimento, sem discriminao de qualquer natureza, garantindo-se equivalncia s populaes
urbanas e rurais; V - divulgao ampla dos benefcios, servios, programas e projetos assistenciais,
bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Pblico e dos critrios para sua concesso.
Em seu conjunto, tais princpios balizam a constituio de nova matriz para a assistncia social,
demarcando ser esta um campo de materializao de direitos, processada sob responsabilidade
estatal, ou seja, uma poltica de proteo social (YASBEK, 2004). Por tanto, tais princpios situam-
se no marco das definies constitucionais referentes Seguridade Social brasileira, dentre os
quais se destaca a universalidade no acesso a direitos e servios sociais como uma perspectiva
fundamental. No que tange especificamente a Assistncia Social, essa regida pelo princpio da
no contributividade, ou seja, deve ser prestada ao conjunto da populao que dela necessitar,
sem quaisquer tipos de discriminao, contrapartida ou contribuio por parte dos seus usurios.
Passemos discusso dos princpios elencados na opo correta, buscando explicitar seus
significados para rea da assistncia social.
A LOAS, ao afirmar a supremacia das necessidades sociais sobre a rentabilidade econmica
(item I da questo) desvinculando a prestao de servios da contribuio , insere ousadia e inovao
para essa rea, fato que no encontra precedentes na legislao social brasileira (COUTO, 2006). Assim,
a assistncia social caracteriza-se como uma poltica eminentemente social que visa ao atendimento
das necessidades sociais bsicas, necessitando, portanto, ser desmercadorizada (PEREIRA, 2001): seu
destinatrio deve usufruir de seus servios como uma questo de direito e no de clculo contratual.
Alm disso, tal princpio aponta para a necessidade de articulao entre o econmico e o
social (YASBEK, 2004), ou seja, significa uma apreenso articulada de como o conjunto das polticas
adotadas na rea econmica e social resultam em impactos positivos nas condies de vida da
populao, ou de forma inversa, impactam na (re)produo de desigualdades sociais.
No que tange a universalizao dos direitos sociais e o alcance dos seus destinatrios pelas
demais polticas pblicas (item II da questo), este princpio significa a garantia da ampliao de
acesso a um conjunto de servios e provises, considerando que o atendimento s necessidades
sociais transcende o mbito desta poltica. Dessa forma, fica em evidncia o papel proativo da
assistncia social junto s demais polticas, tendo em vista dar visibilidade s necessidades sociais
dos segmentos atendidos e superar experincias de segregao dessa populao, de privao do
acesso a direitos fundamentais.
Nesse horizonte, a assistncia social necessita ser planejada, gerida e executada de forma
articulada com as demais polticas pblicas. Coloca-se a importncia da intersetorialidade, a qual
significa a integrao de diferentes polticas em torno de objetivos comuns, a efetivao de aes
integradas no enfrentamento das desigualdades sociais, assim como uma proposta de gesto
integrada de polticas pblicas que requer vontade e deciso polticas dos agentes pblicos para sua
efetivao (COUTO, YASBEK et al, 2010).
Quanto divulgao ampla das provises sociais aportadas pela assistncia social (item IV
da questo), esse princpio aponta para a afirmao de uma lgica pblica nessa rea que rompa
59
com a tradio privatista e clientelista que marcou a trajetria dessa poltica. Trata-se do desafio
de que essa poltica e suas provises alcancem visibilidade junto sociedade, em especial aos
segmentos que dela necessitam.
No quadro societrio brasileiro, marcado por profundas desigualdades, so vastos os
segmentos destitudos de informao, trabalho e incidncia poltica. Dessa forma, a socializao de
informaes um pressuposto bsico do acesso a direitos e tambm base para a construo de uma
cultura poltica que fortalea o acesso s provises sociais sob a tica da cidadania.
No que tange as respostas presentes nas letras A, C, D, E da questo em tela, essas esto
incorretas porque elencam como opes os itens III e IV, os quais se constituem em diretrizes da
poltica de assistncia social. Podemos visualizar estas diretrizes no artigo 5 da LOAS:
I - descentralizao poltico-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os Municpios,
e comando nico das aes em cada esfera de governo; II - participao da populao, por meio
de organizaes representativas, na formulao das polticas e no controle das aes em todos os
nveis; III - primazia da responsabilidade do Estado na conduo da poltica de assistncia social em
cada esfera de governo.
As diretrizes presentes na LOAS voltam-se para a operacionalizao da poltica de assistncia
social, ou seja, consistem em diretrizes atravs das quais as aes governamentais na rea da
assistncia social devem ser organizadas e realizadas.
Dessa forma, a participao da populao no controle e na execuo da poltica de assistncia
social (item III da questo) se materializa atravs da gesto compartilhada dessa poltica, envolvendo
o Estado e a sociedade civil. Tal gesto viabilizada atravs de espaos e instncias de controle
social, tais como os conselhos e conferncias, nos trs nveis federativos.
A participao da populao representa a possibilidade da gesto democrtica desta poltica,
pautada no debate pblico, no controle de oramentos e fundos, na adequao de suas aes s
necessidades sociais de seus destinatrios. Para tanto, fundamental a organizao e mobilizao
social dos segmentos que participam do controle social (usurios, trabalhadores, gestores, entidades
assistenciais) em torno da defesa dos princpios dessa poltica, bem como a realizao de aes
de educao permanente que potencializem a participao e poder decisrios efetivados nesses
espaos, em especial fortalecendo a atuao dos usurios dessa poltica.
J o item IV da questo refere-se perspectiva da descentralizao da poltica de assistncia
social, a qual visa garantir a capilarizao dos servios sociais pblicos, ou seja, torn-los mais
acessveis, prximos e atentos s realidades locais e regionais. Alm disso, a proximidade dos servios
e mesmo da gesto municipal favorece o controle pblico das aes e servios assistenciais, bem
como a adequao dos oramentos e investimentos entre outros aspectos. Assim, a descentralizao
pressupe um pacto federativo entre as esferas de governo, delimitando atribuies e tambm
recursos para a efetividade e ampliao da rede socioassistencial.
Nesse quadro, ressalta-se a importncia da habilidade e da capacidade gestora da esfera
municipal, tendo em vista efetivar a primazia do Estado na conduo da poltica e o comando nico da
poltica em cada esfera de governo. A realizao de diagnsticos e planejamentos locais e a definio
de parmetros para a participao das entidades assistenciais na rede de servios municipais so
aes fundamentais nessa direo.
REFERNCIAS
BRASIL. Ministrio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome MDS. Secretaria Nacional
de Assistncia Social. LOAS anotada. Braslia, 2009. Disponvel em: http://www.mds.gov.br/
assistenciasocial/biblioteca/folder_summary_view?b_start:int=0&-C=. Acesso em: 27 fev. 2011.
COUTO, B. R. O direito social e a Assistncia Social na Sociedade Brasileira: uma equao
possvel? 2. ed. So Paulo: Cortez, 2006.
Comentado
60
______; YAZBEK, M. C.; SILVA, M. O. da S.; DEGENSZAJN, R. R. O Sistema nico de Assistncia
Social no Brasil: uma realidade em movimento. 1. ed. So Paulo: Cortez, 2010. v. 01. 301 p.
PEREIRA, P. A. Sobre a poltica de assistncia Social. In: PEREIRA, P. A. (org.). Poltica Social e
Democracia. So Paulo: Cortez; Rio de Janeiro: UERJ, 2001.
YAZBEK, Maria Carmelita. As ambiguidades da Assistncia Social brasileira aps dez anos de LOAS.
Servio Social e Sociedade. So Paulo: Cortez, 77, maro, ano XXV, 2004.
Comentado
SERVIO SOCIAL
61
2010
QUESTO 25
As polticas sociais como modalidades de interveno do Estado permitem aos cidados
acessar recursos, bens e servios sociais necessrios, sob mltiplos aspectos e dimenses da vida,
tais como: social, econmico, cultural, poltico e ambiental.
PORQUE
As polticas sociais pblicas, como reguladoras e fiadoras das relaes entre produo e
reproduo social, so respostas que o Estado oferece s expresses da questo social situando-
se no confronto de interesses de grupos e classes sociais.
Analisando a relao proposta entre as duas asseres acima, assinale a alternativa correta.
A. As duas asseres so proposies verdadeiras, e a segunda uma justifcativa correta da
primeira.
B. As duas asseres so proposies verdadeiras, mas a segunda no uma justifcativa
correta da primeira.
C. A primeira assero uma proposio verdadeira, e a segunda uma proposio falsa.
D. A primeira assero uma proposio falsa, e a segunda uma proposio verdadeira.
E. As duas asseres so proposies falsas.
* Gabarito: Alternativa A.
* Tipo de questo: Escolha simples, com indicao da alternativa correta.
* Contedos avaliados: Fundamentos das Polticas Sociais Pblicas.
* Autor: Giovane Antonio Scherer.
COMENTRIO
A alternativa A est correta, uma vez que a primeira assero se refere a uma forma de
interveno Estatal que possibilita ao cidado o acesso a bens e servios que respondam s suas
necessidades sociais. Nesse sentido, Pereira (2009) afirma que, mediante as polticas sociais, os
direitos sociais se concretizam e necessidades humanas so atendidas na perspectiva da cidadania
ampliada. Dessa forma, atravs da poltica social que se tem acesso aos direitos sociais, tornando-os
possveis de serem assegurados em uma realidade concreta, por meio dos diversos desdobramentos
das polticas sociais pblicas.
A poltica social pblica refere-se poltica de ao que visa atender um diverso leque de
necessidades que so produzidas e reproduzidas pela sociedade capitalista e vivenciadas das mais
Comentado
62
variadas formas pelos sujeitos (PEREIRA, 2009). Sendo assim, a Poltica Social constitui-se em
uma interveno, com a presena do Estado, no enfrentamento s mltiplas expresses da Questo
Social que os indivduos so afetados nas diversas dimenses da sua vida. Nessa perspectiva, a
Questo Social compreendida como o conjunto das expresses das desigualdades e resistncias
presentes na sociedade capitalista madura, que tem raiz comum: a produo social e cada vez
mais coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto a apropriao dos seus frutos
mantm-se privado, monopolizado por uma parte da sociedade (IAMAMOTO, 2007). Dessa forma,
as polticas sociais representam um espoco genrico com a presena do Estado e outros diversos
agentes interessados no atendimento s demandas e exigncias, no exclusivamente democrtico-
cvicas presentes na sociedade (PEREIRA, 2009).
O Estado representa instncia fundamental universalizao das Polticas Sociais Pblicas,
embora, nas ltimas dcadas, este vem se retraindo em suas funes devido ofensiva neoliberal,
que busca o desmonte das polticas pblicas na subordinao dos direitos a uma lgica oramentria
(IAMAMOTO, 2007; BEHRING, 2008). Diante desse contexto, necessrio compreender o Estado
como um conjunto de relaes, criado e recriado, num processo histrico tenso e conflituoso, em que
grupos, classes ou fraes de classes se confrontam na defesa de seus ideais particulares, sendo
o Estado uma arena de conflito de interesses (PEREIRA, 2001). Compreendendo o Estado como
a condensao de lutas histricas, estando, em grande parte, sob domnio capitalista, as Polticas
Sociais Pblicas se constituem em formas de regulao social presentes na sociedade. Pereira
(2001, p. 26) compreende o conceito de regulao social como:
Processos e meios pacfcos de controle ou ajustamento social pelos quais o Estado leva os
membros da sociedade a adotarem comportamentos, idias, relaes e prticas compatveis com
a lgica do sistema social do qual fazem parte. No capitalismo, a poltica social um dos principais
meios pacifcadores de regulao da vida cotidiana [...].
Dessa forma, as Polticas Sociais, apesar de representarem o resultado de uma luta histrica
no enfrentamento as mltiplas expresses da Questo Social, representam tambm uma forma de
regulao dos sujeitos que so afetados diretamente pelas falhas do modo de produo capitalista,
corroborando e fortalecendo, em grande parte, esse modo de produo. A constituio de Polticas
Sociais decorre de conflito de interesses antagnicos entre Estado e Sociedade, no podendo
ser compreendida a servio exclusivo dessa ou daquela classe, pois ela representa um conceito
dialeticamente contraditrio, simultaneamente positivo e negativo (PEREIRA, 2009).
Considerando essas relaes, no que tange o debate sobre as Polticas Sociais Pblicas, a
alternativa A mostra-se correta, uma vez que considera, em sua primeira assero, a Poltica Social
Pblica como uma possibilidade de acesso a bens e servios necessrios, em determinados aspectos,
para a reproduo do sujeito dentro do sistema capitalista. A segunda assero justifica a primeira
no momento em que explica que tais polticas so respostas dadas pelo Estado questo social,
considerando as Polticas Sociais Pblicas como formas de regulao das relaes de interesses na
sociedade capitalista.
A alternativa B pode ser considerada falsa, uma vez que, mesmo considerando as duas
questes verdadeiras, no considera a segunda assero como uma justificativa correta da primeira.
Isso : no considera que as polticas sociais pblicas permitem aos cidados acessar recursos, bens
e servios sociais, por serem meios de regulao das relaes no mbito da sociedade capitalista, no
enfrentamento questo social em meio a interesses diversos.
A alternativa C refere que a segunda assero falsa, isso , no considera as polticas sociais
pblicas como respostas s expresses da questo social, situando-se em uma relao de interesses
opostos. A alternativa D mostra-se incorreta por no considerar correta a assero que afirma que
as polticas sociais so formas de o sujeito acessar determinados bens e servios necessrios para
a sua reproduo na sociedade capitalista. Da mesma forma, a alternativa E mostra-se falsa por no
considerar nenhuma das afirmativas corretas.
63
REFERNCIAS
BEHRING, Elaine Rossetti. Brasil em Contrarreforma: Desestruturao do Estado e Perda de
Direitos. 22. ed. So Paulo: Cortez, 2008.
IAMAMMOTO, Marilda Vilela. Servio Social em tempo de capital fetiche: capital fnanceiro,
trabalho e questo social. 2. ed. So Paulo: Cortez, 2007.
PEREIRA, Potyara A. Poltica Social: Temas e Questes. 2. ed. So Paulo: Cortez, 2009.
______. Estado, regulao Social e Controle Democrtico. In: BRAVO, Ins S.; PEREIRA, Potyara A.
Poltica Social e Democracia. So Paulo: Cortez, 2001.
Comentado
64
Comentado
SERVIO SOCIAL
65
2010
QUESTO 26
O Estatuto da Criana e do Adolescente (ECA, 1990) prev medidas socioeducativas aos
adolescentes que cometeram ato infracional. O conflito com a lei est atrelado diretamente questo
social e suas diversas expresses, cerne do trabalho do assistente social. Assim, com base no que
prev o ECA, em seu captulo IV, h cinco diferentes medidas socioeducativas que o adolescente
poder cumprir, entre elas a internao.
CRESS 7 Regio. Assistente social: tica e direitos.
Coletnea de Leis e Resolues, volume I. 5. ed. rev. e at.
Rio de Janeiro: 2008 (adaptado).
A internao, medida socioeducativa mencionada no texto,
A. de, no mnimo, seis meses quando aplicada a adolescente.
B. deve ser aplicada a crianas e adolescentes que estiverem em confito com a lei.
C. deve ser uma medida privativa de liberdade que no pode exceder a trs anos.
D. permite ao adolescente internado livre convvio com os familiares nos fns de semana.
E. uma medida de semiliberdade, que pode ser cumprida em locais exclusivos para adolescentes.
* Gabarito: Alternativa C.
* Tipo de questo: Escolha simples, com indicao da alternativa correta.
* Contedos avaliados: Direitos da Criana e do Adolescente.
* Autora: Patrcia Krieger Grossi.
COMENTRIO
A alternativa A est errada, pois no existe um perodo mnimo de internao e sim um perodo
mximo de internao previsto no Estatuto da Criana e do Adolescente. De acordo com o artigo
122 do ECA, a medida de internao s poder ser aplicada quando tratar-se de ato infracional
cometido mediante grave ameaa ou violncia a pessoa, ou por reiterao no cometimento de outras
infraes graves. Se o adolescente descumprir alguma medida anteriormente imposta, por exemplo,
medida socioeducativa de prestao de servios comunitrios, que cumprida em regime aberto, ao
adolescente pode ser aplicada uma medida de internao, que, nessa situao, no poder exceder
o perodo de trs meses (vide art. 122, inciso 1).
A alternativa B est errada, pois a medida socioeducativa, seja ela de advertncia, obrigao
de reparar o dano, prestao de servios comunidade, insero em regime de semiliberdade
Comentado
66
ou internao em estabelecimento educacional, no pode ser aplicada a crianas, somente a
adolescentes (a partir de 12 anos). Ao ato infracional praticado por crianas, correspondero s
medidas previstas no art. 101 do ECA, que consistem nas medidas protetivas a seguir:
I. encaminhamento aos pais ou responsvel, mediante termo de responsabilidade;
II. orientao, apoio e acompanhamento temporrios;
III. matrcula e frequncia obrigatrias em estabelecimento ofcial de ensino fundamental;
IV. incluso em programa comunitrio ou ofcial de auxlio famlia, criana e ao adolescente;
V. requisio de tratamento mdico, psicolgico ou psiquitrico, em regime hospitalar
ou ambulatorial;
VI. incluso em programa ofcial ou comunitrio de auxlio, orientao e tratamento a
alcolatras e toxicmanos;
VII. acolhimento institucional (redao dada pela Lei n 12.010, de 2009);
VIII. incluso em programa de acolhimento familiar (redao dada pela Lei n 12.010, de 2009);
IX. colocao em famlia substituta (includo pela Lei n 12.010, de 2009).
A alternativa C est correta, pois a medida de internao uma medida de privao de
liberdade caracterizada pelos princpios de brevidade, excepcionalidade e respeito condio
peculiar de desenvolvimento (vide art. 121 do ECA), portanto no poder exceder, em nenhuma
hiptese, o prazo de trs anos (art. 121, inciso 3).
A alternativa D est incorreta, pois, apesar de estar previsto no ECA, o direito a visitas
semanais de familiares e/ou amigos (art. 124), a autoridade judiciria poder suspender
temporariamente a visita, inclusive de pais e/ou responsvel, se existirem motivos srios e
fundados de sua prejudicialidade aos interesses do adolescente (art. 124, inciso 2). Caber
equipe tcnica do estabelecimento no qual o adolescente est cumprindo medida de internao
determinar tambm se esse adolescente ter o direito a visitar seus familiares nas suas casas aos
finais de semana conforme critrios estabelecidos pela equipe.
A alternativa E est incorreta, pois a medida de semiliberdade uma forma de transio para o
meio aberto, possibilitando ao adolescente a realizao de atividades externas, independentemente
de autorizao judicial. Nem todos os adolescentes com medida de internao tm possibilidade de
realizao de atividades externas. Enquanto a internao dever ser cumprida em entidade exclusiva
para adolescentes (art. 123), a medida de semiliberdade deve, sempre que possvel, utilizar os
recursos existentes na comunidade (art. 120).
REFERNCIAS
BRASIL. Estatuto da Criana e do Adolescente. Lei 8.069/1990, de 13/07/1990. Disponvel em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm. Acesso em: 16 mai. 2011.
Comentado
SERVIO SOCIAL
67
2010
QUESTO 27
Os artigos 182 e 183 da Constituio Federal estabelecem parmetros para a poltica
urbana, os quais esto regulamentados na Lei n 10.257, de julho de 2001, o Estatuto da Cidade. De
acordo com essa Lei, avalie se cada um dos itens a seguir constitui uma diretriz para a elaborao
da poltica urbana.
I. - Planejamento do desenvolvimento das cidades.
II. - Regularizao fundiria e urbanizao de reas ocupadas por populao de baixa renda.
III. - Desapropriao de solo urbano para fns da constituio de zonas de interesse social.
IV. - Instituio do imposto territorial progressivo para terrenos subtilizados nas zonas
urbanas centrais da cidade.
V. - Integrao e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, tendo em vista o
desenvolvimento socioeconmico do municpio e do territrio sob sua rea de infuncia.
Esto corretos apenas os itens
A. I, II e III.
B. I, II e V.
C. I, III e IV.
D. II, IV e V.
E. III, IV e V.
* Gabarito: Alternativa B.
* Tipo de questo: Escolha combinada, com indicao da resposta correta.
* Contedos avaliados: Estatuto da Cidade e Poltica Urbana.
* Autoras: Ana Lcia Surez Maciel e Nilene Maria Nalin.
COMENTRIO
A Constituio Federal, atravs da Lei n 10.257, de 10 de julho de 2001, regulamenta os
artigos 182 e 183 e rege que
A poltica de desenvolvimento urbano, executada pelo poder pblico municipal, conforme as
diretrizes gerais fxadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funes sociais
da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes (2009, p. 122).
Comentado
68
O Congresso Nacional aprovou o Estatuto da Cidade, aps onze anos de tramitao,
regulamentando os captulos da poltica urbana (artigos 182 e 183) na Constituio Federal de 1988.
Encarregada pela Constituio de definir o que significa cumprir a funo social da cidade e da
propriedade urbana, a lei atribui essa tarefa aos municpios, oferecendo s cidades um conjunto
inovador de instrumentos de interveno e ordenamento de seus territrios, alm de uma nova
concepo de planejamento e gesto urbana e territorial.
O referido Estatuto dividido em cinco captulos que contemplam: Diretrizes Gerais (captulo
I, artigos 1 a 3); Instrumentos da Poltica Urbana (captulo II, artigos 4 a 38); Plano Diretor (captulo
III, artigos 39 a 42); Gesto Democrtica da Cidade (captulo IV, artigos 43 a 45); e Disposies
Gerais (captulo V, artigos 46 a 58).
Segundo o Ministrio das Cidades, O Estatuto da Cidade a Lei Federal de desenvolvimento
urbano exigida constitucionalmente, que regulamenta os instrumentos de poltica urbana e devem
ser aplicados pela Unio, Estados e especialmente pelos municpios (2005, p. 27). Para tanto, o
Estatuto estabelece um conjunto de princpios, diretrizes gerais e instrumentos que possuem o papel
de nortear a poltica urbana em todo o territrio nacional.
Em relao questo em anlise, os itens I, II e V, indicados pela letra B, fazem parte de
um conjunto de dezesseis diretrizes gerais, conforme o art. 2 da Constituio Federal, portanto a
alternativa correta. A seguir apresentam-se as trs diretrizes, estabelecendo um breve comentrio
relativo a cada uma delas.
I Planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuio espacial da populao e
das atividades econmicas do municpio e do territrio sob sua rea de influncia, de modo a evitar
e corrigir as distores do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente.
O Estatuto da Cidade compreende o crescimento e desenvolvimento urbano como um
processo que pressiona o equilbrio social e ambiental. A prtica do planejamento urbano, portanto,
mais do que estabelecer modelos ideais de funcionamento das cidades, deve contemplar os conflitos
e possuir uma funo de correo dos desequilbrios de todas as ordens que so causados pela
urbanizao. Nesse sentido, deve haver uma compreenso integrada do desenvolvimento urbano e
econmico, incluindo as relaes entre as regies urbanizadas e as reas sob sua influncia direta.
II Regularizao fundiria e urbanizao de reas ocupadas por populao de baixa
renda mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanizao, uso e ocupao do solo e
edificao, consideradas a situao socioeconmica da populao e as normas ambientais.
Essa diretriz visa efetivar o direito moradia de milhes de brasileiros que vivem em condies
precrias e sem nenhuma segurana jurdica de proteo ao direito de moradia nas cidades, em razo
dos assentamentos urbanos em que vivem serem considerados ilegais e irregulares pela ordem legal
urbana em vigor. Mediante essa diretriz, o Estatuto da Cidade aponta para a necessidade da constituio
de um novo marco legal urbano que constitua uma proteo legal ao direito moradia para as pessoas
que vivem nas favelas, nos loteamentos populares, nas periferias e nos cortios, a partir da legalizao
e da urbanizao das reas urbanas ocupadas pela populao considerada pobre.
V Integrao e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, tendo em vista o
desenvolvimento socioeconmico do municpio e do territrio sob sua rea de influncia.
Essa diretriz afirma a responsabilidade do municpio em relao ao controle do solo das
zonas rurais e urbanas, na perspectiva do crescimento econmico e do desenvolvimento social,
unindo ambas as reas. Tambm deve-se levar em conta a relao de dependncia entre as regies
urbanas e rurais, estendendo as premissas do Estatuto para alm da regio urbanizada do municpio,
integrando os diferentes recursos que a cidade oferece.
Os itens III e IV no fazem parte das diretrizes gerais da poltica urbana, mas, conforme o
artigo 4 da Constituio Federal, da Lei 10.257/01, so considerados instrumentos. Enquanto as
diretrizes oferecem uma noo ampla da poltica urbana, os instrumentos, por sua vez, definem os
69
passos que os entes pblicos devero seguir para concretizar as diretrizes ou princpios da referida
poltica e garantir os direitos estabelecidos pela Carta Magna. Para tanto se prev:
III Desapropriao de solo urbano para fins da constituio de zonas de interesse social.
O poder pblico municipal poder efetuar essa desapropriao no caso de o proprietrio deixar de
cumprir com a obrigao de conferir uma destinao social sua propriedade urbana, nos termos
e prazos estabelecidos no plano urbanstico local, aps o trmino do prazo mximo de cinco anos
de aplicao do imposto predial e territorial urbano progressivo no tempo. De acordo com o art. 8
do Estatuto da Cidade, a desapropriao para fins de reforma urbana poder ser procedida pelo
municpio, quando transcorridos cinco anos do IPTU progressivo, sem que o proprietrio tenha
cumprido a obrigao de cobrana, edificao ou utilizao.
IV Instituio do imposto territorial progressivo para terrenos subutilizados nas zonas urbanas
centrais da cidade. O imposto predial e territorial urbano progressivo no tempo, como sano ao
proprietrio que no destinou sua propriedade a uma funo social, tem natureza extrafiscal. Seu objetivo
motivar a utilizao devida da propriedade urbana, de modo a garantir, nos termos do Plano Diretor e
do plano urbanstico local, o cumprimento da funo social da propriedade. A finalidade do poder pblico
municipal na utilizao do IPTU progressivo no tempo no a arrecadao fiscal, mas sim a de induzir
o proprietrio do imvel urbano a cumprir com a obrigao estabelecida no plano urbanstico local, de
parcelar ou edificar, de utilizar a propriedade urbana de forma a atender sua funo social.
Existem outros instrumentos importantes da poltica urbana, entre os quais: o Plano Diretor da
Cidade, o Plano Plurianual, as Diretrizes Oramentrias e Oramento Anual, os Planos de Habitao
de Interesse Social, as Conferncias de Habitao e das Cidades, dentre outros estabelecidos por lei.
importante reiterar que, a partir de 2005, passou a ser obrigatrio aos municpios, com mais de 20
mil habitantes e aos Estados que desejarem fazer uso do Fundo Nacional de Habitao de Interesse
Social, a elaborao dos Planos de Habitao de Interesse Social. Alm desses Planos, tanto os
municpios quanto os Estados devero definir os Conselhos Locais de Habitao de Interesse Social,
bem como os Fundos de Habitao de Interesse Social.
Assim, atravs do cumprimento do conjunto de diretrizes e instrumentos defendidos pelo
Estatuto da Cidade, poder-se- concretizar a gesto das cidades, fazendo com que essas se tornem
mais justas, equitativas, democrticas e participativas. Conclui-se, portanto, que o Estatuto da Cidade
uma legislao vocacionada para a democratizao do acesso e a garantia do direito do cidado
moradia, assentada em uma preocupao com o futuro da poltica urbana do nosso pas.
REFERNCIAS
BRASIL. Estatuto da Cidade: guia para a implementao pelos municpios e cidados. 3. ed.
Braslia: Cmara dos Deputados.Coordenao de Publicaes, 2005.
______. Coletnea de Legislao Administrativa, Constituio Federal. MEDAUAR, Odete (org.).
9. ed. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2009.
Comentado
70
Comentado
SERVIO SOCIAL
71
2010
QUESTO 28
O Brasil tem obtido avanos em relao ao tratamento dado s denncias relativas violncia
contra a mulher, com medidas, como, por exemplo, a instituio da Lei n 11.340/2006, a chamada
Lei Maria da Penha. No entanto, existe um tipo de violncia difcil de combater, que incide sobre a
identidade social das mulheres, que a violncia simblica, que
A. expe a mulher de forma negativa por meio da calnia, difamao ou injria.
B. retm ou destri seus bens pessoais, recursos econmicos, objetos e documentos pessoais.
C. impe comportamentos e papis sociais resultantes da lgica de dominao do masculino
sobre o feminino em toda a esfera social.
D. causa dano emocional, diminui a autoestima, humilha, persegue, controla suas aes,
manipula, compromete sua autodeterminao.
E. constrange a mulher mediante intimidao, ameaa ou uso da fora, para induzi-la a exercer
sua sexualidade ou a limitar seus direitos reprodutivos.
* Gabarito: Alternativa C.
* Tipo de questo: Escolha simples, com indicao da alternativa correta.
* Contedos avaliados: Violncia de gnero e Lei Maria da Penha.
* Autora: Patrcia Krieger Grossi.
COMENTRIO
A alternativa A est errada, pois a exposio da mulher de forma negativa atravs da calnia,
difamao ou injria consiste em violncia moral (vide artigo 7, inciso V, da Lei Maria da Penha).
A alternativa B est errada, pois qualquer conduta que configure reteno, subtrao, destruio
parcial ou total dos objetos da mulher, como instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens,
valores ou recursos econmicos configura-se como violncia patrimonial (vide art. 7, inciso IV, da
Lei Maria da Penha).
A alternativa C est correta, pois a violncia simblica reproduzida graas ideologia
naturalizadora e reprodutora das desigualdades sociais pautadas em papis tradicionais de gnero,
reforadas pelo machismo e patriarcado, ainda presentes em nossa sociedade, que situam a mulher
em uma condio subalternizada. Para Almeida (2007, p. 29), a dimenso simblica fundamental
para a compreenso da violncia contra a mulher.
Forjada em um campo de foras mais amplo, vivida em limites geogrfcos extremamente
restritos, com as caractersticas peculiares assinaladas, a ordem simblica favorece o exerccio da
Comentado
72
explorao e da dominao, por limitar a possibilidade de apreenso de novos referenciais simblicos
e de construo de alianas. Dessa forma, a famlia e o espao domstico apresentam-se como
territrio propcio para o desenvolvimento da violncia de gnero (ALMEIDA, 2007, p. 29-30).
A violncia simblica altamente eficaz na reproduo das desigualdades de gnero,
incidindo na menor remunerao salarial das mulheres pela mesma funo exercida que os homens,
pela atribuio dos cuidados dos filhos mulher, resultando em sobrecarga com triplas jornadas de
trabalho a que as mulheres so submetidas, menor participao no espao poltico, entre outros. A
violncia simblica implica disputa de poderes e deve ser compreendida dentro de uma perspectiva
histrica e relacional, construda em bases hierarquizadas, refletindo na insero desigual de
mulheres e homens na estrutura familiar e societal, mediatizada por relaes de classe social, etnia/
raa, gnero, entre outras.
A alternativa D est errada, pois se trata da violncia psicolgica contra a mulher, que
definida na Lei Maria da Penha como
qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuio da autoestima ou que lhe prejudique
e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar e controlar suas aes, comportamentos,
crenas e decises mediante ameaa, constrangimento, humilhao, manipulao, isolamento,
vigilncia constante, perseguio contumaz, insulto, chantagem, ridicularizao, explorao e
limitao do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuzo sade psicolgica e
determinao (art. 7, inciso II).
A alternativa E est errada, pois se trata da violncia sexual, caracterizada na Lei Maria da
Penha como
qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relao sexual no
desejada, mediante intimidao, ameaa, coao ou uso da fora; que a induza a comercializar ou a
utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impea de usar qualquer mtodo contraceptivo
ou que a force ao matrimnio, gravidez, ao aborto ou prostituio, mediante coao, chantagem,
suborno ou manipulao; ou que limite ou anule o exerccio de seus direitos sexuais e reprodutivos
(art. 7, inciso III, da Lei Maria da Penha).
A violncia simblica est relacionada violncia sexual, quando, no imaginrio social, a
mulher casada deve estar sempre disponvel para a manuteno de relaes sexuais com o marido,
tornando difcil para muitas mulheres e/ou sociedade, em geral, conceber a existncia de estupro
marital. Muitas mulheres cedem aos desejos sexuais de seu cnjuge, companheiro e/ou namorado,
na crena social de que seu papel satisfazer suas necessidades sexuais, contrariando seus desejos
e vontades. A fidelidade conjugal ainda apontada como o primeiro fator precipitante da violncia
contra a mulher em recente pesquisa nacional da Fundao Perseu Abramo, realizada em 2010, que
entrevistou homens e mulheres. Existe ainda uma dupla moral sexual na sociedade, que tolera mais
o adultrio masculino do que o feminino, relacionado aos papis tradicionais de gnero.
REFERNCIAS
ALMEIDA, Sueli Souza de (org.). Violncia de Gnero e Polticas Pblicas. Rio de Janeiro: Editora
da UFRJ, 2007.
BRASIL. Lei 11.340. Lei Maria da Penha, de 07/08/2006.
Comentado
SERVIO SOCIAL
73
2010
QUESTO 29
Analise a relao proposta entre as duas asseres a seguir, relativas aos procedimentos de
pesquisa em servio social.
A padronizao e a neutralidade nos procedimentos garantem a cientificidade da investigao.
PORQUE
A pesquisa qualitativa trabalha com significados e o pesquisador deve entender o processo
social nas transformaes e determinaes construdas historicamente pelos sujeitos.
Considerando a coerncia das correntes da pesquisa social, as asseres fundamentam-se
A. em vertentes diferentes, no entanto se complementam, pois a padronizao necessria para
delimitar as etapas do processo de apreenso da historicidade.
B. na mesma vertente, mas considerar a historicidade do sujeito rompe com a viso de neutralidade
que necessria cientifcidade da pesquisa social, bem como aos procedimentos de
padronizao.
C. em vertentes diferentes, pois apreender a historicidade exige procedimentos de pesquisa
construdos em dilogo com o cenrio social, o que rompe com a neutralidade e com a
padronizao de procedimentos.
D. na mesma vertente, pois, mediante padronizao, chega-se aos dados quantitativos, enquanto
os qualitativos, complementares a esses, so obtidos por meio da adoo de postura neutra
pelo pesquisador.
E. em vertentes diferentes, porm, na pesquisa de teor qualitativo, as vertentes fundem-se em
uma nica, ecltica e completa, na qual a combinao dos elementos depende do julgamento
do pesquisador e de sua percepo de coerncia perante o objeto.
Gabarito: Alternativa C.
Tipo de questo: Escolha simples, com indicao da alternativa correta.
Contedos avaliados: Correntes em pesquisa social.
Autora: Leonia Capaverde Bulla.
COMENTRIO
Na Questo 29, solicitado que se analise a relao entre as duas asseres relativas aos
procedimentos de pesquisa em Servio Social. Examinando-se as duas asseres e considerando-se
a coerncia das correntes da pesquisa social, conclui-se que a alternativa de resposta C a correta,
Comentado
74
isto , que as asseres fundamentam-se em vertentes diferentes, pois apreender a historicidade
exige procedimentos de pesquisa construdos em dilogo com o cenrio social, o que rompe com
a neutralidade e com a padronizao de procedimentos. Para analisar essa questo, torna-se
necessrio definir, em primeiro lugar, quais so as vertentes que fundamentam as duas asseres.
A primeira assero busca seus fundamentos epistemolgicos no Positivismo (MINAYO,
2007; TRIVIOS, 1995), que orienta o mtodo emprico-analtico. Nas pesquisas orientadas por
esse paradigma, a finalidade a procura das causas dos fenmenos de natureza emprica, utilizando
procedimentos das cincias analticas. Esses procedimentos, de natureza quantitativa, visam
comprovao ou rejeio de hipteses que se referem s relaes entre as causas e os efeitos dos
fenmenos observados, tendo em vista o estabelecimento de leis e teorias, que permitam antecipar,
prever e controlar esses fenmenos. Esse processo, na viso positivista, levaria ao conhecimento
cientfico verdadeiro (CUPANI, 1985; GAMBOA, 2007). Nessa corrente de pesquisa, a cientificidade
da investigao seria garantida, especialmente, por dois procedimentos bsicos: a padronizao e a
neutralidade cientfica.
A padronizao dos procedimentos requer tcnicas cuidadosas no fazer cientfico, assim
definidas: a realizao de um processo de amostragem probabilstica, que conduz a uma amostra
aleatria, representativa do universo que est sendo pesquisado; o uso de observao controlada, a
utilizao de instrumentos de pesquisa estruturados, devidamente testados e aferidos; o tratamento,
a anlise e a interpretao dos dados coletados, com apoio da lgica formal e de modelos estatsticos
sofisticados. Toda essa formalizao teria em vista o reconhecimento da validade cientfica e a
aplicabilidade dos resultados da investigao.
Por outro lado, essa padronizao de procedimentos garantiria um conhecimento
objetivo, alheio a qualquer trao de subjetividade (TRIVIOS, 2007, p. 36). A padronizao e a
neutralidade esto, portanto, intimamente relacionadas. A neutralidade se concretizaria na relao
de distanciamento entre o sujeito do conhecimento com o objeto que pretende conhecer. Esse
procedimento permitiria a objetividade do investigador, que no interferiria no fenmeno a ser
investigado, com sua subjetividade, seus valores e posicionamentos e que no se deixaria influenciar
pela realidade que est sendo estudada. Esses pressupostos so criticados pelos pesquisadores
que utilizam procedimentos predominantemente qualitativos.
A segunda assero traz para a discusso um pressuposto fundamental da pesquisa
qualitativa, a questo do significado do fenmeno que se pretende investigar e que no pode ser
captado pela observao emprica ou pela percepo sensorial, nem comprovado por procedimentos
experimentais, fugindo lgica formal. O sentido ou sentidos precisam ser desvendados, sejam os
interesses, os valores, as concepes, as experincias vividas pelos sujeitos, com a utilizao de
formas diferenciadas de produzir conhecimentos. Torna-se necessrio ir alm do fato observado,
alm do que aparente e buscar a essncia no aparente desse fato. Como enfatiza Lefebvre (1995,
p. 222), quem investiga um fato no deve se contentar em olhar ou mesmo observar as coisas.
preciso penetrar ativamente nelas. A relao de proximidade entre o sujeito do conhecimento e o
objeto que est sendo conhecido permite ao sujeito penetrar com mais profundidade no objeto, na
busca de sua essncia e dos sentidos que esto ocultos. Alis, para a abordagem dialtica, o sujeito
e objeto so partes constituintes da mesma totalidade (MINAYO, 2007, p. 120), de modo especial,
nas cincias humanas, que assume como objeto de conhecimento os seres humanos, sujeitos e
atores da vida social, como o sujeito investigador.
O mtodo dialtico-crtico, uma das orientaes da pesquisa qualitativa e abordagem utilizada,
de forma predominante, pelo Servio Social, busca o conhecimento dos significados do fenmeno,
buscando interpretar seus sentidos, mas no renuncia origem emprica objetiva do conhecimento
(GAMBOA, 2002, p. 101). Esse mtodo, que se fundamenta no Marxismo e na Dialtica Materialista
Histrica (MARX; ENGELS, 1982; FRIGOTTO, 2002), concebe a realidade em contnuo movimento e
procura compreender todos os aspectos dessa realidade, tanto os objetivos como os subjetivos, tantos
os da natureza fsica e viva como os do pensamento e da sociedade. Por ser materialista, esclarece
75
Gadotti (1997), o mtodo dialtico-crtico considera o mundo como uma realidade material (natureza
e sociedade) em que o ser humano, o sujeito que conhece a realidade, tem de assumir, tambm, a
tarefa de transformar. Isso significa que, no processo de produo do conhecimento, no se requer
apenas a elaborao de um saber explicativo e unificador, mas a construo de um conhecimento
que contribua realmente para o processo de mudana e de transformao social (BULLA, 1998,
p. 15). Essa tarefa tem sido desempenhada pelo ser humano ao longo da histria. Como lembra
Kosik (1995, p. 218), a premissa fundamental da histria que ela criada pelo homem, pois na
histria que ocorrem mudanas e transformaes. Como um ser social e histrico, atravs de seu
trabalho, ele foi se apropriando da natureza e produzindo os bens necessrios a sua sobrevivncia,
o que lhe deu condies de existir, de se reproduzir e de fazer histria (MARX, ENGELS, 1982, p.
19). Dessa forma, o ser humano transforma o mundo, tornando-o mais humano e, nesse processo,
ele transforma a si mesmo (VAZQUEZ, 1977). Como sujeitos ativos, os seres humanos, numa trama
de relaes, foram transformando as condies sociais e, dessa forma, foram sendo gerados os
progressos econmico e social, bem como toda uma cultura especificamente humana (BULLA,
2003, p. 2). Destaca-se, portanto, o carter transformador do sujeito humano frente realidade
social, como um dos pressupostos da abordagem dialtico-crtica e base da categoria historicidade.
Esse mtodo, portanto, no tem com objetivo somente a compreenso do real, mas sim busca
desvend-lo para transform-lo, ou seja, o mtodo no segue uma postura de neutralidade diante
da realidade pesquisada. A postura transformadora das pesquisas dialtico-crticas enfatizada
por Gamboa (2004, p. 97) quando afirma que elas manifestam um interesse transformador das
situaes ou fenmenos estudados, resgatando sua dimenso sempre histrica e desvendando suas
possibilidades de mudana. Essa postura supe a participao ativa do sujeito no processo social,
o dilogo do sujeito com os outros sujeitos, a interao dinmica entre investigadores e atores que
fazem parte da realidade que est sendo investigada, para penetrar no mago dessa realidade,
compreend-la e dar sua contribuio para a sua transformao, o que retira dessa relao toda
a pretenso de neutralidade. Trata-se de uma relao dialtica entre o sujeito e o objeto, em que
se reconhece uma reciprocidade de influncias entre esses dois elementos, tanto no processo de
conhecimento da realidade, como na atividade prtica que visa transform-la (BULLA, 2003, p. 3).
Para resolver a questo de validade e de reconhecimento de um conhecimento produzido
de forma diversa, que rompe com pressupostos do Positivismo, paradigma dominante na
cincia, Demo (1999) prope uma atitude de objetivao, que supe uma vigilncia crtica do
sujeito que est conhecendo, tentando ser o mais objetivo possvel, mas sabendo que todo o
conhecimento complexo, tem determinantes, implicaes, interesses subjacentes, valores
e ideologias, que precisam ser reconhecidos. Mas, como acentua Minayo (2007, p. 62), se a
objetivao leva a repudiar o discurso ingnuo ou malicioso da neutralidade, exige uma postura
crtica do investigador no uso de mtodos, instrumentos e tcnicas de investigao. Essa atitude
contrape-se fetichizao do mtodo ou ao reducionismo tecnicista (GAMBOA, 2007, p. 47),
que prima pela padronizao e formalizao dos procedimentos. Ao contrrio, utiliza-se de todo o
arcabouo tecnolgico disponvel para a produo do conhecimento, sem abdicar das exigncias
da lgica dialtica aprofundadas por Lefebvre (1981) e do interesse e das aes libertadoras e
transformadoras das abordagens dialtico-crticas.
Pelos argumentos apresentados, ficou demonstrado que a alternativa C a resposta correta.
As alternativas A e E, como a alternativa C, carregam uma premissa correta, isto , que as asseres
apresentadas fundamentam-se em vertentes diferentes da pesquisa em Servio Social, mas as
concluses so incorretas. Em relao alternativa A, pelo que foi argumentado ao longo dos
comentrios anteriormente expostos, as duas vertentes se fundamentam em paradigmas diferentes,
no se completam, no sendo a padronizao necessria para delimitar as etapas do processo
de apreenso da historicidade. Em relao alternativa E, conclui-se que suas concluses so
incorretas, pois as pesquisas de teor qualitativo no se fundem, no adotam uma postura ecltica e
completa, nem pode haver combinao de elementos que dependam do julgamento ou da percepo
do pesquisador em relao ao objeto, porque podem orientar-se por paradigmas diferentes, como,
Comentado
76
por exemplo, a Fenomenologia (mtodo fenomenolgico-hermenutico) e o Marxismo (mtodo
dialtico-crtico). As alternativas de respostas B e D so igualmente incorretas, porque as premissas
so falsas e as concluses so incoerentes, considerando-se os fundamentos das correntes da
pesquisa social e os argumentos apresentados no decorrer dos comentrios sobre a alternativa
correta questo proposta.
REFERNCIAS
BULLA, Leonia Capaverde. Relaes sociais e questo social na trajetria histrica do Servio Social
brasileiro. Revista Virtual Textos & Contextos, n. 2, dez. 2003. Porto Alegre: PPGSS/PUCRS, 2003.
______. Introduo. In: ______; BARRILI, Helosa de Carvalho; ARAJO, Jairo Mello. A pesquisa
em Servio Social e nas reas humano-sociais. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1998.
CUPANI, Alberto. A crtica do Positivismo e o futuro da Filosofa. Florianpolis: UFSC, 1985.
DEMO, Pedro. Introduo metodologia da Cincia. 6. ed. So Paulo: Atlas, 1999.
FRIGOTTO, Gaudncio. O enfoque da dialtica materialista histrica na pesquisa educacional. In:
FAZENDA, Ivani. Metodologia da pesquisa educacional. 3. ed. So Paulo: Cortez, 2002.
GADOTTI, Moacir. Concepo Dialtica da Educao. So Paulo: Cortez, 1997.
GAMBOA, Silvio A. Sanchez. A dialtica na pesquisa em Educao: elementos de contexto. In:
FAZENDA, Ivani. Metodologia da Pesquisa Educacional. 3. ed. So Paulo: Cortez, 2002.
______. Pesquisa em Educao: mtodos e epistemologias. Chapec: ARGOS, 2007.
KOSIK, Karel. Dialtica do Concreto. 6. ed. So Paulo: Paz e Terra, 1995.
LEFEBVRE, Henri. Lgica formal e Lgica dialtica. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 1995.
MARX, Karl; ENGELS, Friedrich Feuerbach. Oposio das concepes materialista e idealista.
Lisboa: Avante, 1982. (Obras Escolhidas).
MINAYO, Maria C. de S. (org.). O desafo do conhecimento: pesquisa qualitativa em sade. 10. ed.
So Paulo: Hucitec, 2007.
TRIVIOS, Augusto N. S. Introduo pesquisa em Cincias Sociais: a pesquisa qualitativa em
Educao. So Paulo: Atlas, 1995.
VAZQUEZ, Adolfo Sanchez. Filosofa da prxis. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1977.
Comentado
SERVIO SOCIAL
77
2010
QUESTO 30
De acordo com o Cdigo de tica Profissional (Resoluo CRESS 273, de 13/03/93), que
prev, em seu captulo V, artigo 18, o sigilo profissional como direito do assistente social e a proteo
ao usurio quanto ao teor revelado em decorrncia do exerccio das funes profissionais, permite-
se a quebra do sigilo apenas
A. diante de solicitao expressa dos familiares do usurio.
B. diante de solicitao dos responsveis pela preservao dos interesses institucionais.
C. mediante autorizao expressa da organizao prestadora de servios sociais.
D. perante situaes cuja gravidade possa prejudicar interesses da coletividade.
E. em situaes em que a revelao de detalhes se faa necessria para dirimir confitos.
* Gabarito: Alternativa D.
* Tipo de questo: Escolha simples, com indicao da alternativa correta.
* Contedos avaliados: tica profssional do Servio Social e sigilo profssional.
* Autora: Maria Palma Wolff.
COMENTRIO
Sigilo profissional consiste numa proibio legal de divulgar informaes obtidas no
exerccio de uma atividade profissional; dever tico de no revelar dados confidenciais obtidos no
mbito da profisso (DICIONRIO da Lngua Portuguesa, 2011). Esse dever tico disciplinado
pelos cdigos especficos das profisses, que definem as regras a serem aplicadas em relao
informao recebida pelo profissional. No Servio Social, a preocupao em proteger, atravs
do sigilo profissional, dados sobre a vida privada das pessoas atendidas, fez parte de todos os
cdigos de tica profissional institudos. Espera-se que informaes colhidas a partir de um contexto
profissional no sejam divulgadas, a no ser em certas circunstncias especficas. O sigilo profissional
se constitui tambm em uma prerrogativa do profissional que quem detm o poder de decidir
quando um princpio tico superior justifica a quebra do sigilo. Silva (2007) menciona a necessidade
de o assistente social informar ao usurio sobre os limites da confidencialidade, para que esse possa
avaliar as informaes fornecidas ao profissional.
O primeiro cdigo de tica profissional foi institudo em 1947, com uma base claramente
fundamentada em valores cristos. Definia, entre os deveres fundamentais do assistente social,
cumprir os compromissos assumidos, respeitando a lei de Deus, os direitos naturais; o profissional
tambm devia manter uma atitude honesta, correta, procurando aperfeioar sua personalidade
Comentado
78
e dignificar a profisso e guardar rigoroso sigilo, mesmo em depoimentos policiais, sobre o que
saiba em razo do seu ofcio (Seco I, itens 1, 2 e 5). Nesse documento, no eram mencionadas
situaes em que fosse possvel a revelao do sigilo profissional.
O Cdigo editado em 1965 disciplinou de forma mais detalhada a questo. Da mesma forma
como o Cdigo anterior, via como obrigao moral e legal profissional guardar segredos sobre todas
as confidncias recebidas e fatos de que tenha conhecimento ou haja observado no exerccio de sua
atividade profissional (art. 15). A revelao do sigilo s era admitida aps terem sido empregados
todos os recursos e todos os esforos, para que o prprio cliente se disponha a revel-lo (art. 15,
2) e ainda s poderia ser feita dentro do estrito necessrio o mais discretamente possvel, quer em
relao ao assunto revelado, quer em relao ao grau e ao nmero de pessoas que dele devam tomar
conhecimento (art. 15, 3). A revelao do sigilo profissional estaria justificada quando tivesse por
objetivo evitar um dano grave, injusto e atual ao prprio cliente, ao assistente social, a terceiros e ao
bem comum (art. 15, 1). Esse Cdigo e o que a ele se seguiu, em 1975, foi marcado pela presena
de valores abstratos, compatveis com uma viso idealista de sociedade (BARROCO, 2010).
O Cdigo de 1975 repete, em seu artigo 7, o disposto na normatizao anterior sobre: a
obrigatoriedade do segredo profissional; as condies em que sua quebra possvel; a necessidade
de se esgotarem as tentativas para que o prprio cliente se disponha a revel-lo (art. 7, 3)
e sobre o fato de a revelao ser procedida apenas quanto ao estritamente necessrio e o mais
limitado possvel (art. 7, 4). Esse Cdigo apenas inclui pargrafo que define no constituir quebra
de segredo profissional a revelao de casos de sevcias, castigos corporais, atentados ao pudor,
supresso intencional de alimento e uso de txicos, com vista proteo do menor (art. 7, 5).
O cdigo seguinte, editado em 1986, tornou-se uma marca, tanto da ruptura do Servio Social
com seu projeto profissional tradicional como da opo da profisso por uma prtica vinculada aos
interesses desta classe trabalhadora (BARROCO, 2010). Nesse contexto, propugnava que a quebra
de sigilo s seria admissvel quando se tratasse de situaes cuja gravidade pudesse trazer prejuzos
a essa classe (art. 4, 1). Esse documento colocou o sigilo profissional como dever (art. 4) e como
vedao (art. 5, inciso b), dispondo ainda que somente deveria acontecer dentro do estritamente
necessrio (art. 4, 2).
O atual Cdigo de tica, editado em 1993, traz o sigilo profissional como direito do profissional
(art. 15) e sua revelao como uma vedao (art. 17). Tal revelao apenas admissvel de
forma mais limitada possvel (pargrafo nico) e quando se tratarem de situaes cuja gravidade
possa, envolvendo ou no fato delituoso, trazer prejuzo aos interesses do usurio, de terceiros e da
coletividade (art. 18).
Assim, mesmo diante de solicitao expressa dos familiares do usurio, como refere a
opo A, ou de solicitao dos responsveis pela preservao dos interesses institucionais, como
pressupe a alternativa B, no seria justificvel a quebra de sigilo. Isso porque, alm do que est
expressamente definido no artigo 18, devem-se considerar ainda os princpios fundamentais contidos
no Cdigo, que remetem preservao dos interesses dos usurios e defesa de sua liberdade e
autonomia e no para a preservao dos interesses de familiares ou das instituies.
tambm por esse motivo que est incorreta a alternativa C, a qual fala da possibilidade de
quebra de sigilo mediante autorizao expressa da organizao prestadora de servios sociais.
Essa opo aduz necessidade de autorizao da organizao, o que contraria ainda a autonomia
profissional e o direito ao sigilo expresso no artigo 15 do Cdigo. A alternativa E, que remete a
situaes em que a revelao de detalhes se faa necessria para dirimir conflitos, est igualmente
incorreta, pois a resoluo de conflitos no motivo arrolado pelo Cdigo para a revelao de sigilo.
De acordo com o que est determinado no artigo 18 do atual Cdigo de tica dos Assistentes
Sociais, como anteriormente mencionado, a quebra de sigilo est prevista para situaes cuja
gravidade possa, envolvendo ou no fato delituoso, trazer prejuzo aos interesses do usurio, de
terceiros/as e da coletividade. Assim, a nica alternativa correta a letra D, conforme definio do
gabarito oficial.
79
REFERNCIAS
ABAS. Cdigo de tica Profssional dos Assistentes Sociais 1947. Disponvel em: http://www.
cfess.org.br/legislacao.php. Acesso em: abr. 2011.
BARROCO, Maria Lcia Silva. tica e Servio Social: fundamentos ontolgicos. 8. ed. So Paulo:
Cortez, 2010.
CFAS. Cdigo de tica Profssional do Assistente Social 1965. Disponvel em: http://www.
cfess.org.br/legislacao.php. Acesso em: abr. 2011.
CFAS. Cdigo de tica Profssional do Assistente Social 1975. Disponvel em: http://www.
cfess.org.br/legislacao.php. Acesso em: abr. 2011.
CFESS. Cdigo de tica dos Assistentes Sociais. Aprovado em 13 de maro de 1993. Coletnea de
Leis revista e ampliada. Porto Alegre: CFESS 10, 2000.
DICIONRIO da Lngua Portuguesa. Editora Porto. Disponvel em: http://www.infopedia.pt/lingua-
portuguesa-ao/sigilo. Acesso em: 09 mai. 2011.
SILVA, Manuel Domingos Menezes da. Mediaes ticas na prtica quotidiana dos assistentes
sociais. Revista Servio Social e Sociedade, n 92, So Paulo, Cortez, 2007.
Comentado
80
Comentado
SERVIO SOCIAL
81
2010
QUESTO 31
O Servio Social uma profisso de carter sociopoltico, critico e interventivo, que se utiliza
do instrumental cientfico multidisciplinar das Cincias Humanas e Sociais para anlise e interveno
nas diversas refraes da questo social, isto , no conjunto de desigualdades que se originam do
antagonismo entre a socializao da produo e a apropriao privada dos frutos do trabalho e, para
sua atuao, geralmente elabora registros dos atendimentos que realiza, redige relatrios, preenche
fichas e formulrios.
Disponvel em: <http//www.cressrj.org.br/index.php>.
Acesso em: 21 ago. 2010.
O material referido acima
A. pauta-se por uma neutralidade garantidora da cientifcidade.
B. confgura a produo de conhecimento do assistente social sobre sua prtica.
C. est sujeito ao sigilo profssional, o que impede seu uso para redefnio das aes profssionais.
D. tem a fnalidade precpua de salvaguardar a responsabilidade do profssional, informando os
passos adotados a partir de um parecer sobre as demandas apresentadas.
E. serve como objeto de refexo com base nos fundamentos tericos de sua profsso,
possibilitando o desvelamento das reais necessidades dos usurios.
* Gabarito: Alternativa E.
* Tipo de questo: Escolha simples, com indicao da alternativa correta.
* Contedos avaliados: Formao Profssional, Questo Social, Direo tico-Poltica da
Profsso.
* Autora: Esalba Maria Silveira.
COMENTRIO
Alternativa A est incorreta. O discurso da neutralidade que garante a cientificidade serve como
estratgia para a ocultao do real. Como argumento, recorre-se ao Cdigo de tica do Assistente
Social (2011), que destaca as conquistas e ganhos da categoria profissional, reiterada pelo Cdigo de
tica desde 1986, atravs de dois procedimentos: negao da base filosfica tradicional, nitidamente
conservadora, que norteava a tica da neutralidade, e afirmao de um novo perfil do(a) tcnico(a),
no mais um(a) agente subalterno(a) e apenas executivo(a), mas um(a) profissional competente
terica, tcnica e politicamente. O material referido refora e respalda as aes profissionais na
Comentado
82
direo de um projeto em defesa dos interesses da classe trabalhadora e que se articula com outros
sujeitos sociais na construo de uma sociedade anticapitalista.
A alternativa B est incorreta porque o tema central do texto no se configura como a produo de
conhecimento do assistente social sobre sua prtica. Todavia fundamenta o entendimento do objeto de
trabalho a partir da questo social, exigindo ento o desvelamento das mltiplas determinaes do real.
A alternativa C est incorreta porque o texto no apresenta contedo que possa relacionar-se
ao sigilo profissional conforme o Captulo V do Cdigo de tica. A alternativa D est incorreta porque
o entendimento da questo social no para salvaguardar a responsabilidade do profissional e, sim,
fundamenta o entendimento das demandas e estratgias adotadas.
A afirmativa E est correta. O material serve como objeto de reflexo com base nos
fundamentos tericos de sua profisso, possibilitando o desvelamento das reais necessidades
dos usurios, a fim de analisar e intervir na realidade. O texto prope que o assistente social tem,
entre as suas atribuies, a anlise e interveno nas diversas refraes da questo social, isto
, no conjunto de desigualdades que se originam do antagonismo entre a socializao da produo
e a apropriao privada dos frutos do trabalho. Faz-se imprescindvel o entendimento do que
refrao, um conceito importado da fsica que serve de analogia para entender as diferentes cores e
intensidades produzidas pela questo social.
Refrao um fenmeno relacionado propagao da luz, que passa de um meio para
outro meio, produzindo uma srie de fenmenos ticos que fazem parte do cotidiano. Um desses
exemplos a profundidade de uma piscina que pode parecer menor do que , conforme a incidncia
da luz sobre ela. Trazendo para o trabalho do assistente social, a afirmao destaca a necessidade
de entender a realidade alm do aparente. Iamamoto (2000) afirma ser necessrio, tambm, para
apreender a questo social, captar as mltiplas formas de presso social, de inveno e de reinveno
da vida, construdas no cotidiano. Ento, ao mesmo tempo em que a questo social desigualdade,
tambm rebeldia, pois envolve sujeitos que vivenciam estas desigualdades e a ela resistem e se
opem (IAMAMOTO, 2000, p. 28). Para entender a refrao da questo social, exigem-se a anlise
crtica, um diagnstico no liberal sobre os processos sociais e a profisso neles inscrita. Uma anlise
do Servio Social que afirme a centralidade do trabalho na conformao da questo social e dos
direitos sociais consubstanciados em polticas sociais universais, em contraposio s alternativas
focalizadas e fragmentadas de combate pobreza e misria, centrando-se apenas no como fazer.
A imediata aparncia das necessidades nem sempre revela as suas mltiplas determinaes. A partir
dessa apreenso, pode-se concluir que o objeto da ao do assistente social no est construdo a
priori. Eles so construdos com ferramentas terico-metodolgicas, tico-polticas, que imprimem a
direo da profisso.
REFERNCIAS
CFESS. Aprovado em 13 de Maro de 1993. Cdigo de tica: com as alteraes Introduzidas pelas
Resolues CFESS n 290/94, 293/94, 333/96 e 594/11.
NETTO, Jos Paulo. Cinco notas a propsito da questo social. In: Temporalis, Braslia, ABEPSS,
ano 2, n. 4, p. 41-49, 2001.
IAMAMOTO, Marilda Villela. As Dimenses tico-Polticas e Terico-Metodolgicas no Servio
Social Contemporneo. Disponvel em: http://www.fnepas.org.br/pdf/servico_social_saude/texto2-2.
pdf. Acesso em: 12 ago. 2011.
______. Servio Social na Contemporaneidade: Trabalho e Formao Profssional. 3. ed. So
Paulo: Cortez, 2000.
______. Servio Social em Tempo de Fetiche: capital fnanceiro, trabalho e questo social. 3. ed.
So Paulo: Cortez, 2008.
Comentado
SERVIO SOCIAL
83
2010
QUESTO 32
O processo de descentralizao das polticas sociais pblicas, com nfase na sua
municipalizao, requer dos assistentes sociais (...) novas funes e competncias. Os assistentes
sociais esto sendo chamados a atuar na esfera da negociao, formulao e avaliao de polticas
e do planejamento, gesto e monitoramento, inscritos em equipes multiprofissionais. Ampliam seu
espao ocupacional para atividades relacionadas ao controle social, implantao e orientao de
conselhos e polticas pblicas, capacitao de conselheiros, elaborao de planos e projetos
sociais, ao acompanhamento e avaliao de polticas, programas e projetos.
IAMAMOTO. M. V. Os espaos scio-ocupacionais do assistente social.
Curso de especializao em servio social:
direitos e competncias profssionais.
Braslia: CEFESS, UnB, 2009 (adaptado).
Avalie se as afirmaes a seguir esto de acordo com o perfil do assistente social na
contemporaneidade.
I. Localizar-se na linha de frente das relaes entre populao e instituio, sendo
executor terminal de polticas sociais.
II. Desenvolver capacidade de negociao, conhecimento e know-how na rea de
recursos humanos e relaes no trabalho.
III. Fazer leitura e anlise dos oramentos pblicos, identifcando seus alvos e
compromissos, assim como os recursos disponveis para projetar aes.
IV. Decifrar as situaes particulares com que se defronta o assistente social no seu
trabalho, de modo a conect-las aos processos sociais microscpicos que as geram e
as modifcam.
correto apenas o que se afirma em
A. I e II.
B. I e III.
C. I e IV.
D. II e III.
E. II, III e IV.
Comentado
84
* Gabarito: Alternativa D.
* Tipo de questo: Escolha combinada, com indicao da resposta correta.
* Contedos avaliados: Processos de trabalho do assistente social na gesto das
polticas pblicas.
* Autoras: Ines Amaro da Silva e Thasa Teixeira Closs.
COMENTRIO
Em relao ao item I, processos de descentralizao das polticas pblicas tm demandado
do assistente social superar a atuao no campo da execuo dos servios sociais, o que demarca
estar incorreta essa opo. Nesse horizonte, o redimensionamento dos espaos scio-ocupacionais
do assistente social vem solicitando que ultrapassemos a esfera das tradicionais competncias
circunscritas ao atendimento direto da populao, restritas execuo de servios sociais.
A caracterizao do exerccio profissional situado no campo da execuo terminal das polticas
cunhado por Netto (2004), sinalizando uma tendncia histrica dessa profisso, que necessita ser
alvo de ateno. A realidade contempornea marcada pela agudizao das expresses da questo
social e pelo desafio de construo de respostas inovadoras no plano da garantia de direitos requer
que conjuguemos respostas profissionais em diferentes planos da realidade social.
Assim, o exerccio profissional no plano do atendimento direto populao necessita
estar articulado com uma leitura mais ampla das polticas pblicas. A apreenso de demandas
e necessidades coletivas dos sujeitos, a sistematizao de dados que deem visibilidade a essas
necessidades, a articulao com espaos de gesto e controle social tendo em vista a qualificao
das polticas so possibilidades nesse sentido.
Nesse horizonte, as diretrizes para a formao profissional em Servio Social (ABEPSS,
1996) e a Lei de Regulamentao da profisso (BRASIL, 1993) demarcam a constituio de um
perfil profissional com competncias amplas que atendam s exigncias atuais de qualificao
e democratizao das polticas pblicas. Dessa forma, o desafio consiste em fortalecermos e
ampliarmos competncias profissionais que medeiem a materializao do projeto tico-poltico,
assim como viabilizem a conquista de novos espaos scio-ocupacionais.
Quanto ao item II, est correto. As requisies feitas ao assistente social na empresa a partir dos
anos 90 passam a ser mediadas por novas formas de controle da fora de trabalho, no processo de
reestruturao produtiva e no contexto da consolidao do capitalismo financeiro, caracterizando um
espao scio-ocupacional que apresenta ao profissional o desafio da formulao de novas estratgias,
as quais exigem desenvolver competncias de negociao, bem como conhecimento e know-how
na rea de recursos humanos e relaes no trabalho, garantindo ao profissional um lugar social de
reconhecimento e legitimidade nas equipes nter ou multiprofissionais no mundo do trabalho.
A insero do assistente social na empresa relaciona-se modernizao do capital, e
o profissional passa a ser requisitado para operar programas e projetos de qualidade de vida no
trabalho, vinculados aos processos de inovao tecnolgica e gerencial no mbito da organizao do
trabalho. Por outro lado, no tensionamento com o projeto tico-poltico da profisso emergem novas
possibilidades de legitimidade profissional no campo das relaes do trabalho.
Cesar (MOYA, 2000) aponta o conjunto dos incentivos materiais e simblicos que
visam integrar os trabalhadores aos requisitos da qualidade e produtividade nas empresas e as novas
exigncias aos assistentes sociais, articuladas s polticas de recursos humanos. A nova racionalidade
tcnica e ideopoltica no mbito das polticas de administrao de recursos humanos mesclam assim
velhas e novas demandas. A incluso de novos requisitos ao profissional relacionados s estratgias
gerenciais volta-se a instituir prticas de negociao cooperativa com os trabalhadores em torno dos
diversos mecanismos tcnicos e polticos que viabilizam o aumento da produtividade. Conforme Cesar,
o assistente social passa a ser um dos mediadores na construo de uma outra racionalidade tcnica
85
e poltica na rea de recursos humanos e responder crtica e criativamente s exigncias colocadas
pela reestruturao produtiva, defendendo suas condies de trabalho e resistindo s praticas de
passivizao, passa a ser um dos grandes desafios para os profissionais.
Em relao ao item III da questo referente s aes profissionais no campo da leitura
e anlise de oramentos pblicos , essa consiste numa opo correta, pois aponta para uma
competncia profissional necessria para a atuao na esfera da gesto das polticas pblicas. Uma
anlise acurada desses oramentos pblicos demandar a mobilizao de diferentes competncias
profissionais, assim como o conhecimento da rea/poltica pblica a qual se destina sua aplicao.
Entre essas competncias, esto a realizao de estudos, pesquisas e diagnsticos das
necessidades sociais a serem atendidas, juntamente com a construo de indicadores sociais, tendo
em vista identificar a adequao dos oramentos frente ao desafio de qualificao das polticas
pblicas. Assim, fundamental que o trabalho profissional no plano da gesto frente anlise de
oramentos esteja direcionado para a perspectiva da garantia da universalidade do acesso a direitos,
ou seja, se contraponha lgica da seletividade e focalizao, na qual o atendimento s necessidades
subordinado dimenso contbil e reduo de investimentos nos servios pblicos.
Alm disso, fundamental que as informaes relativas aos oramentos pblicos sejam
socializadas, analisadas em conjunto com instncias de controle social e, em especial, sejam
acessveis aos destinatrios das polticas pblicas. O conhecimento e crtica dos oramentos
pblicos so instrumentos fundamentais para a potencializao da gesto democrtica das polticas
pblicas. Dessa forma, a disputa pelo direcionamento do fundo pblico integra a luta pelo prprio
aprofundamento da democratizao do Estado, tendo em vista a distribuio da riqueza socialmente
produzida e a universalidade do acesso a bens, servios e direitos.
Finalmente, no item IV, considera-se que as requisies ao profissional na contemporaneidade
vo alm da execuo terminal das polticas e programas sociais e exigem, entre outras competncias,
a capacidade de decifrar as situaes particulares com que se defrontam no seu cotidiano de trabalho
de modo a conect-las aos processos sociais mais amplos nas quais se inscrevem e que as geram,
bem como as modificam. O item IV est incorreto ao referir-se aos processos sociais microscpicos,
pois exatamente a diferena est nas mediaes que o profissional constri para, partindo dos
processos microscpicos do cotidiano, estabelecer as relaes e conexes com as dimenses que
expressam a historicidade e a totalidade dos fenmenos sociais.
A capacidade de decifrar o cotidiano e conect-lo s dimenses mais amplas do contexto
histrico, econmico, social, poltico e cultural habilita o profissional a intervir nas instncias da gesto
e do planejamento de polticas, programas e projetos sociais. Necessidades e demandas coletivas,
reconhecidas como legtimas e constitudas em direitos, so incorporadas no processo de gesto social.
Como processo tcnico-poltico, o planejamento requer a capacidade de reelaborao da demanda
imediata, por nveis diferentes de apreenso e interveno desde o campo das microinteraes ao
campo das relaes sociais mais amplas (BATISTA, 2000), em movimentos que vo do particular
ao universal e retornam ao particular, em outro patamar. As novas competncias relacionam-se
possibilidade de identificar a demanda coletiva e incorpor-la no processo de planejamento, bem como
nas prticas de monitoramento e avaliao das polticas, dos programas e dos projetos sociais.
REFERNCIAS
ABEPSS. Proposta bsica para o projeto de formao profssional. Revista Servio Social e
Sociedade. So Paulo: Cortez, n. 50, 1996.
BATISTA, Myrian Veras. Planejamento Social: intencionalidade e instrumentao. So Paulo:
Veras Editora; Lisboa: CPIHTS, 2000. Disponvel em: <http://www.cfess.org.br/arquivos/legislacao_
lei_8662.pdf>. Acesso em: 25 set. 2009.
BRASIL. Lei n 8.662, de 7 de junho de 1993. Dispe sobre a profsso de assistente social e d
outras providncias.
Comentado
86
IAMAMOTO, M. V. Projeto Profssional, espaos ocupacionais e trabalho do(a) assistente social na
atualidade. CFESS. Atribuies Privativas do(a) Assistente Social em questo. Braslia: 2002.
MOTA, Ana Elizabete (org). A nova fbrica de consensos: ensaios sobre a reestruturao produtiva
e as demandas ao servio social. 2. ed. So Paulo: Cortez, 2000.
NETTO, J. P. Ditadura e servio social: uma anlise do Servio Social no ps-64. 7. ed. So Paulo:
Cortez, 2004.
RICO, Elizabeth de M.; RAICHELI, Raquel. Gesto Social: uma questo em debate. So Paulo:
EDUC, IEE, 1999.
SIMES et al. A interveno do assistente social na empresa novas demandas e projeto tico-
poltico. Libertas vol. 1, n. 2, Juiz de Fora, jul.-dez. 2001.
Comentado
SERVIO SOCIAL
87
2010
QUESTO 33
A Lei n. 8.662/1993, que regulamenta a profisso do assistente social, enfatiza como atribuio
privativa do assistente social realizar estudos sociais, percia e laudos em matrias especficas do
Servio Social. Segundo Favero (2004), na perspectiva da atuao do Servio Social na rea jurdica,
o estudo social uma das principais ferramentas que fundamentam decises sobre outrem.
FAVERO, E. T. O estudo social: fundamentos e particularidades de sua construo na
rea jurdica. In: CFESS (Org.). O Estudo social em percias, laudos,
pareceres tcnicos. 2. ed. So Paulo: Cortez, 2004.
Na perspectiva abordada acima, funo do estudo social
A. emitir parecer autoridade solicitante.
B. mapear a realidade econmica dos sujeitos.
C. diagnosticar e emitir parecer com a equipe multidisciplinar.
D. fomentar as competncias e habilidades dos profssionais de Servio Social.
E. colaborar internamente nas decises econmicas e polticas das instituies.
* Gabarito: Alternativa A.
* Tipo de questo: Escolha simples, com indicao da alternativa correta.
* Contedo avaliado: Instrumentalidade do Servio Social na rea Sociojurdica.
* Autora: Gleny Terezinha Duro Guimares.
COMENTRIO
A alternativa A est correta, pois a funo do estudo social emitir parecer autoridade
competente. A lei de regulamentao, no art. 5, menciona que constitui atribuies privativas do
assistente social: IV realizar vistorias, percias tcnicas, laudos periciais, informaes e pareceres
sobre a matria de Servio Social (art. 5. CRESS, 2005, p. 13), dentre eles se inclui o estudo
social. Segundo Favero, o estudo social tem por finalidade conhecer com profundidade e de forma
crtica uma determinada situao ou expresso da questo social, objeto da interveno profissional
especialmente nos seus aspectos socioeconmicos e culturais (2004, p. 42). Portanto o assistente
social se utiliza do estudo social para aprofundar o conhecimento da realidade do sujeito e, no campo
jurdico, esse documento ir permitir a autoridade competente tomar determinadas decises, a partir
do parecer profissional.
Comentado
88
A alternativa B est incorreta porque o estudo social na rea sociojurdica no se restringe ao
mapeamento da realidade econmica dos sujeitos. O estudo social um instrumento mais amplo,
que pode ser utilizado nos mais diferentes espaos scio-ocupacionais, desde uma avaliao de
Benefcio de Prestao Continuada (BPC) at o acesso a determinados servios e auxlios, financeiros
ou no. Alguns autores como Mioto (2009) se referem ao estudo social ou estudo socioeconmico,
caracterizando-o por suas finalidades e pelas particularidades dos espaos scio-ocupacionais.
Operacionalmente, os estudos socioeconmicos/estudo social podem ser defnidos como
o processo de conhecimento, anlise e interpretao de uma determinada situao social. Sua
fnalidade imediata a emisso de um parecer formalizado ou no sobre tal situao, do qual o
sujeito demandante da ao/usurio depende para acessar benefcios, servios e/ou resolver litgios
(MIOTO, 2009, p. 488).
A alternativa C est incorreta porque o estudo social, na rea jurdica, no se destina a
diagnosticar e emitir parecer com a equipe multidisciplinar. A alternativa D est incorreta porque o
estudo social no se destina a fomentar as competncias e habilidades dos profissionais de Servio
Social. As competncias e habilidades dizem respeito Lei de Regulamentao da profisso, ao
cdigo de tica, ao projeto tico-profissional.
A alternativa E est incorreta porque o estudo social no se destina a colaborar internamente
nas decises econmicas e polticas das instituies, principalmente no que diz respeito rea
sociojurdica. O profissional pode utilizar outros instrumentos como relatrios e instrumentos de
gesto, que iro incidir sob as polticas das organizaes.
Os estudos sociais so estruturados a partir dos sujeitos para os quais a ao est
dirigida, formas de abordagem desses sujeitos, bem como pela utilizao dos instrumentos tcnico-
operativos e pela produo de documentos. Documentos esses relacionados tanto s aes na
sua singularidade, como na produo de sistematizaes como: informes e relatrios que podem
desencadear outras aes profssionais, de si e de outros, ou subsidiar outras instncias de
planejamento, gesto e formulao de polticas sociais. (MIOTO, 2009, p. 488).
REFERNCIAS
CRESS. Conselho Regional de Servio Social 10 Regio. Coletnea de leis: revista e ampliada.
Porto Alegre: CRESS, 2005.
FAVERO, E. T. O estudo social: fundamentos e particularidades de sua construo na rea jurdica.
In: CFESS (Org.). O Estudo social em percias, laudos, pareceres tcnicos. 2. ed. So Paulo:
Cortez, 2004.
MIOTO, Regina Clia. Estudos Socioeconmicos. In: CFESS (Org.) Servio Social: direitos sociais
e competncias profssionais. Braslia: CFESS/ABEPSS, 2009.
Comentado
SERVIO SOCIAL
89
2010
QUESTO 34
O Servio Social uma das poucas profisses que possui um projeto profissional coletivo e
hegemnico, denominado Projeto tico-Poltico Profissional, que foi gestado no interior da categoria
profissional e que expressa seu compromisso com a construo de uma nova ordem societria, mais
justa, democrtica e garantidora de direitos universais.
CFESS. Cdigo de tica profssional do assistente social
(Resoluo 273/93).
O projeto mencionado no texto tem seus contornos claramente expressos na Lei n. 8.662/1993,
no Cdigo de tica Profissional de 1993, o qual assegura ao assistente social o direito de
A. desempenhar suas atividades profssionais com efcincia e responsabilidade, observando a
legislao em vigor.
B. utilizar, no exerccio da profsso, seu nmero de registro no Conselho Regional.
C. abster-se, no exerccio da profsso, de prticas que caracterizem a censura, o cerceamento
da liberdade, o policiamento dos comportamentos, denunciando sua ocorrncia aos rgos
competentes.
D. aprimorar seu conhecimento profssional de forma contnua, colocando-o a servio dos
princpios estabelecidos no prprio Cdigo.
E. participar de programas de socorro populao em situao de calamidade pblica, no
atendimento e na defesa de seus interesses e necessidades.
* Gabarito: Alternativa D.
* Tipo de questo: Escolha simples, com indicao da alternativa correta.
* Contedo avaliado: Cdigo de tica dos Assistentes Sociais.
* Autora: Thasa Teixeira Closs.
COMENTRIO
A construo do projeto tico-poltico fruto do processo de ruptura com o conservadorismo
na profisso, o qual tem seu maior desdobramento na dcada de 1980 e 1990. no movimento da
correlao de foras entre classes, como nos elucida Iamamoto (1995), que a profisso reconhece
as contradies sociais e implicaes polticas do seu prprio fazer profissional como polarizado pela
luta de classes, assumindo objetivamente o compromisso com os interesses dos usurios, dando um
Comentado
90
novo rumo s atividades profissionais. Essa vertente de renovao que difere das demais ocorridas
na profisso, denominada inteno de ruptura (NETTO, 2004), sustenta a construo desse projeto
e adquire hegemonia no mbito da profisso.
Esse projeto tem repercusses no campo da normatizao do exerccio profissional,
materializando-se na elaborao do atual Cdigo de tica Profissional dos Assistentes Sociais
(CFESS, 1993). Esse Cdigo nos remete vinculao do projeto profissional com um projeto social
radicalmente democrtico, com valores emancipatrios referentes conquista da liberdade, alm de
indicar a centralidade do trabalho na (re)produo da vida social (BARROCO, 2006).
A valorao tica do projeto profissional remete, prioritariamente, ao campo da ao
profissional frente questo social, balizando a intencionalidade e a direo do trabalho do assistente
social. Dessa forma, o Cdigo define princpios da atuao profissional, que expressam a direo
social do exerccio profissional. Alm disso, busca traduzir essa direo social em direitos, deveres
e vedaes ao exerccio profissional, tendo em vista tornar esse Cdigo um guia efetivo para as
aes profissionais diante das diferentes situaes que emergem no cotidiano dos espaos scio-
ocupacionais. Assim, o cdigo estabelece parmetros para a relao do assistente social frente aos
usurios, s instituies empregadoras e justia, alm de normatizar o sigilo profissional.
Nesse horizonte, a questo correta consiste na opo de letra D, pois apenas esta representa
um direito profissional dentre as opes listadas, os quais esto presentes no artigo 2 deste
Cdigo. Assim, o aprimoramento contnuo do conhecimento profissional constitui-se em um direito
fundamental, associado prpria qualidade dos servios prestados populao.
Os direitos profissionais previstos no Cdigo de tica podem ser apreendidos na tica de
recursos a serem acionados na relao com as instituies empregadoras e demais atores com quem
o assistente social interage, tendo em vista a defesa do exerccio profissional pautado na materializao
dos princpios ticos profissionais. Cabe destacarmos a importncia desse direito profissional, citado
na opo de letra D, tendo em vista as exigncias e desafios que se apresentam no cotidiano dos
processos de trabalho. A dinamicidade da realidade e das demandas profissionais requer um movimento
permanente do assistente social na busca de novos conhecimentos, tendo em vista a qualificao das
competncias profissionais e a viabilizao de formas alternativas de trabalho.
Esse processo pode ser apreendido na tica da educao permanente: formao contnua
mobilizada a partir de necessidades emergentes do processo de trabalho, mobilizando diferentes
processos educativos que empreendam respostas aos desafios concretos vivenciados neste mesmo
trabalho. Grupos de discusso e estudo no espao institucional, insero em cursos de capacitao
oferecidos pelas polticas e rgos pblicos, participao em cursos de ps-graduao, entre outras
modalidades de formao, so estratgias que podem ser acionadas nesse sentido.
As opes de letra A, B, C e E esto incorretas porque seus contedos referem-se aos
deveres profissionais, os quais so explicitados no artigo 3 do Cdigo de tica. Os deveres podem
ser entendidos como compromissos concretos a serem efetivados no exerccio profissional, sendo
o seu descumprimento passvel de responsabilizao tica e penalidades previstas pelo Cdigo.
Assim, o Cdigo de tica sinaliza para determinaes concretas no campo da competncia tico-
poltica (BARROCO, 2006): essa competncia no depende apenas de vontade poltica e adeso
a valores, mas sim da capacidade de torn-los concretos, na unidade entre as dimenses tica,
poltica, intelectual e prtica, como direo na prestao de servios sociais.
Assim, em relao opo de letra A desempenhar as atividades profissionais de forma
eficiente e responsvel, com ateno legislao vigente , este dever apresenta exigncias objetivas
para o trabalho profissional. Destaca-se a importncia do resultado das aes profissionais, ou seja,
eficincia entendida como um trabalho que tenha como produto a garantia de direitos, que empreenda
respostas qualificadas s demandas dos usurios e das instituies empregadoras. Nessa linha,
tambm a responsabilidade atributo essencial do trabalho profissional: responsabilidade tica,
compromissada e atenta com as repercusses de nossas aes junto populao usuria.
91
No que se refere atuao profissional que contemple a legislao em vigor, este dever
abarca tanto o cumprimento das legislaes referentes profisso, como tambm outras legislaes
relacionadas aos espaos scio-ocupacionais no qual desenvolvemos nosso trabalho. Dentre as
legislaes profissionais, merece ateno a Lei de Regulamentao da Profisso (BRASIL, 1993) e as
Resolues do Conjunto CFESS/CRESS, pois ambas regulam e respaldam o exerccio profissional.
Contudo tambm fundamental o conhecimento de outras legislaes, tais como aquelas referentes
aos direitos de segmentos sociais com os quais atuamos como, por exemplo, o Estatuto da Criana
e do Adolescente , as quais estabelecem parmetros e deveres para o nosso trabalho.
J a opo de letra B, qual seja, a utilizao do nmero de registro do Conselho Regional
durante o exerccio profissional, no pode ser entendida como uma formalidade, mas sim como
uma medida que auxilia na garantia de direitos da populao usuria dos servios profissionais.
Cabe destacar que a funo precpua dos Conselhos Regionais consiste na fiscalizao do exerccio
profissional, com base no Cdigo de tica e nas legislaes profissionais, buscando assegurar a
qualidade dos servios prestados pelos assistentes sociais sociedade.
O nmero de registro consiste numa forma de identificao do profissional de Servio Social
junto ao seu Conselho Regional, bem como se trata de uma identidade pblica frente populao
usuria, aos empregadores e a demais rgos pblicos e privados com os quais se relaciona durante
o exerccio profissional. Assim, possuir o nmero de registro significa a garantia para a sociedade de
que se trata de um profissional habilitado para o desempenho de atribuies e competncias relativas
rea de Servio Social. Alm disso, significa que esse profissional deve se ater a princpios e
deveres ticos em sua atuao, sendo passvel de ser responsabilizado tica e tecnicamente quando
infringir os parmetros previstos na sua legislao profissional.
A opo de letra C expressa claramente, em um dever profissional, o reconhecimento da
liberdade como valor central, princpio profissional presente no Cdigo de tica. Liberdade essa
apreendida histrica e socialmente: no desconsidera as determinaes colocadas pela realidade
e se posiciona frente a elas, apontando para uma nova direo social, que tenha o indivduo como
fonte de valor, mas dentro da perspectiva de que a plena realizao da liberdade de cada um requer
a plena realizao de todos (PAIVA, SALES, 2003, p. 182).
Dessa concepo de liberdade, decorre o compromisso com a autonomia, a emancipao e a
plena expanso dos indivduos sociais, princpios avessos s prticas tuteladoras, que desqualificam
crenas, valores e prticas sociais dos sujeitos. Assim, o dever profissional de abster-se da censura
e policiamentos de comportamentos tambm pode ser relacionado com negao de prticas de
moralizao da questo social (BARROCO, 2006), a qual consiste numa perspectiva conservadora
que atribui aos sujeitos a responsabilizao pelas desigualdades sociais por eles vivenciadas.
Esse dever profissional tambm se relaciona com o princpio tico da defesa intransigente
dos direitos humanos e recusa do autoritarismo, mobilizando o posicionamento tico-profissional
que se contrape s prticas institucionais violadoras de direitos, comunicando sua ocorrncia aos
rgos competentes. Contudo, mais do que a denncia dessas prticas, torna-se necessrio tecer e
fortalecer foras sociais para sua efetiva superao e qualificao dos servios pblicos: a busca de
articulaes com outros profissionais, a interlocuo com movimentos, rgos e instncias pblicas
de defesa de direitos.
Por fim, a opo de letra E aponta para o dever profissional de participar do atendimento
a populaes que foram alvo da ocorrncia de situaes de calamidade pblica. Trata-se do
compromisso do assistente social de integrar aes que visem no s ao atendimento imediato das
necessidades dessas populaes, como tambm integrar o planejamento e execuo de medidas e
aes governamentais na proteo e garantia dos direitos dessas populaes.
Comentado
92
REFERNCIAS
BARROCO, M.L.S. tica e servio social: fundamentos ontolgicos. 4. ed. So Paulo: Cortez, 2006.
BRASIL. Lei n 8.662, de 7 de junho de 1993. Dispe sobre a profsso de assistente social e d
outras providncias. Disponvel em: http://www.cfess.org.brf. Acesso em: 25 set. 2009.
CFESS. Resoluo CFESS n. 273/93, de 13 maro de 1993. Institui o Cdigo de tica Profssional
dos Assistentes Sociais. Disponvel em: http://www.cfess.org.brf. Acesso em: 17 jul. 2009.
IAMAMOTO, M. V. Renovao e conservadorismo no servio social: ensaios crticos. 2. ed. So
Paulo: Cortez, 1995.
NETTO, J. P. Ditadura e servio social: uma anlise do Servio Social no ps-64. 7. ed. So Paulo:
Cortez, 2004.
PAIVA, B. A. de; SALES, M. A. A nova tica profssional: prticas e princpios. In: DILSEA, A. B. (Org.).
Servio social e tica: convite a uma nova prxis. 5. ed . So Paulo: Cortez, 2003.
Comentado
SERVIO SOCIAL
93
2010
QUESTO 35
A atuao dos assistentes sociais nas empresas revela que h uma demanda crescente de
participao nos Crculos de Controle de Qualidade (CCQ), visando adeso dos trabalhadores s
metas empresariais de competitividade e produtividade. H, ainda, um crescente deslocamento do
Servio Social para a rea de Recursos Humanos, enfatizando a criao de comportamentos que
contribuam para a produtividade e a participao.
PORQUE
A substituio do modelo de produo fordista pelo toyotista exige o mximo de qualidade e
produtividade, investimento em tecnologia e a adeso dos trabalhadores.
IAMAMOTO, M. V. O Servio social na contemporaneidade: trabalho e
formao profssional. 4. ed. SP: Cortez, 2001 (adaptado).
SERRA, R. M. S. Trabalho e reproduo: enfoques e
abordagens. So Paulo: Cortez; Rio de Janeiro:
PETRES FSS/UERJ, 2001 (adaptado).
Analisando a relao proposta entre as duas asseres anteriores, assinale a opo correta.
A. As duas asseres so proposies verdadeiras, e a segunda uma justifcativa correta da
primeira.
B. As duas asseres so proposies verdadeiras, mas a segunda no uma justifcativa
correta da primeira.
C. A primeira assero uma proposio verdadeira, e a segunda uma proposio falsa.
D. A primeira assero uma proposio falsa, e a segunda uma proposio verdadeira.
E. As duas asseres so proposies falsas.
* Gabarito: Alternativa A.
* Tipo de questo: Escolha simples, com indicao da alternativa correta.
* Contedos avaliados: Modelo de gesto e organizao do trabalho e trabalho do assistente
social na empresa.
* Autora: Ana Lcia Surez Maciel.
COMENTRIO
Os Crculos de Controles de Qualidade (CCQ) tiveram origem no Japo, na dcada de
1960, como resultado de um impulso dado qualidade na indstria japonesa e do contato entre as
Comentado
94
universidades e os operadores de fbricas. Os CCQ podem ser definidos como sendo pequenos
grupos voluntrios de funcionrios pertencentes ou no mesma rea de trabalho, treinados da
mesma maneira, com compreenso da mesma filosofia e os mesmos objetivos, e que tentam melhorar
o desempenho, reduzir os custos e aumentar a eficincia, especialmente, no que se refere qualidade
dos seus produtos ou de seu trabalho. Seus principais objetivos so: aumentar a motivao e
autorrealizao dos funcionrios, atravs da oportunidade de participao na soluo dos problemas
da empresa; concorrer para a formao de uma mentalidade de qualidade disseminando a filosofia
de autocontrole e preveno de falhas; garantir a qualidade do produto; conseguir novas ideias;
aumentar a produtividade do trabalho; reduzir custos e diminuir perdas; melhorar a comunicao e o
relacionamento humano, tanto no sentido horizontal quanto vertical (HARVEY, 1998).
A emergncia dos CCQ se vincula com a alterao no padro de organizao e gesto do
trabalho, tendo em vista o processo de reestruturao produtiva que surgiu como estratgia do capital
para lidar com a sua prpria crise, que culminou na dcada de 1970, atravs de uma reviso no seu
processo de organizao e gesto do trabalho, assentado no padro taylorista-fordista. Este ltimo
um sistema de organizao industrial que foi criado pelo engenheiro mecnico e economista norte-
americano Frederick Winslow Taylor, no final do sculo XIX. A principal caracterstica desse sistema
a organizao e diviso de tarefas dentro de uma empresa com o objetivo de obter o mximo de
rendimento e eficincia com o mnimo de tempo e atividade.
No bojo da referida crise, a introduo de novas tecnologias emergiu como aliada fundamental
tanto na produo, propriamente dita, quanto nas relaes de trabalho. Esse modelo de gesto,
denominado de toyotista, pode ser compreendido como:
[...] um confronto direto com a rigidez do fordismo. Ela se apoia na fexibilidade dos processos de
trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e dos padres de consumo. Caracteriza-se pelo
surgimento de setores de produo inteiramente novos, novas maneiras de fortalecimento de servios
fnanceiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente intensifcadas de inovao comercial,
tecnolgica e organizacional (HARVEY, 1998, p. 140).
[...] uma nova forma produtiva que articula, de um lado, um signifcativo desenvolvimento tecnolgico
e, de outro, uma desconcentrao produtiva baseada em empresas mdias e pequenas artesanais.
[...] um modelo produtivo que recusa a produo em massa, tpico da grande indstria fordista, e
recupera uma concepo de trabalho que, sendo mais fexvel, estaria isenta da alienao do trabalho
intrnseca acumulao de base fordista (ANTUNES, 1997, p. 17).
Caractersticas como produo flexvel, desenvolvimento tecnolgico, intelectualizao do
trabalho, generalizao das funes, remunerao por lucro/capital intelectual e a emergncia de
um trabalhador-indivduo, em detrimento do trabalhador-massa do paradigma anterior, inauguram o
paradigma da acumulao flexvel (toyotista).
Como consequncias desse paradigma, a gesto e a organizao do trabalho tambm sofrem
alteraes significativas, quais sejam: a implementao de novas formas de atender a demanda por
produtos, com um mnimo de estoque; o melhor aproveitamento do tempo, atravs da implementao de
vrias metodologias; a busca pelo atendimento de exigncias mais especializadas, dos consumidores
e do mercado como um todo e marcadas pela excelncia e qualidade dos servios; a mudana
no perfil do trabalhador que passa a ser demandado pela sua polivalncia, multifuncionalidade e
capacidade de trabalhar em equipes de forma integrada e horizontal.
Para os trabalhadores, as consequncias desse novo padro de gesto do trabalho so
bastante intensas e repercutem na reduo do proletariado fabril estvel; no incremento de um novo
proletariado (trabalho precarizado e terceirizado); no aumento do trabalho feminino; no incremento
dos assalariados mdios e de servios; na excluso de jovens e pessoas de meia-idade do mercado
de trabalho e na incluso de crianas no mercado de trabalho (ANTUNES, 1999).
Os assistentes sociais, ao serem incorporados nas empresas, tambm tm seu trabalho
organizado nessa perspectiva, assim como veem uma alterao na demanda pelo mesmo, fruto
das substantivas alteraes que se processam no seu objeto profissional. Historicamente, a atuao
desse profissional esteve atrelada s necessidades de reproduo social dos trabalhadores,
95
entretanto, com a sua crescente incorporao nas reas de Recursos Humanos (FREIRE, 2001), a
demanda por contribuir com a gesto do trabalho passa a ser imperativa. Confirma essa percepo,
a concluso de que
[...] a emergncia histrica da institucionalizao do Servio Social na empresa, como mecanismo
tcnico e poltico atuando junto fora de trabalho, relaciona-se, obrigatoriamente, com o nvel de
efcincia, racionalidade e produtividade exigido pela modernizao do capital no contexto mais geral
do confito de classes no processo de produo (MOTA, 1987, p. 114).
Nesse sentido, a necessidade de criar estratgias de participao dos trabalhadores na
gesto das empresas se tornou condio sine qua non para o trabalho dos assistentes sociais.
Evidentemente que essas estratgias tm sua vinculao com o atual padro de organizao e
gesto do trabalho, j que neste o trabalhador precisa participar mais ativamente, tendo em vista o
aumento da competitividade e a necessidade de adeso dos trabalhadores s metas empresariais.
Portanto a alternativa correta A, j que as duas asseres so proposies verdadeiras, e
a segunda uma justificativa correta da primeira. A alternativa B incorreta, pois, como mencionado
na questo anterior, a segunda proposio uma justificativa da primeira. As alternativas C, D e E
esto incorretas, pois ambas as asseres so verdadeiras.
REFERNCIAS
ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade no mundo
do trabalho. 4. ed. So Paulo: Cortez; Campinas, So Paulo: Editora da Universidade Estadual de
Campinas, 1997.
______. Crise capitalista contempornea e as transformaes no mundo do trabalho. Capacitao
em Servio Social e poltica social. Mdulo 1: Crise contempornea, Questo Social e Servio
Social. Braslia: CEAD, 1999, p. 17-31.
FREIRE, Lcia. In: SERRA, R. M. S. Trabalho e reproduo: enfoques e abordagens. So
Paulo: Cortez; Rio de Janeiro: PETRES FSS/UERJ, 2001 (adaptado).
HARVEY, David. Condio ps-moderna. 7. ed. So Paulo: Edies Loyola, 1998.
IAMAMOTO, M. V. O Servio social na contemporaneidade: trabalho e formao profssional. 4.
ed. SP: Cortez, 2001 (adaptado).
MOTA, Ana Elizabete. O feitio da ajuda: as determinaes do Servio Social na empresa. 2. ed.
So Paulo: Cortez, 1987.
SERRA, R. M. S. Trabalho e reproduo: enfoques e abordagens. So Paulo: Cortez; Rio de
Janeiro: PETRESFSS/UERJ, 2001 (adaptado).
Comentado
96
Comentado
SERVIO SOCIAL
97
2010
QUESTO 36
Considere que, com o objetivo de orientar as intervenes direcionadas populao idosa,
residente na zona leste de um municpio do interior do estado do Esprito Santo, uma equipe tcnica
do Centro de Referncia da Assistncia Social (CRAS) tenha decidido realizar uma pesquisa sobre
a destinao dos recursos do Benefcio de Prestao Continuada (BPC). Suponha ainda que, com
essa medida, a equipe tenha tentado as reais necessidades desse segmento populacional e, assim,
possibilitar o acesso aos recursos disponveis de forma adequada e, consequentemente, proporcionar
a melhoria da condio de vida em sociedade.
Nessa situao e considerando a variao das necessidades em funo da faixa etria, a
amostra a ser adotada por essa pesquisa deve ser
A. sistemtica.
B. estratifcada.
C. aleatria simples.
D. no aleatria por julgamento.
E. embasada em estudo comparativo.
* Gabarito: Alternativa B.
* Tipo de questo: Escolha simples, com indicao da alternativa correta.
* Contedo avaliado: Defnio de amostra em pesquisa.
* Autores: Leonia Capaverde Bulla, Gissele Carraro e Ricardo Flores Cazanova.
COMENTRIO
Atravs dessa questo da Prova do ENADE 2010, pretendia-se avaliar a capacidade do
estudante de Servio Social em realizao de pesquisas que subsidiem a formulao de polticas e
aes profissionais e a produo de conhecimento em Servio Social (INEP, 2010, p. 3). Foi proposto,
ento, que fosse considerada uma situao hipottica vivida pela equipe do Centro de Referncia da
Assistncia Social (CRAS), que, entre outras atribuies, deveria definir as intervenes direcionadas
populao idosa, residente na zona leste de um municpio do interior do Estado do Esprito Santo,
destinando os recursos disponveis de forma adequada e, dessa forma, contribuindo para a melhoria
da condio de vida da populao. Com o objetivo de orientar as intervenes, decidiram realizar
Comentado
98
uma pesquisa sobre a destinao dos recursos do Benefcio de Prestao Continuada (BPC),
1
que
levasse em conta as reais necessidades dos idosos.
Na elaborao de um projeto de pesquisa, h necessidade de tomar deciso sobre as
condies que existem de estudar todos os indivduos ou elementos que fazem parte da populao
que se quer estudar, o denominado universo, ou se h necessidade de trabalhar com uma parte
dessa populao, a amostra. Na situao apresentada, o universo era a populao idosa de uma
zona de um municpio no Estado do Esprito Santo. Pelo que se deduz do problema proposto, a
equipe decidiu estudar uma parte desse universo, surgindo, ento, a questo da seleo da amostra,
processo denominado de amostragem.
Na bibliografia sobre Mtodos e Tcnicas de Pesquisa, podem ser citados diversos autores,
entre os quais Gil (1999), Marconi e Lakatos (2006), Richardson (1999), Soriano (2004), que
classificam o processo de amostragem em dois grandes grupos: amostragem probabilstica e no
probabilstica. A amostragem probabilstica , tambm, denominada de aleatria, porque todos os
elementos da populao ou universo da pesquisa tm a mesma probabilidade de serem escolhidos.
o tipo de amostragem mais utilizada na pesquisa quantitativa, porque atende os pressupostos
de verificao, preciso nas medidas, generalizao dos resultados, utilizando-se procedimentos
estatsticos sofisticados que possibilitam compensar erros amostrais e outros aspectos relevantes
para a representatividade e significncia da amostra (MARCONI, LAKATOS, 2006, p. 42). A
amostragem probabilstica apresenta variadas tcnicas de seleo, podendo-se citar entre elas:
a aleatria simples, a sistemtica, a estratificada, de vrios degraus ou estgios mltiplos, por
conglomerado ou grupos, por etapas.
Por outro lado, a amostragem no probabilstica no aplica a teoria da probabilidade, isto ,
no faz uso de formas aleatrias de escolha de elementos ou sujeitos, no apresentando, por isso,
possibilidades de uso de procedimentos estatsticos na seleo da amostra, no havendo condies
de generalizao de seus resultados, sendo mais utilizada na pesquisa qualitativa, que trabalha
com outros pressupostos. Fazem parte do tipo de amostragem no probabilstica, entre outras, as
seguintes tcnicas de seleo: intencional, por acessibilidade, por tipicidade, por cotas, por juris
ou por julgamento. As alternativas de resposta questo enunciada indicam trs tipos de amostra
probabilstica (sistemtica, estratificada e aleatria simples).
Para escolher-se o tipo de amostra adequada, preciso considerarem-se os elementos-chaves
da situao hipottica apresentada para anlise. No enunciado anterior, explicita-se que a pesquisa a
ser efetuada deve considerar as reais necessidades da populao idosa de uma zona do municpio
do interior do Estado do Esprito Santo, pois se considera que as necessidades da populao a ser
estudada variam em funo da faixa etria. A tcnica de amostragem que melhor responde a essa
necessidade a amostragem estratificada, que busca ser representativa em termos populacionais
e, para isso, leva em conta caractersticas da populao, tais como: sexo (percentagem de homens
e mulheres), idade (crianas e adolescentes, adultos, idosos), profisso, renda, nacionalidade,
condies econmicas, classe social etc. Essas caractersticas so chamadas de extratos e, quanto
mais extratos forem levados em considerao na montagem da amostra, maior a garantia de que
todos estejam representados (SORIANO, 2004, p. 209). Dessa forma, os procedimentos sero
mais precisos, e os resultados tero melhores condies de generalizao.
A amostragem estratificada, alternativa B, deve ser, portanto, a alternativa a ser adotada.
No caso, o segmento populacional idoso corresponde populao a ser estudada. Dentro desse
grupo, a equipe do CRAS levou em considerao aqueles que recebem o Benefcio de Prestao
Continuada (BPC). Como se pode constatar, duas propriedades foram eleitas para a amostra da
pesquisa: idade (populao idosa, pessoas com 65 anos ou mais, idade definida para o recebimento
do BPC) e renda (recebimento do benefcio assistencial).
1
A Lei Orgnica da Assistncia Social estabelece em seu artigo 20: O benefcio de prestao continuada a garantia de um
salrio-mnimo mensal pessoa com defcincia e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem no possuir meios
de prover a prpria manuteno nem de t-la provida por sua famlia (BRASIL, 1993; 2011).
99
As demais alternativas A, C, D e E no poderiam ser adotadas, devido s suas caractersticas
prprias e porque no satisfaziam s necessidades da pesquisa que estava sendo planejada. A
alternativa A foi descartada porque a amostra sistemtica s aplicvel quando a populao pode
ser identificada e ordenada a partir de uma lista que englobe todos os seus elementos, uma fila de
pessoas ou um conjunto de candidatos a um concurso, identificados pela ficha de inscrio (GIL,
1999, p. 102). A equipe no contava com essa possibilidade.
A alternativa C, amostra aleatria simples, no seria aplicvel, porque os idosos no teriam as
mesmas chances de serem sorteados, considerando-se que no se levariam em conta as diferentes
faixas etrias em que se colocam os idosos. A velhice no homognea, porque existem formas
diferenciadas de vivenciar o envelhecimento, porque as pessoas so diferentes, viveram experincias
singulares e esto inseridas em contextos diversos (BULLA, MARTINS, VALNCIO, 2009, p. 33).
O fato de terem mais de 60 anos no as coloca em iguais condies, porque, com o aumento da
expectativa de vida, so acrescentados muitos anos s vidas das pessoas e h os que alcanam
os 80, 90, 100 anos. Dessa forma, poderiam ser encontradas importantes diferenas na velhice,
perodo muito longo que pode incluir pessoas de 60 a 100 anos ou mais. Nesse perodo, podem ser
encontrados, no mnimo, dois subgrupos etrios: a faixa de 60 a 79 anos, seriam os idosos jovens,
que podem estar em pleno vigor, seja em termos de condies fsicas, psicolgicas ou sociais; os
que se situam na faixa de 80 anos e mais, considerados os mais idosos, podem apresentar um
maior grau de vulnerabilidade e risco em vrios aspectos (CAMARANO, KANSO, MELLO, 2004). Se
a velhice heterognea, as demandas que apresentam so diferentes e, na formulao de polticas
pblicas para o segmento, essas demandas diferenciadas devem ser consideradas. S a amostra
estratificada pode levar em conta essas diferenas.
A amostra no aleatria por julgamento, alternativa D, no leva em conta essas diferenas
e, portanto, no pode ser adotada. Esse tipo de amostra, denominada, tambm, de no aleatria
por jris, empregado quando se deseja obter informaes detalhadas, durante certo espao de
tempo, sobre questes particulares (MARCONI, LAKATOS, 2006, p. 52). Os sujeitos selecionados,
nesse caso, os participantes do julgamento, devem preencher relatrios detalhados sobre a situao
que est sendo estudada e julgada. Na situao citada, seria solicitado aos idosos para preencher
relatrios (dirios de despesa) sobre a destinao dos recursos do benefcio recebido. Essa
alternativa no seria vivel, porque no levaria em conta a variao das necessidades (e capacidades
dos idosos) em funo da faixa etria. Entre os idosos podem ser encontrados os que apresentam
limitaes fsicas decorrentes do prprio processo de envelhecimento humano (BULLA, MARTINS,
VALNCIO, 2009, p. 33) e os que sofrem de doenas incapacitantes que os impedem de realizar
determinadas tarefas. As dificuldades de viso e de motricidade, alm de outras que podem entre
os indivduos considerados mais idosos, dificultariam a elaborao dos relatrios sistemticos
necessrios aos estudos, que utilizam a amostra aleatria por julgamento. Esse tipo de amostra por
jris, por sua caractersticas e propsitos no se enquadra, portanto, no estudo apresentado.
A alternativa E foi descartada porque apresenta uma proposta metodologicamente diferente
da situao hipottica descrita anteriormente, que no se caracteriza como estudo comparativo, pois
no pretende estudar indivduos, classes, fenmenos ou fatos (GIL, 1999, p. 34) diferentes para
estabelecer as semelhanas e contrastes que possam existir entre eles. Reafirma-se, dessa forma,
a convenincia da adoo de uma amostra estratificada na pesquisa com idosos, que recebem o
Benefcio de Prestao Continuada, no contexto apresentado, desde que se pretenda realizar uma
pesquisa quantitativa, buscando-se a representatividade estatstica da populao, com pretenses
de generalizao dos resultados e validao cientfica.
REFERNCIAS
BULLA, Leonia Capaverde; MARTINS, Rosemara Rodrigues; VALNCIO, Gabriele. O Convvio do
idoso com Alzheimer com sua famlia: Qualidade de vida e suporte social. In: BULLA, Leonia Capaverde;
Comentado
100
ARGIMON, Irani (orgs.). Convivendo com o Familiar Idoso. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2009.
BRASIL. Lei N 8.742, de 07 de dezembro de 1993 Lei Orgnica da Assistncia Social
LOAS. Braslia: Dirio Ofcial da Unio, 1993. Alterada pela lei n. 12.435, de 6 de julho de
2011. Braslia: D.O.U., 2011.
CAMARANO, A. A; KANSO, S.; MELLO, J. L. Como vive o idoso brasileiro?. In: CAMARANO, Ana
Amlia. Os novos idosos brasileiros: muito alm dos 60. Rio de Janeiro: IPEA, 2004.
GIL, Antnio Carlos. Mtodos e tcnicas de pesquisa social. 5. ed. So Paulo: Atlas, 1999.
INEP. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Ansio Teixeira. Portaria n 225,
de 13 de julho de 2010. Estabelece as diretrizes para o Exame Nacional de Desempenho de
Estudantes (ENADE) na rea do Servio Social, em 2010. Braslia: Dirio Ofcial da Unio, 2010.
Disponvel em: <http://download.inep.gov.br/download/enade/2010/PD2010_servico_social.pdf>.
Acesso em: 21 set. 2011.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Tcnicas de Pesquisa. 6. ed. So Paulo:
Atlas, 2006.
RICHARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa Social: Mtodos e Tcnicas. 3. ed. So Paulo: Atlas, 1999.
SORIANO, Rojas. Manual de pesquisa social. Petrpolis: Vozes, 2004.
Comentado
SERVIO SOCIAL
101
2010
QUESTO 37
Considere que, em estudo realizado com adolescentes que cometeram ato infracional, tenha se
chegado aos resultados apresentados na tabela abaixo, no que concerne faixa etria dos pesquisados.
Adolescentes que cometeram infrao segundo faixa etria
Faixa etria N de adolescentes %
12-13 3 10
13-14 6 20
14-15 12 40
15-16 3 10
16-17 6 20
30 100
Com base nessas informaes, avalie as afirmativas que se seguem.
I. Os dados esto agrupados e pertencem etapa chamada de representao da pesquisa.
II. Observa-se simetria no grfco da distribuio do nmero de adolescentes pesquisados
por faixa etria.
III. Os dados so apresentados de forma a dar visibilidade a valores absolutos e relativos.
IV. Os dados mostram que a maioria dos adolescentes pesquisados tem entre 14 e 15
anos de idade.
correto apenas o que se afirma em
A. (A) I e II.
B. (B) I e III.
C. (C) II e IV.
D. (D) I, III e IV.
E. (E) II, III e IV.
* Gabarito: Alternativa B.
* Tipo de questo: Escolha combinada, com indicao da resposta correta.
* Contedo avaliado: Anlise de dados quantitativos.
* Autora: Gleny Terezinha Duro Guimares.
Comentado
102
COMENTRIO
A tabela apresentada do tipo simples, cuja anlise univariada, ou seja, anlise de apenas
uma varivel que, no caso, a faixa etria. A alternativa B a correta, considerando que as afirmativas
I e III explicitam as questes a seguir.
Afirmativa I. Os dados esto agrupados e pertencem etapa chamada de representao da
pesquisa ou mais especificamente a representao dos resultados da pesquisa. Essa afirmativa est
correta porque a primeira coluna do grfico representa a faixa etria dos adolescentes pesquisados. Os
dados demonstram que foram pesquisados adolescentes da faixa etria dos 12 aos 17 anos de idade.
Afirmativa III. Os dados so apresentados de forma a dar visibilidade a valores absolutos
e relativos. Os valores absolutos representam o algarismo independentemente de sua posio
numrica, no caso, o nmero de adolescentes observados por faixa etria. A tabela apresenta
na terceira coluna a porcentagem de adolescentes observados por faixa etria, isto , em termos
relativos (quantos em cem esto naquela faixa de idade).
As alternativas A, C, D e E esto incorretas porque relacionam-se com as afirmativas
incorretas, que so as elencadas a seguir.
Afirmativa II. Observa-se simetria no grfico da distribuio do nmero de adolescentes
pesquisados por faixa etria. A tabela no demonstra simetria na frequncia das respostas, na
medida em que os resultados em porcentagens so diferentes nas classes equidistantes da central.
Assim, observam-se 10% na faixa de 12 a 13 anos (menor) e, na classe de 16 a 17 anos (superior),
tm-se 40% dos adolescentes. Na faixa dos 13 a 14 anos, tm-se 20%, ao passo que, na faixa dos
15 a 16 anos, de 10%. Se houvesse a simetria, essas percentagens seriam iguais.
Afirmativa IV. A concluso de que os dados mostram que a maioria dos adolescentes
pesquisados tem entre 14 e 15 anos de idade est incorreta, pois os dados demonstram que 40%
(no superior a 50%) dos adolescentes que cometeram infrao se encontram na faixa etria entre
os 14 e 15 anos de idade. Esta faixa foi a mais frequente, tambm chamada de modal, mas no
representa a maioria.
REFERNCIAS
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Tcnicas de Pesquisa: planejamento e
execuo de pesquisas, amostragens e tcnicas de pesquisas, elaborao, anlise e interpretao
de dados. 3. ed. So Paulo: Atlas, 1996.
MOSCOROLA, Henrique F. J. Anlise de dados quantitativos & qualitativo: casos aplicados
usando o Sphinx. Porto Alegre: Editora Sagra Luzzatto, 2000.
Editorao Eletrnica
Formato
Tipografa
Nmero de Pginas
Rodrigo Valls
210 x 297 mm
Akkurat; Arial
103
Você também pode gostar
- Relações públicas comunitárias: A comunicação numa perspectiva dialógica e transformadoraNo EverandRelações públicas comunitárias: A comunicação numa perspectiva dialógica e transformadoraAinda não há avaliações
- A dimensão técnico-operativa no Serviço Social: desafios contemporâneosNo EverandA dimensão técnico-operativa no Serviço Social: desafios contemporâneosNota: 3.5 de 5 estrelas3.5/5 (4)
- 1º Ano SOCIOLOGIA, - Atividades ImpressasDocumento6 páginas1º Ano SOCIOLOGIA, - Atividades Impressasdeisy100% (1)
- APOSTILA DE SOCIOLOGIA ENSINO MÉDIO1 serieEM PDFDocumento20 páginasAPOSTILA DE SOCIOLOGIA ENSINO MÉDIO1 serieEM PDFAlana Nascimento100% (2)
- INTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA - Plano de DisciplinaDocumento2 páginasINTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA - Plano de DisciplinaAbiru1902Ainda não há avaliações
- Av 1 Bim 1° Eja MedioDocumento2 páginasAv 1 Bim 1° Eja MedioAllisson GoncalvesAinda não há avaliações
- O lugar do marxismo na formação profissional em serviço socialNo EverandO lugar do marxismo na formação profissional em serviço socialAinda não há avaliações
- Antropologia e Sociologia Da Educação-1Documento147 páginasAntropologia e Sociologia Da Educação-1leticiapaula.paula00Ainda não há avaliações
- Fundamentos Sociológicos e AntropológicosDocumento8 páginasFundamentos Sociológicos e AntropológicosMercedesZambranoAinda não há avaliações
- LivroDocumento384 páginasLivroRose Lepke AlvesAinda não há avaliações
- Antropologia e Sociologia Do Direito Trabalho de Antropologia e Sociologia Do Direito Paulo Henrique Paulin Da Silva 14329Documento2 páginasAntropologia e Sociologia Do Direito Trabalho de Antropologia e Sociologia Do Direito Paulo Henrique Paulin Da Silva 14329paulohenriquepaulinAinda não há avaliações
- Artigo - O PAPEL DA RELIGIÃO NO CONSERVADORISMO DE EDMUND BURKE UMA ANÁLISE DA OBRA REFLEXÕES SOBRE A REVOLUÇÃO NA FRANÇADocumento34 páginasArtigo - O PAPEL DA RELIGIÃO NO CONSERVADORISMO DE EDMUND BURKE UMA ANÁLISE DA OBRA REFLEXÕES SOBRE A REVOLUÇÃO NA FRANÇARodrigo Webber CarlosAinda não há avaliações
- Jose Antonio Estag.3 Projeto de EnsinoDocumento9 páginasJose Antonio Estag.3 Projeto de Ensinojose.sjunAinda não há avaliações
- A lógica territorial na gestão das políticas sociaisNo EverandA lógica territorial na gestão das políticas sociaisAinda não há avaliações
- Sociologia VU EMDocumento266 páginasSociologia VU EMJardim de SofiaAinda não há avaliações
- A Origem Da Arte e o Gosto Estetico Entr-2Documento228 páginasA Origem Da Arte e o Gosto Estetico Entr-2André LeiteAinda não há avaliações
- Capitulo BERNARDO GUERRA e ENZO BELLO em ENSAIOS - CRITICOS - CIDADANIA - EDUCS - EBOOKDocumento27 páginasCapitulo BERNARDO GUERRA e ENZO BELLO em ENSAIOS - CRITICOS - CIDADANIA - EDUCS - EBOOKBernardo GuerraAinda não há avaliações
- CALIMAN ParadigmasdaExclusaoSocialDocumento357 páginasCALIMAN ParadigmasdaExclusaoSocialWilliam Bandeira PedrosoAinda não há avaliações
- Tópico Espcial VI - Individuo, Cultura e Sociedade - Emanuel FreitasDocumento5 páginasTópico Espcial VI - Individuo, Cultura e Sociedade - Emanuel FreitasKurt WilckensAinda não há avaliações
- DURKHEIM, Émile TARDE, Gabriel. A Sociologia e As Ciências SociaisDocumento9 páginasDURKHEIM, Émile TARDE, Gabriel. A Sociologia e As Ciências SociaisLetícia Figueira KulaitisAinda não há avaliações
- Sociologia Da EducaçãoDocumento108 páginasSociologia Da EducaçãoHigo MenesesAinda não há avaliações
- Sociologia I 2024 1 Prof Bruno DurãesDocumento3 páginasSociologia I 2024 1 Prof Bruno DurãesGabriel RezendeAinda não há avaliações
- Celia E. Caregnato e Russel T. Dutra Da Rosa SA 2023.2Documento4 páginasCelia E. Caregnato e Russel T. Dutra Da Rosa SA 2023.2Elisangela ReinheimerAinda não há avaliações
- Pensamento Filosofico Na Administracao PublicaDocumento306 páginasPensamento Filosofico Na Administracao PublicaStella AzevedoAinda não há avaliações
- Livro - Sociologia e Educação PDFDocumento227 páginasLivro - Sociologia e Educação PDFdesimportancias100% (3)
- PLANO DA DISCIPLINA - Sociologia PDFDocumento4 páginasPLANO DA DISCIPLINA - Sociologia PDFVanusa MariaAinda não há avaliações
- SociologiaDocumento92 páginasSociologiaRoney LimaAinda não há avaliações
- Recursos Didáticos em Aulas de SociologiaDocumento18 páginasRecursos Didáticos em Aulas de SociologiaAnderson VicenteAinda não há avaliações
- Lília JunqueiraDocumento17 páginasLília JunqueiraIsabelle SennaAinda não há avaliações
- Sociologia Aplicada A Administracao PublicaDocumento70 páginasSociologia Aplicada A Administracao Publicarenatasbrl1Ainda não há avaliações
- FundamentosAntropologicosSociologicos 2014Documento256 páginasFundamentosAntropologicosSociologicos 2014Felipe Schulz44% (9)
- Pensar SociologiaDocumento7 páginasPensar SociologiaDavi BarbozaAinda não há avaliações
- Apostila de Sociologia para o 1º Ano Ensino MédioDocumento28 páginasApostila de Sociologia para o 1º Ano Ensino MédioMarcela Ribeiro100% (1)
- O Ensino Médio E As Principais Teorias Em Sociologia, Filosofia E PsicologiaNo EverandO Ensino Médio E As Principais Teorias Em Sociologia, Filosofia E PsicologiaAinda não há avaliações
- EPISTEMOLOGIA E MÉTODO DE PESQUISA - ObrigatóriaDocumento3 páginasEPISTEMOLOGIA E MÉTODO DE PESQUISA - ObrigatóriaPaulo Gracino JúniorAinda não há avaliações
- Ementa Teoria Social IVDocumento2 páginasEmenta Teoria Social IVDiego CalmonAinda não há avaliações
- Entre tipos e recortes: histórias da imprensa integralista - volume 2No EverandEntre tipos e recortes: histórias da imprensa integralista - volume 2Ainda não há avaliações
- Enade 2011 ComentadoDocumento124 páginasEnade 2011 ComentadoLeonardo VivaldoAinda não há avaliações
- 2484 1018 PBDocumento217 páginas2484 1018 PBMayara FernandaAinda não há avaliações
- Ciencias Humanas e SociaisDocumento216 páginasCiencias Humanas e Sociaisescola dominical ebd100% (1)
- Ementa Sociologia e Antropologia Jurídica-Rafael-Marchesan-TauilDocumento6 páginasEmenta Sociologia e Antropologia Jurídica-Rafael-Marchesan-TauilhevilinsenaAinda não há avaliações
- Psicologia Social: Disciplina: Sujeito e Sociedade-Teoria Contemporânea Psicologia SocialDocumento28 páginasPsicologia Social: Disciplina: Sujeito e Sociedade-Teoria Contemporânea Psicologia SocialRicardo CunhaAinda não há avaliações
- Sociologia-Sequencia Didatica-1nemDocumento3 páginasSociologia-Sequencia Didatica-1nemGenival Conrado ConradoAinda não há avaliações
- Avaliação - Parte 1 (Múltipla Escolha)Documento4 páginasAvaliação - Parte 1 (Múltipla Escolha)positivo 27Ainda não há avaliações
- Sociologia Geral JuridicaDocumento90 páginasSociologia Geral JuridicaJoaquim Jaime JoséAinda não há avaliações
- APOSTILA DIGITAL PMRJ - SociologiaDocumento35 páginasAPOSTILA DIGITAL PMRJ - SociologiaPriscilla CuritybaAinda não há avaliações
- Educação Sociedade e Cultura - Plano de Ensino 2022-1Documento14 páginasEducação Sociedade e Cultura - Plano de Ensino 2022-1Cleide RabeloAinda não há avaliações
- Faisting e Farias - Direitos Humanos, Diversidade e Movimentos Sociais - Um Dialogo NecessarioDocumento308 páginasFaisting e Farias - Direitos Humanos, Diversidade e Movimentos Sociais - Um Dialogo NecessarioRamon BarbosaAinda não há avaliações
- A Pratica Docente Ea Perpetuacao de Este PDFDocumento194 páginasA Pratica Docente Ea Perpetuacao de Este PDFWando GustavoAinda não há avaliações
- ABRANTES, Pedro - para Uma Teoria Da SocializaçãoDocumento19 páginasABRANTES, Pedro - para Uma Teoria Da SocializaçãoAnonymous 1WG7xKAinda não há avaliações
- Revista Askesis Vol01 Num01 2012Documento256 páginasRevista Askesis Vol01 Num01 2012Alex RegisAinda não há avaliações
- Resenhas Gilbson Gomes BentoDocumento6 páginasResenhas Gilbson Gomes BentoGILBSON GOMES BENTOAinda não há avaliações
- Revista Antropolitica 22Documento294 páginasRevista Antropolitica 22Pablo DolenecAinda não há avaliações
- Área de Ciências Humanas e Sociais AplicadasDocumento4 páginasÁrea de Ciências Humanas e Sociais AplicadasFlavio Jose DionysioAinda não há avaliações
- 08 Area de Ciencias Humanas e Sociais AplicadasDocumento4 páginas08 Area de Ciencias Humanas e Sociais AplicadasLuiz MarcelAinda não há avaliações
- Livro Analises Sociologicas FinalDocumento305 páginasLivro Analises Sociologicas FinalGabrielaHonoratoAinda não há avaliações
- Sociologia GilmarDocumento72 páginasSociologia GilmarClaudio MalaquiasAinda não há avaliações
- Amiguinho - A - Educação em Meio Rural e Desenvolvimento Local - Revista Portuguesa de EducaçãoDocumento37 páginasAmiguinho - A - Educação em Meio Rural e Desenvolvimento Local - Revista Portuguesa de EducaçãoSílvia PalmaAinda não há avaliações
- Democracia em Tempos Difíceis: Inderdisciplinaridade, Política e SubjetividadesNo EverandDemocracia em Tempos Difíceis: Inderdisciplinaridade, Política e SubjetividadesAinda não há avaliações