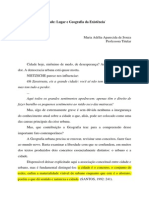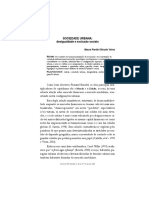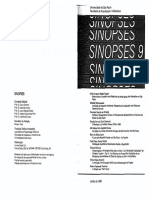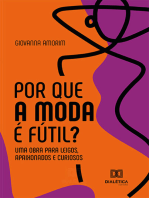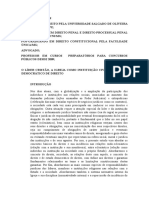Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
LEFEBVRE, Henri - A Revolução Urbana PDF
Enviado por
sofia_lobatoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
LEFEBVRE, Henri - A Revolução Urbana PDF
Enviado por
sofia_lobatoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
-j
a ? <
**^
I*"J{
1;
fc_
H E
i
l
r
u o
D A C I D A D E A
S O C I E D A D E U R B A N A
Partiremos de uma hiptese: a urbanizao completa da
sociedade. H iptese que posteriormente ser sustentada por
argumentos, apoiada em fatos. E sta hiptese implica uma defi-
nio. D enominaremos "sociedade urbana" a sociedade que
resulta da urbanizao completa, hoje virtual, amanh real.
E ssa definio acaba com a ambiguidade no emprego dos
termos. C om efeito, frequentemente se designa por essas pala-
vras, "sociedade urbana", qualquer cidade ou cite-} a cite grega,
a cidade oriental ou medieval, a cidade comercial ou industrial,
a pequena cidade ou a megalpolis. N uma extrema confuso,
esquece-se ou se coloca entre parnteses as relaes sociais
(as relaes de produo) das quais cada tipo urbano soli-
drio. C ompara-se entre si"sociedades urbanas" que nada tm
de comparveis. I sso favorece as ideologias subjacentes: o
organicismo (cada "sociedade urbana", em simesma, seria um
"todo" orgnico), o continusmo (haveria continuidade his-
trica ou permanncia da "sociedade urbana"), o evolucionismo
(os perodos, as transformaes das relaes sociais, esfu-
mando-se ou desaparecendo).
A qui, reservaremos o termo "sociedade urbana" sociedade
que nasce da industrializao. E ssas palavras designam, por-
tanto, a sociedade constituda por esse processo que domina e
absorve a produo agrcola. E ssa sociedade urbana s pode
ser concebida ao final de um processo no curso do qual explo-
dem as antigas formas urbanas, herdadas de transformaes
descontnuas. U m importante aspecto do problema terico o
de conseguir situar as descontinuidades em relao s conti-
nuidades, e inversamente. C omo existiriam descontinuidades
a
Kl
t
l
absolutas sem continuidades subjacentes, sem suporte e sem
processo inerente? Reciprocamente, como existiria continui-
dade sem crises, sem o aparecimento de elementos ou cie
relaes novas?
As cincias especializadas (ou seja, a sociologia, a econo-
mia poltica, a histria, a geografia humana etc.) propuseram
numerosas denominaes para caracterizar a "nossa" socie-
dade, realidade e tendncias profundas, atualidade e virtuali-
clacles. Pde-se falar de sociedade industrial e, mais recente-
mente, cie sociedade ps-industrial, cie sociedade tcnica, de
sociedade de abundnci a, de lazeres, de consumo etc. Cada
uma dessas denominaes comporta uma parcela de verdade
emprica ou conceituai, de exagero e de extrapolao. Para
denominar a sociedade ps-industrial, ou seja, aquel a que
nasce da industrializao e a sucede, propomos aqui este con-
ceito: sociedade urbana^ que designa, mais que um fato con-
sumado, a t endncia, a orientao, a virt ual idade. Isso, por
consegui nt e, no t ira o valor cie out ra caracterizao crtica
cia real idade contempornea como, por exemplo, a anlise
da "sociedade burocrt ica de consumo dirigido''.
Trata-se cie uma hiptese terica que o pensamento cientfico
tem o direito de formular e de tomar como ponto de partida. Tal
procedimento no s corrente nas cincias, como neces-
srio. No h cincia sem hipteses tericas. Destaquemos
clescle logo que nossa hiptese, que concerne s cincias ditas
"sociais", est vincul ada a uma concepo epistemolgica e
metodolgica. O conhecimento no necessariamente cpia
ou reflexo, simulacro ou simulao, de um objeto j real. Em
cont rapart ida, ele no constri necessariamente seu objeto em
nome cie uma teoria prvia cio conhecimento, cie uma teoria cio
objeto ou cie "modelos". Para ns, aqui , o objeto se incl ui na
hiptese, ao mesmo t empo em que a hiptese refere-se ao
objeto. Se esse "objeto" se situa alm cio constatvel (emprico),
nem por isso ele fictcio. Enunciamos um objeto virtual, a
sociedade urbana, ou seja, um objeto possvel, do qual teremos
que mostrar o nascimento e o desenvolvimento relacionando-os
a um processo e a uma prxis (uma ao prtica).
Que essa hiptese eleva ser l egit imada, no deixaremos
cie rei t erar e t ent ar. Os argument os e provas em seu favor
no f a l t a m, das mais simples s mais sutis.
16
Ser preciso insistir demoradamente que a produo agrcola
perdeu toda autonomia nos grandes pases industriais, bem como
escala mundial? Que ela no mais representa nem o setor
principal , nem mesmo um setor dotado de caractersticas
distintivas ( ano ser no subdesenvolvimento)? Mesmo conside-
rando que as particularidades locais e regionais provenientes
dos tempos em que a agricultura predominava no desapare-
ceram, que as diferenas da emanadas acentuam-se aqui e ali,
no menos certo que a produo agrcola se converte num
setor da produo industrial, subordinada aos seus imperati-
vos, submetida s suas exigncias. Crescimento econmico,
industrializao, tornados ao mesmo tempo causas e razes
supremas, estendem suas consequncias ao conjunto dos terri-
trios, regies, naes, continentes. Resultado: o agrupamento
tradicional prprio vida camponesa, a saber, a aldeia, trans-
forma-se; unidades mais vastas o absorvem ou o recobrem;
ele se integra indstria e ao consumo dos produtos dessa
indstria. A concentrao da populao acompanha a dos meios
de produo. O tecido urbano prolifera, estende-se, corri os
resduos de vida agrria. Estas palavras, "o tecido urbano",
no designam, de maneira restrita, o domnio edificado nas
cidades, mas o conjunto das manifestaes do predomnio da
cidade sobre o campo. Nessa acepo, uma segunda residncia,
uma rodovia, um supermercado em pleno campo, fazem parte
cio tecido urbano. Mais ou menos denso, mais ou menos espesso
e ativo, ele poupa somente as regies estagnadas ou arrui-
nadas, devotadas "natureza". Para os produtores agrcolas,
os "camponeses", projeta-se no horizonte a agrovila, desa-
parecendo a velha aldeia. Prometida por N. Khrouchtchev
aos camponeses soviticos, a agrovila concretiza-se aqui e
ali no munclo. Nos Estados Unidos, exceto em algumas regies
cio Sul, os camponeses virtualmente desapareceram; apenas
persistem ilhotas de pobreza camponesa ao lado das ilhotas
de pobreza urbana. Enquanto esse aspecto do processo global
(indust rial izao e/ou urbanizao) segue seu curso, a grande
cidade explodiu, dando lugar a duvidosas excrescncias: subr-
bios, conjuntos residenciais ou complexos industriais, peque-
nos aglomerados satlites pouco diferentes de burgos urba-
nizados. As cidades pequenas e mdias tornam-se dependncias,
semicolnias da metrpole. assim que nossa hiptese impe-se,
ao mesmo tempo como ponto cie chegada dos conhecimentos
17
i
g
i
Q
K\
1 o
*p
iV |
S
adquiridos e como ponto de part i da de um novo estudo e de
novos projetos: a urbanizao completa. A hiptese a antecipa.
E la prolonga a tendncia f undament al do presente. Atravs e
no seio da "sociedade burocrtica de consumo dirigido" a
sociedade urbana est em gestao.
Argumento negativo, demonstrao pelo absurdo: nenhuma
outra hiptese convm, nenhuma outra abarca o conj unt o cios
problemas. Sociedade ps-industrial? Coloca-se urna questo:
o que vem depois da industrializao? Sociedade de lazeres?
Cont ent a- se com uma part e da questo; l i mi t a- se o exame cias
tendncias e virtualiclacles aos "equipamentos", at i t ude realista
que deixa i nt act a a demagogia dessa def i ni o. Consumo
macio aument ando i ndef i ni dament e? Contenta-se em tomar
os ndices at uai s e- extrapol-los, arriscando-se assim a reduzir
realidade e virtualidades a um nico de seus aspectos. E assim
por diante.
A expresso "sociedade urbana" responde a uma necessi-
dade terica. No se trata simplesmente de uma apresentao
literria ou pedaggica, nem de uma formalizao do saber
adquirido, mas de uma elaborao, cie uma pesquisa, e mesmo
de urna formao de conceitos. Um movimento cio pensamento
em direo a um certo concreto e talvez para o concreto se esboa
e se precisa. Esse movimento, caso se conf irme, conduzir a
uma prtica, a prtica urbana, apreendida ou re-apreendida.
Sem dvida, haver um umbral a transpor antes de entrar no
concreto, isto , na prt i ca social apreendida teoricamente.
No se t r at a, por t ant o, de buscar uma receita emprica para
f abr i car este produt o, a real i dade ur bana. No isso o que
f r equent ement e se espera do "urbani smo" e o que mui t as
vezes os "ur bani st as" prometem? Cont ra o empi ri smo que
const at a, cont ra as extrapolaes que se avent ur am, cont r a,
enf i m, o saber em migalhas pretensamente comestveis, uma
teoria que se anunci a a par t i r de uma hiptese terica. A essa
pesquisa, a essa elaborao, associam-se procedimentos de
mtodo. Por exemplo, a pesquisa concernente a um objeto
virtual, para clef ini-lo e realiz-lo a part i r de um projeto, j
tem um nome. Ao lado dos procedimentos e operaes clssicas,
a deduo e a induo, h a transduo (reflexo sobre o objeto
possvel).
O conceito cie "sociedade urbana" apresentado anteriormente
implica, portanto, simultaneamente, uma hiptese e uma definio.
18
Do mesmo modo, em seguida, utilizando-se as palavras
"revoluo urbana", designaremos o conjunto das transfor-
maes que a sociedade contempornea atravessa para passar
do perodo em que predominam as questes de crescimento
e cie industrializao (modelo, planificao, programao) ao
perodo no qual a problemtica urbana prevalecer decisiva-
mente, em que a busca das solues e das modalidades pr-
prias sociedade urbana passar ao primeiro plano. E ntre as
transf ormaes, algumas sero bruscas. Outras graduais, pre-
vistas, concertadas. Quais? Ser preciso tentar responder esta
questo legtima. De antemo, no certo que, para o pensa-
mento, a resposta seja clara, satisf atria, sem ambiguidade.
As palavras "revoluo urbana" no designam, por essncia,
aes violentas. E las no as excluem. Como separar anteci-
padamente o que se pode alcanar pela ao violenta e o que
se pode produzir por uma ao racional? No seria prprio
da violncia desencadear-se? E prprio ao pensamento reduzir
a violncia ao mnimo, comeando por destruir os grilhes
no pensamento?
No que concerne ao urbanismo, eis duas balizas no caminho
que ser percorrido:
a) muitas pessoas, desde alguns anos, tm visto no urba-
nismo uma prtica social com carter cientfico e tcnico. Nesse
caso, a reflexo terica poderia e deveria apoiar-se nessa
prtica, elevando-a ao nvel dos conceitos e, mais precisa-
mente, ao nvel epistemolgico. Ora, a ausncia de uma tal
epistemologia urbanstica flagrante. Iremos aqui nos esforar
para preencher tal lacuna? No. Com ef eito, essa lacuna tem
um sentido. No seria porque o carter institucional e ideol-
gico disso a que se chama urbanismo prevalece, at nova or-
dem, sobre o carter cientfico? Supondo que esse procedi-
mento possa se generalizar, e que o conhecimento sempre
passe pela epistemologia, o urbanismo contemporneo parece
distante disso. preciso saber por que e diz-lo;
b) tal como ele se apresenta, ou seja, como poltica (com
esse duplo aspecto institucional e ideolgico), o urbanismo
condiciona-se a uma dupla crtica: uma crtica de direita e
uma crtica de esquerda.
A crtica de direita, ningum a ignora, de bom grado
passadista, no raro humanista. E la oculta e justif ica, direta
19
O
, ? > . r
U
ou i ndi r et ament e, uma ideologia neoliber al, ou s ej a, a "livr e
empr esa". Ela abr e o caminho a toclas as iniciativas "pr ivadas"
dos capi t ali s t as e cie seus capitais.
A crtica de esquerda, mui t os aincla a ignor am, no aquela
pr onunci ada por esse ou aquele gr upo, agr emiao, par tido,
apar elho, ou idelogo clas s i f i cados " es quer da". aquel a
que tenta abr i r a via do possvel, explor ar e bali z ar um ter r eno
que no seja simplesmente aquele do "r eal", do r ealizado,
ocupado pelas for as econmicas, sociais e polticas existentes.
, por tanto, uma cr tica u-tpica, pois toma distncia em r elao
ao "r eal", sem, por isso, per d-lo de vista.
Dito isso, tr acemos um eixo:
-100%
que vai da ausncia de ur banizao (a "pur a nat ur eza", a ter r a
ent r egue aos "elementos") culmi nao do pr ocesso. S ignif i-
cante desse significado o urbano (a r ealidade ur bana) ,
esse eixo ao mesmo tempo espacial e tempor al: espacial,
por que o pr ocesso se estende no espao que ele modifica;
tempor al, uma vez que se desenvolve no tempo, aspecto cie
incio menor , depois pr edomi nant e, da pr tica e da hi s t r i a.
Esse es quema apr es ent a apenas um aspecto dessa hi s t r i a,
um r ecor te do tempo at cer to ponto abs tr ato e ar bi t r r i o,
dando l ugar a oper aes (per iodizaes) entr e out r as , no
i mpli cando em ne nhum pr i vi lgi o abs olut o, mas numa i gual
necessidade (r elativa) em r elao a outr os r ecor tes.
No cami nho per cor r ido pelo "f enmeno ur bano" (numa
palavr a: o ur bano), coloquemos algumas balizas. No incio, o
que h? Populaes destacadas pela etnologia, pela antr opo-
logia. Em tor no desse zer o inicial, os pr imeir os gr upos humanos
(coletor es, pescador es, caador es, talvez pastor es) mar car am e
nomear am o espao; eles o explor ar am balizanclo-o. Indicar am
os lugar es nomeados, as topias f undament ai s . Topologia e gr acle
espacial que, mais tar eie, os camponeses, sedentar izados, aper -
f ei oar am e pr eci s ar am sem per t ur bar sua t r ama. O que impor ta
saber que em mui t os lugar es no mundo, e sem d vi da em
todos os lugar es onde a histr ia apar ece, a cidade acompanhou
ou seguiu de per to a aldeia. A r epr esentao segundo a qual o
campo cult i vado, a aldeia e a civilizao camponesa, ter iam
lentamente secr etado a r ealidade ur bana, cor r esponde a uma
ideologia. Ela gener aliza o que se passou na Eur opa por oca-
sio da decomposio da r omanidade (do Impr io Romano)
e da r econstituio das cidades na Idade Mdia. Pode-se muito
bem s us t ent ar o contr r io. A agr i cult ur a somente super ou a
coleta e se cons tituiu como tal sob o impulso (autor itr io) de
centr os ur banos , ger almente ocupados por conquistador es
hbeis, que se tor nar am pr otetor es, explor ador es e opr essor es,
isto , administr ador es, fundador es de um Estado ou de um
esboo de Estado. A cidade poltica acompanha, ou segue de
per to, o estabelecimento de uma vida social or ganizada, da
agr i cult ur a e da aldeia.
evidente que essa tese no tem sentido quando se tr ata
cios imensos espaos oncle um seminomadismo, uma miser vel
agr i cult ur a i t i ner ant e sobr eviver am inter minavelmente. cer to
que ela se apoia sobr etudo nas anlises e documentos r elativos
ao "modo de pr oduo asitico", s antigas civilizaes cr ia-
dor as, ao mesmo tempo, de vida ur bana e de vida agr r ia
(Mesopotmia, Egito etc.2). A questo ger al das r elaes entr e
a cidade e o campo est longe de ser r esolvida.
A r r isquemo-nos, ento, a colocar a cidade poltica no eixo
espao-tempor al per to da or igem. Quem povoava essa cidade
poltica? Sacer dotes e guer r eir os, pr ncipes, "nobr es", chefes
mi li t ar es . Mas tambm administr ador es, escr ibas. A cidade
poltica no pode ser concebida sem a escr ita: documentos,
or dens, inventr ios , cobr ana de taxas. Ela i nt ei r ament e
or dem e or denao, poder . Todavia, ela tambm implica um
ar tes anato e tr ocas, no mnimo par a pr opor cionar os mater iais
indispensveis guer r a e ao poder (metais, cour os etc.), par a
elabor -los e conser v-los. Consequentemente, ela compr eende,
de maneir a s ubor di nada, ar tesos, e mesmo oper r ios. A
cidade poltica administr a, pr otege, explor a um ter r itr io fr e-
quentemente vasto, a dir igindo os gr andes tr abalhos agr colas:
dr enagem, ir r igao, constr uo de diques, ar r oteamentos etc.
Ela r eina sobr e um deter minado nmer o de aldeias. A , a pr o-
pr iedade do solo tor na-se pr opr iedade eminente do monar ca,
smbolo cia or dem e da ao. Ent r et ant o, os camponeses e as
comunidades conser vam a posse efetiva mediante o pagamento
de tr ibutos.
Nunca aus entes , a tr oca e o comr cio devem aumentar . De
incio confiados a pessoas suspeitas, os "estr angeir os", eles
21
i
f
3
s
<x
K
i
Q
^C
O
l
^-J
se fortalecem funcionalmente. Os lugares destinados troca
e ao comrcio so, de incio, fortemente marcados por signos
de beerotopia. Como as pessoas que se ocupam deles e os
ocupam, esses lugares so, antes cie mais nacla, excludos da
cidade poltica: caravanars, praas de mercado, faubourgs*
etc. O processo de integrao do mercado e da mercadoria
(as pessoas e as coisas) cidade dura sculos e sculos. A
troca e o comrcio, indispensveis sobrevivncia como vida,
suscitam a riqueza, o movimento. A cidade poltica resiste com
toda a sua fora, com tocla a sua coeso; ela sente-se, sabe-se
ameaada pelo mercado, pela mercadoria, pelos comerciantes,
por sua forma cie propri edade (a propriedade mobiliria,
movente por definio: o dinheiro). Inumerveis fatos testemu-
nham a existncia,.ao laclo da Atenas poltica, tanto da cidade
comercial, o Pireu, quanto as interdies em vo repetidas
disposio de mercadorias na agora, espao livre, espao do
encontro poltico. Quando Cristo expul sa os mercadores cio
t empl o, trata-se cia mesma i nt erdi o, com o mesmo sentido.
N a Chi na, no Japo, os comerciantes permanecem durant e
longo tempo na baixa classe ur bana, relegada num bairro
"especializado" (heterotopia). Em verdade, apenas no Ocidente
europeu, no final da Idade Mdia, que a mercadoria, o mercado
e os mercadores penetram triunfalmente na cidade. Pode-se
conceber que outrora os mercadores i t i nerant es, um pouco
guerreiros, um pouco saqueadores, escolheram deliberacla-
mente as ru nas fortificadas cias cidades antigas (romanas)
para levar a cabo sua luta contra os senhores territoriais. Nesta
hiptese, a cidade poltica, renovada, teria servido de quadro
ao que iria transform-la. No curso dessa l ut a (de classes)
contra os senhores, possuidores e dominadores do territrio,
luta prodigiosamente fecunda no Ocidente, criadora de uma
histria e mesmo de histria tout court, a praa do mercado
torna-se cent ral . Ela sucede, supl ant a, a praa da reuni o (a
agora, o frum). Em torno cio mercado, tornado essencial,
agrupam-se a igrej a e a prefeitura (ocupada por uma oligarquia
cie mercadores), com sua torre ou seu campanrio, smbolo de
liberdade. Deve-se notar que a arqutetura segue e t raduz a
nova concepo da cidade. O espao ur bano torna-se o l ugar
do encontro das coisas e cias pessoas, da troca. Ele se orna-
menta dos signos dessa liberdade conquistada, que parece a
Liberdade. Lut a grandiosa e irrisria. Nesse sentido, houve
razo em estudar, ciando-lhes um valor simblico, as "bastides"4
22
cio sudoeste, na Frana, primeiras cidades a se constiturem
em torno da praa do mercado. Ironia da histria. O fetichismo
da mercadoria aparece com o reino da mercadoria, com sua
lgica e sua ideologia, com sua lngua e seu mundo. No sculo
XIV, acredita-se ser suficiente estabelecer um mercado e cons-
t rui r loj as, prticos e galerias ao redor da praa central, para
que os mercadores e compradores afluam. Senhores e bur-
gueses edificam, ento, cidades mercantis nas regies incultas,
quase desrticas, ainda atravessadas por rebanhos e semin-
mades transumantes. Tais cidades do sudoeste francs perecem,
apesar cie terem os nomes cie grandes e ricas cites (Barcelona,
Bolonha, Plaisance, Florena, Granada etc.). De todo modo,
a cidade mercantil tem seu lugar, no percurso, depois da cidade
poltica. Nessa data (aproximadamente no sculo XIV, na
Europa Ocidental), a troca comercial torna-se funo urbana;
essa funo fez surgir uma forma (ou formas: arquiteturais e/ou
urbansticas) e, em decorrncia, uma nova estrutura do espao
urbano. As transformaes de Paris ilustram essa complexa
interao entre os trs aspectos e os trs conceitos essenciais:
funo, forma, estrutura. Os burgos e faubourgs, inicialmente
comerciais e artesanais Beaubourg, Saint-Antoine, Saint-
Honor , tornam-se centrais, disputando a influncia, o pres-
tgio e o espao com os poderes propriamente polticos (as
instituies), obrigando-os a compromissos, participando com
eles da constituio de uma poderosa unidade urbana.
Num determinado momento, no Ocidente europeu, tem
l ugar um "acontecimento" imenso e, entretanto, latente, se
se pode dizer, porque despercebido. O peso da cidade no con-
j unto social torna-se tal que o prprio conj unto desequilibra-se.
A relao entre a cidade e o campo ainda conferia a primazia a
este ltimo: riqueza imobiliria, aos produtos do solo, s
pessoas estabelecidas territorialmente (possuidores de feudos
ou de ttulos nobilirios). A cidade conservava, em relao aos
campos, um carter heterotpico marcado tanto pelas muralhas
quant o pela transio dos faubourgs. Num dado momento,
essas relaes mltiplas se invertem, h uma reviravolta. No
eixo eleve ser indicado o momento privilegiado dessa revira-
volta, dessa inverso cia heterotopia. Desde ento, a cidade
no aparece mais, nem mesmo para si mesma, como uma ilha
urbana num oceano campons; ela no aparece mais para si
mesma como paradoxo, monstro, inferno ou paraso oposto
23
!
s
s
S
OK
S
ti
g
i
S
s3
O
<
7.
1
1
n a t u r e z a a lde ou ca mpon e sa . Ela e n t r a na conscincia e
no con he cime n t o como um dos t er mos, ig u a l ao ou t r o, cia
oposio "cidacle-campo". Ocampo? No mais no na da
mais que a "cir cunvizinhana" da cidade, seu hor izont e,
seu l imit e . Aspessoasda aldeia? Seg undo sua pr pr ia ma n e ir a
cie ver, deixam cie t r a b a l ha r par a os senhores t er r it or iais. Pro-
du z e m pa r a a cidade, par a o mercado u r b a n o. E, se sabem que
os mercadores cie trig o ou macieira os exploram, encont r am
porm no mer cado o ca minho da libe r da de .
O que se passa pr ximo a esse moment o cr u cia l ? Aspessoas
que r e f l e t e m no ma isse vem na n a t u r e z a , mu n do t enebroso
a t or me n t a do por f or a s mist e r iosa s. En t r e eles e a n a t u r e z a ,
ent r e seu cent ro e ncleo (de pensament o, de exist ncia) e o
mu n d o , in st a l a - se a me dia o e sse n cia l : a _ r ca _ l _ ida dc u r b a n a .
Desde esse mome n t o, a sociedade no coin cide ma iscom o
campo. No coin cide ma iscom a cite. O Est a do os su b j u g a ,
os r e n e n a su a he g e mon ia , u t il iz a n d o su a s r iva l ida de s. Pa r a
os cont empor neos, e nt r e t a nt o, a maj estade que se anuncia
lhesa pa r e ce ve l a da . A qu e m se con f e r e a Ra z o por a t r ib u t o?
Realeza? Ao divino Senhor? Ao indivduo? Contudo, a razo
da Cz Y qu e se r est abelece aps a r u n a de At e n a se de Roma ,
aps o ob scu r e cime n t o de su a s obr a s e sse ncia is, a lg ica e
o dir e it o. O Log os r e n a sce ; mas o seu r e n a scime n t o no
a t r ib u do a o r e n a scime n t o do u r b a n o , e sim a uma r a z o
t r a n sce n de n t e . O racionalismo que cu l min a com Descartes
a c ompa n ha a in ve r so qu e su b st it u i a pr ima z ia camponesa
pela pr ior ida de u r b a n a . Ele no se v como t al. Dur ant e esse
perodo, e n t r e t a n t o, nasce a imagem da cidade. A cidade j
de t in ha a e scr it a ; possua seus seg redos e poder es. Ela j
o pu n ha a u r b a n icl a de (il u st r a da ) r u st icicl a de (in g n u a e
b r u t a l ) . A pa r t ir de um de t e r min a do mome n t o, e la t e m sua
prpria escrit a: o plano. No ent endamos por isso a pl a n if i-
cao a in da que ela t a mb m se esboce masa planime-
tra. NossculosXVI e XVII, qu a n do ocorre precisamente essa
inver so de se nt ido, apar ecem, na Eu r opa , os planos de cida-
des e, sob r e t u do, os pr ime ir os pla n os de Pa r is. Ain da no
so pl a n os a b st r a t os, pr oj e o do espao u r b a n o n u m espa-
o cie coor de na da s g eomt ricas. Combina o e n t r e a viso e
a concepo, obrascie art e e cie cincia, osplanos mostram a
cida de a p a r t ir cio a l t o e cie long e , em pe r spe ct iva , ao mesmo
t empo pin t a da , r e pr e se n t a da , descr it a g e ome t r ica me n t e . Um
olha r , ao mesmo t empo ideal e r ealist a do pensament o, do
poder , sit ua-se na dimenso ver t ical, a cio conheciment o e
cia r a z o, par a domina r e con st it u ir uma t ot alidade: a cidade.
Essa inf lexo cia realidade social para o ur bano, essa cles-
con t in u ida de (r e la t iva ) pode pe r f e it a me nt e ser indicada no
eixo espao-t emporal, cuj a cont inuida de per mit e j u st a me n t e
sit u a r e da t a r cortes (relativos). Bastar t r aar uma mediana
ent r e o zero inicia l e o nmer o f in a l (por hiptese, cem).
Essa inver so de sent ido no pode ser dissociada cio cres-
cime n t o cio ca pit a l comercial, cia exist ncia cio mercado. a
cidade comercial, implant ada na cidade poltica, masprosse-
g u in do sua ma r cha a sce nde nt e , que a explica. Ela precede
um pouco a emer g ncia do capit al in du st r ia l e, por conse-
g u in t e , a da cidade industrial. Est e conce it o me r e ce um
come nt r io. A in dst r ia est aria vin cu l a da cidade? Ela e st a r ia ,
ant es de maisnacla, lig ada no-cidade, ausncia ou r u pt u r a
da r e a lida de u r b a n a . Sabe-se que inicia lme nt e a indst r ia se
impl a n t a como se diz prxima s f ontes de energ ia
(ca r vo, g u a ) , da s ma t r ia s-pr ima s (met ais, t xt e is), da s
reservas de mo-de-obra. Se ela se aproxima das cidades,
par a aproximar-se cioscapitaise doscapitalistas, dos mercados
e de uma a b u n da n t e mo-de-obr a, ma nt ida a baixo preo.
Log o, ela pocle se impla nt a r em qu a l qu e r lug ar , mascedo ou
t ar eie alcana as cidades pr eexist ent es, ou con st it u i cidades
novas, deixanclo-asem seg uida, se para a empresa indust rial
h alg um interesse nesse af astamento. Assim como a cite poltica
r esist iu du r a n t e long o t empo ao conquist adora, meio pac-
f ica , meio violent a, dos comerciantes, da troca e cio dinheir o,
a cidade polt ica e comercial se de f e nde u cont r a o domnio
cia indst r ia nascent e, cont ra o capit al indust r ial e o capit a-
lismo tout court. Por que meios? Pelo cor por at ivismo, a imo-
bilizao dasrelaes. Ocontinusmo histrico e o evolucio-
nismo ma sca r a m esses ef eit os e essas r u pt u r a s. Est r a nho e
a dmir ve l moviment o que r enova o pensament o clialt ico: a
no-ciclade e a ant icidade vo conquist ar a cidade, penet r -la,
f az-la explodir, e com isso est end-la desmesur adament e,
l e va n do u r b a n iz a o da sociedade, ao tecido ur bano reco-
b r in do as r e ma ne scncia s cia cida de a n t e r ior in dst r ia . Se
esse extraordinrio movimento escapa ateno, se ele foi
descr it o a pe na s f r a g me n t a r ia me n t e , por que os idelog os
quise r a m e l imin a r o pe n sa me n t o dialt ico e a anlise das
25
i
s
s
o
>.
o
o
o * ^ * ^
&;i *
E1 "^
5
i
I
cont radies em f av or do pensament o lgico, ou sej a, da
const at ao cias coerncias e t o-soment e das coerncias.
Nesse mov imento, a realidade ur bana, ao mesmo tempo ampl i-
f icada e est il haada, perde os traos que a poca anterior lhe
at r ibul a: t ot al idade orgnica, sentido de pertencer, imagem
enaltecedora, espao demarcado e dominado pelos esplen-
doresmonument ais. Ela se povoa com ossignos do urbano na
dissoluo cia urbanidade; torna-se estipulao, ordem repres-
siv a, inscrio por sinais, cdigos sumrioscie circulao (per-
cursos) e de ref erncia. Ela se l ora como um rascunho, ora
como uma mensagem aut or it r ia. Ela se declara maisou menos
imperiosamente. Nenhum desses termos descritivos d conta
compl et ament e cio processo hist rico: a imploso-exploso
( met f or a emprest ada da f sica nucl ear ) , ou sej a, a enorme
concentrao (cie pessoas, de ativiclacles, cie riquezas, cie coisas
e cie objetos, de instrumentos, de meiose cie pensamento) na
realidade ur ba na , e a imensa exploso, a proj eo de f rag-
mentos ml t ipl ose disj untos(perif erias, subrbios, residncias
secundrias, satlites etc.).
A cidade industrial (em geral uma cidade inf orme, uma
agl omer ao pa r c a me nt e u r b a n a , um congl omerado, uma
"conurbao", como o R uhr ) precede e anuncia a zona crtica.
Nesse moment o, a impl oso-expl oso pr oduz todas as suas
consequncias. O crescimento da pr oduo indust r ial super -
pe-se ao cr esciment o das t rocas comerciaise as mul t ipl ic a .
Esse cr esciment o v ai do escambo ao mercado mundia l , da
troca simpl ese n t r e dois indiv duosat a troca dos pr odut os,
das obras, dos pensament os, dos sereshumanos. A compra e
a v enda, a mercadoria e o mer cado, o dinheir o e o capit al
parecem v arrer os obstculos. No curso dessa generalizao,
por sua v ez, a consequncia desse processo a saber: a reali-
dade ur bana torna-se causa e razo. O induzido t orna-se
dominante ( indut or ) , hproblemtica urbana impe-se escala
mundial . Pode-se def inir a realidade ur bana como uma "superes-
t r u t u r a ", na superf cie da e st r ut ur a econmica, capit al ist a ou
social ist a? Como um simples r esul t ado do cresciment o e das
f oras p r od u t i v a s? Como uma modest a r eal idade, ma r g i n a l
em rel ao pr oduo? No! A real idade ur b a n a modif ica as
relaes de produo, sem, alis, ser suf icient e para transf or-
m-las. Ela t orna-se f ora pr odut iv a, como a cincia. O espao
e a pol t ica do espao "expr imem"as relaes sociais, mas
26
reagem sobre elas. Bem ent endido, se h uma realidade
urbana que se af irma e se confirma como dominante, isso s se
d atravs da problemtica urbana. Que f azer? Como construir
cidades ou "alguma coisa" que suceda o que outrora foi a
Cidade? Como pensar o fenmeno urbano? Como f ormular, clas-
sif icar, hierarquizar, para resolv-las, as inumerveis questes
que ele coloca e que dif icil ment e passam, no sem ml t ipl as
resistncias, ao primeiro plano? Quais os progressos deci-
sivos a serem realizados na teoria e na ao prtica para que
a conscincia alcance o n vel do real que a ultrapassa e do
possvel que lhe escapa?
A ssim se baliza o eixo que descreve o processo:
Cidade
pol tica
w Cidade *
^ ^ comercial
' ^
inf l e
^ Cidade ^ Zona !
~^ industrial \cr tica ( f
r ,
xo
do agrrio
para o urbano
k
r
imploso-exploso
(concentrao urbana,
xoclo r ur al , extenso
do tecido urbano, subordinao
completa do agrrio ao urbano)
O que se passa durant e a f ase crtica? Esta obra tenta res-
ponder a esta interrogao, que sit ua a problemtica urbana
no processo geral. A shipteses tericas que permitem traar
um eixo, apr esent ar um t empo orientado, t ranspor a zona
crtica pelo pensamento, indo alm dela, permitem apreender
o que se passa? Tal v ez. J podemosf or mul ar al gumas supo-
sies. D-se salvo prova em contrrio uma segunda
inf l exo, uma segunda inv erso de sentido e de situao. A
indust rial izao, potncia dominant e e coativ a, converte-se em
realidade dominada no curso de uma crise prof unda, scustas
cie uma enorme conf uso, na qual o passado e o possvel, o
melhor e o pior se mist uram.
27
Y
scd
o
fc
Essa hi pt ese terica concer nent e ao possvel e sua
relao com o a t ua l (o "real") no poderia levar a esquecer
que a e n t r a da na socieda de ur b a n a e as moda l i da des cia
u r b a n i z a o dependem cias ca r a ct er st i ca s da socieda de
consi dera da no curso da i ndust r i a l i z a o (neoca pi t a l i st a ou
soci a l i st a , em pl eno crescimento econmico ou j a l t a ment e
tcnica). As dif erentes formas de entrada na sociedade ur b a na ,
as i mpl i ca es e consequnci a s dessas di f er en a s i ni ci a i s,
f a zem pa rt e da problemtica concernente ao fenmeno urbano
ou "o ur b a no". Esses termos so pref erveis pa l a vr a "cidade",
que parece desi gna r um objeto def i ni do e def i ni t i vo, obj eto
ciado para a cincia e obj etivo imediato para a ao, enqua nt o
a a b or da gem terica reclama i ni ci a l ment e uma crtica desse
"ob j et o" e exige a noo ma i s compl exa de um ob j et o v i r t u a l
ou possvel. Nout r os termos, no h, nessa perspect i va , uma
cincia da cidade (sociologia ur b a na , economia ur b a na etc. )
mas um conbeci/nenjo_em f orma o doprocessoj^lobal, assim
como de seu f im (ob j et i vo e sent i do).
x
O urbano (a brevia o de "sociedade ur b a na " ) def ine-se
por t a nt o no como rea l i da de a ca b a da , si t ua da , em relao
r ea l i da de a t u a l , cie ma nei ra r ecua da no t empo, mas, ao con-
t r r i o, como hor i z ont e, como vi r t ua l i da de i l umi na dor a . O
ur b a no o possvel, def i ni do por uma direo, no fim cio per-
curso que vai em direo a ele. Para a t i ngi - l o, isto , pa ra
rea l i z-l o, preciso em princpio cont or na r ou romper os obs-
t cul os que a t ua l me nt e o t orna m impossvel. O conhecimento
t eri co pode dei xa r esse obj eto v i r t u a l , ob j et i vo da ao, no
a b st ra t o? No. De agora em di a nt e, o ur b a no a b st ra t o uni ca -
ment e sob o t t u l o de abstrao cientfica, isto , l eg t i ma . O
conheci ment o terico pode e deve most ra r o terreno e a base
sobre os qua i s ele se f unda : uma prtica social em ma rcha , a
prtica urbana em via de const i t ui o, apesar dos obstculos
que a ela se opem. Que a t ua l ment e esta prtica esteja velada
e dissociada, que hoje existam apenas fragmentos da realidade
e da ci nci a f u t u r a s, esse um aspecto da fase crtica. Que
nest a ori ent a o exista uma sada, que exista m solues pa ra
a problemtica a t ua l , o que preciso mostrar. Em suma, o
objeto virtual no out r a coisa que a sociedade pl a net ri a e
a "cida de mundi a l " , alm de uma crise mundi a l e pl a net r i a
cia realidade e cio pensamento, alm das velhas fronteiras
t ra a da s desde o predomnio da a gr i cul t ur a , mantidas no curso
28
do crescimento das trocas e da produo industrial. Todavia, a
problemtica urbana no pode absorver todos os problemas.
A a gri cul t ura e a indstria conservam os seus problemas pr-
prios, mesmo se a realidade urb a na os modifica. Ademais, a
problemtica urb a na no permite ao pensamento lanar-se
na explorao do possvel sem precauo. Cabe ao analista
descrever e discernir tipos cie urbanizao e dizer no que se
tornaram as formas, as funes, as estruturas urbanas transfor-
madas pela exploso da cidade antiga e pela urbanizao gene-
ralizada. At o presente, a fase crtica comporta-se como uma
"caixa pret a ". Sabe-se o que nela ent ra ; s vezes percebe-se
o que dela sai. No se sabe bem o que nela se passa. Isso
condena os procedimentos habituais da prospectiva ou cia
projeo, que extrapolam a partir do a t ua l , ou seja, a pa rt i r
de uma constatao. Projeo e prospectiva tm uma base
determinada apenas numa cincia parcelar: na demografia,
por exemplo, ou ento na economia poltica. Ora, o que est
em questo, "ob j et i va ment e", uma totalidade.
Para mostrar a profundidade da crise, a incerteza e a per-
plexidade que acompanham a "fase crtica", pode-se ef etua r
uma confrontao. Exerccio cie estilo? Sim, mas um pouco mais
que isso. Eis alguns argumentos a favor e contra a rua, a favor e
contra o monumento. Deixemos para depois as argumentaes:
a favor e contra a natureza, a favor e contra a cidade, a favor e
contra o urbanismo, a favor e contra o centro urbano...
A favor da rua. No se t ra t a simplesmente de um l uga r de
passagem e circulao. A invaso dos automveis e a presso
dessa indstria, isto , do lobby do automvel, fazem clele um
objeto-piloto, do estacionamento uma obsesso, da circulao
um ob j et i vo pri ori t ri o, destruidores de toda vida social e
urb a na . Aproxima_^se__o^ dia ejii_giie_ser preciso limitar os
direitos e poderes do automvel, no sem dif iculdades e cles-
truies. A rua? E o lugar (topia) do encontro, sem o qual no
existem outros encontros possveis nos lugares determinados
(caf s, t ea t ros, salas diversas). Esses lugares privilegiados
a ni ma m a rua e so favorecidos por sua a nima o, ou ento
no existem. Na r ua , teatro espontneo, torno-me espetculo
e espectador, s vezes ator. Nela ef etua-se o movimento, a
mi st ur a , sem os qua i s no h vida ur b a na , mas separao,
segregao est i pul a da e imob iliza da . Quando se supr i mi u a
rua (desde L Corbusier, nos "novos conj untos"), viu-se as
29
cons equnci as : a ext i no cia v i d a , a r ed uo da "ci d ad e" a
dormitrio, a aberrant e f j ^ nci p j i al i z ao_ d a exi stnci a. A rua
contm as f unes negl i genci ad as por L Corbusier: a f uno
i nf or mat i v a, a f uno simbl ica, a uno l d i ca. Nel a j oga-se,
nel a ap rende-se. A rua a desordem? Certamente. Todos os
el ementos d a vida ur ba na , nout r a p art e congel ados numa
ordem imvel e red und ant e, l iberam-se e af l uem s ruas e por
elas em direo aos centros; a se encontram, arrancados de
seus l ugares f ixos. Essa desordem vive. I nf orma. Surp reende.
Al m disso, essa desordem constri uma ord em sup erior. Os
t rabal hos de Jane Jacobs most raram que nos Estados Uni d os
a rua ( mov i me nt a d a , f r equent ad a) f ornece a ni ca segurana
possvel contra a viol ncia c r i mi na l (roubo, estup ro, agresso).
Onde quer que a . r ua desap area, a cri mi nal i d ad e a ume nt a , se
organi z a. Na r ua , e por esse espao, um grup o (a p rp ria
cidade) se manif esta, aparece, apropria-se dos lugares, realiza
um tempo-espao apropriado. Uma tal apropriao mostra que
o uso e o val or de uso podem d omi nar a troca e o val or de
troca. Quant o ao acontecimento revol ucionrio, el e geral mente
ocorre na r u a . Isso no most ra t ambm que sua desordem
engendra uma out r a ordem? O espao ur ba no da rua no o
l uga r cia p a l a v r a , o l ugar da troca p el as p al av ras e signos,
assim como pel as coisas? No o l ugar privil egiado no qual se
escreve a palavra? Oncle ela pde tornar-se "selvagem" e inscre-
ver-se nos muros, escapando das prescries e instituies?
jo_ntra curtia. Lugar de encontro? Tal vez , mas quai s encon-
tros? Sup er f i ci ai s . Na r u a , cami nha- s e l ad o a l acl o, no se
encont ra. o "se" que p reval ece. A rua no p ermi t e a consti-
tuio de um grup o, de um "suj eito", mas se povoa de um
a mont oa d o cie seres em busca. De C LI O? O mu n d o da merca-
d ori a cl esenv ol v e-se na r u a . A me r c a d or i a que no pde
conf i nar-se nos l ugares especial izados, os mercados (praas, ...),
i nv a d i u a ci d ad e i nt ei r a. Na Ant i gui d a d e as r uas eram ap enas
anexos dos l ugares privilegiados: o temp l o, o estdio, a agora,
o j ard i m. Mais tard e, na I dade Md i a, o artesanato ocup av a as
ruas. O arteso era, ao mesmo temp o, p rod ut or e vendedor. Em
seguida, os mercadores, que eram excl usivamente mercadores,
tornaram-se os mestres. A r ua? Uma v i t r i n a , um desf il e entre as
l oj as. A mercadoria, t ornad a espetcul o (p rovocante, atraente),
t r a ns f or ma as pessoas em es p et cul o u ma s p ar a as out r a s . N e l a ,
mai s que nout ros l ugares, a troca e o v al or de troca p reval ecem
30
sobre o uso, at red uz i -l o a um resduo. De tal moclo que a
crtica cia rua eleve ir mais longe: a rua torna-se o l ugar p rivi-
legiado de uma represso, possibilitada pelo carter "real"
das rel aes que a se consti tuem, ou sej a, ao mesmo tempo
dbil e al i enad o-al i enant e. A passagem na r ua, espao de
comunicao, a uma s vez obrigatria e reprimida. Em caso
de ameaa, a primeira imposio do poder a interdio
permanncia e reunio na rua. Se a rua pde ter esse sentido,
o encontro, ela o p erd eu, e no pde seno percl-lo, con-
vertendo-se numa reduo indispensvel passagem solitria,
cindindo-se em lugar de passagem de pedestres (encurralados)
e de automv eis (privil egiados). A rua converteu-se em rede
organi z ad a pel o/para o consumo. A vel ocidade da circulao*1^
cie pedestres, ainda tolerada, a determinada e demarcada
pel a p ossibil idade de perceber as v i t ri nas, de comprar os
obj etos expostos. O tempo torna-se o "tempo-mercadoria"
(tempo de compra e venda, tempo comprado e vendido). A
rua regul a o tempo al m cio tempo cie trabal ho; ela o submete
ao mesmo sistema, o cio rendimento e cio l ucro. Ela no
mais que a transio obrigatria entre o trabal ho f orado, os
l azeres programados e a habitao como l ugar de consumo.
A organizao neocapitalista do consumo mostra sua f ora
na rua, que no s a cio pocler (poltico), nem a da represso
(expl cita ou vel ada). A r ua , srie cie v i t ri nas, exposio cie
objetos venda, mostra como a lgica da mercadoria acompa-
nhada de uma contemplao (passiva) que adquire o aspecto e
a importncia de uma esttica e cie uma tica. A acumulao
dos objetos acomp anha a da popul ao e sucede a do cap i t al ;
el a se converte numa ideol ogia d i ssi mul ad a sob as marcas
cio legvel e cio visvel, que descle ento parece ser evidente.
assim que se pode f al ar cie uma colonizao do espjic^jjnbano,
que se ef et ua na rua pel a imagem, pel a p ubl i ci d ad e, pelo
esp etcul o cios obj etos: pel o "sistema cios objetos" tornados
smbol os g gspetcul o. A uni f ormi z ao do cenrio, visvel na^
mod erni z ao cias ruas antigas, reserva aos obj etos (merca-
dorias) os efeitos cie cores e f ormas que os tornam atraentes.
Trata-se de uma aparncia caricata de apropriao e .cle_reapro_-
priao cio espao que o poder autoriza quando permite a
real iz ao d^^vFni:s"ns~ruisrcrnaval, bail es, f estivais fol-
clricos. Quanto verdadeira apropriao, a da "manifestao"
ef etiva, combatida pelas foras repressivas, que comandam o
sil ncio e o esquecimento.
V
31
S
3l
<Al <c
Contra o monumento. O monumento essencialmente
repressivo. Ele a sede de uma instituio (a I grej a, o Estado,
a Univer sidade) . Se ele organiza em torno de si um espao,
para coloniz-lo e oprimi-lo. Os grandes monumentos foram
erg uidos g lria dos conquistadores, dos poderosos. Mais
r ar amente g lria dos mortos e da beleza morta (o Taclj
Mahall. . . ). Constr u r am-se palcios e tmulos. A infelicidade
da ar quit et ur a que ela quis erg uer monumentos, ao passo
que o " habitar " foi ora concebido imagem dos monumentos,
ora neg lig enciado. A extenso do espao monument al ao
h ab i t ar .sempre uma cat st r of e, alis ocult a aos olhos dos
que a suportam. Com efeito, o esplendor monumental formal.
E se o monument o sempre esteve repleto cie smbolos, ele os
oferece conscincia social e contemplao (passiva) no
momento em que esses smbolos, j em desuso, perdem seu
sentido. T al o caso cios smbolos da r evoluo no Arco cio
T r i unf o napolenico.
A favor do monumento. o nico lug ar de vicia coletiva
(social) que se pode conceber e imag inar. Se ele controla,
para r eunir . Beleza e monumentalidade caminham j unt as. Os
g r andes monument os f or am t r ans-f uncionais (as catedrais), e
mesmo t r ans-cult ur ais (os t mulos) . Da seu poder tico e
esttico. Os monumentos pr oj etam uma concepo cie mundo
no ter r eno, enquant o a cidade pr oj etava e ainda nele proj eta
a vida social (a g lobalidade). No prprio seio, s vezes no
pr pr io corao cie um espao no qual se reconhecem e se
b anal i z am os traos da sociedade, os monumentos inscrevem
uma tr anscendncia, um alhures. Eles sempre foram u-tpicos.
Eles proclamavam, em altura ou em profundidade, numa outra
dimenso que a dos percursos ur banos, seja o dever, seja o
poder, sej a o saber, a aleg r ia, a esperana.
O
Você também pode gostar
- Fichamento - o Direito À CidadeDocumento8 páginasFichamento - o Direito À CidadeLaíse Souza Ramos SilvaAinda não há avaliações
- O Direito A Cidade - Henry Lefebvre - CitaçõesDocumento3 páginasO Direito A Cidade - Henry Lefebvre - CitaçõesAlvitre SousaAinda não há avaliações
- Legitimação Pelo Procediment LuhmannDocumento106 páginasLegitimação Pelo Procediment LuhmannMichelle HoskemAinda não há avaliações
- Hannah Arendt - A Crise Da CulturaDocumento17 páginasHannah Arendt - A Crise Da CulturaFelipe JamaicaAinda não há avaliações
- Resumo - o Que É UrbanismoDocumento8 páginasResumo - o Que É Urbanismofelipe_vieitasAinda não há avaliações
- DAMIANI, Amélia Luísa. A Cidade (Des) OrdenadaDocumento16 páginasDAMIANI, Amélia Luísa. A Cidade (Des) Ordenadatetias100% (1)
- Lugar Comum - Revista Completa N.º 41Documento352 páginasLugar Comum - Revista Completa N.º 41Cardes PimentelAinda não há avaliações
- Manifesto Internacional Situacionista PDFDocumento3 páginasManifesto Internacional Situacionista PDFMarcos CaioAinda não há avaliações
- 21 - MONTE-MOR, R. Urbanização e SustentabilidadeDocumento18 páginas21 - MONTE-MOR, R. Urbanização e SustentabilidadewillaAinda não há avaliações
- Segredo Obscuro Da Psicologia - o Guia Essencial para A Persuasão, Manipulação Emocional, Engano, Controle Da Mente, Comportamento Humano, PNLDocumento89 páginasSegredo Obscuro Da Psicologia - o Guia Essencial para A Persuasão, Manipulação Emocional, Engano, Controle Da Mente, Comportamento Humano, PNLLuis Mariano de CamposAinda não há avaliações
- CHARLES TAYLOR - Argumentos FilosóficosDocumento292 páginasCHARLES TAYLOR - Argumentos FilosóficosValeeenAinda não há avaliações
- Lefebvre - Da Cidade A Sociedade UrbanaDocumento10 páginasLefebvre - Da Cidade A Sociedade UrbanaGeraldAinda não há avaliações
- A Cidade Na Era IndustrialDocumento3 páginasA Cidade Na Era IndustrialCristiano Oliveira De SousaAinda não há avaliações
- Lefebvre - O Direito À CidadeDocumento4 páginasLefebvre - O Direito À CidadePaula Franchi100% (1)
- Félix Guatarri - Restauração Da Cidade SubjetivaDocumento11 páginasFélix Guatarri - Restauração Da Cidade SubjetivaMarcus ViníciusAinda não há avaliações
- Giannotti A Universidade e A CriseDocumento10 páginasGiannotti A Universidade e A CriseGlauber FrancoAinda não há avaliações
- O Fenomeno Urbano - A Metropole e A Vida Mental PDFDocumento10 páginasO Fenomeno Urbano - A Metropole e A Vida Mental PDFRonan SiqueiraAinda não há avaliações
- MEYER 4098-Text de L'article-16805-1-10-20191231Documento20 páginasMEYER 4098-Text de L'article-16805-1-10-20191231andresauaiaAinda não há avaliações
- Marx Introdução de 1857Documento16 páginasMarx Introdução de 1857Anderson BogéaAinda não há avaliações
- Geografia Da Existencia Texto Maria AdeliaDocumento10 páginasGeografia Da Existencia Texto Maria Adelialuiza_chanAinda não há avaliações
- WISNIK, Guilherme - Dentro Do Nevoeiro - o Futuro em SuspensãoDocumento22 páginasWISNIK, Guilherme - Dentro Do Nevoeiro - o Futuro em SuspensãoMario Victor MargottoAinda não há avaliações
- H. Lefebvre - Urbano (O)Documento11 páginasH. Lefebvre - Urbano (O)paolocolosso50% (2)
- Breve Historia Do UrbanismoDocumento5 páginasBreve Historia Do UrbanismoJhonis GomesAinda não há avaliações
- 12282-Texto Do Artigo-45700-1-10-20210406Documento33 páginas12282-Texto Do Artigo-45700-1-10-20210406Julio Cesar FelixAinda não há avaliações
- MetropolizacaoDocumento16 páginasMetropolizacaoH BalbAinda não há avaliações
- ResumoDocumento4 páginasResumomilena.minikelAinda não há avaliações
- Choay LisboaDocumento3 páginasChoay LisboaashemuAinda não há avaliações
- Seabra Urbanização e FragmentaçãoDocumento8 páginasSeabra Urbanização e FragmentaçãoCláudio SmalleyAinda não há avaliações
- Da Forma Valor À Forma-PeriferiaDocumento8 páginasDa Forma Valor À Forma-PeriferiaEduardo BragaAinda não há avaliações
- Dádiva e Solidariedades UrbanasDocumento15 páginasDádiva e Solidariedades UrbanasGabriel LeiteAinda não há avaliações
- Negri, Antonio - Dispositivo Metrópole - A Multidão e A Metrópole-1 PDFDocumento8 páginasNegri, Antonio - Dispositivo Metrópole - A Multidão e A Metrópole-1 PDFfluxosAinda não há avaliações
- Desigualdade e Exclusão Social Maura Pardini VerasDocumento35 páginasDesigualdade e Exclusão Social Maura Pardini VerasGersonAinda não há avaliações
- Blackboard Learn PDFDocumento5 páginasBlackboard Learn PDFLuciana Aparecida MoraesAinda não há avaliações
- Erminia Maricato - Metropole Na Periferia Do CapitalismoDocumento71 páginasErminia Maricato - Metropole Na Periferia Do CapitalismocambranganzaAinda não há avaliações
- Choay 1999 PDFDocumento24 páginasChoay 1999 PDFLeandro TeixeiraAinda não há avaliações
- Introdução À Sociologia Rural - AegDocumento16 páginasIntrodução À Sociologia Rural - AegGlaucus M. CorreaAinda não há avaliações
- Paola Berenstein Jacques - ErrânciaDocumento10 páginasPaola Berenstein Jacques - ErrânciaC.FlaksmanAinda não há avaliações
- Monte Mor Urbano Contemporaneo Urbanizacao ExtensivaDocumento10 páginasMonte Mor Urbano Contemporaneo Urbanizacao ExtensivaRafael GodoiAinda não há avaliações
- Karl Marx - Economia PoliticaDocumento16 páginasKarl Marx - Economia PoliticaWellington Barros100% (4)
- ZUKIN-PDF - O ESPACO DA DIFERENCA - Arantes-78-114Documento37 páginasZUKIN-PDF - O ESPACO DA DIFERENCA - Arantes-78-114Max BarretoAinda não há avaliações
- Cidade Providência - Vanessa Duarte de Sousa. Nov. 2010Documento31 páginasCidade Providência - Vanessa Duarte de Sousa. Nov. 2010Vanessa SousaAinda não há avaliações
- Resenha 3 HistDocumento3 páginasResenha 3 HistUebster AlmeidaAinda não há avaliações
- Introdução À Contribuição para A Crítica Da Economia PolíticaDocumento28 páginasIntrodução À Contribuição para A Crítica Da Economia PolíticaBruno DouradoAinda não há avaliações
- Cidade e Cultura: Esfera Pública e Transformação UrbanaDocumento3 páginasCidade e Cultura: Esfera Pública e Transformação UrbanaPaula Georgia0% (1)
- Lefebvre - O Campo CegoDocumento11 páginasLefebvre - O Campo CegoGeraldAinda não há avaliações
- Pereira SinopsesDocumento17 páginasPereira SinopsesCaro CisternaAinda não há avaliações
- Aula 1 de JulhoDocumento5 páginasAula 1 de JulhoELISA VERRI RESENDEAinda não há avaliações
- A Critica A Sociedade MedievalDocumento3 páginasA Critica A Sociedade MedievalSamayra CostaAinda não há avaliações
- Cidade e UrbanidadeDocumento9 páginasCidade e UrbanidadeBinô ZwetschAinda não há avaliações
- Helena Da Garça TimóteoDocumento11 páginasHelena Da Garça TimóteoGildo Horacio LuisAinda não há avaliações
- MONTE-MÓR, Roberto Luís - O Que É Urbano, No Mundo ContemporâneoDocumento10 páginasMONTE-MÓR, Roberto Luís - O Que É Urbano, No Mundo ContemporâneoMiucha SchutzAinda não há avaliações
- SANTOS, Milton. O Centro Da Cidade Do Salvador, 2008.Documento61 páginasSANTOS, Milton. O Centro Da Cidade Do Salvador, 2008.Aline GonçalvesAinda não há avaliações
- O Centro Da Cidade de SalvadorDocumento199 páginasO Centro Da Cidade de SalvadorPartiu Rio BrancoAinda não há avaliações
- Georg Simmel - A Metrópole e A Vida MentalDocumento10 páginasGeorg Simmel - A Metrópole e A Vida MentalEsther TaveiraAinda não há avaliações
- A tragédia de Sísifo: Trabalho, capital e suas crises no século XXINo EverandA tragédia de Sísifo: Trabalho, capital e suas crises no século XXIAinda não há avaliações
- O indivíduo abstrato: Subjetividade e estranhamento em MarxNo EverandO indivíduo abstrato: Subjetividade e estranhamento em MarxAinda não há avaliações
- A Nova Condição Urbana:: espaços Comerciais e de Consumo na Produção e Reestruturação da Cidade Juazeiro do Norte (CE) e Ribeirão Preto (SP)No EverandA Nova Condição Urbana:: espaços Comerciais e de Consumo na Produção e Reestruturação da Cidade Juazeiro do Norte (CE) e Ribeirão Preto (SP)Ainda não há avaliações
- Por que a Moda é fútil?: uma obra para leigos, apaixonados e curiososNo EverandPor que a Moda é fútil?: uma obra para leigos, apaixonados e curiososAinda não há avaliações
- Capitalismo contemporâneo: uma síntese acerca de suas interpretaçõesNo EverandCapitalismo contemporâneo: uma síntese acerca de suas interpretaçõesAinda não há avaliações
- A ação coletiva do homem simples na construção da esfera pública: Os trabalhadores rurais de Baturité-CearáNo EverandA ação coletiva do homem simples na construção da esfera pública: Os trabalhadores rurais de Baturité-CearáAinda não há avaliações
- Representação de Objeto e Organização Psíquica: Integração Dinâmica Dos Dados Do RorschachDocumento14 páginasRepresentação de Objeto e Organização Psíquica: Integração Dinâmica Dos Dados Do RorschachPaula Carolina Coresma SardinhaAinda não há avaliações
- Apostila Antropologia e Educacao PDFDocumento70 páginasApostila Antropologia e Educacao PDFgagaufera0% (1)
- A Técnica e A Tecnologia Na Agricultura Familiar Da Comunidade de Conchas Velhas - Ponta Grossa (PR)Documento60 páginasA Técnica e A Tecnologia Na Agricultura Familiar Da Comunidade de Conchas Velhas - Ponta Grossa (PR)Adriano AugustoAinda não há avaliações
- Estudo para o SelicDocumento3 páginasEstudo para o SelicHeverson BarrosAinda não há avaliações
- Livro Cidades SustentaveisDocumento224 páginasLivro Cidades Sustentaveisvirginiaufpi100% (1)
- Paper ITQ TEOLOGO PERNTE A SOCIDADEDocumento6 páginasPaper ITQ TEOLOGO PERNTE A SOCIDADEmaumauxz100% (1)
- Direito Dos AnimaisDocumento7 páginasDireito Dos AnimaisIvna Camillo PorciunculaAinda não há avaliações
- Advento Da Liberdade - Proudhon - BPIDocumento5 páginasAdvento Da Liberdade - Proudhon - BPIrafaperezcustodio88Ainda não há avaliações
- Repertórios Do Conhecimento em DisputaDocumento20 páginasRepertórios Do Conhecimento em DisputaLivia Cassemiro SampaioAinda não há avaliações
- Helena Maria Afonso JacobDocumento207 páginasHelena Maria Afonso JacobRita De Cássia SoaresAinda não há avaliações
- File 20180523201718 Webcores Investimento Social Corporativo1Documento44 páginasFile 20180523201718 Webcores Investimento Social Corporativo1INGRID CAMILO DOS SANTOSAinda não há avaliações
- DissertacaoAlbertoKapitangoNguluve PDFDocumento218 páginasDissertacaoAlbertoKapitangoNguluve PDFMadaleno Sita António Dias100% (1)
- Texto de Apoio - Introdução A Gestão - Parte 0i - 17-1 PDFDocumento8 páginasTexto de Apoio - Introdução A Gestão - Parte 0i - 17-1 PDFmmanduaAinda não há avaliações
- Roberta Sassatelli-Consumer Culture - History, Theory and Politics - 1-6.en - PTDocumento6 páginasRoberta Sassatelli-Consumer Culture - History, Theory and Politics - 1-6.en - PTCarolina FernandesAinda não há avaliações
- Estágio em Psicopedagogia InstitucionalDocumento44 páginasEstágio em Psicopedagogia InstitucionalGraciane FariaAinda não há avaliações
- Exercícios PontuaçãoDocumento2 páginasExercícios Pontuaçãoluiz eduardoAinda não há avaliações
- Regras Onu para PresosDocumento10 páginasRegras Onu para PresossemaoAinda não há avaliações
- Estudantes Universitários e o TrabalhoDocumento31 páginasEstudantes Universitários e o Trabalhoze diogoAinda não há avaliações
- Gadotti EducaçãoIntegralDocumento13 páginasGadotti EducaçãoIntegraljose antonio carro0% (1)
- Blenda Cunha Moura Dissert 2009Documento176 páginasBlenda Cunha Moura Dissert 2009Manoel RendeiroAinda não há avaliações
- Ficha de LeituraDocumento5 páginasFicha de LeituraElvina CinesioAinda não há avaliações
- A Invencao Da InfanciaDocumento11 páginasA Invencao Da InfanciaPaticene Fone PaticeneAinda não há avaliações
- Trabalho de Historia Das Sociedades IDocumento11 páginasTrabalho de Historia Das Sociedades IMartins MustafaAinda não há avaliações
- Questão Social No Brasil - Ap1Documento8 páginasQuestão Social No Brasil - Ap1Andreia GarciaAinda não há avaliações
- Aula Os Processos de SocializaçãoDocumento14 páginasAula Os Processos de SocializaçãoFoxynessAinda não há avaliações
- O Dever de Lealdade e Os Abusos Do Direito de Sócio em SociedadesDocumento25 páginasO Dever de Lealdade e Os Abusos Do Direito de Sócio em SociedadescristinaAinda não há avaliações